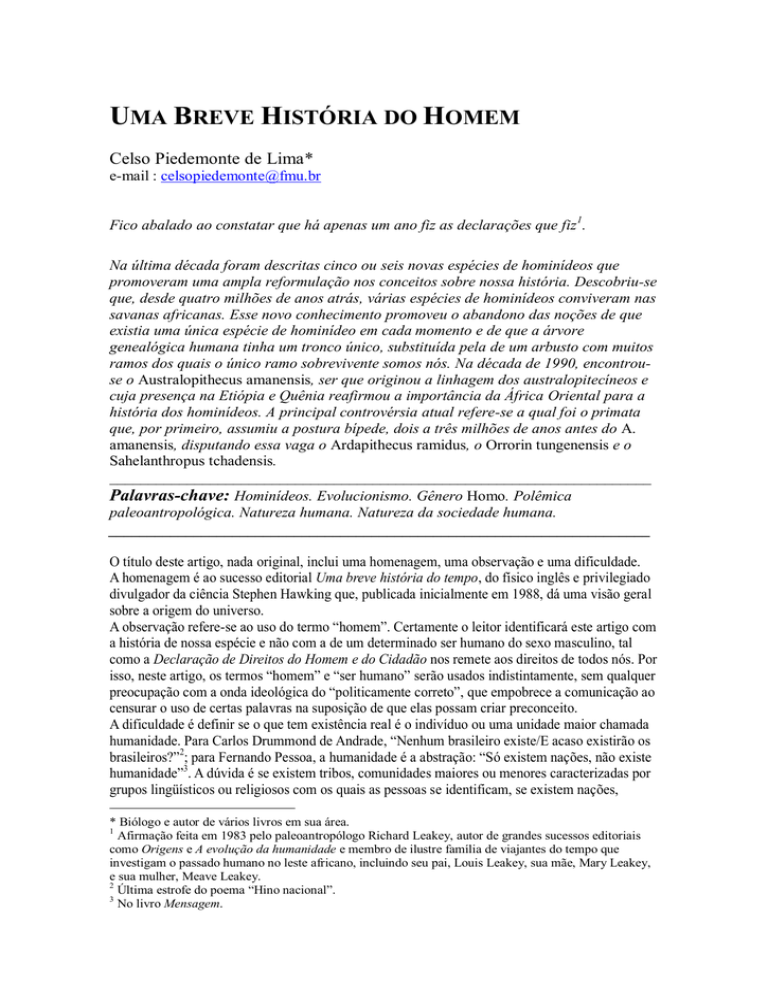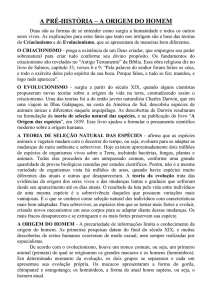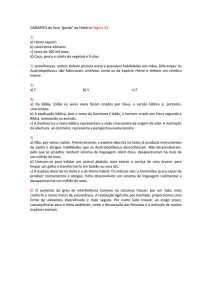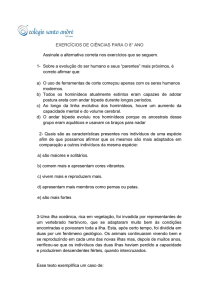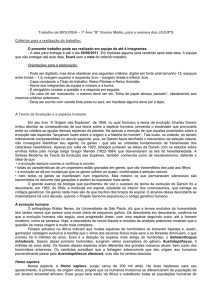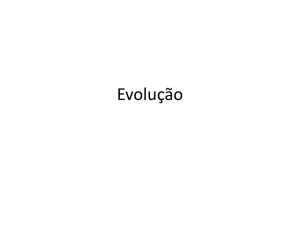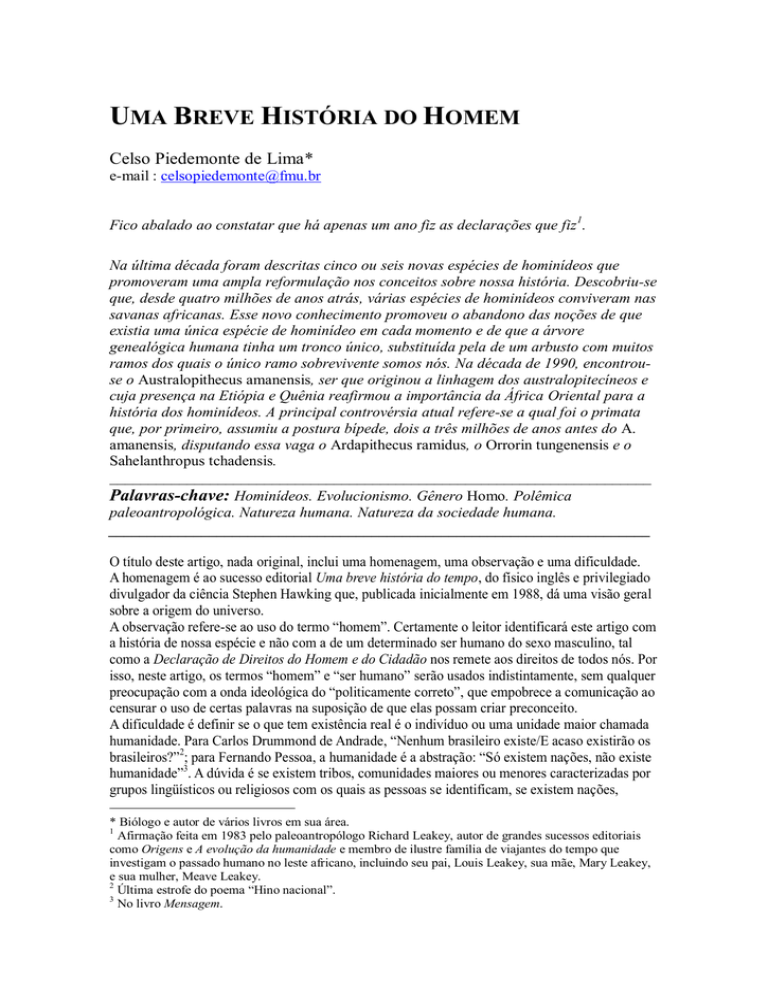
UMA BREVE HISTÓRIA DO HOMEM
Celso Piedemonte de Lima*
e-mail : [email protected]
Fico abalado ao constatar que há apenas um ano fiz as declarações que fiz1.
Na última década foram descritas cinco ou seis novas espécies de hominídeos que
promoveram uma ampla reformulação nos conceitos sobre nossa história. Descobriu-se
que, desde quatro milhões de anos atrás, várias espécies de hominídeos conviveram nas
savanas africanas. Esse novo conhecimento promoveu o abandono das noções de que
existia uma única espécie de hominídeo em cada momento e de que a árvore
genealógica humana tinha um tronco único, substituída pela de um arbusto com muitos
ramos dos quais o único ramo sobrevivente somos nós. Na década de 1990, encontrouse o Australopithecus amanensis, ser que originou a linhagem dos australopitecíneos e
cuja presença na Etiópia e Quênia reafirmou a importância da África Oriental para a
história dos hominídeos. A principal controvérsia atual refere-se a qual foi o primata
que, por primeiro, assumiu a postura bípede, dois a três milhões de anos antes do A.
amanensis, disputando essa vaga o Ardapithecus ramidus, o Orrorin tungenensis e o
Sahelanthropus tchadensis.
______________________________________________________________________
Palavras-chave: Hominídeos. Evolucionismo. Gênero Homo. Polêmica
paleoantropológica. Natureza humana. Natureza da sociedade humana.
______________________________________________________________________
O título deste artigo, nada original, inclui uma homenagem, uma observação e uma dificuldade.
A homenagem é ao sucesso editorial Uma breve história do tempo, do físico inglês e privilegiado
divulgador da ciência Stephen Hawking que, publicada inicialmente em 1988, dá uma visão geral
sobre a origem do universo.
A observação refere-se ao uso do termo “homem”. Certamente o leitor identificará este artigo com
a história de nossa espécie e não com a de um determinado ser humano do sexo masculino, tal
como a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão nos remete aos direitos de todos nós. Por
isso, neste artigo, os termos “homem” e “ser humano” serão usados indistintamente, sem qualquer
preocupação com a onda ideológica do “politicamente correto”, que empobrece a comunicação ao
censurar o uso de certas palavras na suposição de que elas possam criar preconceito.
A dificuldade é definir se o que tem existência real é o indivíduo ou uma unidade maior chamada
humanidade. Para Carlos Drummond de Andrade, “Nenhum brasileiro existe/E acaso existirão os
brasileiros?”2; para Fernando Pessoa, a humanidade é a abstração: “Só existem nações, não existe
humanidade”3. A dúvida é se existem tribos, comunidades maiores ou menores caracterizadas por
grupos lingüísticos ou religiosos com os quais as pessoas se identificam, se existem nações,
* Biólogo e autor de vários livros em sua área.
1
Afirmação feita em 1983 pelo paleoantropólogo Richard Leakey, autor de grandes sucessos editoriais
como Origens e A evolução da humanidade e membro de ilustre família de viajantes do tempo que
investigam o passado humano no leste africano, incluindo seu pai, Louis Leakey, sua mãe, Mary Leakey,
e sua mulher, Meave Leakey.
2
Última estrofe do poema “Hino nacional”.
3
No livro Mensagem.
cidades, habitantes de um vilarejo, de uma rua, de uma casa, de uma choupana, ou se o que tem
existência real é uma unidade que engloba todas as raças e civilizações em um mundo onde as
fronteiras nacionais e as etnias se diluem cada vez mais. Sou eu, minha família e meu vizinho,
física, psicológica e socialmente, o protótipo, o modelo de nossa espécie animal, ou são nossa
cultura, nossa tecnologia, nossos meios de comunicação que nos identificam como humanos?
UM SÉCULO E MEIO DE EVOLUÇÃO
Na primeira metade do século XIX, a física e a química já se haviam consolidado como ciências,
mas a biologia permanecia limitada pela noção de que os seres vivos teriam uma origem
sobrenatural. Contudo, há exatos 150 anos, em 1º de julho de 1858, foi apresentada uma teoria
sobre a evolução das espécies por meio da seleção natural que revolucionou não só a biologia
como todo o pensamento moderno, porque retirou a ciência da esfera da religião. O trabalho,
desenvolvido independentemente por dois notáveis naturalistas, o inglês Charles Robert Darwin
(1809-1882) e o galês Alfred Russel Wallace (1823-1914), foi lido por Darwin na Sociedade
Lineana de Londres, mas a comunidade científica não viu nele nada de especial. Porém, quando
foi publicado no ano seguinte na forma de um livro intitulado A origem das espécies por meio da
seleção natural na preservação dos tipos favorecidos na luta pela vida, sua teoria da evolução das
espécies tornou-se o conceito fundamental da biologia sem o qual nada nessa ciência faz sentido.
Darwin, educado na tradição religiosa anglicana, foi, no início de sua carreira como naturalista,
um criacionista convicto e entendia que as espécies de plantas e animais eram imutáveis,
permanecendo exatamente como saíram das mãos do Criador. Ele explicava as variações entre os
indivíduos como sendo respostas temporárias aos diferentes ambientes; passada a pressão
ambiental, elas retornavam ao tipo original. As observações que realizou entre setembro e outubro
de 1835 sobre as diferenças entre as espécies de tartarugas e pássaros encontradas nas diferentes
ilhas do arquipélago de Galápagos, de inicio, não abalaram sua crença na estabilidade das
espécies, porém, mais tarde, constituíram seus argumentos mais importantes em apoio à teoria da
evolução. Em 1836, já em Londres, enfrentou seus primeiros conflitos, pois as evidências de
Galápagos apontavam para um rompimento nas barreiras entre as espécies, para uma evolução
gradual delas determinada pela sobrevivência das variações mais benéficas em relação às menos
benéficas. Sua teoria defendia que as espécies se modificam ao longo do tempo e que elas
resultam de uma história material e não de um plano preestabelecido contradizendo tudo aquilo
em que Darwin acreditava até então e chocando a tradição religiosa da sociedade vitoriana.
Particularmente impactantes eram as implicações da teoria da evolução aplicadas a nós: não
teríamos sido criados à imagem de Deus e deveríamos descender de seres não-humanos. Darwin,
sempre tão prudente em suas declarações, não teve receio de enfrentar o escândalo e as restrições
de Wallace ao afirmar em seu livro de 1871, A descendência do homem e seleção em relação ao
sexo, que nossos ancestrais seriam encontrados na África entre seres semelhantes aos chimpanzés.
Contudo essas previsões demoraram mais de 50 anos para se confirmar, pois só a partir da década
de 1920 fósseis encontrados na África do Sul estabeleceram definitivamente nossa origem a partir
de seres semelhantes aos macacos africanos, remontaram nossa origem a pelo menos dois milhões
de anos e estimularam a busca pelo ancestral comum ao chimpanzé e ao homem. Na segunda
metade do século XX, ao trabalho de campo dos paleoantropólogos somaram-se os trabalhos de
especialistas em várias outras áreas, incluindo os da Biologia Molecular, que não só reafirmaram
nosso estreito parentesco genético com os chimpanzés como também indicaram que nossa espécie
teve uma origem muito mais antiga, situando o ancestral comum aos humanos e aos chimpanzés
há cinco ou seis milhões de anos.
Na última década do século XX, uma sucessão de novos fósseis encontrados na África Oriental
estabeleceu a origem da humanidade em 4,5 milhões de anos, mas, a partir de 2001, novos
achados recuaram nossa ancestralidade ainda mais, para seis ou sete milhões de anos. Essas
descobertas modificaram totalmente as noções de quando e como surgimos e de como se parecia o
ser que nos originou.
EU NASCI SETE MILHÕES DE ANOS ATRÁS
O primeiro de uma série de achados que nos colocaram na pista dos hominídeos africanos ocorreu
em 1925, quando o anatomista Raymond Dart descreveu um crânio encontrado na África do Sul,
ao qual deu o nome de Australopithecus africanus (macaco do sul-africano) e atribuiu cerca de
dois milhões de anos.
Desde o início, Dart admitia que encontrara o fóssil de um membro da família humana,
contrariando boa parte da comunidade científica da época que preferia admitir que os restos
pertenciam a um macaco próximo ao gorila ou ao chimpanzé.
Também na África do Sul foi encontrado um australopitecíneo maior, denominado de
Australopithecus robustus, depois renomeado de Paranthropus robustus, possuidor de fortes
molares e pré-molares e grandes cristas supra-orbitais onde se implantavam poderosos músculos
mastigatórios que indicavam uma dieta baseada em alimentos duros, como grãos, sementes e
raizes.
Na metade do século passado já se aceitava que esses seres participaram de nossa história
evolutiva, mas acreditava-se que em cada momento tivesse existido uma única espécie de
hominídeo, de modo que nossa história teria sido uma sucessão de espécies que evoluíram linear e
gradualmente: o Australopithecus africanus teria originado o Homo erectus e este gerado o Homo
sapiens. Prevalecia uma visão progressista da nossa evolução, segundo a qual primatas
quadrúpedes, peludos, habitantes das florestas, teriam gradualmente se transformado em
habitantes das savanas, eretos e nus, em direção à glória: nós. Hoje se sabe que a história humana
não pode ser representada dessa forma, como uma árvore de tronco único ao longo do qual as
espécies foram se sucedendo sucessiva e linearmente até chegar ao homem moderno; ao contrário,
entendemos a história humana como um arbusto de galhos entrelaçados, no qual cada espécie de
hominídeo ocupa um ramo terminal diferente; nesse arbusto nós somos o único ramo sobrevivente
ao longo dos últimos 25 mil anos. É por isso que não tem sentido procurar o “elo perdido”, o ser
que teria realizado o salto evolutivo que tornou o primata em ser humano; ao contrário, entende-se
hoje que cada ramo do arbusto, cada hominídeo do passado, foi um ser independente, autônomo e
perfeitamente adaptado ao seu ambiente específico sem nenhuma “necessidade” de tornar-se
humano.
Até o final da década de 1960, a África do Sul continuou sendo o local privilegiado da descoberta
de fósseis de hominídeos, mas a partir de 1970 restos encontrados na costa oriental da África
comprovaram que vastas regiões da África eram habitadas por diferentes tipos de
australopitecíneo, que se revelou constituir um grupo bem-sucedido e bem-adaptado a diferentes
ambientes, vivendo tanto nas regiões mais arborizadas, como nas bordas das florestas e nas
savanas abertas, convivendo e explorando diferentes recursos do mesmo espaço ecológico. Podia
acontecer com esses hominídeos do passado algo semelhante ao que ocorre hoje com as imensas
manadas de gnus, zebras e antílopes que convivem nas savanas africanas sem competir, porque
cada espécie se alimenta de um tipo de vegetação. Esses achados permitiram, também, atribuir aos
australopitecíneos uma idade bem superior aos dois milhões de anos que até então se aceitava para
o início de nossa história. Um deles, descoberto em 1978 no deserto de Afar, na Etiópia, e
batizado de Australopithecus afarensis viveu entre três e 3,5 milhões de anos atrás; o esqueleto
bem completo de uma fêmea conhecida como Lucy, que tinha um metro de altura e 30 quilos de
peso, e as pegadas deixadas por três deles nas cinzas vulcânicas nos dão a certeza de que andavam
eretos tão bem como nós. No entanto, seu crânio era pequeno, do tamanho do de um chimpanzé,
de modo que Lucy somava características modernas abaixo da cabeça, com características
primitivas acima do pescoço, o que significa que ela tanto pode ser o ancestral de todos os
hominídeos posteriores, como pode ser um estágio terminal da evolução dos australopitecíneos, o
que excluiria Lucy da linhagem humana. Seja como for, Lucy era o hominídeo mais antigo que se
conhecia até 1990, mas restava saber o antes e o depois, ou seja, qual seria seu ancestral e se ela
ou outro Australopithecus teria sido o precursor do gênero Homo.
A década de 1990 foi rica na descoberta de novos hominídeos na África do Sul e Oriental,
revelando que eles constituíam um grupo ainda mais diversificado do que se imaginava. O
encontro, em 1990, de dentes, maxilares e pedaços de crânio e membros de hominídeos na bacia
do lago Turkana, no Quênia, indicou que há cerca de quatro milhões de anos existiu um
hominídeo com características mais primitivas do que Lucy, que também andava ereto. Esse ser,
denominado de Australopithecus anamensis, referência à palavra “anam”, que na língua local
significa lago, pode ser o ancestral direto de Lucy. Seu encontro recuou o surgimento dos
australopitecíneos em um milhão de anos, revelou que a postura bípede ocorreu bem antes do que
se imaginava e, como foi posteriormente encontrado também na Etiópia no mesmo local onde
viveram vários outros australopitecineos, confirmou a importância desse local para nossa origem e
que os australopitecos africanos, afarenses e anamenses viviam juntos. No entanto, até o final do
século passado, ainda permanecia uma lacuna entre os australopitecíneos mais antigos conhecidos
– os anamenses – e o ancestral comum a eles e aos chimpanzés. Segundo os dados da biologia
molecular, a separação entre a linhagem dos chimpanzés e a dos humanos ocorreu há seis milhões
de anos, mas não se conhecia nada mais antigo do que os anamenses com 4,2 milhões de anos.
Porém, em 2000 foram encontrados no Quênia e na Etiópia restos de um hominídeo denominado
de Ardapithecus ramidus que viveu entre 4,4 e 5,8 milhões de anos atrás e que poderia estar mais
próximo desse ancestral comum. Assim, a linhagem dos australopitecíneos estaria razoavelmente
delineada: o Ardapithecus ramidus seria o principal candidato a primeiro hominídeo e
descendente direto do ancestral comum a nós e aos chimpanzés; ele teria originado o primeiro dos
australopitecos, o Australopithecus anamensis, que seria o ancestral do Australopithecus afarensis
e este teria originado a linhagem do Homo.
Em 2001, ossos das pernas e mandíbulas encontrados nos montes Tungen, no Quênia,
pertencentes a um ser denominado de Orrorin tungenensis e datados de seis milhões de anos,
recuaram a origem dos hominídeos para 1,5 milhões de anos antes do que se imaginava. O
Orrorin, apelidado de “homem do milênio”, é um do hominídeos mais controvertido do passado,
pois tanto pode ser um ancestral direto nosso, como ancestral dos australopitecíneos. Restos
encontrados no norte do Chade, a quase três mil quilômetros da costa oriental africana, revelaram
um ser ainda mais antigo, que viveu há sete milhões de anos, denominado de Sahelanthropus
tchadensis, também conhecido como Toumaï, que na língua local significa “esperança de vida”.
Esse ser era estranhamente moderno para sua idade, pois podia erguer-se no solo das florestas
sobre as patas traseiras utilizando as dianteiras como mãos e, talvez, pudesse locomover-se ereto
melhor do que os australopitecíneos que surgiram três milhões de anos depois. Se o
Sahelanthropus foi, de fato, um hominídeo, ele poderia ser o mais antigo ancestral da
humanidade; neste caso, nossa característica postura ereta teria surgido nas matas e não nas
savanas e a origem dos hominídeos seria um milhão de anos mais antiga do que era previsto pelos
estudos moleculares.
A mesma diversidade ocorria também com os australopitecíneos do tipo robusto, pois na África
Oriental foram encontradas várias espécies deles, como o Paranthropus boisei e o P. aethiopicus,
que viveram entre dois e 1,4 milhões de anos atrás; assim, o Paranthropus robustus, o primeiro
desse tipo a ser encontrado, também não estava sozinho e convivia com várias outras espécies
semelhantes.
Tal como ocorria com os australopitecíneos, o gênero Homo, ainda que restrito a poucas espécies
fósseis conhecidas, como o H. habilis, o H. rudolfensis e o H. ergaster encontrados no leste e sul
africano e datados de 2,5 a 1,8 milhões de anos, apresenta o mesmo padrão de diversidade e de
coexistência. Todos esses nomes representam apenas uma fração dos tipos conhecidos e foram
citados para enfatizar que, na África, uma grande diversidade de espécies de Homo,
Australopithecus e Paranthropus conviviam, competiam e compartilhavam os recursos do
ambiente.
Há 1,8 milhões de anos, os hominídeos chegaram à Ásia e os novos ambientes estimularam sua
diversificação. Há um milhão de anos, uma espécie pertencente ao nosso gênero, o Homo erectus,
já vivia na China e em Java; na África. Na Europa Oriental, vivia o H. heidelbergensis, que
originou o H. neanderthalensis, espécie que dominou a Europa entre 200 mil e 30 mil anos atrás.
Entre 200 mil e 150 mil anos atrás, surgiu na África o homem anatomicamente moderno, H.
sapiens, que há 40 mil anos invadiu a Europa e substituiu os até então dominantes neandertais,
tornando-se a única espécie de hominídeo no planeta.
Esses seres produziram as primeiras ferramentas, inicialmente simples lascas de pedras elaboradas
provavelmente por australopitecíneos há 2,5 milhões de anos; um milhão de anos após, essas
lascas deram lugar às machadinhas de mão que vieram a ser o primeiro tipo de ferramenta
produzido a partir de um projeto, de uma capacidade nova – a de imaginar e fazer coisas que não
existem na natureza. A machadinha de mão, provavelmente produzida pelo H. ergaster, devia ser
bastante eficiente, pois permaneceu praticamente inalterada por um milhão de anos, atingindo
maior sofisticação com o homem de neandertal, sendo depois substituída pela tecnologia superior
do homem moderno, que deu início à produção de lâminas de pedra longas e finas e a ferramentas
de ossos e chifres.
Uma das controvérsias promovidas pelo encontro desses fósseis consiste em determinar se eles
pertencem ou não à linhagem humana. Se é difícil conceituar o que seja “homem”, deve ser ainda
mais difícil conceituar o que seja “hominídeo”, mas, em geral, abrigam-se sob essa denominação
os primatas membros da família humana que andavam eretos ou semi-eretos. Nos últimos quatro
milhões de anos, existiram várias espécies de seres que podem ser reunidos nessa família, mas
nem sempre é possível avaliar seu modo de locomoção, porque muitas vezes seus restos se
resumem não a ossos dos membros, mas a fragmentos do crânio e a dentes isolados. No entanto,
caninos pequenos, semelhantes aos incisivos e que não se projetam para fora da arcada dentária,
também indicam uma direção humana. Por isso, surgem muitas controvérsias sobre se esses seres
do passado pertencem ou não à linhagem humana e sobre o lugar que cada uma deles ocupa na
história dos hominídeos. A polêmica também resulta do fato de que esses fósseis são raros,
incompletos, reúnem características primitivas com modernas e são constituídos por fragmentos
ósseos diferentes, dificultando a comparação entre eles. Assim, restam muitas lacunas a serem
preenchidas e várias hipóteses conflitantes envolvem as espécies encontradas mais recentemente.
Por exemplo, para alguns paleoantropólogos, o Sahelanthropous é ancestral do gorila, o
Ardapithecus originou o chimpanzé e o Orrorin, o homem, enquanto uma hipótese oposta
considera esses três hominídeos ligados sucessivamente na linha que levou aos humanos: se a
pequena caixa craniana dos Sahelanthropus os aproxima dos macacos, seus dentes semelhantes
aos dos humanos permitem considerá-lo como o hominídeo mais antigo, o ponto em que teve
início a aventura humana, o momento em que nossa linhagem separou-se da do chimpanzé.
As descobertas dos últimos 15 anos consolidaram a importância da África na nossa evolução,
recuaram a história da humanidade em pelo menos um milhão de anos, reforçaram a importância
do andar bípede, da inteligência e da cultura na nossa evolução e modificaram radicalmente várias
noções que se tinha sobre a origem do bipedalismo. De acordo com os novos achados, a posição
ereta surgiu nas matas há seis ou sete milhões de anos numa ocasião em que as grandes florestas
tropicais haviam recuado, forçando nossos ancestrais a aventurar-se nas savanas recém-criadas.
Nesse novo ambiente, a postura bípede revelou-se mais eficiente do que a quadrúpede, porém seu
subproduto mais importante, a tecnologia, a capacidade de produzir e usar ferramentas, só ocorreu
três milhões de anos após sua aquisição.
Dessa breve exposição, ressaltam quatro aspectos: 1- os hominídeos do passado que foram citados
representam apenas uma parcela da variedade total dos seres que participaram de nossa história
evolutiva; 2- essa descrição está longe de representar uma síntese ou de apresentar uma visão
compartilhada por todos os cientistas, incluindo o debate entre correntes que reúnem vários
espécimes em uma só espécie e os que consideram que pequenas diferenças são suficientes para
criar uma nova espécie; 3- nossa história é, tal como a dos demais seres vivos, caracterizada por
espécies que surgem, desaparecem e diversificam-se à medida que colonizam novos ambientes; 4as dúvidas e indagações sobre nossa história são mais numerosas do que as certezas.
NOSSA DUPLA HERANÇA E UM DEBATE INÚTIL
Resultamos de instintos ou somos construções sociais? Esse falso e antigo conflito entre natureza
humana x natureza da sociedade humana, natureza x cultura, natureza x criação, nature x nurture,
não faz sentido porque os dois agentes – os genes e o ambiente – são completamente interligados,
estando ambos igualmente envolvidos na determinação de nossas características. Como cada um
desses fatores isoladamente não determina o desenvolvimento humano, não há conflito algum
entre natureza e criação, pois, embora os genes participem na determinação das características
físicas, do comportamento, da personalidade, das aptidões, eles atuam em um ambiente que altera
a maneira como são ativados ou inativados. Não há, portanto, determinismos genéticos ou
ambientais absolutos, nada é inevitável, não há destino e predeterminação que seriam inimigos da
livre escolha e de nossa liberdade. Ao contrário, os genes e o ambiente possibilitam a liberdade
porque, em virtude de sua interação, nenhum comportamento ou traço cultural humano pode ser
atribuído a uma “lei” biológica ou ambiental dos quais as pessoas não podem escapar.
A inutilidade do debate em torno da determinação genética ou ambiental de nossos
comportamentos pode ser exemplificada com o antigo “problema” de definir se a pessoa nasce
homossexual ou se torna homossexual em decorrência de suas experiências de vida. Quem
considera que a homossexualidade é uma infração à suposta “lei natural” de que os sexos opostos
se atraem com vista à reprodução ignora a evidência do dia-a-dia de que a atração homoerótica
existe; quem admite que ela seja determinada pela cultura, pela forma como a pessoa foi criada,
ignora as evidências da genética que comprovam haver um componente hereditário nesse
comportamento. Igualmente são meras invenções as “justificativas” para a histórica dominação do
homem sobre a mulher e para a origem das diferenças entre os sexos. A mais recente polêmica a
respeito ocorreu em 2005, envolvendo o então reitor da Universidade de Harvard, que foi
considerado preconceituoso e pressionado a demitir-se quando atribuiu o relativo insucesso das
mulheres nas ciências exatas a diferenças inatas em relação aos homens. O reitor apoiou-se na
psicologia evolutiva, que procura explicar a sociedade humana em uma base biológica: os traços
de nossa personalidade teriam sido moldados pela evolução biológica, o comportamento teria uma
base genética e as diferenças entre os sexos seriam determinadas pela seleção natural. No caso da
inteligência, sob essa óptica, a seleção teria privilegiado em nossos ancestrais masculinos as
percepções geográficas e espaciais necessárias à caça, o que os teria tornado mais aptos para a
geometria, a matemática, a precisão, enquanto nas mulheres teriam sido selecionadas as
habilidades de comunicação necessárias ao relacionamento com seus filhos, o que as teria tornado
melhores no raciocínio verbal, no uso das palavras e na habilidade de captar o conteúdo
emocional de um discurso. Os críticos ao pronunciamento do reitor consideram que não são os
determinismos genéticos e evolutivos, mas sim fatores culturais, ambientais, que afastam as
mulheres das carreiras de exatas. Esse debate inútil apenas demonstra ignorância da lição básica
da genética: todo fenótipo (caráter) deriva da interação entre o genótipo (o material genético) e o
ambiente.
Essas controvérsias eternizam-se porque são estimuladas e alimentadas pela ideologia política.
Admitir que os comportamentos sejam determinados geneticamente apóia a alegação de que o
controle dos grupos dominantes e a distribuição desigual da riqueza são justificados por “forças da
natureza” responsáveis pelo sucesso de alguns e fracasso de outros. Se, ao contrário, os
comportamentos derivassem exclusivamente do ambiente, eles poderiam ser moldados de acordo
com o interesse da sociedade, apoiando o ideal socialista de que um ambiente adequado e
oportunidades iguais podem transformar a própria natureza humana. A última posição é mais
atraente porque o ambiente pode ser mudado, enquanto os genes não e a primeira é mais
conformista ao admitir que não adianta lutar pela igualdade de oportunidades e pelo progresso
social, já que as pessoas nascem com comportamentos e capacidades definidas por seus genes.
Mas ambas teimam em ignorar que os genes causam diversidade independentemente de qualquer
ideal da sociedade e que nossas experiências pessoais estão além de qualquer tentativa de controle
da vida social. Retire as normas da sociedade e você terá uma criatura totalmente nova,
“Frankensteins” sem compromissos, sem história, sem passado, com a liberdade de acertar ou
errar sem limites ou limitações; retire os condicionantes biológicos e você terá um “robô”
escravizado pelo tecido social.
Assim, embora nós sejamos animais, não apenas animais; somos seres especiais na natureza não
porque tenhamos um físico diferente do padrão básico, mas porque só começamos a funcionar
como membros da humanidade depois que à nossa parte animal for adicionado um componente
ambiental representado por uma grande dose de cultura.
A cultura é parte de nós, uma característica tão humana como a posição vertical ou como o
cérebro grande, um traço que se desenvolveu junto com nossas características físicas e que, em
um processo de reforçamento recíproco, nos originou. Assim, se nossa evolução como seres
biológicos é explicada pelos mesmos mecanismos que orientam a evolução dos demais seres
vivos, para nós esses mecanismos não bastam, pois a cultura entrou no processo determinando
que, tal como a evolução biológica, certos genes fossem mantidos e outros eliminados. Tão
importante foi a aquisição da cultura que, desde que ela apareceu, nós evoluímos muito mais
rapidamente do que qualquer outra espécie: ela nos possibilitou uma independência que nenhum
outro ser tem em relação ao ambiente, sobre o clima, sobre a produção de alimentos, sobre nossos
inimigos e doenças e permitiu que nossa evolução se processasse sem alterações físicas
reconhecíveis nos últimos 40 mil anos. Inútil como o debate que opõe natureza e criação, é a falsa
questão de sermos produto ou produtores da cultura porque, embora a cultura tenha uma origem
biológica, ela foi selecionada pelas vantagens reprodutivas que nos conferiu, ela tornou-se um
sistema independente de valores e afastou-se infinitamente de sua origem biológica. Aceitar que
nós somos produtores da cultura implica admitir que a cultura resulta de nossa biologia e que nós
somos animais diferentes dos demais em uma questão de grau: a cultura, os símbolos e valores,
as formas de comunicação, os telescópios espaciais, a gigantesca máquina que acelera prótons à
velocidade da luz, seriam resultados inevitáveis de nossa evolução biológica. Entender que nossa
humanidade é um produto da cultura implica admitir que somos diferentes dos demais seres
vivos por um fator qualitativo – a cultura – que controla e orienta nossa evolução. Tentando
encerrar o debate estéril: nossa evolução resulta de uma interdependência, de interações contínuas
entre características biológicas e conquistas culturais de modo que nós diferimos dos demais seres
vivos por nossa dupla herança.
Esses dois processos tão diferentes interagem porque ambos são adaptativos. Animais de regiões
frias adaptam seus corpos para sobreviver, enquanto os esquimós adaptam-se culturalmente por
meio de suas vestimentas, alimentação e moradia, de modo que fisicamente não diferem muito
dos indígenas de áreas tropicais. A adaptação patrocinada pela cultura chega a ser mais eficiente
do que a adaptação biológica porque se difunde mais rapidamente, atinge um número maior de
indivíduos e pode ser totalmente alterada sempre que seus portadores assim o quiserem, bem ao
contrário do que ocorre com os genes. Os dois processos são complementares e a interação entre
eles é total, pois tanto a constituição genética de uma população pode determinar traços culturais,
como a cultura pode determinar a constituição genética de uma população. Por exemplo, em
algumas populações africanas, chinesas e brancas do leste europeu há deficiência da enzima
galactose-1- fosfato-uridil-transferase (traço genético) de modo que nessas pessoas não ocorre a
digestão dos açúcares do leite, a galactose acumula-se no sangue e fígado causando problemas
gastrointestinais, retardo mental e catarata, tornando obrigatório excluir o leite da dieta (traço
cultural). A situação oposta, a de um traço cultural alterado, a constituição genética da população
ocorre nas regiões inadequadas à criação de gado onde falta leite; como não há consumo desse
produto (traço cultural), as pessoas com deficiência da enzima não são prejudicadas e a freqüência
do gene aumenta.
UMA FRAUDE E MUITOS ENIGMAS
A fraude mais conhecida na história da paleoantropologia é a do homem de Piltdown, cujo
principal vilão foi Charles Dawson (1864-1916), advogado em Sussex, região da Inglaterra onde
fica a cidade de Piltdown. Essa fraude reflete não só um desvio da ciência, como também os
preconceitos e a falta de conhecimentos sobre nossa história evolutiva. Até o final dos anos 1910,
só se conhecia como humanos do passado o Homo erectus, indonésio, o Homo neanderthalensis,
alemão, e o homem de cro-magnon, francês, todos europeus e, contrariando a previsão de Darwin,
nenhum africano. Tudo apontava para a Eurásia como berço da civilização e da humanidade, mas
a nação mais poderosa da ocasião, a Inglaterra, estava fora dessa história. Isso tinha de ser
corrigido. Em 1911, Dawson e colaboradores encontraram em Piltdown uma calota craniana e
uma mandíbula e deram a esses restos o nome de Eoanthropus dawsoni – homem da aurora, de
Dawson, que seria um hominídeo inglês com idade estimada em 500 mil anos.
Logo no início da história do homem de Piltdown, os antropólogos americanos admitiam que a
mandíbula de um macaco houvesse se misturado com um crânio humano recente, seja devido ao
acaso ou a uma fraude, mas no Reino Unido a maior parte dos cientistas apoiava Dawson.
Curiosamente, em 1924, Raymond Dart descobriu na África o Australopithecus africanus, que
recebeu pouca atenção como possível ancestral humano devido a seu cérebro ser muito pequeno;
além disso, contra a humanidade dos restos achados por Dart conspiravam dois preconceitos: o de
ser africano e o de não possuir o cérebro avantajado, que era considerado como a marca da
humanidade.
Contudo, lentamente o homem de Piltdown começou a ser desmascarado: em 1953, demonstrouse que o crânio pertencia a um homem moderno com não mais de mil anos, que a mandíbula era
de um orangotango moderno, que substâncias químicas haviam sido usadas para lhes dar
aparência antiga e que a dentição foi alterada para se aproximar à de um ser humano. Além da
participação comprovada de Dawson na fraude, várias pessoas foram acusadas, inclusive o
conhecido antropólogo francês padre Pierre Teilhard de Chardin e um assistente de pesquisa que a
teria patrocinado para ridicularizar seus superiores.
Arte
Desde que o homem moderno surgiu há 200 mil anos, até 50 ou 40 mil anos atrás, não ocorreram
mudanças significativas em sua maneira de construir instrumentos, de morar e de ver o mundo. A
grande mudança ocorreu com o aparecimento do raciocínio simbólico representado pela arte. As
esculturas mais antigas que se conhecem são três pequenas figuras esculpidas em marfim, com
cerca de quatro centímetros e feitas no final da última Era do Gelo, há 33 mil anos. Esses objetos
pertencem à cultura aurignaciana que marca a Grande Explosão Criativa, o surgimento de nossa
modernidade cultural. Qual a causa ou as causas desse surto de criatividade? Até a descoberta
dessas estatuetas, as manifestações artísticas mais antigas que se conheciam eram as magníficas
pinturas rupestres (feitas nas paredes de grutas) de Chauvet, na França, com 32 mil anos, mas
ações humanas voltadas à arte e à ornamentação já existiam muito antes, na forma de rabiscos
geométricos feitos em pedra há 77 mil anos na África do Sul e de colares de conchas datados de
75 mil anos, mostrando que os seres humanos se davam o trabalho de perfurar dezenas de
pequenas conchas e reuni-las em colares destinados à ornamentação do corpo. Porém nada disso
se compara com as extraordinárias realizações do aurignaciano.
Linguagem e agricultura
A fala parece ser a única característica que nos distingue dos outros animais. A ela estão
associadas pelo menos duas outras capacidades, que são o desenvolvimento da inteligência
motora necessária para controlar os músculos das mãos e da face e o aparecimento da agricultura.
Em nosso córtex cerebral, as áreas motoras relacionadas com as mãos e com a face são muito
maiores do que as relacionadas com qualquer outra região do corpo, caracterizando nossa
competência para movimentos manuais refinados e para a movimentação dos lábios e da língua,
que articulam a fala. Nossos ancestrais que viveram há 30 mil anos costuravam roupas,
construíam moradias e elaboravam ferramentas complexas, o que indica que eles tinham grande
habilidade manual e, provavelmente, uma sintaxe elaborada. No entanto, nenhuma das linguagens
dessa época subsistiu e nenhuma língua atual parece remontar a mais de 10 mil anos, sugerindo
que, nessa ocasião, em um processo rápido, os idiomas anteriores extinguiram–se, dando lugar aos
atuais grupos lingüísticos.
Esse avanço lingüístico coincide com a aquisição da agricultura, que conferiu aos humanos um
novo poder de expansão demográfica e econômica patrocinado, não pela competição ou guerra,
mas pelo arado. Antes da agricultura, o único modo de vida conhecido há mais de cem mil anos
era o de caçador-coletor, mas os detentores desse modo tradicional de vida não puderam competir
com as vantagens evolutivas da agricultura e foram, em sua maioria, física e culturalmente
substituídos.
No Velho Mundo a agricultura teve início há cerca de 10 mil anos, quando os climas e os
ecossistemas da Terra adquiriram sua feição atual. Com a alimentação garantida, os agricultores
passaram a ter filhos em ritmo mais intenso do que os caçadores-coletores, cujo estilo de vida
obrigava as mulheres a limitar sua taxa reprodutiva às poucas crianças que podiam ser carregadas
durante as expedições nômades em busca do alimento. Em conseqüência do adensamento
populacional patrocinado pela agricultura, ocorreram o expansionismo geográfico e político e o
aparecimento dos maiores assassinos da humanidade, as doenças infecciosas, como varíola,
tuberculose e gripe, muitas das quais provenientes dos animais que foram domesticados.
A hipótese da expansão conjunta da agricultura e da lingüística é sedutora e conta com evidências
fortes, mas é de difícil comprovação porque, se podemos recuperar esqueletos e a cultura material,
não podemos desenterrar uma língua.
Os primeiros habitantes das Américas
Como, quando e de onde vieram os ancestrais dos índios americanos? A alternativa mais aceita é a
travessia de povos com características mongólicas da Ásia para a América do Norte, por uma
ponte de terra que surgiu durante a última Era do Gelo, a glaciação ocorrida entre 70 e 20 mil anos
atrás, que cobriu a maior parte do hemisfério norte com espessa camada de gelo; com isso,
ocorreu um rebaixamento no nível do mar em cerca de 100 metros e o estreito de Bering “secou”,
criando uma rota terrestre. O aquecimento que se seguiu ao fim da glaciação provocou diminuição
da ponte de terra, mas ela continuou podendo ser usada até pelo menos 10 mil anos atrás por
sucessivas ondas de migrantes. Outra possibilidade é que os seres humanos tenham pulado de ilha
em ilha pelo Pacífico Sul nessa época em que os oceanos tinham um nível mais baixo, ou até
mesmo tenham vindo com barcos da Europa para a América do Norte, não se podendo descartar
que as três rotas, ou outras ainda, tenham sido usadas em sucessivas ondas migratórias. Estudos
genéticos e antropológicos indicam que os povos que alcançaram a América tinham grande
variabilidade genética, apoiando a hipótese de que eles poderiam ter chegado por mais de um
caminho.
Outra polêmica é a época em que isso ocorreu. Até a década de 1990, a maioria dos
paleoantropólogos defendia que o sítio humano mais antigo do continente era o de Clovis, nos
Estados Unidos, datado de 11.500 anos; mas mais recentemente descobriram-se vestígios da
presença de grupos de humanos no sítio arqueológico de Monte Verde, no Chile, datados de
12.500 anos, o que sugere que eles tenham atravessado da Sibéria para a América há pelo menos
15 mil anos, muito antes da era Clovis.
Para aumentar a complexidade, foram encontrados na América do Sul e, mais recentemente, na
América do Norte, vestígios de populações mais antigas e não-mongólicas, assemelhando-se mais
aos atuais australomelanésios. Esses primeiros habitantes do continente, denominados de
paleoíndios, são representados por dezenas de restos mais antigos que os norte-americanos do
sítio Clovis e desafiam o modelo tradicional porque sugerem que povos semelhantes aos atuais
aborígines da Austrália teriam iniciado a colonização do continente antes dos povos mongólicos.
Supõe-se que essas populações asiáticas não-mongólicas teriam cruzado o estreito de Bering há
15 mil anos ou mais (alguns falam em 40 mil anos), tendo sido extintos por competição ou
absorvidos por miscigenação com os grupos mongólicos que vieram posteriormente pela mesma
via.
Fogo
Nenhum vestígio de fogueira com mais de dois milhões de anos foi encontrado até o momento,
mas provavelmente o aproveitamento do fogo produzido naturalmente pelos raios e sua
transmissão por gravetos seja muito mais antigo em nossa história, pois ele garantia luz e calor e
protegia nossos ancestrais que viviam expostos no solo. As habilidades de produzir e controlar o
fogo foram adquiridas há cerca de 800 mil anos e tiveram importantes impactos sobre nossa
evolução, pois o fogo deu segurança para que os humanos migrassem da África para os territórios
desconhecidos do restante do mundo. Além disso, sua utilização na preparação de alimentos
tornou-os mais digeríveis e possibilitou extrair sua energia mais rapidamente: uma pessoa
sedentária, com 50 quilos, precisaria comer cinco quilos de vegetais crus para suprir suas
necessidades energéticas diárias de 2.000 calorias, mas, com vegetais cozidos, dois quilos seriam
suficientes. Desse modo, as 6 horas que os macacos gastam diariamente mastigando diminui, em
nós, para 1 hora, sobrando-nos tempo para que possamos nos dedicar a outras atividades. O uso de
alimentos cozidos explica vários aspectos de nossa anatomia e comportamento, tais como o
sistema digestivo curto, o tamanho semelhante entre homens e mulheres, nossos dentes menores
que os dos chimpanzés e a estrutura da sociedade humana em famílias nucleares com divisão
sexual do trabalho.
Posição ereta e caça
A humanidade surgiu quando o primata arborícola e quadrúpede tornou-se um ser bípede que se
aventurou nas planícies abertas: a aquisição da posição ereta foi um acontecimento dramático que
desencadeou nossa evolução. Ela nos legou algumas imperfeições, como problemas de coluna que
afligem grande parte da humanidade, dificuldades no parto determinadas pelo tamanho da cabeça
que abriga o cérebro volumoso, tendências a desenvolver varizes nas pernas e hérnias nas paredes
do corpo. No entanto, as vantagens da postura ereta foram tantas, que ela se tornou responsável
por vários aspectos dos nossos físico e comportamento: habitantes bípedes das savanas, ao se
elevarem acima do nível do solo, podem pressentir o inimigo ou a caça a maior distância; suas
mãos libertaram-se da função locomotora e especializaram-se para finalidades mais nobres, como
a proteção aos filhotes, o transporte de alimentos, o manuseio de objetos, a fabricação de
ferramentas; o cérebro rearranjou-se com aumento da porção média responsável pela motricidade
manual e facial; as costas ficaram menos expostas ao forte sol africano.
Uma das conseqüências da postura ereta é que nos tornamos excelentes andarilhos, capazes de nos
espalhar rapidamente por todas as regiões do planeta. Não somos bons velocistas e não podemos
sustentar altas velocidades por longo tempo, mas somos bons maratonistas, capazes de sustentar
corridas de resistência por várias horas. A capacidade de andar longas distâncias nos diferenciou
dos demais primatas e facilitou a caça e a obtenção dos nutrientes necessários para o crescimento
e funcionamento de um órgão que demanda muita energia para funcionar: o cérebro. Uma das
mudanças anatômicas patrocinadas pela marcha ereta foi o surgimento de nádegas grandes
necessárias para estabilizar o corpo quando, ao andar, nos lançamos para frente.Bundas grandes
antecederam os cérebros grandes de que tanto nos orgulhamos e que são, pelo menos em parte,
resultado do crescimento prévio do maior músculo do nosso corpo, o glúteo máximo.
Esse andarilho que foi o homem anatomicamente moderno revelou-se um excelente caçador,
tendo devastado e eliminado a megafauna dos Estados Unidos em poucos milhares de anos. Os
membros da cultura Clovis usavam lanças e estratégias coletivas de caça que lhes permitia há
11.500 anos caçar o mamute-lanudo, a preguiça-gigante e outros animais semelhantes; as enormes
quantidades de ossos de mamute encontradas em associação com suas lanças comprovam a
eficiência deles como caçadores. Na devastação do ambiente nem tudo é culpa dos humanos,
sendo provável que, além de sua ação predatória, outros fatores como a mudança climática, o
fogo, a fragmentação de habitats, a introdução de doenças e de espécies competidoras ou
predadoras, tenham colaborado para destruir a megafauna norte-americana; com efeito, na
Europa, Sibéria, Alasca e região central da América do Norte ocorreram extinções na megafauna
que não podem ser atribuídas à ação de caçadores humanos.
Para o hemisfério sul, que não sofreu um resfriamento comparável, pois as temperaturas caíram
apenas cerca de 7 graus centígrados, os dados sobre a extinção da megafauna não são muito
claros. No Brasil, sua destruição foi causada principalmente pelo aumento das chuvas que
transformaram as savanas numa vegetação mais fechada, o cerrado, acabando com as gramíneas
que constituíam a base da dieta desses animais.
Considerando essa história violenta, nós, que tanto apreciamos a tranqüilidade das certezas
absolutas, sempre retornamos à ilusória dualidade: somos macacos assassinos ou anjos decaídos?
Somos violentos por natureza e nossa agressividade é justificada pelo passado de caçadores ou a
violência ocorre quando há desequilíbrios de poder da sociedade? Os crimes podem ser
“justificados” porque quem os pratica sempre é vítima de sua genética ou do ambiente
socialmente aversivo onde foram criados? Os criminosos são responsáveis por suas escolhas ou
são vítimas de determinismos genéticos ou ambientais dos quais não podem escapar? Novamente
retorna a inútil polêmica entre as raízes bioevolutivas ou sociais de nossos comportamentos.
Certamente a biologia responde por parte de nossa tendência à violência, comum a vários animais,
como lobos e chimpanzés, que organizam grupos de machos para defender seu território ou
invadir território alheio; nos cérebros desses seres, a seleção natural deve ter favorecido a
tendência a criar “zonas de guerra” que delimitam fronteiras. Por outro lado, pressões culturais,
como vingança, iniciação dos jovens na guerra, diferenças religiosas, também causam ações
violentas. No entanto, novamente, nenhuma dessas “explicações” é suficiente, pois nós temos
liberdade e livre arbítrio para decidir se seremos mais pacíficos ou mais agressivos, visto que
nossos comportamentos resultam de interações entre as forças poderosas da natureza e da criação,
não sendo causados por nenhuma delas isoladamente.
Os neandertalenses
Os primeiros fósseis do homem neandertal foram encontrados no vale do rio Neander, na
Alemanha, em 1856 e, mais tarde, em grande parte da Europa e do Oriente Médio. Eles
possivelmente descendem do Homo heidelbergensis, viveram na Europa a partir de 200 mil anos,
coexistiram com os humanos modernos da cultura cro-magnon e extinguiram-se há 28 ou 30 mil
anos seja porque levaram a pior na competição por alimento e espaço vital com esses humanos
dotados de uma tecnologia superior, seja porque não se adaptaram ao aquecimento do clima, seja
porque foram contaminados por agentes infecciosos trazidos pelos invasores aos quais não tinham
resistência, seja porque se miscigenaram com esses invasores mais numerosos. Caso tenha havido
cruzamentos com os humanos modernos, gerando descendência fértil, a extinção dos
neandertalenses seria incompleta com seus genes permanecendo em nós, mas também eles podem
ter efetivamente se extinguido caso o cruzamento gerasse descendentes estéreis, como ocorre no
cruzamento entre éguas e jumentos que produzem um híbrido viável, mas estéril, que é a mula.
Os neandertalenses tinham diferenças anatômicas e culturais marcantes em relação aos humanos
modernos: crânio com testa baixa e inclinada para trás, mandíbula recuada, caixa torácica em
forma de sino e não em cone como a nossa, pelve larga, perna curvada, musculatura pesada e
estatura baixa, características que lhes davam aparência atarracada, porém nada substancialmente
diferente de nós, mesmo porque muitas dessas características podem ser meras adaptações ao
ambiente frio. Eram hábeis artesãos, fabricando ferramentas como facas, raspadores e pontas de
lança e seu pensamento simbólico é representado por obras de arte que caracterizam sua cultura
mousteriana (de Le Moustier, uma caverna na França).
Os neandertalenses são os nossos parentes mais próximos, mas o grau de parentesco é
controvertido, o que se reflete no seu nome científico: Homo neanderthalensis sugere que eles
constituíam uma espécie biológica, anatômica, cultural e comportamentalmente diferente da
nossa, enquanto Homo sapiens neanderthalensis sugere que eles são uma subespécie da nossa,
Homo sapiens sapiens.
A solução do dilema depende de saber se os neandertalenses e os humanos modernos teriam
trocado genes originando descendentes férteis ou não; caso isso acontecesse, ambos seriam
membros da mesma espécie, caso contrário, seriam espécies diferentes. Alguns restos parecem
exibir detalhes anatômicos híbridos, mas a maior parte das evidências, inclusive moleculares,
aponta no sentido de eles serem uma espécie distinta, sem ligação direta com os humanos
modernos com os quais não se cruzavam. Como não há provas de que eles se cruzavam, também
não há de que não o faziam, de modo que a dúvida persiste.
ENTRAMOS EM CENA
Desde cinco milhões de anos, talvez há sete milhões de anos, uma variedade de seres pertencentes
à nossa história evolutiva perambulou pelo planeta. Nessa longa história, várias espécies de
hominídeos apareceram mas todos se extinguiram, exceto nós, que desde 25 mil anos somos a
única espécie de hominídeo sobre a Terra.
Essa solidão favoreceu a idéia vigente até a década de 1960 de que ao longo dos tempos só teria
existido uma espécie de hominídeo em cada momento, o que implica a idéia de que a evolução
teria sido linear em direção a nós. A partir do final da década de 1970, ficou evidente que vários
tipos de hominídeos conviveram, competiram, surgiram e desapareceram, forçando a substituição
da hipótese da espécie única pela noção de que várias espécies viveram simultaneamente.
Muitas evidências apontam para nossa origem africana, ocorrida há 150 mil ou 200 mil anos. Por
volta de 100 mil anos atrás, nossos ancestrais já haviam alcançado o Oriente e compartilhavam
com os neandertalenses o mesmo ambiente e a mesma tecnologia de fabricação de ferramentas
muito semelhantes. Porém, ao chegarem à Europa por volta de 40 mil anos atrás, introduziram a
tecnologia de talhar a pedra típica do Paleolítico superior, muito mais avançada, além do uso de
outros materiais como ossos e chifres, da arte de entalhar, gravar e pintar em cavernas e de
praticar funerais elaborados com bens de sepultura.
Raças humanas
Quando uma população inicialmente uniforme se divide em grupos separados, o isolamento vai
gradativamente introduzindo diferenças entre os grupos. Se o isolamento for prolongado, a
fertilidade entre os grupos vai se reduzindo até desaparecer e acabam se formando espécies
diferentes. O estágio intermediário, no qual se notam algumas diferenças genéticas entre os
grupos isolados, caracteriza a formação de raças de uma mesma espécie; assim sendo, como as
diferentes raças de uma espécie têm origem comum, elas nunca podem ostentar qualquer grau de
“pureza”.
A diferenciação da humanidade em raças começou quando nossos ancestrais iniciaram sua
expansão pelo mundo, pois a ocupação de novos ambientes e a adaptação a novos climas e a
novas condições promoveram diferenciações locais com diversificação genética e morfológica. É
bem sabido que o cruzamento entre pessoas de “raças” diferentes não acarreta nenhum declínio de
fertilidade, o que significa que a nossa diferenciação racial não teve tempo, nem oportunidade de
alcançar o ponto em que as espécies se separam; nem mesmo a diferenciação se completou com a
formação de raças claramente definidas porque o tempo foi muito pequeno e sucessivas ondas de
migrantes contribuíram para reduzir a diferenciação genética incipiente. Hoje, com a mobilidade
das populações favorecida pelo progresso dos meios de transporte, a diferenciação racial vem
diminuindo, havendo muitos grupos de transição de modo que qualquer traço humano exibe uma
variação geográfica contínua e gradual de uma região para outra. Por isso, e também porque não
há nenhuma definição satisfatória para o termo “raça”, toda classificação da humanidade em raças
será sempre arbitrária, podendo gerar tantas quantas quisermos.
Apesar da impossibilidade científica de delimitar a humanidade em “raças”, podemos reconhecer
cinco grupos étnicos cujas características médias são aproximadamente definidas: europeus do
Norte, europeus do Centro, africanos, australianos e mongólicos. As diferenças raciais mais
evidentes entre esses grupos são externas e, literalmente, ficam à flor da pele, pois, sendo a
superfície do corpo a interface entre o ambiente interno e o externo, ela desempenha um papel
importante nas adaptações ao clima. As diferenças externas entre os grupos refletem apenas a
história geográfica de seus antepassados, a história de suas adaptações a climas tão diferentes
como o ártico e o deserto, sendo um resultado esperado para qualquer espécie de ampla
distribuição geográfica, não significando que as várias raças tenham origens diferentes, que
tenham surgido em momentos diferentes da evolução ou que uma seja mais evoluída que outra.
Assim, essas características são adaptações determinadas por barreiras geográficas e ecológicas
que estabeleceram limites à livre migração de seus membros, mas nenhuma delas, considerada
isoladamente, basta para caracterizar qualquer um dos grupos. Por exemplo, os africanos e os
australianos têm a mesma cor de pele, mas textura de cabelo diferente; os europeus do Norte têm a
mesma cor de pele que seus vizinhos do Centro, mas índices cefálicos diferentes; os europeus do
Norte e os africanos diferem na cor de suas peles, mas têm os mesmos índices cefálicos; e assim
por diante. Mesmo características menos evidentes, como os marcadores genéticos e sorológicos,
não constituem critérios eficientes para separar as raças, pois são antes diferenças quantitativas do
que qualitativas: todas as raças têm os mesmos genes, variando entre elas apenas a freqüência
deles. Além disso, de modo geral, as diferenças genéticas entre as pessoas do mesmo grupo racial
são apenas um pouco maiores do que as diferenças entre pessoas do mesmo grupo.
Tanto pela impossibilidade de delimitar cientificamente a humanidade em raças, como pelo
descrédito desse conceito devido ao mau uso para fins militares e políticos, prefere-se abolir o
termo “raça” para nossa espécie, ainda que os cruzamentos entre pessoas de mesma “raça” sejam
mais freqüentes do que entre as de “raças” diferentes, determinando que as diferenças entre os
grupos étnicos permaneçam.
Voltamos, assim, ao questionamento inicial deste artigo referente a conceitos como humanidade,
nação e raça, em nome dos quais tantos milhões de indivíduos foram sacrificados ao longo de
nossa história. Neste momento, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos acaba de tomar
posse, com um elogiado discurso de candidato “pós-racial”, o que não significa que nesse país, ou
em qualquer outro, haja uma democracia racial ou que tenhamos superado a utopia da igualdade
entre as pessoas.
Uma nova evolução?
Nossa evolução foi moldada pela mesma força que atua em todo o mundo vivo: a seleção natural,
envolvendo competição, sobrevivência dos mais adaptados, reprodução dos tipos privilegiados
com preservação de seus genes, eliminação dos mais fracos junto com seus genes. Sob ação
dessas forças, há seis ou sete milhões de anos, a evolução dos primatas africanos tomou dois
rumos, um que levou aos humanos e outro que conduziu aos chimpanzés. O ramo que nos
originou começou a andar ereto, deixou as florestas, seus corpos e cérebros cresceram e
originaram o homem moderno que, há 50 mil anos, já era fisicamente idêntico a nós.
Ironicamente, se a tecnologia do Homo sapiens representada por ferramentas, armas e agricultura
afastou a fome e os predadores, ela também anulou as poderosas forças da seleção natural que nos
haviam originado, pois, se todos sobrevivem e se reproduzem, a seleção fica impedida e a
evolução biológica fica interrompida.
O que não se sabe é se a nossa evolução está parando devido ao arrefecimento das pressões
seletivas clássicas ou se ela está mudando de rumo pela ação de novas pressões produzidas pela
cultura e pela tecnologia. Na sociedade globalizada pode estar se iniciando uma nova evolução: o
crescimento das cidades aumenta a possibilidade de epidemias; as viagens internacionais
favorecem a disseminação de germes como os da gripe e cólera, impactando nosso sistema
imunológico; novas substâncias químicas e radiações espalhadas no ambiente podem estar
aumentando nossa taxa de mutação; as interações sociais processam-se, não mais por relações
pessoais, mas a distância, via internet; o controle das tecnologias genéticas, do genoma, da
reprodução assistida, da clonagem está em vias de nos permitir orientar conscientemente nossa
evolução.
O que fica claro é que nenhuma hipótese científica pode ser provada, que a mais brilhante teoria
científica pode ser refutada e demolida por um único achado conflitante e que essa aparente
vulnerabilidade da ciência constitui sua maior força, porque a impulsiona continuamente na busca
de novos conhecimentos.
Por isso, o conhecimento verdadeiro de nosso passado evolutivo é uma ilusão: nossos
conhecimentos são precários, as “árvores genealógicas” da linhagem humana são continuamente
revistas e refeitas e não é de estranhar que as lacunas no conhecimento sejam substituídas pelas
interpretações e especulações que melhor satisfaçam a necessidade que cada um de nós tem de
adequar-se aos fatos.
Não é de estranhar que persistam dúvidas fundamentais sobre o que de fato ocorreu, afinal,
acontecimentos muito mais recentes do que os de sete milhões de anos atrás estão envoltos em
névoas espessas. Por exemplo, a tradição histórica aponta o Oriente Próximo (Egito e
Mesopotâmia) como “berço da civilização”, donde a sabedoria se disseminou para a Grécia,
depois para Roma e daí para os “bárbaros” norte-europeus que estariam placidamente aguardando
a onda civilizatória. No entanto, esses “bárbaros” tinham conhecimentos matemáticos sofisticados
e uma engenharia eficiente que lhes permitiram construir grandes monumentos de pedra antes
mesmo dos egípcios e mesopotâmicos, incluindo o megalito de Stonehenge, que foi o primeiro
observatório astronômico do mundo.
Se há tantas lacunas nos acontecimentos ocorridos há poucas centenas de anos, é natural que
sejam ainda maiores as dúvidas que envolvem os milhões de anos da história dos hominídeos e os
milhares de anos da história de nossa espécie. Não se tem dúvida de que o berço do homem
anatomicamente moderno, nós, é a África, de onde vieram as populações que substituíram as
populações autóctones da Europa e Ásia. Na Europa, os grupos humanos anatomicamente
modernos substituíram as antigas populações neandertalenses cujo esqueleto pesado e fronte
recuada criaram no imaginário popular a idéia de brutos seres pré-humanos; por isso, foi um alívio
para o nosso orgulho saber que há 30 mil anos eles foram extintos e seu lugar ocupado por seres
de ossatura mais delicada e cuja maior sensibilidade é evidenciada nos desenhos que fizeram em
paredes de cavernas: era a vitória da sensibilidade sobre a brutalidade. No entanto, a cultura
mousteriana do homem de neandertal caracteriza-se por trabalhos em pedra muito superiores a
qualquer nível cultural anterior e eles foram os primeiros humanos a enterrar seus mortos, o que
sugere que tivessem sentimentos religiosos e uma visão autocrítica do mundo.
Como se vê, a história dos hominídeos tem mais dúvidas do que certezas, havendo ainda muito
a se desvendar, mas, como alertava o genial geneticista Theodosius Dobzhansky (1900-1975), “o
estado de dúvida pode não ser muito confortável, mas o de certeza é ridículo”.