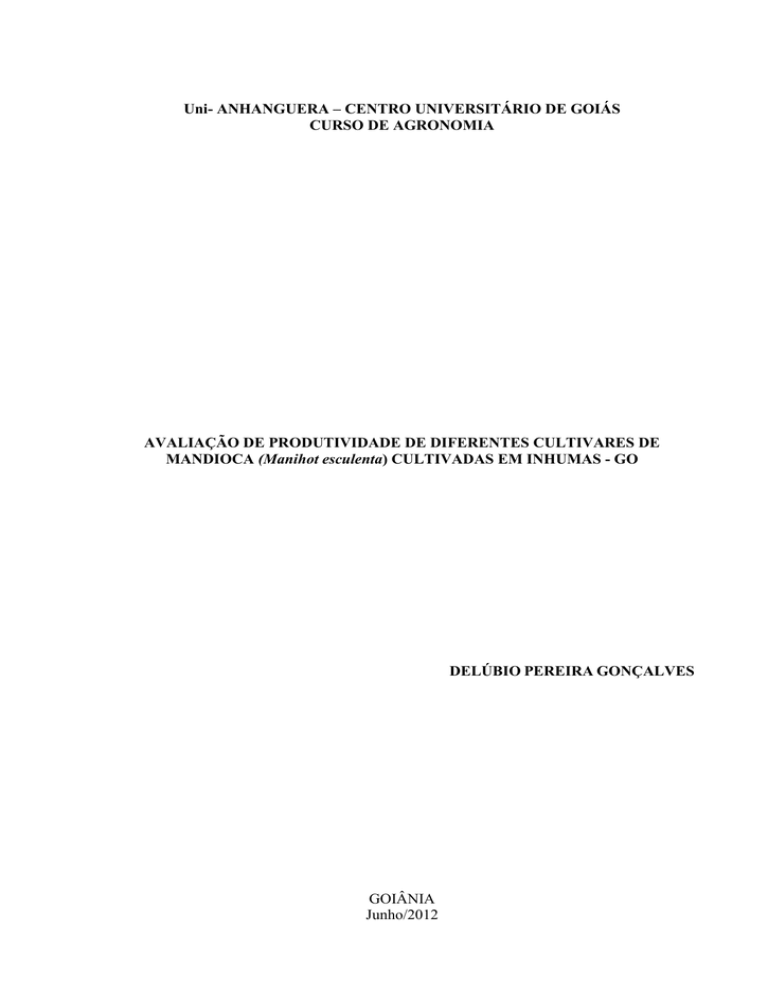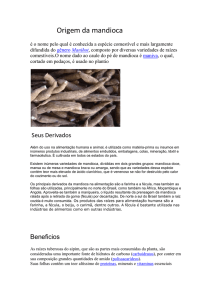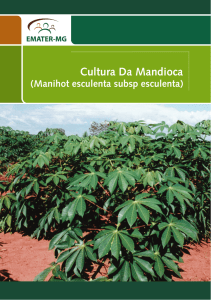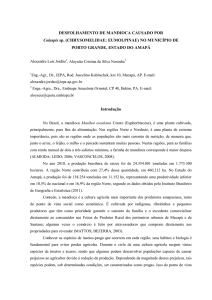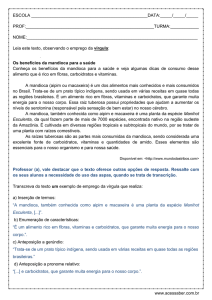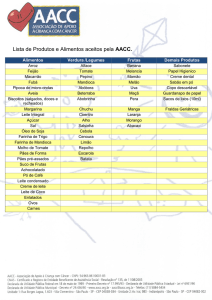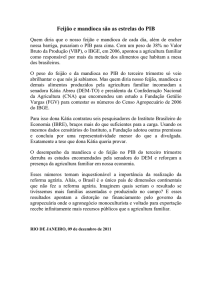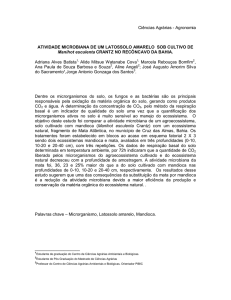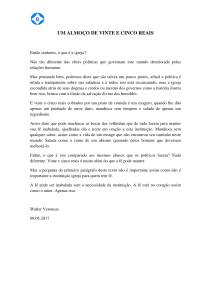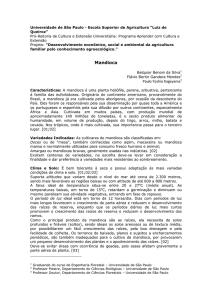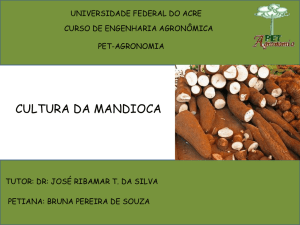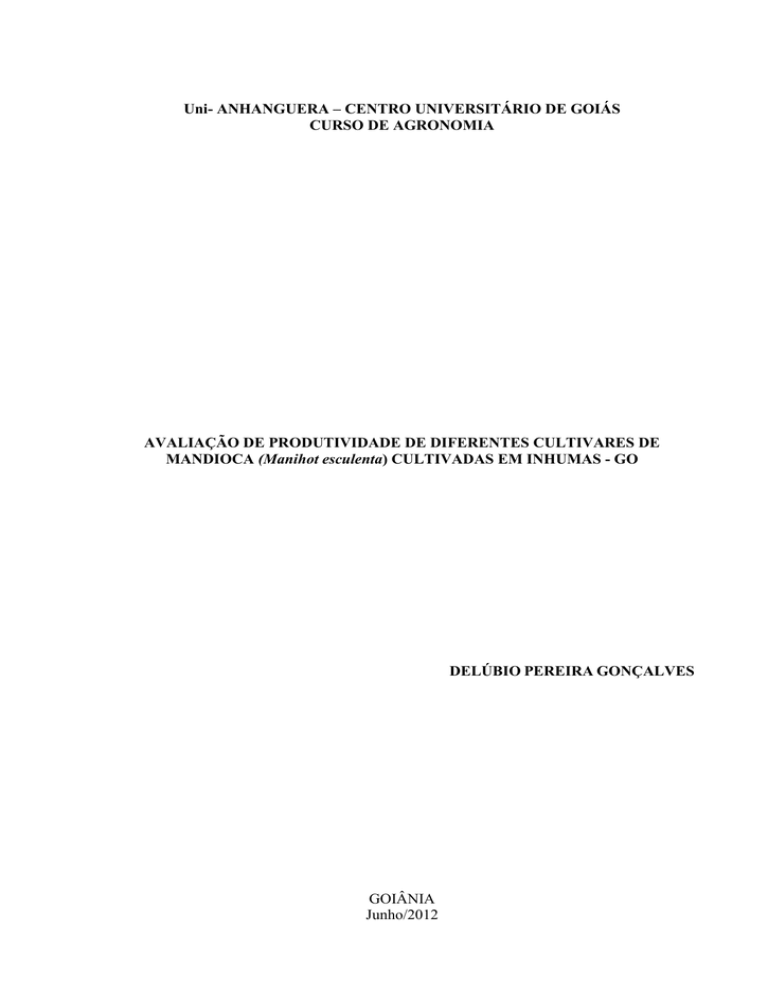
Uni- ANHANGUERA – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS
CURSO DE AGRONOMIA
AVALIAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE DIFERENTES CULTIVARES DE
MANDIOCA (Manihot esculenta) CULTIVADAS EM INHUMAS - GO
DELÚBIO PEREIRA GONÇALVES
GOIÂNIA
Junho/2012
DELÚBIO PEREIRA GONÇALVES
AVALIAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE DIFERENTES CULTIVARES DE
MANDIOCA (Manihot esculenta) CULTIVADAS EM INHUMAS - GO
Trabalho de conclusão de curso apresentado ao
curso de Agronomia do Centro Universitário de
Goiás Uni-ANHANGUERA, sob orientação da
Profª. e Drª. Luciana Domingues Bittencourt
Ferreira, como requisito parcial para obtenção do
título de Bacharel em Agronomia.
GOIÂNIA
Junho/2012
TERMO DE APROVAÇÃO
DELÚBIO PEREIRA GONÇALVES
AVALIAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE DIFERENTES CULTIVARES DE MANDIOCA
(Manihot esculenta) CULTIVADAS EM INHUMAS - GO
Trabalho de conclusão de curso apresentado à banca examinadora como requisito parcial para
obtenção do Título de Bacharel em Agronomia do Centro Universitário de Goiás - UniANHANGÜERA, defendido e aprovado pela banca examinadora no dia 06 de junho de 2012
constituída por:
__________________________________
Prof. Drª. Luciana Domingues Bittencourt Ferreira
Orientadora
_________________________________
Prof. Drª. Cristiane Regina Bueno Aguirre Ramos
Membro
__________________________________
Prof. Msª. Leandra Regina Semensato
Membro
AGRADECIMENTOS
Agradeço a Deus, a minha esposa Marly, aos meus filhos Amanda, Júlio
César e Delúbio Filho assim como ao Uni-ANHANGUERA, Centro
Universitário de Goiás pela oportunidade de conferir-me o título de
Bacharel em Agronomia. Agradeço pela compreensão e também a todos
aqueles que me ajudaram ao longo destes anos.
RESUMO
Devido à grande disparidade produtiva da mandioca no estado de Goiás, criou-se a
necessidade de estudo de algumas variedades. O objetivo deste trabalho foi determinar as
características agronômicas de quatro variedades de mandioca (Pão da china, Pão da china
amarela, Sabará, Vassourinha) cultivadas no município de Inhumas-GO localizado a
16°17’53”S e 49°32’21,48” O, com altitude de 824m e precipitações de 1400 a 1500 mm
anuais, no período de 22/01/2012 a 23/01/2012. Foi estabelecido como momento de colheita,
aquele em que as raízes apresentarem aceitação por parte dos consumidores. As variáveis
analisadas foram produtividade de mandioca, comprimento de raízes, altura da parte aérea,
matéria seca, por hectare. Todos os dados foram submetidos à análise de variância e para o
efeito de comparação de médias, realizou- se o teste de Tukey ao nível de significância de
5%. A quantidade de raízes não influenciou na produtividade das variedades. A variedade
Vassourinha obteve maior produtividade entre as quatro variedades estudadas. A matéria seca
das quatro variedades estudadas ficou dentro dos padrões estabelecidos por estudos anteriores.
PALAVRAS-CHAVE: Produtividade de raízes. Desempenho de cultivares. Cultivo de
mandioca em Inhumas – GO.
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO
6
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
8
2.1 Origem e aspectos históricos da cultura da mandioca
8
2.2 Aspectos sócios econômicos da cultura da mandioca
8
2.2.1 Área cultivada com a cultura da mandioca
8
2.2.2 Produtividade
9
2.2.3 Demanda do mercado interno e caracterização da unidade produtiva
10
2.2.4 Exportação
11
2.3 Fatores que influenciam a cultura da mandioca
11
2.3.1 Clima
11
2.3.2 Solos
12
2.3.3 Adubação
12
2.3.4 Fisiologia da cultura da mandioca
14
2.3.5 Caracterização das manivas ou estacas
14
2.3.6 Formação do sistema radicular
15
2.3.7 Desenvolvimento da parte aérea
15
2.3.8 Enchimento das raízes de reserva
15
2.3.9 Repouso da planta de mandioca
16
2.4 Propagação do material vegetativo para a produção de mandioca
16
2.5 Melhoramentos genéticos da cultura da mandioca
16
2.6 Doenças na cultura da mandioca
17
2.6.1 Bacteriose
17
2.6.2 Podridão radicular
18
2.6.3 Super alongamento
19
2.7 Pragas na cultura da mandioca
19
2.7.1 Mandarovás
19
2.7.2 Ácaros
20
2.7.3 Percevejo de renda
20
2.7.4 Mosca da mandioca
20
2.7.5 Mosca branca
21
2.7.6 Formigas
21
3 MATERIAL E MÉTODOS
22
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
23
5 CONCLUSÃO
27
REFERÊNCIAS
1 INTRODUÇÃO
O cultivo da mandioca (Manihot esculenta Crantz) teve seu início nas terras baixas sul
americanas, muito provavelmente no sul da Amazônia brasileira. Começou a ser domesticada
há aproximadamente nove mil anos pelas populações indígenas que habitavam aquela região.
Calcula-se que existam mais de sete mil variedades de mandioca, que sem duvidas são
potencialmente úteis para programas de melhoramento. (ABAM, 1998).
A mandioca constitui umas das principais cultivares agrícolas do mundo, entre as
tuberosas, perde apenas para a batata (Solanum tuberosum). Dentre os continentes, a África
(53,32%) é o maior produtor mundial, seguido pela Ásia (28,08%), Américas (18,49%) e
Oceania (0,11%). Na maioria dos países das Américas, o principal consumo da mandioca é
sob a forma fresca, a exceção do Brasil, que apresenta a farinha de mesa como principal
produto. Além de utilizá-la na produção de etanol . (EMBRAPA, 2003).
O Brasil é o maior produtor de mandioca do continente, e o segundo na produção
mundial, com 26.4 milhões de toneladas em uma área de 1,8 milhões de hectare. (IBGE,
2011). A produção brasileira, apesar de ser bastante significativa, praticamente estagnou nos
últimos anos (IBGE, 2011). A região nordeste é a maior produtora brasileiro de mandioca (8,5
milhões ton.), seguidos pela região norte (7,5 milhões ton.), sul (6,3 milhões ton.), sudeste
(2,3 milhões ton) e centro-oeste (1,2 milhões ton). (IBGE, 2011). A produtividade média
brasileira de mandioca tem ficado ao redor de 14,73 ton./ha com uma área de 1,8 milhões de
hectares. (CEPEA, 2011).
As regiões Norte e Nordeste destacam-se como principais consumidoras, sob a forma
de farinha. No Sul e Sudeste, a maior parte da produção é para a indústria, principalmente no
Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Na região Centro-Oeste destaca-se a produção de Mato
Grosso do Sul, cuja produção se destina, basicamente, a produção de fécula. (CEPEA, 2011).
Goiás ainda não é um grande produtor de mandioca, mas já tem uma grande indústria
de processamento instaladas na região de Bela Vista de Goiás,com capacidade para o
processamento de 200 toneladas de raízes por dia (FAEG, 2008). O clima favorece o cultivo
da mandioca, a localização privilegiada do estado favorece a venda de produtos feitos a partir
da mandioca para outros estados como Brasília, Tocantins. Intemperes do clima em regiões
como nordeste e sul do Brasil contribui positivamente para o mercado de produtos derivado
da mandioca em Goiás.
Em função do tipo de raiz a mandioca pode ser classificada como de mesa a qual e
comercializada na forma in natura, e para a indústria, transformada principalmente em farinha
que tem uso essencialmente alimentar. A fécula e seus derivados têm competitividade
crescente no mercado de amiláceos para a alimentação humana, ou como insumos em
diversos ramos industriais, tais como o de alimentos embutidos, embalagens, colas,
mineração, têxtil e farmacêutica. (SOUZA, 2003).
Algumas variedades utilizadas de mandioca, utilizadas para o consumo in natura, são:
Amansa burro, CM-424/1, Canário, Três meses, Arizoninha branca, Aipim abacate,
Cachoeiro, Franco Rabelo, PI-939 30, Matrincha, Saracura, Maragogipe, Taquari Cabocla,
Pão II, SM-82/1, Arrebenta burro, Manteiga 28, Cenoura rosada, CM-305/1, MCOL 113,
Manso, Sabará, Cacau, Pão-da-china, Vassourinha.
O produto mais nobre da planta, a fécula, passa a ocupar destacada importância
econômica na substituição parcial do trigo, a maior parte importada, podendo estar presente
em porcentagens de 10% a 20% na fabricação do pão francês e em proporções maiores na
confecção de outros produtos de panificação.
A utilização das raízes feculentas, ricas em carboidratos, a folha a qual tem elevado
teor de proteínas, Fe, Ca, vitaminas B1, B2, B6, C e principalmente vitamina A, desidratadas
ao sol, sob a forma de raspas, e da parte aérea como feno e silagem, normalmente deixadas no
campo após a colheita, podem significar, na alimentação animal, a produção de mais carne,
leite e ovos. (MATTOS, 1990).
O objetivo deste trabalho foi avaliar as características fitotécnicas e a produtividade,
de diferentes cultivares de mandioca cultivadas no município de Inhumas – GO.
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Origem e aspectos histórico da cultura da mandioca
A mandioca, Manihot esculenta Crantz, constitui um dos principais alimentos
energéticos para cerca de 500 milhões de pessoas, sobretudo nos países em desenvolvimento,
onde é cultivada em pequenas áreas com baixo nível tecnológico. (BOLOTA, 1993).
Em função do tipo de raiz a mandioca pode ser classificada de mesa, comercializada
na forma in natura, e para a indústria, onde e transformada principalmente em farinha e
fécula. Junto com seus derivados têm competitividade crescente no mercado de amiláceos
para a alimentação humana, ou como insumos em diversos ramos industriais tais como o de
alimentos embutidos, embalagens, colas, mineração, têxtil, farmacêutica e etanol.
(EMBRAPA, 2003).
2.2 Aspectos sócio econômicos da cultura da mandioca
2.2.1 Área cultivada com a cultura da mandioca
Dentre os continentes, a África (53,32%) é o maior produtor mundial seguido pela
Ásia (28,08%), pelas Américas (18,49%). No Brasil, maior produtor continental, a mandioca
é uma das culturas mais importantes e a de maior volume de produção após a cana-de-açúcar,
apenas nos últimos anos perdeu essa posição para milho e soja. (KANTHACK, 2006).
Mais de 80 países produzem mandioca, sendo que o Brasil participa com mais de
10,44% da produção mundial. De fácil adaptação, a mandioca é cultivada em todos os estados
brasileiros, situando-se entre os nove primeiros produtos agrícolas do País, em termos de área
cultivada, e o sexto em valor de produção. (CEPEA, 2011).
Dentre os principais estados brasileiro produtores de mandioca destacam-se: Pará
(17,9%), Bahia (16,7%), Paraná (14,5%), Rio Grande do Sul (5,6%) e Amazonas (4,3%), que
respondem por 59% da produção do país. A Região Nordeste sobressai-se com uma
participação de 32,63% da produção nacional, porém com rendimento médio de apenas 10,6
t/ha; as demais regiões participam com 29,07% (Norte), 24,37% (Sul), 8,86% (Sudeste) e
5,05% (Centro-Oeste). (IBGE, 2011).
As Regiões Norte e Nordeste destacam-se como principais consumidoras, sob a forma
de farinha. Estados como São Paulo, Paraná, Acre, Mato Grosso do Sul, tem rendimentos
acima de 20 toneladas por hectare, a maior parte da produção é para a indústria,
principalmente no Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Goiás tem uma produtividade de
aproximadamente 16 t/ha. (IBGE, 2011).
A produtividade média do Brasil que era de 12.95 em 1990, em 2011 poderá chegar a
14,73 t/ha, um aumento considerado pequeno se comparado a outras culturas. (IBGE, 2011).
Na Região do Cerrado, que ocupa 24% do território nacional, com uma área de 274
milhões de hectares, houve uma queda na produção de 1,9% ao ano; portanto, a área cultivada
passou de 311.125 hectares, em 1975, para 191.218 hectares, em 2000. Essa retração da área
traduziu-se em queda de 2,0% ao ano na produção do Cerrado, ou seja, saiu dos 3,9 milhões
de toneladas, em 1975, para 2,4 milhões de toneladas, em 2000. Em 1975, essa região
participava com 15% da produção nacional, chegando a apenas 8% em 1996 e passando para
a casa dos 10% em 2000. (EMBRAPA, 2003).
2.2.2 Produtividade
A produtividade da cultura é variável e depende da fertilidade do solo, da variedade
cultivada, da idade da cultura, dos tratos culturais, do estado fitossanitário da lavoura.
Historicamente, o Brasil tem produzido 12,3 t/ha, e a Região do Cerrado 11,3 t/ha, ou seja,
8% inferior à produtividade nacional. Há sinais de diminuição na área a ser plantada no estado
do Paraná e São Paulo, 46,5% dos produtores do Centro-Sul sinalizam diminuir área plantada,
devido aos Elevados custos nos arrendamentos, principalmente em áreas marginais. O
aumento dos custos de mão-de-obra (gargalo da mecanização), atratividade de outras
atividades agropecuárias (cana, boi, grãos), influência dos preços mais baixos deste ano,
devido à maior oferta, geadas no oeste paranaense prejudicaram material de plantio. (CEPEA,
2011).
(VALADARES FILHO et al, 2006) relataram 26,36% de matéria seca na maniva de
mandioca e (NOGUEIRA e GOMES, 1999) relatou uma produtividade de 20.000 kg/ha, e
está abaixo da margem citada por (VIOPOUX, 1996) que é de 30. 000 a 60. 000 kg/ha para
um ciclo da cultura de 540 dias. O Brasil produziu em 2011, 26,4 milhões de toneladas e
Goiás colaborou com apenas 332,8 mil toneladas. (CAPAE, 2011).
2.2.3 Demanda do mercado interno e caracterização da unidade produtiva
Há grande disparidade no consumo per capita de farinha de mandioca entre as regiões
Brasileiras. A média brasileira é de 7,8 quilos anuais per capita, média essa “inflada” pelos
33,8 quilos per capita da região Norte. O Nordeste consome 15,3 quilos anuais per capita,
enquanto as demais regiões apresentam consumo inferior a 1,5 kg/ capita/ano. O estado que se
destaca neste índice é o Amazonas, com 43,4 kg/capita/ ano, em contraste com os 0,7
kg/capita/ano do Paraná, apesar de sua considerável produção. (IBGE, 2008).
Podem ser identificados três tipos de unidades produtivas na mandiocultura brasileira.
O primeiro tipo é a unidade doméstica. Nela, predominam pequenos produtores que
empregam pouca tecnologia, muitas vezes com reduzido ou nenhum uso de fertilizantes, e
agro defensivos. Este tipo de processo, desenvolvido manualmente da plantação à colheita, é
comum nas plantações que abastecem o consumo local e que, em geral, são dedicadas às
variedades mansas. Pode ser encontrado em praticamente todos os Estados, mas assume
importância maior no Nordeste do país. (FOLEGATTI; MATSUURA, 2007).
O segundo tipo de unidade é a familiar, estabelecida em áreas pequenas ou grandes,
com maior ou menor grau de tecnologia. Produtores de maior porte já operam com máquinas
que aumentam a eficácia dos processos produtivos e apresentam condições de
competitividade para ingressar na cadeia produtiva da mandioca destinada à indústria. Este
tipo de propriedade detém uma parte significativa do mercado.(EMBRAPA, 2003)
A unidade empresarial, que se distingue pela contratação de mão-de-obra de terceiros.
O nível tecnológico nem sempre é fator distintivo, uma vez que os investimentos podem ser
muito semelhantes aos produtores familiares. Também possuem boa participação de mercado,
em especial nos estados do Sul e Sudeste, e participando fortemente das cadeias voltadas à
transformação industrial da mandioca. (BARROS, 2004, p. 33).
2.2.4 Exportação
Nos anos de 2000 e 2001, o Brasil exportou, em média, 13,1 milhões de toneladas de
fécula de mandioca. Um total de 79,9% do exportado foi para a Venezuela (31,4%),
Argentina (26,8%), Colômbia (10,7%), Uruguai (6,2%) e Estados Unidos (4,8%). De toda a
fécula exportada, 6,2% são provenientes da Região do Cerrado. Na forma de raiz de mandioca
fresca, resfriada, congelada ou seca, o Brasil exportou em média, nesse período, o equivalente
a 361 toneladas. Os países que mais compram 79,5% das exportações são: Reino Unido
(40,2%), Estados Unidos (14,0%), França (13,0%) e Japão (12,3%). De toda a raiz exportada,
2,4% tiveram sua procedência da Região do Cerrado: Estados da Bahia e Goiás. (ABAM,
1998).
2.3 Fatores que influenciam a cultura da mandioca
2.3.1 Clima
A mandioca é cultivada entre 30 graus de latitude norte e sul. Suporta altitudes que
variam desde o nível do mar até 2.300 metros. A faixa ideal de temperatura situa-se entre 20 a
27°C. Temperatura baixa em torno de 15°C retarda a germinação, diminui a atividade
vegetativa entrando na fase de repouso. A precipitação ideal é entre 1000 mm e 1500 mm,
sendo que em regiões tropicais a mandioca produz com índices de até 4 000 mm sem estação
seca em nenhum período do ano. O período de luz ideal está em torno de 12 horas/dia. Dias
com períodos de luz mais longos favorecem o crescimento de parte aérea e reduzem o
desenvolvimento das raízes de reserva, enquanto que os períodos diários de luz mais curtos
promovem o crescimento das raízes de reserva e reduzem o desenvolvimento dos ramos.
(EMBRAPA, 2003).
Duas características básicas a diferenciam das demais culturas econômicas: a
resistência à seca, permitindo seu cultivo em regiões onde outras culturas alimentares não
conseguem se estabelecer, e a franca adaptabilidade em solos de baixa fertilidade. Essas
vantagens naturais que a planta apresenta parecem explicar o menor cuidado dos pequenos
produtores no seu cultivo, determinando o baixo rendimento nacional estimado entre 10 e 12
toneladas de raízes por hectare. (MATTOS, 1990).
2.3.2 Solos
Os solos muito argilosos devem ser evitados, pois são mais compactos, dificultando o
crescimento das raízes, apresentam maior risco de encharcamento e de apodrecimento das
raízes e dificultam a colheita, principalmente se ela coincide com a época seca. (EMBRAPA,
2003).
Os terrenos de baixada, com topografia plana e sujeitos a encharcamentos periódicos,
são também inadequados para o cultivo da mandioca, por provocarem um pequeno
desenvolvimento das plantas e o apodrecimento das raízes. É importante observar o solo em
profundidade, pois a presença de uma camada argilosa ou compactada imediatamente abaixo
da camada arável pode limitar o crescimento das raízes, além de prejudicar a drenagem e a
aeração do solo. (EMBRAPA, 2003). Com relação à topografia, devem-se buscar terrenos
planos ou levemente ondulados, com declividade menor que 5%, podendo ir até 10%. Em
ambos os casos, deve-se utilizar práticas conservacionistas do solo, pois os plantios de
mandioca estão sujeitos a acentuadas perdas de solo e água por erosão. A faixa favorável de
pH é de 5,5 a 7, sendo 6,5 o ideal, embora a mandioca seja menos afetada pela acidez do solo
do que outras culturas. (EMBRAPA, 2003).
2.3.3 Adubação
A mandioca responde bem à aplicação de adubos orgânicos (estercos, tortas,
compostos, adubos verdes e outros que devem ser preferidos como fonte de nitrogênio. Esses
adubos devem ser aplicados na cova, sulco ou a lanço, no plantio.
A adubação mineral é recomendada na dose de 40 kg de N/ha, com uréia ou sulfato de
amônio. Essa aplicação deve ser efetuada em cobertura ao redor da planta, no período de 30 a
60 dias após a brotação das manivas, com o solo úmido. A adubação de fósforo e potássio é
efetuada de acordo com a disponibilidade de fósforo e potássio mostrados na análise do solo.
(EMBRAPA, 2003).
O fósforo, de que os solos brasileiros são bastante carentes, é um dos principais
elementos na produção de mandioca. Sua presença no solo, em doses equilibradas, atua
diretamente sobre o aumento da produção de raízes e do teor de amido. (EMBRAPA, 2003).
A mandioca não responde a dose altas de calcário dolomítico. Aliás, pode ocorrer até efeito
negativo na produção, em geral provocado pela indução de deficiência de zinco.
A micorriza é uma associação simbiótica natural entre fungos micorrízicos do solo e as
raízes das plantas. O efeito benéfico da micorriza arbuscular ocorre particularmente nas
plantas que apresentam um sistema radicular reduzido e pouco ramificado, como a mandioca.
As hifas externas do fungo podem estender-se no solo, funcionando como um sistema
radicular adicional, e absorver nutrientes de um volume maior de solo, transferindo-os para as
raízes colonizadas. Isso é especialmente importante para a absorção de nutrientes com baixa
mobilidade no solo, como o fósforo. (EMBRAPA, 2003).
A mandioca é altamente dependente da micorriza arbuscular e apresenta alta
colonização radicular por fungos micorrízicos arbusculares nativos, como por exemplo a
espécie glomus Manihotis, que se desenvolve melhor em solos ácidos. A aparente baixa
necessidade em fósforo da mandioca cultivada em campo pode ser devido à contribuição da
micorriza na maior absorção desse nutriente. Quando presentes no solo e na planta, os fungos
micorrízicos arbusculares alteram a resposta da mandioca à calagem e adubação fosfatada,
aumentando a eficiência desses insumos no crescimento das plantas. (EMBRAPA, 2003).
Os fungos micorrizicos ocorrem naturalmente nos solos e têm sido demonstrados que
a rotação de culturas favorece a sua multiplicação e estimula a formação da micorriza.
Culturas anuais como feijão, milho e adubos verdes (mucuna, crotalárias, feijão-de-porco,
guandu, girassol, milheto, mamona), assim como forrageiras (estilosantes, andropogon,
braquiária), apresentam elevado grau de dependência micorrízica. Quando utilizadas em um
sistema de rotação elas aumentam a população dos fungos micorrízicos arbusculares e
beneficiam os cultivos subsequentes. Desse modo, o cultivo da mandioca de forma
consorciada ou em rotação poderá aumentar a população de fungos micorrízicos arbusculares
e, conseqüentemente, a eficiência dos insumos utilizados para correção da acidez e da
fertilidade do solo. (EMBRAPA, 2003).
2.3.4 Fisiologia da cultura da mandioca
No desenvolvimento da cultura da mandioca têm sido verificadas cinco fases
fisiológicas: brotação da estaca, formação do sistema radicular, desenvolvimento da parte
aérea, enchimento das raízes de reserva e repouso. A duração de cada fase está na
dependência de fatores relacionados com a própria diversidade genética da cultura e de fatores
do ambiente. (CONCEIÇÃO, 1979).
2.3.5 Caracterização das manivas ou estacas
Em condições favoráveis de umidade e temperatura, após 5 a 7 dias do plantio, há o
brotamento das estacas e o surgimento das primeiras raízes absorventes ao nível dos nós e da
extremidade das estacas cerca de 15 dias é o tempo necessário para que se atinja esta fase.
(CONCEIÇÃO, 1979). As ramas devem estar maduras, provenientes de plantas com 10 a 14
meses de idade e do terço médio da planta, eliminando-se a parte herbácea superior, que
possui poucas reservas, e a parte de baixo, muito lenhosa e com gemas geralmente inviáveis
ou “cegas”. É importante verificar o teor de umidade da rama, o que pode ser comprovado se
ocorrer o fluxo de látex imediatamente após o corte. (EMBRAPA, 2003).
As manivas-semente devem ter 20 cm de comprimento, com pelo menos 5 a 7 gemas, e
diâmetro em torno de 2,5 cm, com a medula ocupando 50% ou menos. As manivas podem ser
cortadas com auxílio de um facão ou utilizando uma serra circular em motores estacionários,
ou mesmo as existentes em máquinas plantadeiras, de modo que o corte forme um ângulo
reto, no qual a distribuição das raízes é mais uniforme do que no corte inclinado. No caso da
utilização de facão, o corte é realizado segurando a rama com uma mão, dando-lhe um golpe
com o facão de um lado, girando a rama 180 graus e dando outro golpe no outro lado da rama,
cortando assim a maniva; evita-se, assim, apoiar a rama em qualquer superfície, para não
esmagar as gemas das manivas. (EMBRAPA, 2003).
A quantidade de manivas para o plantio de um hectare é de 4 m³ a 6 m³, sendo que um
hectare da cultura, com 12 meses de ciclo, produz hastes para o plantio de 4 a 5 hectares. Um
metro cúbico de hastes pesa aproximadamente 150 kg e pode fornecer cerca de 2. 500 a 3.000
manivas com 20 cm de comprimento. (EMBRAPA, 2003).
2.3.6 Formação do sistema radicular
A formação do sistema radicular, dura em média 80 dias e se caracteriza pelo
aparecimento das primeiras raízes, são chamadas raízes fibrosas e são responsáveis pela
absorção de água e nutrientes. As raízes de reserva são formadas pelo crescimento secundário
das raízes fibrosas em torno de 3 semanas após o plantio. O número de raízes de
armazenamento varia de cinco a doze e é definido no início do ciclo da cultura.
(CONCEIÇÃO, 1979).
2.3.7 Desenvolvimento da parte aérea
No sétimo dia após o plantio aparecem os primeiros ramos aéreos e aos dez dias
surgem as primeiras folhas. Após o aparecimento, as folhas alcançam seu crescimento
máximo entre o 10º e o 12º dia. A duração de cada folha na planta é dependente da cultivar e
do nível de sombreamento ao qual a planta é submetida. O estresse hídrico e temperaturas
altas também aceleram o início da senescência foliar. (PERIN, 1983).
2.3.8 Enchimento das raízes de reserva
No Enchimento das raízes de reserva há um direcionamento de carboidratos das folhas
para as raízes. O início da deposição de amido ocorre aos 25 dias após plantio (CONCEIÇÃO,
1979). As raízes da mandioca apresentam uma composição média e 68,2% de umidade, 30%
de amido, 2% de cinzas, 1,3% de proteínas, 0,2% de lipídeos e 0,3% de fibras.
(ALBUQUERQUE, 1993; PADONOU, 2005)
Para consumo humano, a principal característica é que as cultivares apresentem
menos de 100 ppm ou 100 mg de ácido cianídrico (HCN) por quilograma de polpa crua de
raízes. O teor de HCN é variável entre cultivares, com o ambiente e com o estado fisiológico
da planta, e é um fator decisivo na escolha da cultivar da mandioca. (ALBUQUERQUE,
1993; PADONOU, 2005).
2.3.9 Repouso da planta de mandioca
O Repouso da planta é bem caracterizada em regiões onde ocorrem baixas
temperaturas, o que é o caso da região Centro Sul Brasileira Neste período, a planta perde
toda a sua folhagem permanecendo apenas a migração de amido para as raízes. Ao completar
um ciclo de 12 meses, segue se um segundo período de atividades em que se processa a
formação de novos ramos e folhas até o 16° mês. Do 17° ao 22° mês, haverá novamente a
formação de amido para que a planta entre novamente em repouso. (CONCEIÇÃO, 1979).
2.4 Propagação do material vegetativo para a produção de mandioca
O plantio da mandioca é realizado com manivas ou manivas-semente, também
denominadas manaíbas ou toletes ou rebolos, que são pedaços das hastes ou ramas do terço
médio da planta, com mais ou menos 20 cm de comprimento e com 5 a 7 gemas. Devido à
multiplicação vegetativa, a seleção das ramas e o preparo das manivas são pontos importantes
para o sucesso da plantação. (CONCEIÇÃO, 1979).
2.5 Melhoramento genético da cultura da mandioca
Há um grande número de organizações governamentais e privadas - que incluem
acadêmicos, pesquisadores e agricultores - desenvolvendo trabalhos de melhoramento
genético. As propriedades buscadas com essas ações são maior valor nutricional, maior
concentração de amido e menor teor de ácido cianídrico, dentre outros atributos que tornem as
novas variedades mais completas, competitivas e atraentes para o mercado. (SEBRAE, 2008).
2.6 Doenças na cultura da mandioca
2.6.1 Bacteriose
A bacteriose, causada por Xanthomonas axoponodis pv. manihotis, é a principal
doença da mandioca, sobretudo no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os sintomas da bacteriose
caracterizam-se por manchas angulares, de aparência aquosa, nos folíolos, murcha das folhas
e pecíolos, morte descendente e exsudação de goma nas hastes, além de necrose dos feixes
vasculares e morte da planta. Os prejuízos causados pela bacteriose variam com as condições
climáticas, suscetibilidade ou tolerância das variedades, práticas culturais empregadas, épocas
de plantio e nível de contaminação do material de plantio. (ABAM, 1998).
A variação brusca de temperatura entre o dia e a noite é o fator mais importante para a
manifestação severa da doença, sendo que a amplitude diária de temperatura superior a l0ºC
durante um período maior que cinco dias é a condição ideal para o pleno desenvolvimento da
doença. As perdas de produção estão em torno de 30% em cultivos usando variedades
suscetíveis e, em locais com condições favoráveis para a doença, os prejuízos podem ser
totais. Por outro lado, usando variedades tolerantes, mesmo com a ocorrência de condições
favoráveis as perdas de produção chegam ao máximo a 30%. (EMBRAPA, 2003).
A utilização de variedades resistentes é a medida mais eficiente para o controle da
bacteriose; mas, também, contribuem as práticas culturais como a utilização de manivas
sadias e a adequação das épocas de plantio. (EMBRAPA, 2003).
As variedades atualmente em uso nas áreas de ocorrência da bacteriose caracterizamse por apresentar uma tolerância aceitável à doença. Na Região Centro-Oeste (Mato Grosso
do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Tocantins, as variedades recomendadas são
IAC-12, IAC-13, IAC-14, Mantiqueira, Branca de Santa Catarina, IAC 352-6, IAC 352-7,
IAC 12-829, IAC 7-127, Sonora, EAB 81 e EAB 653. (EMBRAPA, 2003).
2.6.2 Podridão radicular
A podridão radicular causada pelos fungos Phytophthora sp. e Fusarium sp., é uma
doença de pouca expressão nas Região do Cerrado, sendo mais limitante na Região Nordeste,
cujas perdas de produtividade de raízes nas áreas de maior ocorrência estão em torno de 30%.
Na Região Norte ela é particularmente importante nos ecossistemas de Várzea e de Terra
Firme, nos quais as perdas chegam a ser superiores a 50% no primeiro e atingem até 30% no
segundo. Em alguns casos têm-se observado prejuízos totais, principalmente em áreas com
solos adensados e sujeitos a constantes encharcamentos. (EMBRAPA, 2003).
Os sintomas da podridão radicular são bastante distintos em função dos agentes
causais. Normalmente, Phytophthora sp. ataca a cultura na fase adulta, causando podridões
moles nas raízes, com odores muito fortes, semelhantes ao de matéria orgânica em
decomposição; mostram uma coloração acinzentada que se constitui dos micélios ou mesmos
esporos do fungo nos tecidos afetados. O aparecimento de sintomas visíveis é mais frequente
em raízes maduras; entretanto, existem casos de manifestação de sintomas na base das hastes
jovens ou em plantas recém-germinadas, causando murcha e morte total. No caso do
Fusarium sp., os sintomas podem ocorrer em qualquer fase do desenvolvimento da planta e
raramente causam danos diretos nas raízes. (EMBRAPA, 2003).
O ataque ocorre no ponto da haste junto ao solo, causando infecções e muitas vezes
obstruindo totalmente os tecidos vasculares, impedindo a livre circulação da seiva e,
consequentemente, provocando podridão indireta das raízes. Ao contrário de Phytophthora
sp., os sintomas provocados nas raízes pelo ataque de Fusarium sp. são caracterizados por
uma podridão de consistência seca e sem o aparente distúrbio dos tecidos. ( EMBRAPA,
2003). As medidas de controle da podridão radicular envolvem a integração do uso de
variedades tolerantes, associado a práticas culturais como rotação de culturas, manejo físico e
químico do solo, sistemas de cultivo e outras.
Na Região Norte, trabalhos de pesquisa executados nas várzeas mostraram que o uso
de variedade tolerante, associado à rotação de culturas e sistemas de plantio, reduziu a
podridão em cerca de 60%. As variedades consideradas tolerantes até então conhecidas são:
Osso Duro, Cedinha, Bibiana, clone 148/02, Aramaris e Kiriris, para o Nordeste, e
Zolhudinha, Mãe Joana e Embrapa 8, para o Norte. (EMBRAPA, 2003).
2.6.3 Super Alongamento
O super alongamento, causado por Sphaceloma manihoticola, é uma das doenças
causadas por fungos mais importantes da cultura da mandioca. A sua ocorrência no Brasil foi
constatada pela primeira vez em 1977 na Região Norte, no Amazonas e Pará. Após quase dez
anos foi detectado no Mato Grosso, atacando grandes cultivos comerciais. Os principais
sintomas caracterizam-se pelo alongamento exagerado das hastes tenras ou em
desenvolvimento, formando ramas finas com longos entrenós. (EMBRAPA, 2003).
Em casos severos as plantas afetadas podem ser identificadas pelas lesões típicas de
verrugoses nas hastes, pecíolos e nervuras; também é comum observar retorcimento das
folhas, desfolhamento e morte dos tecidos. A disseminação da doença é bastante rápida
durante a estação chuvosa, pois os esporos são facilmente transportados a longas distâncias
pelo vento e chuva. O estabelecimento da doença em áreas livres da mesma ocorre
principalmente por meio de manivas-semente contaminadas. As medidas de controle do
superalongamento são basicamente a seleção de manivas sadias para o plantio, eliminação de
plantas infectadas, uso de cultivares tolerantes ou resistentes e rotação de culturas nas áreas
anteriormente afetadas. (EMBRAPA, 2003).
2.7 Pragas na cultura da mandioca
2.7.1 Mandarovás (Erinnyes ello c.)
O mandarová é considerado uma das principais pragas da cultura da mandioca, devido
sua alta capacidade de consumo foliar, especialmente nos últimos ínstares larvais. Suas
mariposas são grandes com cerca de 90 mm de comprimento e são de cor cinza com faixas
pretas no abdome, em certos anos aparecem em grande número e em outros quase não
aparecem, geralmente há maiores infestações de dezembro a março e suas lagartas variam de
verde a preta podendo atingir até100 mm de comprimento e são bastante atraídas pela
luz.(EMBRAPA, 2003).
A mariposa coloca ovos grandes sobre as folhas da mandioca, no qual saíra lagartas,
Essas lagartas atacam as folhas de todas as idades o que é muito ruim para a cultura. Pois
quando ocorrem altas infestações promovem grandes desfolhas podendo comer até ramos
mais novos, outro problema é que elas podem disseminar doenças como as bacterioses. A
mandioca é muito sensível ao ataque do mandarová até os cinco meses, onde um ataque
pesado reduz bastante à produção. (CAVALCANTE, 1992).
2.7.2 Ácaros (Vatiga sttudens)
O ácaro-verde ataca as plantas em reboleira, ou seja, uma planta perto da outra. Essa
praga é muito importante durante todo o cultivo, mas principalmente no início por ocasionar
amarelecimento das folhas e em ataques muito severos ocorre morte das folhas de cima para
baixo, principalmente na época sem chuvas. As plantas soltam ramos laterais e ficam anãs.
(EMBRAPA, 2003).
2.7.3 Percevejo de renda (Bemesia tabacer)
O percevejo de renda alimenta da seiva provocando pequenas manchas amarelas que
ficam depois de um tempo marrom-avermelhado. Ataque intenso dessa praga reduz
aprodutividade do mandiocal. (OLIVEIRA, 2000).
2.7.4 Mosca da mandioca
Mosca-da-mandioca, uma das mais importantes pragas da mandioca sendo o adulto
uma mosca de 4 mm de comprimento, de coloração preto-azulada de brilho metálico. As
larvas são brancas, sem asas e se localizam nas brotações. Por se encontrarem nos brotos as
larvas os broqueiam e abrem galerias de onde sai uma exsudação escura onde depois se
desenvolvem microorganismos, com isso os brotos murcham e secam, causando morte dos
ponteiros. (FARIAS, 1991).
2.7.5 Mosca branca
A mosca branca suga a seiva das plantas de mandioca, injetam toxinas e em alta
densidade pode deixar as raízes da mandioca com o sabor amargo. Ao alimentar das folhas da
mandioca, a mosca branca ocasiona pontuações amarelas nas folhas que vão se juntando,
ocasionando queda prematura das folhas. Devido as suas excretas, forma fumagina nas folhas
de mandioca, reduzindo a capacidade fotossintética da planta, interferindo na produção de
raízes. (EMBRAPA, 2003).
2.7.6 Formigas
As formigas também podem atacar o mandiocal, desfolhando completamente as
plantas. As saúvas são maiores problemas até os seis meses de plantio, pois a planta está em
franco crescimento vegetativo e formando raízes, o que pode atrasar a colheita e reduzir a
produtividade. As formigas chegam a andar até 400 metros para buscar folhas, sendo assim o
formigueiro que está no terreno do seu vizinho, pode destruir parte de sua plantação.
(EMBRAPA, 2003)
3 MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na unidade experimental de Inhumas-GO, localizado a
16°17’53”S e 49°32’21,48” O, com altitude de 824m e precipitações de 1400 a 1500 mm
anuais, no período de 22/01/2011 a 23/01/2012. O solo no local do plantio apresentou pH de
5,9 sendo aceitável para a cultura da mandioca. Em geral uma saturação em base de 50-60% e
suficiente para a mandioca. (EMBRAPA, 2003). Na análise do solo verificou-se uma
saturação em base de 72,34%. Não foi feita nenhuma adubação de plantio e nem de cobertura.
Para a determinação da produção de raízes, altura de planta, numero de raízes por planta,
diâmetro de raízes, comprimento de raízes, percentagens de matéria seca, peso da parte aérea,
com quatro variedades de mandioca (pão- da -China, sabará, pão- da- China amarela e
vassourinha) e seis repetições de cada variedade.
O plantio das variedades foi realizado nos dias 22 e 23/01/2011, usando o
espaçamento de um metro entre linhas e 0,90 metro entre plantas na linha, totalizando uma
população final de 11.111 plantas por hectare. A parcela experimental foi constituída por uma
linha de plantio com 5,4 metros de comprimento cada, totalizando a área da parcela em 5,4
m².
Foi estabelecido como o momento da colheita aquele em que as raízes apresentaram
aceitação por parte dos consumidores, sendo feito neste momento, o registro da produção de
raízes, altura de planta, número de raízes por planta, diâmetro de raízes, comprimento de
raízes, pesagem da parte aérea.
A fração da parte aérea da planta foi cortada a 5 cm do solo, a altura das plantas foi
medida com uma trena assim como também as raízes, o diâmetro das raízes foi mensurado
com um paquímetro, o peso das raízes e da parte área, foi registrado em balança digital.
Realizou-se a secagem da parte aérea em estufa a 60 °C até peso constante, obtendo assim a
matéria seca da parte aérea da mandioca. A colheita aconteceu no dia 22/01/2012.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os teores de matéria seca da parte aérea das quatro variedades de mandioca deste
estudo variaram entre 26,56 e 29,22 %. (Valadares e filho et al.,( 2006) relataram 26,36% de
matéria seca na maniva de mandioca. Os resultados deste estudo apresentaram-se acima das
médias registradas por esses autores. As variações os teores de matéria seca, podem ser
explicadas por épocas de avaliações diferentes, tendo em vista que, o estágio em que se
encontra, a planta sofre grande influência na sua composição química.
A parte aérea e raízes da mandioca são fontes de alto valor nutritivo e energético para a
alimentação de bovinos leiteiros, com excelente aceitabilidade. Os resultados da análise de
variância indicaram que houve efeito significativo (P>0,05) na interação das variedades com
o peso da parte aérea (Tabela 1). A variedade Vassourinha foi a que apresentou entre as
variedades estudadas, menor peso da parte aérea.
O teste de F da análise de variância não foi significativo (P>0,05) para a produtividade
de raízes e produção de forragem,
As variedades pão da china amarela e a vassourinha
apresentaram maior produtividade do que relatada por (NOGUEIRA e GOMES, 1999) que é
de 20.000 kg/ha, e está abaixo da margem citada por (Viopoux, 1996) que é de 30. 000 a 60.
000 kg/ha para um ciclo da cultura de 540 dias. Vale ressaltar que as variedades colhidas
neste experimento estavam com idade de 365 dias, e foram cultivadas sem a adição de
fertilizantes. As variedades estudadas alcançaram produtividades médias satisfatórias e
melhor do que a relatada pelo (CEPEA, 2011) que para o ano de 2008 estimou uma
produtividade de 13. 000 kg/ha de raízes.
Para a variável peso da parte aérea, o teste de F da análise de variância foi significativo
(P>0,5). Para a variedade pão da china amarela, a produtividade de matéria seca. foi superior
às demais variedades estudadas, 5.663 t/ha mostrando que há um grande potencial para
silagem, utilizada na alimentação animal.
TABELA 1. Médias do peso da parte aérea (kg/PL), médias de produtividade de raízes
(t/ha), produtividade de forragem (t/ha) percentual de matéria seca (%) de quatro variedades
de mandioca cultivadas em Inhumas-GO, 2012.
Peso
parte
Prod.
Prod.
Prod.
Aérea
raízes t/ha
MS. t/ha
MS. %
Pão da china
1,25 a
14, 792
3, 848
27,71
Sabará
1,67 a
17, 957
4, 928
26,56
Pão da china amarela
1,84 a
22,92
5, 663
27,70
Vassourinha
0,83 b
27, 953
2, 694
29,22
Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível
Variedades
DE de
5% de significância.
A produtividade das variedades Sabará, pão da china amarela e vassourinha (Figura 1)
podem ter sofrido influência no comprimento das raízes, isso pode vir a ser confirmado com
mais estudos dessas variedades.
As diferenças de produção de raízes (Figura 1) por parte das variedades estudadas se
devem principalmente às características intrínsecas de cada variedade, visto que todas elas
foram cultivadas nas mesmas condições edafoclimáticas e na mesma época do ano. A
variedade vassourinha apresentou uma maior produtividade de raízes em t/ha.
FIGURA 1. Produtividade (t/ha), Diâmetro e Comprimento de Raízes (cm) de quatro
variedades de mandioca no município de Inhumas - GO
A altura das variedades estudadas não interferiu na produtividade (Figura 2)
mostrando que variedades de porte baixo, podem ter uma alta produtividade de raízes.
Oliveira et al, (1987), em estudo com 47 variedades em Porto Velho- RO encontrou
médias de altura de plantas(Figura 2) de 2,49 m em plantas com idade de 300 a 360 dias. A
média de altura em plantas encontradas por Oliveira (1987) foi superior a média das plantas
deste estudo que foi de 1.61m, entretanto vale ressaltar que as condições edafoclimáticas neste
estudo, eram diferentes das condições estudadas por pelo autor. As diversidades na altura de
plantas das diferentes variedades estão relacionadas com as características fisiológicas de cada
uma delas, pois algumas variedades priorizam o crescimento do sistema radicular no inicio do
desenvolvimento da cultura e, em detrimento disto, o porte da planta acaba por ser reduzido.
FIGURA 2. Produtividade (t/ha) e altura de plantas (m) de quatro variedades de mandioca no
munipicio de Inhumas –GO
Verificou-se que as variedades deste estudo apresentaram uma média de 7,58 raízes
por planta (figura 3) média superior à encontrada por Oliveira (1987) que encontrou média de
produção de 5,47 raízes por planta em um estudo com 47 cultivares de mandioca em Porto
Velho – RO. Todavia, em outro estudo com variedades de mandioca de diferentes regiões do
Brasil, Cury (1998) constatou médias de 6,7 raízes por planta. A quantidade de raízes não
interferiu na produtividade em toneladas por hectare. A variedade Pão da china apresentou
uma maior quantidade de raízes.
FIGURA 3. Produtividade (t/ha) e quantidade de raízes de quatro variedades de mandioca no
30
8,5
25
8
20
7,5
15
7
10
5
6,5
0
6
p.c.amar
sabará
Prod(t/há)
p.da china.
Quat. Raizes
vassour.
Quantidade de raizes
Prod.(t/ha)
município de Inhumas – GO
5 CONCLUSÃO
O número de raízes por planta não influencia na produtividade total de raízes por hectare.
A variedade vassourinha apresentou um ótimo potencial de produção de raízes para a
região.
A altura de plantas não interferiu na produtividade das variedades.
A variedade Pão-da-China amarela apresenta a maior quantidade de matéria seca por hectare.
A variedade vassourinha apresentou o maior percentual de matéria seca por planta.
REFERÊNCIAS
ABAM. Associação Brasileira dos Produtores de Amido de Mandioca. (Paranavaí, PR).
Dossiê sobre mandioca e seus derivados. Paranavaí, 1998. 34p.
ALCANTARA, E.N. de; CARVALHO, J.E.B. de; LIMA, P.C. Determinação do período
crítico de competição das plantas daninhas com a cultura da mandioca (Manihot esculenta
Crantz). In: EPAMIG (Belo Horizonte, MG). Projeto Mandioca; relatório 76/79. Belo
Horizonte, 1982. p.127-129.
ALCANTARA, E.N. de; SOUZA, I.F.D. Herbicidas na cultura da mandioca (Manihot
esculenta) In: EPAMIG (Belo Horizonte, MG). Projeto Mandioca; relatório 76/79. Belo
Horizonte, 1982. p.136-141.
BALOTA, E.L. COLOZZI FILHO, A.; SQUILLACE, V.R.; LOPES, E.S.; HUNGRIA, M.;
DOBEREINER, J. Efeito da inoculação de bactérias diazotróficas e de fungos MVA na
cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
CIÊNCIA DO SOLO, 24., Goiânia, GO, 1993. Resumos. Goiânia, GO: Sociedade Brasileira
de Ciência do Solo, 1993. v.1, p.319-320.
CAVALCANTE, M.L.S.; LIMA. H.A.; FUKUDA, C.; LOZANO, J.C.; FUKUDA, W.M.G.
Avaliação de resistência de genótipos de mandioca ao superbrotamento da mandioca causado
por micoplasma na Microrregião da Ibiapaba, CE. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
MANDIOCA, 7., 1992, Recife, PE. Resumos... Recife, PE: SBM, 1992. p.61.
CEPEA. Centro de Estudos Avançado Economia Aplicada, 05 de dezembro 2011 mandioca.
CONCEIÇÃO, A. J. da; SAMPAIO, C. V. Competição de Cultivares e Espaçamentos na
Cultura da mandioca. CONCEIÇÃO, A.J. A Mandioca. São Paulo: Ed. Nobel, 1979, 382p.
Cruz das Almas, p.225-246, 1979.
EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA. Disponível em:
>http://www.sistemadepruducao.cnptia.embrapa.brfontesHTML/Mandioca/mandioca_centros
ul/importância. http>. Acesso em 01 jan.2012.
FIALHO, J. de F., PEREIRA, A.V., JUNQUEIRA, N.T.V. Pioneira: nova opção de
mandioca de mesa na agricultura familiar do Distrito Federal. Planaltina, Embrapa
Cerrados, 2000. 3p. (Embrapa Cerrados. Comunicado Técnico, 33).
FIALHO, J. de F.; FUKUDA, W.M.G.; OLIVEIRA, M.A.S.; JUNQUEIRA, N.T.V.;
SALVIANO, A.; NASSER, L.C.B. Desenvolvimento de germoplasma de mandioca para as
condições de Cerrado. In: EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados
(Planaltina, DF). Relatório técnico anual de Centro de Pesquisa Agropecuária dos
Cerrados - 1991-1995. Planaltina, 1997 p.157.
FUKUDA, C. Doenças da mandioca. In: EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de
Mandioca e Fruticultura Tropical (Cruz das Almas, BA). Instruções práticas para o cultivo
da mandioca. Cruz das Almas, Embrapa-CNPMF, 1993. p.53-56.
FUKUDA, W.M.F.; FUKUDA, C.; DIAS, M.C.; XAVIER, J.J.B.N.; FIALHO, J. de F.
Cultivares de mandioca (Manihot esculenta Crantz INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE Agricultura. 2011.
FURUDA, C,: OTSUBO, A,: sistema de produção de mandioca, versão eletrônica,Embrapa
mandioca e fruticultura, janeiro 2003.
GALLO, D. et al. Manual de Entomologia Agrícola. Ed. Agronômica Ceres. São Paulo,
2002. 902p.
IBGE (Rio de Janeiro, RJ). Sistema IBGE de Recuperação Automática: Produção Agrícola
Municipal, 2011. Disponível: site Instituto Brasileiro de Geografia e estatística. URL:
<http//www.ibge.gov.br> Consulta em 23 out.2011.
Mandioca (Manihot esculenta Crantz). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MANDIOCA, 1,
Anais...
MATSUURA, F.C.A.U. Mandioca como matéria-prima industrial. In: CURSO SOBRE
TECNOLOGIAS PARA O PROCESSAMENTO AGROINDUSTRIAL DA MANDIOCA,
1998, Cruz das Almas. Curso. Cruz das Almas, EMBRAPA-CNPMF, 1998. p.31-32.
OLIVEIRA, A.M.G.; DINIZ, M. de S.; CALDAS, R.C. Avaliação de variedades de
mandioca mansa com agricultores familiares de Santa Cruz Cabrália-BA. Cruz das
Almas, BA: Embrapa Mandioca E Fruticultura Tropical, 2007. 4p. (Embrapa Mandioca e
Fruticultura Tropical. Comunicado Técnico (119).
OLIVEIRA, M.A.S.; FIALHO, J. de F.; ALVES, R.T. Proteção fitossanitária da cultura da
mandioca nos Cerrados. In: EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados
(Planaltina, DF). Relatório técnico anual de Centro de Pesquisa Agropecuária dos
Cerrados - 1991-1995., 1997 p.186.
OLIVEIRA, S.L.; MACEDO, M.M.C.; PORTO, M.C.M. Efeito do déficit hídrico da água na
produção de raízes de mandioca. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.17, n.1,
p.121-124, 1982.
ORGES, A. L.; OLIVEIRA, A. M. G.; RITZINGER, C. H. S. P.; ALMEIDA, C. O. de;
COELHO, E.F.; SANTOS-CEREJO, J. A. dos; SOUZA, L. da S.; LIMA, M. B.; FANCELLI,
M.; FOLEGATTI, M. I. da S.; MEISSNER FILHO, P. E.; SILVA, S. de O. E;MEDINA, V.
M.; CORDEIRO, Z. J. M. A cultura da banana. 3. ed. rev. e ampl. Brasília, DF: Embrapa
Informação Tecnológica; Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura, 2007. 81 p. il.
color. (Coleção
Plantar,
56;
Série
vermelha.
Fruteiras).
Biblioteca(s): CPAF-AC (LV 634.772-B732c EMB).
PERIM, S.; LOBATO, E.; COSTAQ J.R. Efeitos de níveis de fósforo no rendimento de
mandioca em solo sob vegetação de Cerrados. Revista Brasileira de Mandioca, Cruz das
Almas, v.2, n.1, p.25-30, 1983.
PERIM, S.; TAKATSU, A.L.; FUKUDA, S. Triagem de variedades de mandioca visando
resistência à bacteriose. Fitopatologia Brasileira, v.5, n.1, p.21-2.
SOUZA, A. da S.; MATTOS, P.L.P. de; ALMEIDA, P.A. de. Material de plantio: poda,
conservação, preparo e utilização. Cruz das Almas, BA: EMBRAPA-CNPMF, 1990. 42p.
Trabalho apresentado no 7. Curso Intensivo Nacional de Mandioca, Cruz das Almas, BA,
1990.
VALADADES FILHO,S.C.et al. Tabelas brasileiras de composição de alimentos para
bovinos.2.ed. viçosa, MG:UFV,DZO.2006.329 P.
ZANATTA, J. C.; SCHIOCCHET, M. A.; NADAL, R. Mandioca consorciada com milho,
feijão ou arroz de sequeiro no Oeste Catarinense. EPAGRI, Florianópolis-SC, 1993. 37 p.
(EPAGRI, Boletim Técnico, 64).
DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
Eu, Delúbio Pereira Gonçalves, endereço eletrônico: [email protected],
declaro para os devidos fins e sob pena da lei, que o Trabalho de Conclusão de Curso:
AVALIAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE DIFERENTES CULTIVARES DE MANDIOCA
(Manihot esculenta) CULTIVADAS EM INHUMAS - GO, é de minha exclusiva autoria.
Autorizo o Centro Universitário de Goiás, Uni – ANHANGUERA a disponibilização
do texto integral deste trabalho na biblioteca, consulta e divulgação pela internet, estando
vedadas apenas a reprodução parcial ou total, sob pena de ressarcimento dos direitos autorais
e penas cominadas na lei.
____________________________________________
Delúbio Pereira Gonçalves
Goiânia (GO), 06 de Junho de 2012.