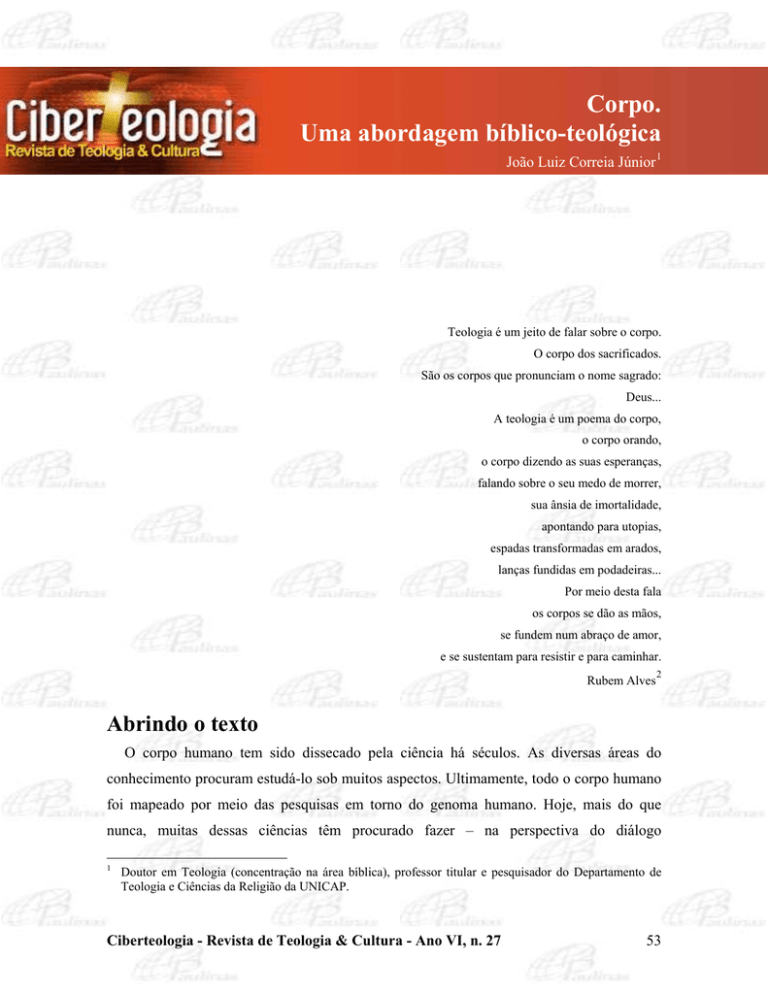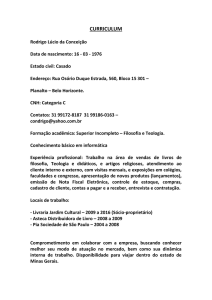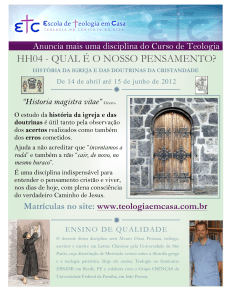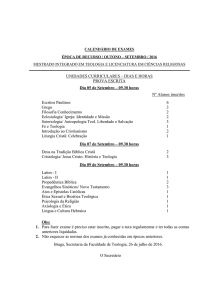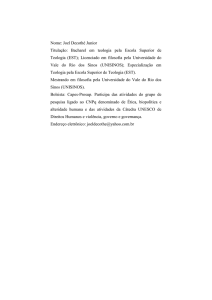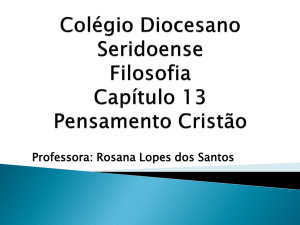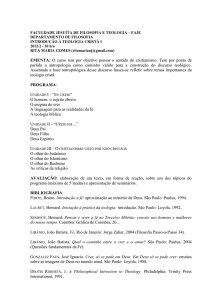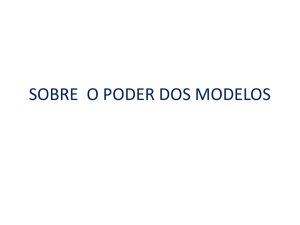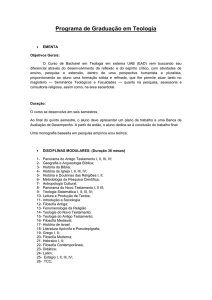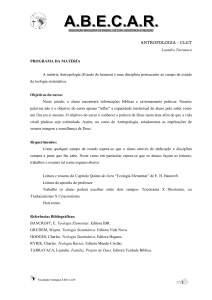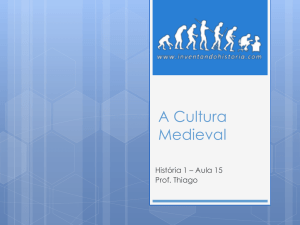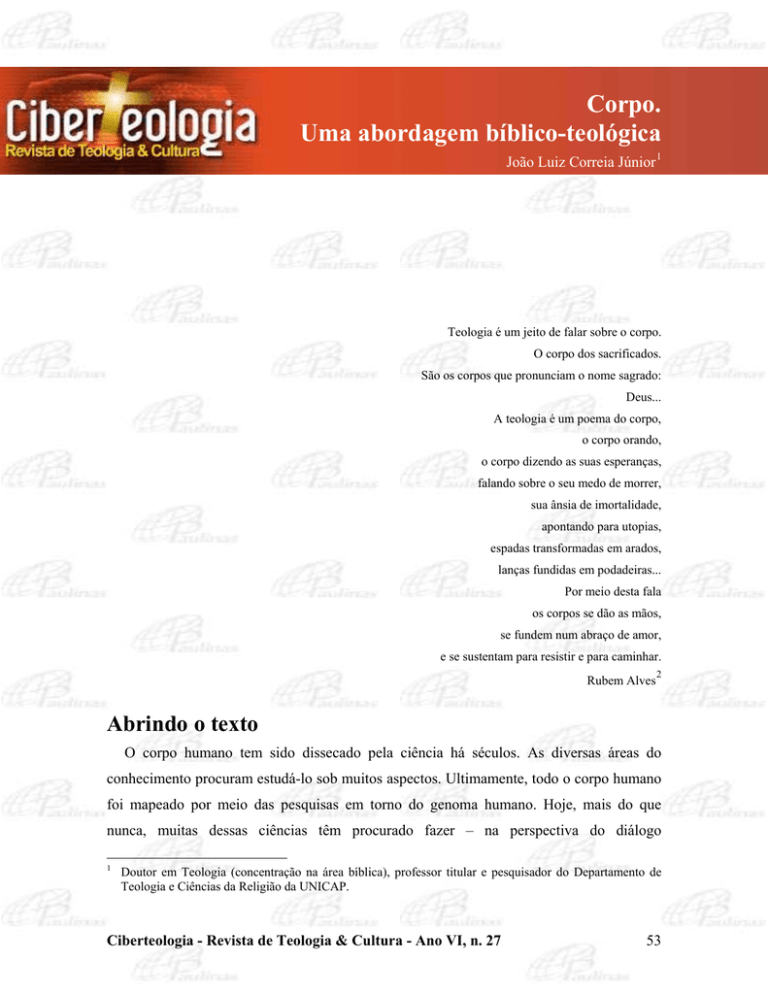
Corpo.
Uma abordagem bíblico-teológica
João Luiz Correia Júnior 1
Teologia é um jeito de falar sobre o corpo.
O corpo dos sacrificados.
São os corpos que pronunciam o nome sagrado:
Deus...
A teologia é um poema do corpo,
o corpo orando,
o corpo dizendo as suas esperanças,
falando sobre o seu medo de morrer,
sua ânsia de imortalidade,
apontando para utopias,
espadas transformadas em arados,
lanças fundidas em podadeiras...
Por meio desta fala
os corpos se dão as mãos,
se fundem num abraço de amor,
e se sustentam para resistir e para caminhar.
Rubem Alves
2
Abrindo o texto
O corpo humano tem sido dissecado pela ciência há séculos. As diversas áreas do
conhecimento procuram estudá-lo sob muitos aspectos. Ultimamente, todo o corpo humano
foi mapeado por meio das pesquisas em torno do genoma humano. Hoje, mais do que
nunca, muitas dessas ciências têm procurado fazer – na perspectiva do diálogo
1
Doutor em Teologia (concentração na área bíblica), professor titular e pesquisador do Departamento de
Teologia e Ciências da Religião da UNICAP.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
53
interdisciplinar – uma abordagem holística do corpo. Isso significa que, além de continuar
sendo objetivamente abordado de diversas formas, do corpo se leva cada vez mais em conta
sua dimensão subjetiva: ele é elemento constitutivo do ser humano, algo fundamental para
que tal ser esteja no mundo e possa existir como alguém em particular, e como parte da
humanidade.
Essa mudança de abordagem, apesar de parecer uma necessidade óbvia, é, contudo,
muito recente e, consequentemente, ainda não está completamente assimilada pela maioria
dos profissionais das diversas áreas do conhecimento.
É importante perceber o interesse sempre maior que a reflexão teológica desperta nas
diversas áreas do conhecimento. Por seu lado, a teologia tem sido cada vez mais sensível ao
diálogo com as diversas formas de conhecer a realidade, por meio das ciências e das
múltiplas expressões culturais da humanidade. 3 O diálogo entre as diversas áreas do
conhecimento, além de combater a arrogância, a prepotência e a hegemonia de determinada
ciência como única possuidora da verdade, aumenta a percepção da comunidade científica
sobre a vida em suas múltiplas e sutis interconexões e faz crescer a sensibilidade ética de
defesa e promoção da vida, em todos os níveis da atividade humana. 4
Mais do que nunca, sabemos hoje que a fragmentação do conhecimento, além de ter
trazido a necessária especialização, também enfatizou as fronteiras e intensificou os
conflitos: entrincheirados em nosso campo específico, fechamo-nos ao diálogo com os
demais e, desgraçadamente, perdemos “a flexibilidade de olhar para os lados, para cima,
para baixo e para trás [...] Neste olhar estreito e minimizado, o inusitado nos escapa [...] Na
2
3
4
ALVES, Rubem. Variações sobre a vida e a morte. São Paulo: Paulinas, 1989. p. 9.
Como afirmou JOÃO PAULO II na encíclica Fides et Ratio (São Paulo: Loyola, 1998. p. 76-77, n. 104):
“Este terreno comum de entendimento e diálogo é ainda mais importante hoje, se se pensa que os
problemas mais urgentes da humanidade – como, por exemplo, o problema ecológico, o problema da paz
ou da convivência das raças e das culturas – podem ter solução à luz de uma colaboração clara e honesta
dos cristãos com os fiéis de outras religiões e com todos os que, mesmo não aderindo a qualquer crença
religiosa, têm a peito a renovação da humanidade”.
O teólogo João Batista LIBANIO (Teologia e interdisciplinaridade: problemas epistemológicos, questões
metodológicas no diálogo com as ciências. In: SUSIN, Luiz Carlos (org.) “Mysterium creationis”; um
olhar interdisciplinar sobre o universo. São Paulo: Paulinas, 1999. p. 41-42), ao abordar o tema do diálogo
interdisciplinar, afirma que “cada disciplina contribui com uma percepção própria, mas real, da verdade.
Assim iluminada por diversos lados, a verdade cresce. Quando muitas ciências tratam de um mesmo objeto
sob ângulos diferentes, o conhecimento desse objeto se enriquece muito no fim do processo de diálogo.
Uma realidade vista de muitos lados se desvela mais completamente. Em uma palavra, esse confronto faz
com que cada disciplina tome consciência de seus limites e possibilidades, e nenhuma se arvore na ciência
privilegiada, hegemônica, dominadora. Mas na simplicidade e humildade epistemológica reconheça que
tem muito que aprender e ensinar”.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
54
tumba do conhecido padecemos; já não renascemos mais para a eterna novidade do
mundo”. 5
Precisamos, portanto, superar essa perspectiva epistemológica marcada pela alienação
diabólica (palavra que vem de diabolo, o que divide, ao contrário de divino, o que vincula,
unifica e restaura a inteireza vital).
Trata-se de olhar para a realidade através de todos os seus lados, ângulos e recantos. Sem
confusão e sem oposição; nada negar e nada idolatrar: eis a visão holística. Assim, revigorados
na dança da inteireza, com uma visão aberta e inclusiva, poderemos evoluir do “cacoete”
disciplinar para o “samba” da transdisciplinaridade. 6
Lancemos, portanto, um olhar sobre o corpo nessa perspectiva mais ampla: como algo
fundamental para a realização humana e para o sentido da própria existência, na busca
constante de razões para viver e ser feliz. É aí que se insere a contribuição da teologia. Esse
olhar teológico, ao seguir uma abordagem transdisciplinar sobre o fenômeno “corpo”, dá
atenção especial à contribuição da filosofia, das Sagradas Escrituras judaico-cristãs, bem
como da medicina psicossomática, que procura sanar os males do corpo numa perspectiva
integradora, holística. Esperamos contribuir de alguma forma para incentivar a busca de
maior aprofundamento deste tema apaixonante, que toca a todos nós no que temos de mais
visível em nossa essência humana: o corpo.
Que é o corpo?
O corpo é um organismo vivo, com as características de todo ser vivo. Por causa de seu
caráter humano, o corpo é a presença, a expressão, a ação primeira, a palavra, o símbolo, a
interioridade que se abre, o meio pelo qual o ser humano marca a sua presença pessoal no
mundo. O ser corpóreo é abertura constitutiva para o outro, é capacidade de coexistir por
intercâmbios pessoais, na busca contínua de compreender o diferente e, consequentemente,
de autocompreensão.
5
6
CREMA, Roberto. Prólogo. In: LELOUP, Jean-Yves. O corpo e seus símbolos. Petrópolis: Vozes, 1999. p.
10.
Ibid.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
55
Propriamente falando, o ser humano não tem corpo (não é um objeto que possa ser
possuído), mas é corpo (dimensão básica da pessoa humana). 7 É pelo corpo que o humano
se expressa, se faz presente e se comunica aos outros seres humanos. É pelo corpo que o ser
humano intervém no mundo das coisas, transformando-o e criando cultura. E o fazemos
com as características próprias de nossa individualidade: fisionomia, estatura, história
pessoal, talentos, limites, fraquezas, enfim, com os elementos que formam a nossa
personalidade. O corpo é, dessa forma, nossa mensagem mais visível para nossos
semelhantes.
Numa linguagem bíblico-teológica, o corpo é o templo onde habita o Espírito de Deus.
Segundo o apóstolo Paulo, embora o corpo seja mortal Deus lhe confere a vida por meio de
seu Espírito, que nele habita (Rm 8,11). Cabe aqui procurar fazer uma aproximação
respeitosa e delicada para que possamos compreender um pouco mais o corpo em sua
dimensão mais abrangente, bem como uma reflexão sobre o que estamos fazendo com o
corpo e qual o destino que estamos dando a ele em nossos dias.
O corpo na visão dualista
A cultura ocidental ainda hoje é fortemente marcada pela visão dualista da realidade:
corpo e alma, corpo e consciência, fisiologia e psicologia, mundo material e mundo
espiritual. Essa concepção marca, sem dúvida, o discurso científico sobre o corpo, tomado
como partes separadas. A postura científica marcada pelo dualismo exclui toda subjetivação
do conhecimento acerca do corpo: transforma em “objeto em geral”, algo que não tem
existência em primeira pessoa. Assim procedendo, o corpo vivo, corpo-sujeito, o corpo que
é a expressão visível da pessoa, do qual é questão fundamental levar em consideração, lhe
escapa. Isso é muito grave, pois esse corpo, impregnado de subjetividades, é o lugar onde a
história de cada ser humano vai sendo tecida, na interação sociocultural do cotidiano em
que a pessoa está inserida. 8
7
8
RUBIO, Alfonso García. Unidade na pluralidade. São Paulo: Paulus, 1989. p. 280, nota de rodapé n. 78
(citando GEVAERT, J. El problema del hombre. Introducción a la antropología filosófica. Salamanca:
Sigueme, 1984. p. 86-88).
Para entender um pouco mais a dicotomia (dualismo) que marcou a visão ocidental sobre o corpo,
aproveitei muito do excelente artigo de José de Anchieta CORRÊA, doutor em Filosofia, publicado em
“Corpo e ética”, Tempo e Presença 322, São Paulo: Koinonia, 2002, “Corpo, invenção da minha história”.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
56
A origem da visão dualista sobre o mundo é muito antiga. Já a encontramos na Índia e
na Pérsia antigas, antes mesmo do surgimento da filosofia grega. Mas é na Grécia, a partir
dos pitagóricos e, mais tarde, com Platão (séc. IV a.C.), que essa visão recebe uma vigorosa
formulação teórica. É muito conhecida a distinção platônica entre ideia e coisa. As coisas
pertencem ao mundo sensível, caracterizado como mutável, temporal, caduco,
descambando facilmente para o ilusório. As ideias pertencem a um outro mundo, o da
realidade divina, eterna e imutável. A verdadeira realidade se encontra além das aparências
sensíveis, no mundo das ideias. As coisas são apenas cópias imperfeitas deste mundo real.9
Essa visão dicotômica dos dois mundos foi aplicada ao ser humano, dividindo-o em
corpo (que pertence ao mundo das coisas) e alma (que é do mundo das ideias). O corpo,
como coisa material, participa de uma ideia; a alma pertence ao mundo eterno e divino das
ideias. Platão, ao longo de sua obra, apresenta a relação corpo-alma de duas maneiras. Na
primeira, na obra Fédon (do período médio do autor), a relação é apresentada de forma
muito negativa: a alma se encontra prisioneira do corpo e dos sentidos, o corpo é limitação
da alma, por isso o filósofo verdadeiro deseja a morte para se libertar do corpo. A segunda
maneira de apresentar a relação corpo-alma se encontra nas obras Timeu e, sobretudo, Leis
(obra inacabada), do último período de Platão. Aqui, a relação é vista de maneira bastante
positiva: a alma é comparada ao marinheiro e o corpo, ao navio. Tal comparação sugere
uma perspectiva de colaboração para que seja possível a mediação entre o mundo sensível e
o mundo das ideias. 10
Contudo, em termos gerais, no conjunto da obra platônica a relação corpo-alma trará
consequências predominantemente negativas sobre o modo de olhar o ser humano. E é essa
visão que influenciará o pensamento ocidental cristão, especialmente mediante o
neoplatonismo médio. Temos, então, a concepção de que no ser humano coexistem, em
conflito, a alma (realidade que define o ser humano propriamente dito, em sua essência) e o
corpo (pertencente ao mundo enganoso dos sentidos e das coisas sensíveis). Temos,
portanto, graças à influência da dicotomia grega (platônica) uma dolorosa autopercepção
humana: um ser dividido e carente de harmonia, no qual coexistem dois mundos
radicalmente antagônicos. 11
9
10
11
RUBIO, Unidade na pluralidade, p. 76-77.
Ibid., p. 77-78.
Ibid., p. 78-79.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
57
No século XVII, com René Descartes, chega-se a uma visão sobre o ser humano
rigorosamente dualista: o corpo é apenas matéria espacial, vida biológica, res extensa (mera
extensão mensurável matematicamente, aspecto objetivo); a alma, ou espírito, ou
consciência, é a essência do ser, res cogitans, (substância pensante, aspecto subjetivo).
Esse divórcio irreconciliável entre subjetividade e objetividade interferiu negativamente
ao longo dos últimos séculos no diálogo entre as ciências da natureza e as ciências do
espírito, entre fé e razão, bem como no diálogo do ser humano com Deus. Essa relação de
oposição-exclusão influenciou negativamente diversos aspectos e dimensões do ser
humano, tais como o relacionamento dos seres humanos entre si, a relação homem-mulher,
o relacionamento entre as nações ditas desenvolvidas e as subdesenvolvidas. Sob essa
perspectiva de incomunicabilidade entre sensibilidade (sentimento, delicadeza) e
entendimento (psíquico, racional) decreta-se a incapacidade de olhar em profundidade para
a totalidade da vida. A manipulação e a instrumentalização do gênero humano e da natureza
estão nos colocando numa rota de autodestruição, que põe em risco a totalidade da vida em
nosso ecossistema (crise ecológica).
Para superar essa dicotomia instalada em nossa cultura, será preciso buscar recuperar a
visão unitária do ser humano, no encontro que promova a unidade entre razão e
sensibilidade. Compreender o dinamismo desse encontro nos levará a identificar o ser
humano com seu próprio discurso, que se refaz continuamente na dinâmica da história.
Somos história encarnada, invenção, tarefa continuamente exercida ante o outro, no
intercâmbio com o mundo. Somos história encarnada no encontro ou desencontro de outras
histórias encarnadas. “Então, compreenderemos que só sabemos algo de fato quando meu
pensamento frequenta meu corpo [...] Pois só sabemos algo na medida em que o
pensamento se torna gesto”, vem habitar o corpo, passando pela boca, pulmões, coração,
vísceras, sexo, terminais nervosos, enfim, por todo nosso corpo e, portanto, por que não?,
pelo sexo. 12
Por que, então, o dualismo acerca da realidade humana, que concebe o corpo separado
da mente? Por que falar do corpo reduzindo-o à matéria, à ordem, ao dado objetivo, cegos
para a realidade do corpo-vivo? Por que manter visões separadas – espiritualismo e
12
CORRÊA, Corpo, invenção da minha história, p. 321.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
58
materialismo – acerca do corpo-próprio e da própria realidade do ser humano quando nos
sabemos todo animal e todo racional?
Não há dúvida de que, na maioria das vezes, escolhemos permanecer divididos, vivendo
seja na hipocrisia, seja na mentira, enganando a nós mesmos e operando, propositadamente,
uma divisão entre a palavra e o gesto, a significação e a ação. Assim fazendo, nos
instalamos numa perspectiva de morte e de dor. Mas, se optarmos pela vida e pela alegria
na invenção dessa síntese – corpo-vivo –, estaremos contribuindo para a construção de uma
melhor história possível em nosso espaço e tempo.
O corpo como lugar no espaço e no tempo 13
Através do corpo e de suas capacidades não só temos acesso direto ao mundo como
somos parte consciente de um mundo comum: uma parte natural do mundo que, em
perspectiva, pode lançar o olhar sobre nós mesmos e sobre o que podemos alcançar com a
nossa capacidade de percepção. Contrariamente aos corpos materiais inanimados, o corpo
se distingue por sua capacidade de autorreferência. O corpo é expressão de minha
individualidade. Graças ao corpo nós assumimos um lugar concreto no espaço e no tempo.
Além disso, o corpo é ele próprio a primeira expressão da cultura. A linguagem possui
uma disposição corporal. A definição, dada por Aristóteles, do ser humano como um ser
que tem logos, por conseguinte, que pode falar, não pode ser pensada a não ser
corporalmente. O corpo fala: em suas diversas expressões corporais é pura comunicação.
O corpo, como todo elemento material, tem seus limites físicos e, nesta perspectiva,
funciona como um limite entre o mediato e o imediato. Está ligado diretamente à minha
psique e aos meus hábitos, mas é – ao mesmo tempo – o meio que me liga àquilo que eu
não sou. O corpo é o veículo do ser para o mundo, e ter um corpo significa identificar-se
com determinados propósitos e neles engajar-se constantemente.
Nossas capacidades corporais servem de base para o nosso conhecimento As regras de
etiqueta organizam a proximidade corporal. A proximidade é produzida pelo contato
corporal, que pode chegar até o sexual. A ideia original da comunio (comunhão) é a de
corpos mutuamente unidos, ligados pelo vínculo direto do sangue (consanguinidade).
13
No número temático “Corpo e religião” de Concilium 295 (Petrópolis: Vozes, p. 19-30, 2002), temos um
interessante artigo intitulado “O corpo supérfluo – Utopias das tecnologias de informação e comunicação”.
Sigo aqui as ideias principais do autor, Klaus Wiegerling.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
59
Desse modo, o primeiro veículo que nos aproxima do outro e do mundo que nos cerca é
o corpo. Mas hoje chegamos a superar o limite corporal. Um novo elemento surge no
âmbito do intercâmbio humano e provoca um ponto de mutação na história: a escrita. Em
lugar da comunhão baseada no intercâmbio corporal direto surge uma comunicação
baseada no intercambio indireto.
Nas culturas dominadas pela escrita as ideias corporais se tornam mais abstratas. O ser
humano é capaz, finalmente, de transcender os limites do próprio corpo. Com a vitória da
expressão escrita, as expressões visíveis do espírito no gesto e na mímica caem para
segundo plano.
Trata-se da irradiação do corpo para além do seu elemento material (toca a dimensão do
Espírito), onde se tornou possível alcançar distância espacial inimaginável, e até ultrapassar
a barreira do tempo a que o corpo está circunscrito. A matéria finalmente trabalha na
dimensão do espírito, num intercâmbio entre matéria e espírito, carne e palavra.
Com o progresso da mídia desde o final do século XIX, sobretudo pelas representações
fotográficas e cinematográficas, ocorre, por um lado, uma naturalização do corpo, por outro
uma mais intensa padronização. Modelos e atores de cinema passam a ser as matrizes dos
ideais da moda: o corpo passa a ser um objeto de moldagem, para se adaptar à moda.
Podemos impor-lhe nossa vontade, entregá-lo a cirurgiões e a treinadores para que o
moldem e o configurem. O corpo passa a ser um pedaço de matéria moldável, algo ligado a
cada pessoa individualmente, mas já não é uma entidade psicofísica (unidade). O ser
humano é, por assim dizer, expulso de seu próprio corpo, encontra-se diante dele em uma
relação de especulação: que posso tirar dele de prazer?, de superação de recordes (nos
esportes)?, de estética (segundo o tipo de padrão de beleza que se persegue)? etc.
Com isso, nós não nos percebemos mais como seres eróticos e sim como seres
pornográficos, isto é, já não integrados, mas sim desmembrados em detalhes corporais e
funções corporais mecanizados. Enquanto o erótico não pode ser pensado sem alma, o
pornográfico não tem necessidade de alma. Para uma atitude pornográfica, é suficiente o
corpo sem alma, que pode ser substituído por outro.
Temos, portanto, o pleno desligamento da imagem (desenho) com o indivíduo. O
desenhista do passado ainda precisava do modelo. Hoje as codificações informáticas
tornam possível o desligamento das representações pictóricas (imagem, desenho) com as
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
60
individuais. Isso tanto é verdade que, para os filmes animados ou para os jogos de
computador, não temos mais necessidade de atores. Os corpos são moldados segundo
medidas ideais estatisticamente determinadas. O conjunto da criatura se compõe de
elementos que podem ser substituídos e combinados à vontade, e que vão desde a voz até a
cor dos olhos.
Já chegamos ao limiar da passagem do corpo biológico ao cyborg. Símbolo de transição
da sociedade da mídia que se distancia lentamente do corpo, assim é que se pode considerar
o cyborg, uma máquina de ficção científica feita de material mecânico e orgânico e provida
de todas as capacidades informáticas de um grande computador. O cyborg, o homem do
seriado de TV da década de 1980 O homem de seis milhões de dólares, é simplesmente
ridículo. Corporalmente, o cyborg está no mundo, mas sua existência está condicionada
apenas por seu hardware. Suas forças intelectuais podem a cada momento ser transferidas
para outro sistema portador.
Nas matérias de ficção científica tornam-se visíveis as mudanças de nossa compreensão
do corpo que se cristalizaram também na ciência. Assim, o hardware biológico do ser
humano é visto como demasiadamente frágil para enfrentar as catástrofes ambientais ou as
possíveis guerras bacteriológicas que vêm pela frente.
O corpo virtual na internet, a grande rede mundial de comunicação, passa por um
processo de deslocalização, destemporalização e descorporificação. Quais os efeitos disso
sobre nossa convivência corporal? A superfluidade do corpo já começa com a
superficialização da conversa no chat (sala de bate papo na internet), onde os participantes
atuam como jogadores anônimos e aparentemente inatingíveis, cujas palavras em nada
comprometem. Embora a conversa, o diálogo, de um modo geral seja um modelo do
indireto, ela necessita de uma corporalidade que a fundamenta. Toda práxis se baseia nesta
condicionalidade e vulnerabilidade daqueles que interagem.
Nisso se articula também a analogia manifestadamente insuperável do nosso pensar.
Também no ciberespaço os nossos seres utópicos atuam como dando corpo ao seu pensar, e
nesse sentido eles lembram permanentemente suas deficiências e sua origem.
A superação do elemento corpo é nada mais nada menos do que a exclusão por
excelência do próprio ser humano, um novo tipo de fuga para a não-história e, assim, uma
expressão Pós-Moderna do autoesquecimento, da alienação completa.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
61
A concepção de corpo na Bíblia
A literatura bíblica toca a dimensão do mistério que está presente no corpo: é o mistério
do corpo que gera todos os demais mistérios religiosos: quem o criou? Com que intenção?
Por que permite o Criador que a vida desses corpos seja, além de limitada, entremeada de
venturas e infelicidades, de saúde e de enfermidades, de prazeres e de dores? Como
alcançar uma compreensão adequada de Deus a menos que ele se manifeste “em carne”,
anuncie e inaugure uma forma de recuperação do corpo na ressurreição? 14
Na concepção bíblica mais antiga, o “corpo” é a unidade constitutiva do ser humano, é a
expressão na qual o humano se manifesta. O corpo, como estrutura que constitui
fundamentalmente o ser humano, é obra-prima da criação divina. Vejamos, mais
detalhadamente, algumas abordagens da antropologia bíblica, por meio das quais o humano
é apresentado numa unidade física, corporal, em que não há distinção entre o divino e o
terreno.
A concepção de “corpo” na cultura hebraica e no
Primeiro (Antigo)Testamento da Bíblia
Em hebraico, língua em que foi escrita a maioria dos livros que compõem o Primeiro
Testamento da Bíblia, a palavra que melhor se aproxima de “corpo”, enquanto estrutura
constitucional fundamental do ser humano vivo, é adam.
Em Gn 2,7, Deus “formou o ser humano [no sentido de corpo] com o pó do solo,
soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e ele [corpo] tornou-se um ser vivente”. Assim, o
homem (em hebraico: adam), é uma unidade, corpo, modelado pelo próprio Deus por meio
do pó do solo, argila, barro (em hebraico: adamah), e animado pelo sopro da vida que vem
diretamente de Deus. Os dois termos, adam e adamah, provavelmente estão ligados a uma
única raiz hebraica, ’DM , que significa “vermelho”, “avermelhado”, isto é, a cor tanto da
pele humana caucásica (da região do Cáucaso) como do solo argiloso de grande parte da
Palestina. 15 O ser “humano”, adam, é matéria, vem do solo, adamah. Este nome coletivo
tornar-se-á o nome próprio do primeiro ser “humano”, Adão (cf. Gn 4,25; 5,1.3). 16
14
15
16
LOPES, Sérgio Marcus Pinto. Ecumenismo e corpo. “Corpo e ética”, Tempo e Presença 322, São Paulo:
Koinonia, p. 28 e 32, 2002.
MACKENZIE, John L. Dicionário bíblico. São Paulo: Paulus, 1985. Verbete “Homem”, p. 425-426.
“Deste modo, o hebraico reúne indistintamente em adam realidades que se compenetram entre si. Significa
simultaneamente Adão [humano] e humanidade, como unidade e totalidade do ser humano. Portanto,
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
62
O ser “humano”, adam, não brota do solo espontaneamente. Javé Deus o modelou assim
como o escultor modela uma estátua provisória para depois esculpi-la. A figura de barro
não era ainda o ser humano. Faltava o acabamento, por isso o artista divino soprou-lhe para
dentro das narinas o “hálito de vida”(em hebraico: neshamah). Respirar é sinal de vida, o ar
que entra e sai pelas narinas é tão importante e indispensável que podia ser identificado
com a própria vida ou com a alma, o “espírito” do ser homem. No fim da vida, o ser
“humano” exala o “espírito”. O termo hebraico neshamah (hálito) é sinônimo do hebraico
ruah (em grego: pneuma – sopro, espírito). O pó volta à terra (éretz), de onde saiu (Gn
3,19), e o espírito (ruah) retorna para Deus, que o concedeu (Ecl 12,7). O hálito divino não
é ainda a alma imortal e independente do corpo; é a vida que Deus concede e que ele retira
quando quer (Sl 104,29-30). O elemento constitutivo principal do ser humano é, portanto, o
corpo animado por Deus. 17
Temos aqui a essência da antropologia semítica, que concebe o ser humano em vida
como uma grande unidade, corpo, lugar de encontro entre o divino e o terreno. Só no Livro
da Sabedoria, escrito originalmente em grego por volta do século III, aparece a visão
platônica da alma independente, elemento constitutivo da individualidade e como que
aprisionada dentro do corpo material e perecível (3,1; 8,20; 9,15). 18 Em suma: a origem do
ser corpóreo “humano” está em Deus. Enquanto criatura, pó que vive com o sopro de Deus
(Gn 2,7), sua vida não lhe pertence: deve entregá-la de volta quando Deus reclamar o sopro
vital.
O problema da morte
A concepção da cultura hebraica que vê o corpo como uma unidade faz da morte uma
verdadeira experiência limite: ser “humano” é corpo formado da terra, e à terra tornará
quando Deus retirar seu sopro vital (Gn 2,7; 3,19; Sl 90,3; 104,29; 146,4; Jó 34,15; Ecl
12,7).
A realização humana, a perfeição não está noutra vida senão nesta. Daí os grandes
homens morrerem “numa velhice abençoada” (Gn 15,15; Jz 8,32); “velhos e cheios de
17
quando os Setenta, partindo de Gn 2,16, traduzem adam por Adão, em lugar de traduzir por antropos,
convertem-no em nome próprio, restringindo o sentido deste conceito teológico”. FRIES, Heinrich (org.).
Dicionário de teologia; conceitos fundamentais da teologia atual. São Paulo: Loyola, 1983. Verbete
“Adão”, p. 22.
DATTLER, Frederico. Gênesis; texto e comentário. São Paulo: Paulus, 1984. p.42.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
63
dias” (Gn 25,8; 35,29; Jó 42,16). Por isso, na origem da cultura hebraica, a morte era
concebida como um problema, sobretudo ao encurtar a vida. Daí a súplica do salmista a
Deus: “[...] não me leves embora no meio dos meus dias!”. Assim, Deus é quem envia a
morte e dá a vida (Dt 32,39; 1Sm 2,6). A ideia de poder salvar-se da morte não se exprimia
senão na fé no poder salvífico de Deus (do povo: Ez 37; de cada um: Sl 49; 73). E só em
época posterior ao exílio, com base em uma completa transformação da concepção
teológica israelita (por influência da cultura dos povos vizinhos), foi prometida a supressão
da morte, através da ressurreição dos mortos, para aqueles que foram fiéis em vida, ou uma
segunda morte para os infiéis em vida (conforme Dn 12,2-3: “A multidão dos que dormem
no pó da terra acordará, uns para a vida, outros para a rejeição eterna. Os conscientes hão
de brilhar como relâmpagos, os que educaram a muitos para a justiça brilharão para sempre
como estrelas”). No entanto isso se dará sob a soberania de Deus, o único capaz de salvar o
ser humano. 19
A ideia que prevalece no Antigo Testamento é a de que a morte constitui um fim. No fundo, a
concepção da morte é determinada pela concepção da vida: assim, a concepção hebraica da
pessoa humana mais como corpo animado do que como espírito encarnado faz com que o fim
da animação apareça como cessação de toda atividade vital. Quando uma pessoa morre, devolve
a Deus o [“hálito de vida”] que o animou: o defunto continua a existir como “ele mesmo”
(nefesh) no Xeol, mas é incapaz de qualquer atividade ou passividade humana [...] A morte é
aceita como fim natural do ser humano (2Sm 14,14: “Todos morremos e, como as águas que se
derramam na terra não se podem mais recolher, assim Deus não reanima um cadáver”). A morte
ideal é aquela que sobrevém na plenitude da velhice, com as faculdades ainda intactas (Gn 25,8;
Jó 21,23s; 29,18-20). Quem morre nessas condições ideais o faz de modo fácil e rápido: “[...]
desce em paz ao Xeol” (Jó 21,13), não sendo vítima de morte prematura nem de uma longa
doença destruidora, isto é, de uma morte com “alma amargurada” (Jó 21,25) [...] Se as
promessas de Deus e a ternura do seu amor são eternas, então de alguma forma o fiel israelita
deverá experimentá-las. Mas a forma de tal experiência ainda não se formula nessa fase
primitiva da fé israelita.
20
Sem dúvida, a concepção israelita da morte sofreu influência de antigos mitos semitas da
criação (mitos da antiga Babilônia que perduraram na Mesopotâmia e na Pérsia): em tais
mitos a vida e a morte venciam alternadamente essa luta. Mas na mentalidade hebraica não
18
19
20
Ibid.
FRIES, Dicionário de teologia; conceitos fundamentais de teologia atual, v. III, verbete “Morte”, p.
364-366.
MACKENZIE, Dicionário bíblico, verbete “Morte”, p. 633.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
64
se podia aceitar a ideia de que Deus não tivesse poder e vontade suficientes para superar as
forças do mal: assim, não se podia nem mesmo admitir a ideia de que ele não vencesse a
morte; no mínimo, a morte não podia atingi-lo. E, desenvolvendo-se a fé na vitória final de
Deus sobre as forças das trevas, do mal e do caos, desenvolvia-se também, segundo a lógica
da fé, a ideia de uma superação da morte. Esse desenvolvimento só aparece tardiamente:
não se encontra nenhum traço seguro de uma fé clara na ressurreição dos mortos antes do
século II a.C., em Dn 12,2-3, um dos grandes textos do Primeiro Testamento sobre a
ressurreição do corpo. 21
Podemos fazer referência também a outro texto, que ressalta a expressão de fé na boca
de um dos mártires Macabeus antes de exalar o último suspiro (2Mc 7,9: “Tu, ó malvado,
nos tiras da vida presente. Mas o rei do universo nos fará ressurgir para uma vida eterna, a
nós que morremos por suas leis!”). Desse modo, já temos nesse momento a concepção de
que, por efeito do poder do Criador, os mártires ressuscitarão para a vida: “Estando para
morrer, ele falou: ‘É melhor para nós, entregues à morte pelos homens, esperar, da parte de
Deus, que seremos ressuscitados por ele. Para ti, porém, ó rei, não haverá ressurreição para
a vida!’” (2Mc 7,14).
Alcança-se, assim, a doutrina da imortalidade, que será desenvolvida em ambiente
grego, sem referência à ressurreição dos corpos (conforme Sb 3,1–5.16). Entretanto, para o
pensamento hebraico, que originalmente não distinguia corpo e alma, a ideia de uma
sobrevida implicava a ressurreição dos corpos, como se vê aqui nessas passagens do Livro
dos Macabeus. O texto não ensina diretamente a ressurreição de todos, considerando só o
caso dos justos. Nesse ponto, Dn 12,3 é mais claro: “Os conscientes hão de brilhar como
relâmpagos, os que educaram a muitos para a justiça brilharão para sempre como estrelas”.
Trata-se aqui de uma transfiguração escatológica (isto é, que se dará no final dos tempos),
que atinge o corpo, doravante “glorioso”.
No Segundo (Novo) Testamento, a morte continua tendo características do Primeiro
Testamento. É concebida como o fim da vida (At 22,4; Rm 7,1ss; 16,4; Ap 2,10; 12,11 e
outros), o que concede à vida um caráter de importância insubstituível: “De fato, que
adianta a alguém ganhar o mundo inteiro, se perde a própria vida? Ou que poderá alguém
dar em troca da própria vida?” (Mt 16,26).
21
Ibid.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
65
Aos poucos vai ficando mais forte a conexão que se faz da morte com a ideia de um
reino dos mortos, colocado na profundidade da terra, conforme Mt 16,18: “[...] tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as forças do Inferno [Hades] não poderão
vencê-la”. Hades (em hebraico: Sheol ou Xeol) designa as profundezas da terra (Dt 32,22;
Is 14,9 etc.), onde os mortos “descem” (Gn 37,35; 1Sm 2,6 etc.), onde bons e maus se
confundem (1Sm 28,19; Sl 89,49; Ez 32,17-32) e têm sobrevivência apagada (Ecl 9,10), e
onde Deus não é louvado (Sl 6,6; 88,6.12-13; 115; Is 38,18). Contudo o poder do Deus vivo
(cf. Dt 5,26) se exerce mesmo nesta habitação desolada (1Sm 2,6; Sb 16,13; Am 9,2). A
doutrina das recompensas e das penas de além-túmulo e a da ressurreição, preparadas pela
esperança dos salmistas (Sl 16,10-11; 49,16), só aparecem claramente no fim do Antigo
Testamento (Sb 3,5 em ligação com a crença na imortalidade: ver Sb 3,4; 2Mc 12). 22
De fato, pelo influxo da concepção apocalíptica do mundo, própria do Judaísmo tardio, a
morte será vencida por meio da ressurreição e da instauração do Reino de Deus. Desse
modo, a morte terrena do corpo (ser “humano”) não é mais a morte simplesmente. Somente
quando se lhe segue a morte no fim dos tempos (morte escatológica), caso no julgamento
final haja condenação (Mt 7,13; Hb 10,39; 2Pd 3,7; Ap 17,8.11), então a morte se torna
definitiva. 23
A concepção do corpo no Segundo Testamento da Bíblia
Em grego, a palavra para corpo é soma. O termo grego, no Segundo Testamento (escrito
originalmente em grego), adquire o mesmo sentido do termo hebraico adam . Significa não
apenas uma condição externa do homem, mas realidade profunda do único ser humano.
Isso ocorre porque os textos do Segundo Testamento, embora escritos para comunidades
cristãs mergulhadas no mundo de cultura grega (a cultura predominante no século I em todo
o Império Romano), tem a mentalidade cultural subjacente nas comunidades de cultura
hebraica.
A corporeidade de Jesus nos Evangelhos
22
23
BÍBLIA DE JERUSALÉM. Nova edição, revista e ampliada. São Paulo: Paulus, 2002. p. 227-228, nota de
rodapé “d”.
FRIES, Dicionário de teologia; conceitos fundamentais de teologia atual, v. III, verbete “Morte”, p. 367.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
66
No texto de Marcos, primeiro Evangelho a ser escrito (em meados dos anos 60), Jesus é
apresentado logo no início como alguém que torna vivo e corporalmente presente o
Evangelho (a Boa-Notícia de Deus à humanidade). E o faz em clima de profunda crise
histórica, causada pela opressão política de Herodes: aproxima-se dessa realidade sem
medo das consequências (o profeta João acabara de ser preso), anunciando o fim dessa
situação de injustiça social por meio da irrupção de um Reino que é a antítese do reino de
Herodes: o Reino de Deus. A narrativa é bem clara: “Depois que João foi preso, Jesus veio
para a Galileia, proclamando a Boa-Nova de Deus: ‘Completou-se o tempo, e o Reino de
Deus está próximo. Convertei-vos e crede na Boa-Nova’” (Mc 1,14-15).
Além disso, a presença física de Jesus no contexto em que vivia não era atitude vaga e
abstrata em relação ao seu povo em geral. Amar todas as pessoas pode significar não amar
pessoa alguma em particular. Jesus tratava cada pessoa particularmente (de forma
personalizada, como diríamos hoje). Ele entrava em sua vida ou em seu pensamento de um
modo tal que ninguém jamais era excluído, e todas as pessoas eram amadas por si mesmas
e não por causa de seus antepassados, de sua raça, nacionalidade, classe, ligações
familiares, inteligência, realizações ou por qualquer outra qualidade. 24
A solidariedade com os “ninguéns” do seu povo, o encontro personificado com pessoas
descartadas pelo sistema político implantado por Herodes (conivente com os interesses
imperialistas de Roma), é a maneira concreta – corporal – de viver na prática a
solidariedade com o seu povo, em seus anseios mais profundos por vida com dignidade, em
meio à provisoriedade da existência.
Quem dá testemunho de Jesus é a sua presença física, corporal, por meio de seus atos
concretos no meio do seu povo, conforme Mt 11,5: “Cegos recuperam a vista, paralíticos
andam, leprosos são curados, surdos ouvem, mortos ressuscitam e aos pobres se anuncia a
Boa-Nova”. Seguindo a lógica da frase, “aos pobres se anuncia a Boa-Nova” tem o sentido
de que “são tocados concretamente pelo Evangelho” (transcrição de um termo grego –
euanguelion –, que significa “boa-nova”, “boa-notícia”).
De fato, os evangelistas apresentam Jesus como a Boa-Notícia da corporificação do
amor-solidariedade, a prova inequívoca de que “completou-se o tempo e o Reino de Deus
está próximo” (Mc 1,15), tão perto da realidade humana que podemos tocar no seu corpo e
24
NOLAN, Albert. Jesus antes do cristianismo. São Paulo: Paulus, 1987.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
67
ser tocado por ele. O grande teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, um dos pais da Teologia
da Libertação, como excelente conhecedor da Bíblia que é, faz excelente comentário sobre
o tema:
Com o testemunho de Jesus, o tempo se cumpriu, o dia do Senhor chegou. Na Bíblia,
utilizam-se principalmente dois termos gregos para referir-se ao tempo: chronos e kairós. O
primeiro, além de ser o nome de uma divindade grega, passou a significar os aspectos
quantitativos, mensuráveis, controláveis do tempo [...] É o aspecto do tempo ao qual estamos
mais acostumados: o cronológico. O segundo marca uma perspectiva mais qualitativa. Trata-se
não tanto de uma hora ou de uma data, mas de sua significação histórica. Na Bíblia, o termo
kairós significa o momento propício, o dia favorável, o tempo em que o Senhor se faz presente,
se manifesta. Na expressão “cumpriu-se o tempo”, é o kairós que se cumpre e não uma data
fixada de antemão. Isso implica uma revelação especial de Deus na história com a qual Jesus se
comprometeu. Por isso o Reino é isso. Não se trata de uma realidade puramente interior que
acontece no fundo de nossas almas. É um projeto de Deus que ocorre no coração de uma
história na qual os seres humanos vivem e morrem, acolhem e rejeitam a graça que os
transforma a partir do interior. Realidade que se manifesta ao longo de um processo difícil a que
alude a menção a João Batista, e que se faz sobretudo presente hoje com Jesus, o Messias. O
Reino de amor e justiça que é o projeto de Deus para a história humana interpela toda pessoa. 25
Por isso, em sua missão, Jesus ensina com sua própria ação física, corporal, capaz de
recuperar vidas por onde passa. O evangelista Marcos sintetiza todo o ensinamento de Jesus
com uma só frase, colocada na boca de Jesus: “Completou-se o tempo e o Reino de Deus
está próximo. Convertei-vos e crede na Boa-Nova” (Mc 1,15). Carlos Mesters, um dos
grandes biblistas da América Latina, comenta essa passagem de Marcos da seguinte forma:
Esta Boa-Notícia, este Evangelho, não consiste apenas em palavras, não consiste apenas nas
palavras do Sermão da Montanha, por bonitas que sejam. Esta Boa-Notícia é, antes de tudo,
Jesus mesmo. É nele que está o Reino de Deus, ou seja, nele Deus é rei. Nele aparece o que
acontece entre os homens, quando alguém se abre para Deus e deixa Deus ser Deus na sua vida.
Aí tudo muda, e muda radicalmente para melhor. É isto que Jesus fez. Mostrou com a sua vida
que o homem só pode ser homem mesmo, só pode ser plenamente humano, quando deixa Deus
ser Deus na sua vida, quando se abre para o Reino de Deus, porque só então o homem será
plenamente aquilo que ele deve ser, conforme a intenção daquele que o criou. Só Deus sabe o
que há no homem e só ele consegue fazer funcionar o homem na sua mais alta potencialidade
[...] Por isso Jesus é Boa-Notícia para todos os seres humanos, pois corresponde exatamente
àquilo que as pessoas desejam. Quem vê e ouve isso faz nascer em si o desejo espontâneo:
gostaria de poder participar disto: como devo agir, que devo fazer neste caso?
25
GUTIÉRREZ, Gustavo. O Deus da vida. São Paulo: Loyola, 1992. p. 135-136.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
68
Jesus, desse modo, é apresentado pelos evangelistas como modelo, paradigma, para
quem deseja mudar de vida a partir dos critérios do Reino de Deus. Tal mudança de vida é
a expressão do novo que começa a existir na vida de quem se deixa evangelizar.
A intenção pedagógica dos relatos de curas físicas e psíquicas realizadas por Jesus
(conhecidos como “relatos de milagres”), consiste em, pelo menos, três elementos
interligados: 1o) ajudar o povo a abrir-se para a mensagem de Deus anunciada por Jesus
(abrir o coração e a mente à Palavra); 2o) dispor-se a aderir a Cristo pela fé e a reconhecer
nele o Messias e o Filho de Deus (o Emanuel, Deus conosco, corporeidade de Deus na
história); 3o) provocar a mudança de vida (conversão), tendo em vista a instauração do
Reino na vida das pessoas e da sociedade: “Convertei-vos e crede na Boa-Nova” (Mc 1,15).
De fato, onde não há fé não é possível haver restauração de vidas. Por isso Jesus não
conseguiu realizar milagre algum em Nazaré (Mc 6,5-6). Por isso nenhum milagre tocou o
coração dos fariseus: “Apesar de ter realizado tantos sinais diante deles, eles não creram
nele” (Jo 12,37). Faltava-lhes a abertura à proposta de Jesus, faltava-lhes confiança (fé).
Assim, a finalidade do milagre é dispor as pessoas a abrir o coração e a mente à Palavra
de Deus vivida nas palavras e nas ações de Jesus, provocar a conversão e a mudança de
vida em vista do trabalho de instauração do Reino de Deus. É nessa linha que os biblistas
alemães Gerd Theissen e Annette Merz interpretam os milagres de Jesus: 26
Os milagres são amiúde “espiritualizados” por uma interpretação como pertencendo à esfera
“de cima”, o que é inadmissível. Os milagres de Jesus destinam-se inicialmente a trazer ajuda
concreta, material, curativa. Eles contêm um protesto conta a aflição humana [...] Sempre que
as pessoas ouvirem essas histórias, elas não vão ficar conformadas com o fato de haver tão
pouco pão, de não haver nenhuma cura para muitos doentes, de não haver para os perturbados
nenhum teto em nosso mundo! Sempre que essas histórias forem narradas, as pessoas vão
deixar de virar as costas para os enfermos que parecem sem esperança [...].
Jesus passou de tal modo fazendo o bem, curando todos os males, que sua presença entre
nós foi compreendida pelos seus discípulos e discípulas como a presença viva de Deus.
Interessante lembrar que o nome Jesus, em hebraico: Yehoshú’a, significa “Iahweh salva”.
Em Jesus Deus se torna corpo humano, um novo adam, um humano novo, que restaura
plenamente o projeto inicial de Deus.
26
THEISSEN, Gerd; MERZ, Annette. O Jesus histórico; um manual. São Paulo: Loyola, 2002. p.338.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
69
Nos chamados “Evangelhos da infância” (Mateus e Lucas), há toda uma elaboração das
primeiras comunidades cristãs a respeito do mistério da encarnação: “O Espírito Santo
descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que
vai nascer será chamado santo, Filho de Deus” (Lc 1,35). Temos aqui uma nova criação,
ainda melhor elaborada, que lembra um pouco Gn 2,7: “Então o Senhor Deus formou o ser
humano com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser
vivente”. No mistério da encarnação, em Lucas, Maria não é o “pó do solo”, mas a “cheia
de graça”, repleta do favor divino, obra-prima da criação humana. É dela, das entranhas
dessa nova terra, que nascerá “Jesus”, Filho do Altíssimo. O Espírito, do grego pneuma,
lembra o termo ruah, que designa o sopro vital insuflado por Deus em Adam. Jesus é, desse
modo, o novo adam (novo humano), manifestação definitiva do ser humano perfeito, tão
humano que só poderia ser divino. Assim, Jesus, como o segundo ou último Adão (1Cor
15,45), é implicitamente contrastado ao primeiro Adão (Gn 3,4-5).
Um cântico, próprio para as celebrações litúrgicas, circulava nas comunidades dos
primeiros cristãos a fim de exortá-los a viver imbuídos do mesmo sentimento de Cristo
Jesus (Fl 2,5). Trata-se de um hino cristológico, que mostra uma fé em elaboração de que
na pessoa de Jesus, em sua natureza humana (corporeidade), está a pessoa do próprio Deus
(Fl 2,6-11):
Ele, existindo em forma divina,
não se apegou ao ser igual a Deus,
mas despojou-se,
assumindo a forma de escravo
e tornando-se semelhante ao ser humano.
E encontrado em aspecto humano,
humilhou-se, fazendo-se obediente
até a morte – e morte de cruz!
Por isso, Deus o exaltou acima de tudo
e lhe deu o Nome que está acima de
todo nome,
para que, em o Nome de Jesus, todo
joelho se dobre
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
70
no céu, na terra e abaixo da terra,
e toda língua confesse:
“Jesus Cristo é o Senhor”,
para a glória de Deus Pai.
No Evangelho de João lemos: “E a Palavra [o Verbo] se fez carne e veio morar entre
nós” (Jo 1,14). Na maturidade da reflexão das comunidades joaninas (comunidades cristãs
que elaboraram a reflexão contida nos escritos joaninos: Evangelho e cartas), a Palavra (em
grego: logos) de Deus se encarna, faz-se carne em forma humana. É provável que tal
reflexão já circulava com muita aceitação entre as comunidades cristãs de um modo geral.
O apóstolo Paulo afirmava: “Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu
Filho, nascido de mulher, [...]” (Gl 4.4).
De fato, há um crescendo na concepção de que Deus se interessa de tal modo pela
realidade humana que não se contenta em habitar entre nós. Quer encarnar-se em nossa
natureza humana. Depois da presença invisível e temível de Deus no Tabernáculo ou no
Templo da Antiga Aliança (Ex 25,8; cf. Nm 35,34), e da presença espiritual da Sabedoria
em Israel, pela Lei mosaica (Eclo 24,7-22; Br 3,36–4, 4), segue-se, pela encarnação do
Verbo, a presença pessoal e tangível de Deus em forma humana, assumindo a nossa
corporeidade.
O corpo humano é, nessa concepção teológica, a “tenda” onde se manifesta a glória de
Deus. Não é templo construído por mãos humanas, mas criada diretamente pela força da
Palavra de Deus (Gn 1,26). Trata-se, portanto, de uma reflexão teológica no mínimo
inusitada. A infinitude divina se encarna e se manifesta na finitude (limitação,
provisoriedade) do corpo humano. Tal reflexão surge num contexto histórico em que o
corpo é compreendido tão somente por suas ambiguidades e limites, como lugar indigno
para uma manifestação tão grandiosa (a presença de Deus). Para se ter uma ideia, a filosofia
platônica expressou esta visão pessimista com a ideia de que o corpo é a prisão da alma, da
qual devemos nos libertar.
Apesar disso, todo o Cristianismo constrói sua concepção teológica a partir do corpo
humano. O mistério da encarnação, a fé na ressurreição do corpo de Jesus e a presença
sacramental de Jesus no pão, que alimenta o corpo.
Em Paulo
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
71
Na antropologia paulina, “carne” e “espírito” são termos com sentido opostos
(antitéticos), enquanto “corpo” permanece como a totalidade do “eu”. Em Paulo, na mesma
linha da cultura hebraica, o significado do conceito antropológico de “corpo” não indica
simplesmente a parte material do ser humano, mas o “ser humano todo”, a totalidade do
“eu”, o “ser humano existente”. Corpo é a pessoa humana. Por exemplo: em 1Cor 6,18s
lemos: “[...] Acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo que mora em vós e
que recebestes de Deus? [...] Então, glorificai a Deus no vosso corpo”.
Glorificar a Deus no corpo ou com o próprio corpo significa que o culto cristão não é um
mero ritual externo, mas existencial: uma vida entrelaçada por relacionamentos
interpessoais de profunda e sincera comunicação, animada pelo amor e pela doação de si
mesmo (trabalho, empenho físico e mental, corporal, que implica empreender energias de si
mesmo e o precioso tempo em prol da vida, nos seus múltiplos aspectos). Nessa concepção,
o ser humano é corpo, não tem um corpo.
Em 1Cor 6,13b-14, é significativo que o termo “corpo” seja trocado pelo pronome
pessoal “nós”: “O corpo, porém, não é para a prostituição, ele é para o Senhor [...] e Deus,
que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós, [...]”. Desse modo, o vocábulo
“corpo” caracteriza a pessoa humana em suas relações com os outros e com o mundo. Por
isso, o ato sexual não é tão simples como consumir um alimento, pois estamos no âmbito
das relações interpessoais. O sexo, por sua própria natureza, é encontro, relação, pertença
recíproca. A sexualidade recebe significados totalmente diferentes, dependendo do fato de
se encaixar nesta ou naquela concepção antropológica:
a) Será reduzida a coisa se o ser humano é visto como “eu” interior e espiritual, sendo que o seu
existir no mundo – e o sexo faz parte dessa dimensão mundana – não se torna algo constitutivo,
mas apenas aparência externa; b) Será encontro pessoal se o homem é visto como sujeito
mundano, que se estrutura e se realiza nessa sua mundanidade e, portanto, também na sua
dimensão sexual. 27
Assim, segundo Paulo, “o corpo, porém, não é para a prostituição, ele é para o Senhor, e
o Senhor é para o corpo; e Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós,
pelo seu poder” (1Cor 6,13-14). O sexo, vivido de maneira imoral, longe de ser indiferente,
27
BARBAGLIO, Giuseppe. As cartas de Paulo (I). São Paulo: Loyola, 1989. p. 231-231.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
72
questiona e compromete nossa pessoa em sua dimensão mundana e sexual, a qual Cristo
também veio resgatar.
A salvação operada por Jesus, por meio da entrega de si mesmo (do seu corpo) ao longo
de sua missão (vida pública - paixão - morte - ressurreição), refere-se a todo o nosso ser,
em particular à nossa dimensão corpórea, que se realiza através da nossa relação com as
coisas, com as pessoas e com Deus. Sendo assim, explica-se por que o Pai, que ressuscitou
a Cristo, ressuscite também a nós. Nossa corporeidade não está destinada a desaparecer. O
futuro último abre perspectivas positivas a nós, não como espíritos desencarnados, mas em
nossa corporeidade essencial. Como afirma Paulo: “[...] e Deus, que ressuscitou o Senhor,
nos ressuscitará também a nós, pelo seu poder” (1Cor 6,14).
Em suma: na concepção paulina, o corpo representa a totalidade da existência humana
concreta e deve experimentar, portanto, aquilo que pareceria impossível – uma
transformação que, sem destruí-lo, confere-lhe a qualidade de ser celeste. Está implícita
nessa concepção a identificação do corpo do cristão com o corpo de Cristo, identificação
que em algumas passagens chega a ser explícita (Rm 7,4; 1Cor 10,16s). Foi em um só
corpo – o seu próprio corpo – que Cristo reconciliou os cristãos com o Pai em sua morte (Ef
2,16s; Cl 1,22). Assim, Cristo tornou a Igreja um só corpo – o seu próprio corpo – no qual
habita um só espírito (Ef 4,4).
Consequências pertinentes
Poderíamos tirar algumas consequências dessa nossa reflexão sobre o corpo. Primeiro:
precisamos retomar uma teologia cristã sobre o corpo, que se fundamente na antropologia
bíblica. Segundo: tenhamos consciência que a salvação passa pela saúde corporal. Terceiro:
retomemos sempre Jesus como modelo, paradigma. Quarto: é fundamental uma
evangelização que se aproxime das pessoas e dos seus reais problemas.
Por uma teologia do corpo
O Cristianismo, por muitos séculos, buscou manter fidelidade a Jesus a partir das
diversas culturas locais. Jesus sempre foi visto como o Salvador, o portador de salvação.
Mas essa salvação se manteve, muitas vezes, no nível “espiritual”, tão distante que ficou
para ser experimentada somente após a morte. Essa salvação da “alma” não levou em conta
a salvação do corpo, isto é, não enfrentou os grandes desafios dos reinos desumanos, que se
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
73
perpetuam na história excluindo multidões da vida com dignidade. Grande responsável por
isso foi a visão dualista, que dividiu a pessoa em duas partes separadas: corpo e alma. Ora,
a pessoa não é apenas um composto de corpo e alma, como afirmou essa corrente teológica,
influenciada por filósofos gregos. Pessoa é um ser vivente, um ser humano total. Portanto,
deve ser encarada como uma unidade.
Em dois mil anos de Cristianismo, parece que a reflexão teológica sobre o ser humano
em sua corporeidade ainda não foi suficientemente aprofundada. Tanto é que Leonardo
Boff, há mais de trinta anos, afirmou: 28
Se perguntássemos ao teólogo ou à Igreja qual é sua concepção do homem, não nos
admiraríamos se recebêssemos a seguinte resposta: o homem é um composto de corpo mortal e
de alma imortal. A morte significa a separação da alma do corpo. A alma é imediatamente
julgada por Deus. Recebe sua recompensa. Aguarda o fim do mundo, então receberá de volta
ressuscitado seu corpo para a glória ou para a perdição. O leitor comum, porém, admirar-se-ia
enormemente se ouvisse outros teólogos dizerem: o homem não tem alma. É alma. Não tem
corpo. É corpo. Não só a alma é imortal, mas também o corpo o é. O homem não morre. Muda
de existência corporal. Ressuscita após a morte biológica. É como a larva que passa a casulo, de
casulo a crisálida e de crisálida a radiante borboleta. Tais teólogos, aos quais nos filiamos, se
sentem dentro da tradição da Igreja e articulam simplesmente para nossa linguagem hoje a
concepção bíblica do homem.
De fato, a raiz da antropologia teológica cristã, que é a antropologia bíblica, concebe o
ser humano numa grande unidade entre o divino e o terreno. Como refletimos no capítulo
anterior, “[...] Deus formou o ser humano com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro
da vida, e ele tornou-se um ser vivente” (Gn 2,7). Tudo no ser humano é, de alguma forma,
corporal. O ser humano todo inteiro é corpo como espírito dentro da matéria em comunhão
com outros. O corporal é, nesse aspecto, um sacramento do encontro com Deus. Essa
unidade que implica Deus e comunga com ele não é destruída pela morte, mas é
relacionada de outra forma com Deus e com o mundo. A realidade da ressurreição do
homem foi-nos manifestada em Cristo. As forças do mundo que há de vir (cf. Hb 6,5) agem
já agora no meio da matéria. A questão principal da antropologia teológica não reside tanto
em saber quem é o homem, mas em responder à pergunta: que é que o homem há de ser? A
fé, olhando para Cristo transfigurado na matéria, dirá: somos predestinados a ser sua
28
BOFF, Leonardo. Teologia do corpo: o homem-corpo é imortal. Revista de Cultura Vozes 1, Petrópolis:
Vozes, p. 61, 1971.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
74
imagem na glória e na transfiguração de nossa realidade terrestre, porque ele é o
primogênito entre muitos irmãos (cf. Rm 8,29-30; 1Jo 3,2). 29
Salvação e felicidade passam pela saúde física e mental
Há uma relação profunda entre “salvação espiritual” e “saúde física”. Tal compreensão
está presente em muitos idiomas. No latim, salus significa saúde e salvação. Em sânscrito,
svastha significa bem-estar, plenitude, e passou para o nórdico (heill) e deste para as
línguas anglo-saxônicas (heil, whole) com o sentido de integridade e plenitude. Em grego,
sotería significa cura e salvação. Em hebraico, shalom envolve paz, bem-estar e
prosperidade. Em egípcio, snb é bem-estar físico, vida, saúde, integridade física e espiritual.
Nesses conceitos, salvação e felicidade são inseparáveis. A salvação passa a ser a
“integridade da existência”, a “totalidade de situações positivas”, saúde física e psíquica,
corpo social sadio, em que cada pessoa contribua, a partir dos seus talentos, para que todos
tenham condições de viver com dignidade. A salvação, portanto, objetiva eliminar o mal, a
doença e a desigualdade social, causadora de tanto sofrimento para cada um em particular.
De fato, a função do Cristianismo, bem como de todas as religiões é, naturalmente,
preocupar-se com a salvação das pessoas. Mas na origem essa preocupação se estendia
também para a cura das doenças físicas e psíquicas (doenças próprias da corporeidade
humana), e as religiões tinham função terapêutica e saneadora. Será que nossas religiões
não se esqueceram de cuidar desse lado sombrio da existência humana? Ou basta apenas o
conforto espiritual e a esperança de que na outra vida não haverá mais dor?
É impossível cuidar da alma ou do espírito sem se preocupar com o corpo, como
também não é possível tratar do corpo sem considerar o aspecto espiritual. Insistimos: o ser
humano é uma unidade (corpo) que precisa ser tratada na sua inteireza, completude. O
mundo moderno dividiu as funções do médico e do pastor, mas a doença do paciente não
pode ser desmembrada entre física e espiritual. É fundamental buscar uma visão holística
(do grego holos, totalidade) do ser humano, que caracteriza em geral as religiões do
passado, e tem influenciado as diversas expressões religiosas do presente.
Retomemos a fé em Jesus e a fé de Jesus
29
Baseio-me aqui em trechos do belo artigo de BOFF, Teologia do corpo: o homem-corpo é imortal, p.
61-68.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
75
Jesus de Nazaré dedicou grande parte de sua vida a cuidar da saúde de doentes. Seu
programa de vida era o anúncio de uma boa notícia aos pobres, o que incluía recuperar a
visão dos cegos, endireitar paralíticos, purificar leprosos, devolver a audição a surdos,
ressuscitar mortos (Mt 11,5). Incluía também livrar pessoas do domínio do diabo (At
10,38). Além de praticar, Jesus ordenou aos discípulos que exercessem a mesma atividade
para curar doenças e expulsar demônios (Lc 9,1-6).
Os Evangelhos parecem dar razão à imagem de Jesus curandeiro, exorcista, benzedor.
Afinal, ele curou quatro cegos, quatro paralíticos, um leproso, outros dez leprosos de uma
só vez, exorcizou cinco endemoninhados, curou a distância a filha da cananeia e o
empregado do oficial romano, devolveu a fala a um surdo-mudo, baixou a febre da sogra de
Pedro, curou uma mulher com hemorragia, colou a orelha de um soldado, além de realizar
diversas curas em massa.
Contudo Jesus disse várias vezes a pessoas curadas: “Tua fé te salvou” (cf. Mc 5,34).
Naquela cultura, o único poder capaz de curar e salvar o mundo, o único poder que podia
fazer o impossível era o poder da fé. Tal fé não é o mesmo que aderir a um credo ou a
conjunto de doutrinas ou dogmas. É convicção fortíssima. O doente tem fé quando se
convence de que pode ser e será curado. Quando esta convicção é suficientemente forte, a
cura se realiza; ele pode ficar de pé e andar. Se alguém falar com suficiente convicção,
“sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá” (Mc
11,23). E se rezar com uma convicção muito real de que já recebeu, assim será para ele (cf.
Mc 11,24). Mas se duvidar ou hesitar uma única vez, nada acontecerá. Isso está
exemplificado na história de Pedro caminhando sobre as águas. Ele duvidou por um
momento e imediatamente começou a afundar (Mt 14,28-31).
O poder da fé tem, nesse sentido, influência psicossomática de sugestão poderosa capaz
de realizar curas. O oposto disso é o fatalismo, atitude predominante na maioria das pessoas
na maior parte do tempo. Ela aparece em afirmações como: “Não se pode fazer nada a esse
respeito”, “precisamos ser práticos e realistas”, “não há esperança”, “é preciso aceitar as
coisas como elas são”.
O sucesso da atividade de Jesus no campo da cura dever ser visto como o triunfo da fé e
da esperança sobre o fatalismo. Os doentes que se tinham resignado à doença, como se
fosse o seu destino, eram encorajados a acreditar que podiam ser, e seriam, curados. A
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
76
própria fé de Jesus e suas próprias convicções inabaláveis despertaram neles essa fé. A fé
era uma atitude contagiante que o povo pegara de Jesus em seu contato com ele, quase
como se fosse uma espécie de infecção. Não podia ser ensinada, só podia ser transmitida
por contágio.
Era preciso o contato corporal com Jesus. Assim, começaram a procurá-lo para que lhes
aumentasse a fé (Lc 17,5) ou os ajudasse em sua descrença (Mc 9,24). Jesus era iniciador
da fé, que, uma vez iniciada, podia ser transmitida de uma pessoa para outra. A fé de um
homem podia despertar a do outro. Os discípulos foram enviados para suscitá-la nos outros.
Desse modo, onde quer que a atmosfera geral de tristeza pelo fatalismo tivesse sido
substituída por uma atmosfera de alegria pela fé, o impossível começava a acontecer. Em
Nazaré, cidade de Jesus, havia uma falta geral de fé, por isso que nenhuma “cura
maravilhosa” e extraordinária foi realizada lá (Mc 6,5-6). Mas em outros lugares da
Galileia as pessoas eram curadas, os maus espíritos eram expulsos e os leprosos eram
limpos. Os milagres da libertação começavam a acontecer.
Por uma evangelização que se aproxime do
corpo das pessoas30
Como vimos ao longo deste trabalho, em Jesus Deus se faz corpo que se incorpora a um
povo sofrido para com ele crescer em tal compaixão e solidariedade que assume as lutas e
dores desse mesmo povo como se fossem as suas, em seu corpo assume também as
consequências da luta desse povo, sendo com ele crucificado. No contato com o corpo de
Jesus o povo sofredor será glorificado, agraciado com a vida em plenitude: ressurgirá
saudável (como, por exemplo, a mulher com fluxo de sangue, em Mc 5,25-34, e tantas
outras pessoas que com ele estiveram).
No contato com Jesus os corpos doentes dessas pessoas, em vez de tornarem impuro o
corpo do taumaturgo de Nazaré, são por ele purificados. Quebra-se, assim, a lógica fundada
no ritualismo religioso do puro e do impuro e coloca-se em seu lugar a lógica fundada no
compromisso ético de promoção da vida, que leva a contatos misericordiosos, carregados
de uma compaixão de tal modo eficaz que tem o poder de salvar da morte. O corpo,
30
Trabalho este tema a partir da análise de uma dupla narrativa de milagres do Evangelho de Marcos.
CORREIA JÚNIOR, João Luiz. O poder de Deus em Jesus; um estudo de duas narrativas de milagres em
Mc 5,21-43. São Paulo: Paulinas, 2000. p. 168-184.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
77
portanto, nada tem de impuro, a ponto de precisar ser desprezado e até macerado (como
ocorreu durante todo o regime de Cristandade na Europa) para que a pessoa possa ter
acesso a Deus. Pelo contrário, através das narrativas de curas realizadas por Jesus (por
exemplo, em Mc 5,21-43), parece sugerir que: 31
a) É por meio do contato profundo do corpo das pessoas com o corpo de Jesus que
se dá o encontro fecundo entre a fé humana e a misericórdia divina.
b) É por meio do corpo que se tem acesso a Deus. É também por meio dele que a
graça de Deus penetra na vida das pessoas. O corpo aparece nas narrativas de
cura, portanto, como uma porta de passagem.
c) É por meio dessa “porta” que o poder de Deus manifesta a sua potencialidade
política no coração da vida social: reconstitui a saúde e garante a possibilidade
de se lutar pela dignidade, pelo direito à convivência profícua entre as pessoas
(direito à cidadania).
d) É por meio desse dar e receber corporal do amor misericordioso (estendido a
todos os cristãos e pessoas de boa vontade) que podemos perceber uma das
mais profundas manifestações da glória de Deus na história, e podemos garantir
o maior culto, a maior glória a Deus que se pode prestar.
Por isso a evangelização, se quer ser fiel ao modo de evangelizar de Jesus, deve se
aproximar das pessoas concretas e dos reais problemas que as inquietam nesta sociedade
moderna em crise. Por meio dessa aproximação nasce o diálogo, o compreender e o ser
compreendido. O Sagrado cristão pode, então, se tornar acessível, compreensível, e cumprir
seu papel de salvar, na medida em que é capaz de corresponder aos anseios fundamentais
da pessoa humana que o busca com fé. Importante lembrar, nessa perspectiva, que “a fé
religiosa sempre estará sendo transmitida em chave antropológica, quer dizer, em um dos
planos de valores que o homem busca para dar sentido à sua existência”.32
Dá medo tocar no sagrado,
achegar-se ao essencial.
Temor e tremor.
Lá dentro de nós, todo sentido se abala:
o passado em crise a desmoronar de vez,
a brotar no agora o que é todo novo.
31
Ibid. p. 176-177.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
78
Tem gente que sabe:
tocar no sagrado
é mais ser por ele tocado.
Ser pleno enche nosso ser
e paixão consome todo o coração,
e a vida se transforma toda.
Experiência íntima, singular
e tão sublime, que calar
já não pode.
Mas falar de que,
se o que se passa
não se sabe dizer?
Que nosso corpo todo proclame
o que a nossa boca não pode
e, quem sabe, não deve falar!
Que vejam em nosso olhar,
em nossos gestos, em nosso caminhar,
o que o toque nos causou
e, com coragem, avancem
a tocar e deixar-se tocar.
Sebastião Armado G. Soares e
João Luiz Correia Jr.
Fechando o texto
O sistema em que vivemos tende a reduzir o ser humano a um corpo sem valor, que só
adquire algum valor enquanto uma peça eficiente na produção ou enquanto consumidor ou
objeto de desejo sexual. O corpo humano sujeito de relações subjetivas com outros sujeitos
desaparece.
Num mundo que coisifica tanto o nosso corpo, continua sendo profundamente
“revolucionário” afirmar que Deus acontece no mundo quando o corpo humano é
32
SEGUNDO, Juan Luis. História e atualidade: sinóticos e Paulo: In: O homem de hoje diante de Jesus de
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
79
reconhecido como ser humano na relação entre sujeito e sujeito, quando os seus direitos de
ter uma vida boa são realizados e quando as pessoas se reconhecem como tais na
comunidade ao comer juntos o Deus que se fez pão para alimentar todos os corpos.
Para que o sonho dessa comunidade fraterna se torne cada vez mais real, é preciso que
não esqueçamos que a busca da abundância pela abundância do espírito consumista
neoliberal traz consigo necessariamente a negação do nosso corpo e de outros corpos. A
superação disso pressupõe o redescobrimento de uma verdade muito antiga: a boa vida não
consiste na acumulação de bens ou na negação da nossa corporeidade, mas sim no prazer de
saciarmos a nossa fome de pão e de calor humano em torno de uma boa mesa com os
amigos.
A oração que Jesus nos ensinou, conhecida como pai-nosso (Mt 6,7-15; Lc 11,1-4), é o
resumo da mensagem contida nos Evangelhos. O acesso a Deus, o Soberano, cujo Reino se
solicita que venha e tome posse de tudo e de todos, esse acesso é livre para todos os súditos.
Não há distância entre Deus e seus súditos fiéis, porque a relação não é a de Senhor e de
servo, mas de Pai para filho: relação de intimidade filial, de pessoas que se conhecem bem
na vida cotidiana. É por meio dessa intimidade que se tem liberdade para suplicar o
essencial: pão para todos, bom relacionamento social e perseverança. A oração é dividida
em duas partes. Na primeira, pede-se que Deus manifeste o seu projeto de salvação, a vinda
definitiva do Reino de Deus, para que sua vontade seja concretizada entre nós, aqui e agora.
Na segunda, pede-se o fundamental para que todos possam contribuir com a instauração
definitiva do Reino: o pão de cada dia para o sustento do corpo; perdão mútuo para a
construção de relações sadias; força para perseverar e não sucumbir diante das tentações
que façam retroceder ao Império do Mal (reinos injustos tão bem conhecidos ao longo da
história).
Como percebemos, o Reino de Deus começa em meio aos desafios da nossa história,
revirando os alicerces e destruindo as estruturas que dão sustentáculo aos reinos desumanos
que se instalaram ao longo do tempo. Como consequência, é de se esperar que as reações
contrárias venham com toda a crueldade. Por isso é preciso orar e trabalhar pela saúde do
corpo (pessoal e social) dos que permanecem fiéis ao Reino de Deus. Que a evangelização
neste segundo milênio leve em conta todos esses desafios.
Nazaré. São Paulo: Paulus, 1985. v. II/1, p. 160.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
80
Assim seja!
Bibliografia
ALVES, Rubem. Variações sobre a vida e a morte. São Paulo: Paulus, 1989.
BARBAGLIO, Giuseppe. As cartas de Paulo (I). São Paulo: Loyola, 1989.
BÍBLIA DE JERUSALÉM. Nova edição, revista e ampliada. São Paulo: Paulus, 2002.
BOFF, Leonardo. Teologia do corpo: o homem-corpo é imortal. Revista de Cultura Vozes 1,
Petrópolis: Vozes, 1971.
CORRÊA, José de Anchieta. Corpo, invenção da minha história. “Corpo e ética”. Tempo e
Presença 322, São Paulo: Koinonia, 2002.
CORREIA JÚNIOR, João Luiz. O poder de Deus em Jesus; um estudo de duas narrativas de
milagres em Mc 5,21-43. São Paulo: Paulinas, 2000.
CREMA, Roberto. Prólogo. In: LELOUP, Jean-Yves. O corpo e seus símbolos. Petrópolis: Vozes,
1999.
DATTLER, Frederico. Gênesis: texto e comentário. São Paulo: Paulus, 1984.
FRIES, Heinrich (org.). Dicionário de teologia; conceitos fundamentais da teologia atual. São
Paulo: Loyola, 1983. Tb. v. III.
GUTIÉRREZ, Gustavo. O Deus da vida. São Paulo: Loyola, 1992.
JOÃO PAULO II. Fides et ratio. São Paulo: Loyola, 1998.
LIBANIO, João Batista. Teologia e interdisciplinaridade: problemas epistemológicos, questões
metodológicas no diálogo com as ciências. In: SUSIN, Luiz Carlos (org.) “Mysterium
creationis”; um olhar interdisciplinar sobre o universo. São Paulo: Paulinas, 1999.
LOPES, Sérgio Marcus Pinto. Ecumenismo e corpo. “Corpo e ética”. Tempo e Presença 322, São
Paulo: Koinonia, 2002.
MACKENZIE, John L. Dicionário bíblico. São Paulo: Paulus, 1985.
NOLAN, Albert. Jesus antes do cristianismo. São Paulo: Paulus, 1987.
RUBIO, Alfonso García. Unidade na pluralidade. São Paulo: Paulus, 1989.
SEGUNDO, Juan Luis. História e atualidade: sinóticos e Paulo: In: O homem de hoje diante de
Jesus de Nazaré. São Paulo: Paulus, 1985.
THEISSEN, Gerd; MERZ, Annette. O Jesus histórico; um manual. São Paulo: Loyola, 2002.
WIEGERLING, Klaus. O corpo supérfluo – Utopias das tecnologias de informação e comunicação.
“Corpo e religião”. Concilium 295, Petrópolis: Vozes, 2002.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27
81