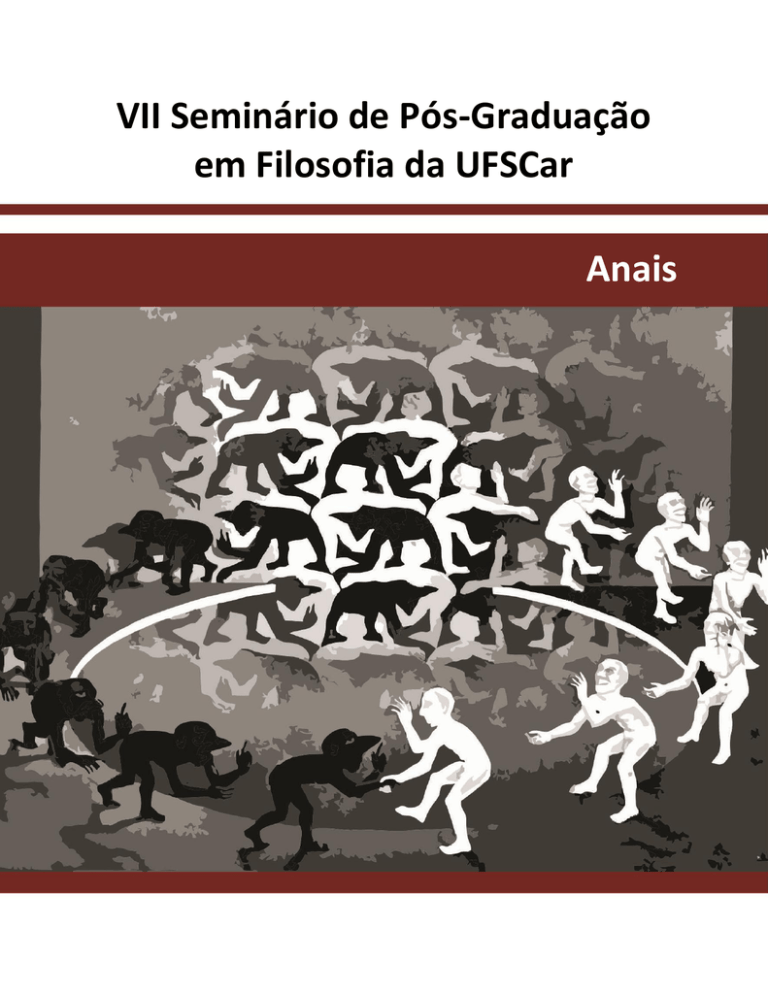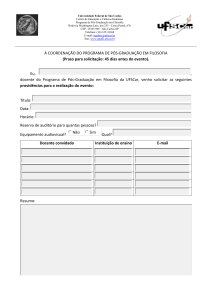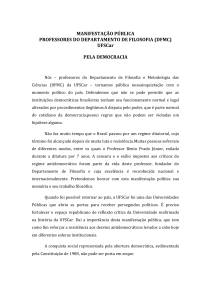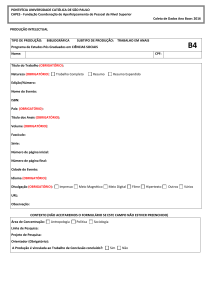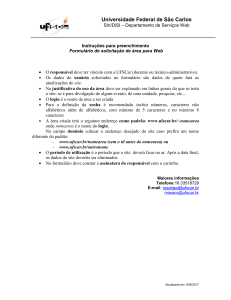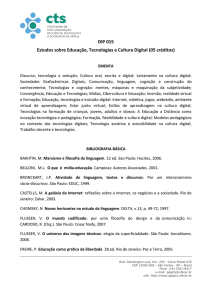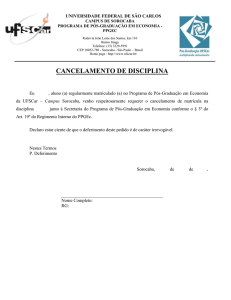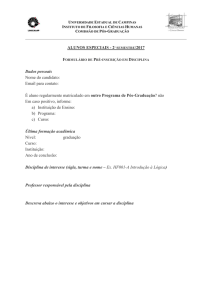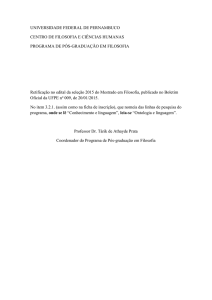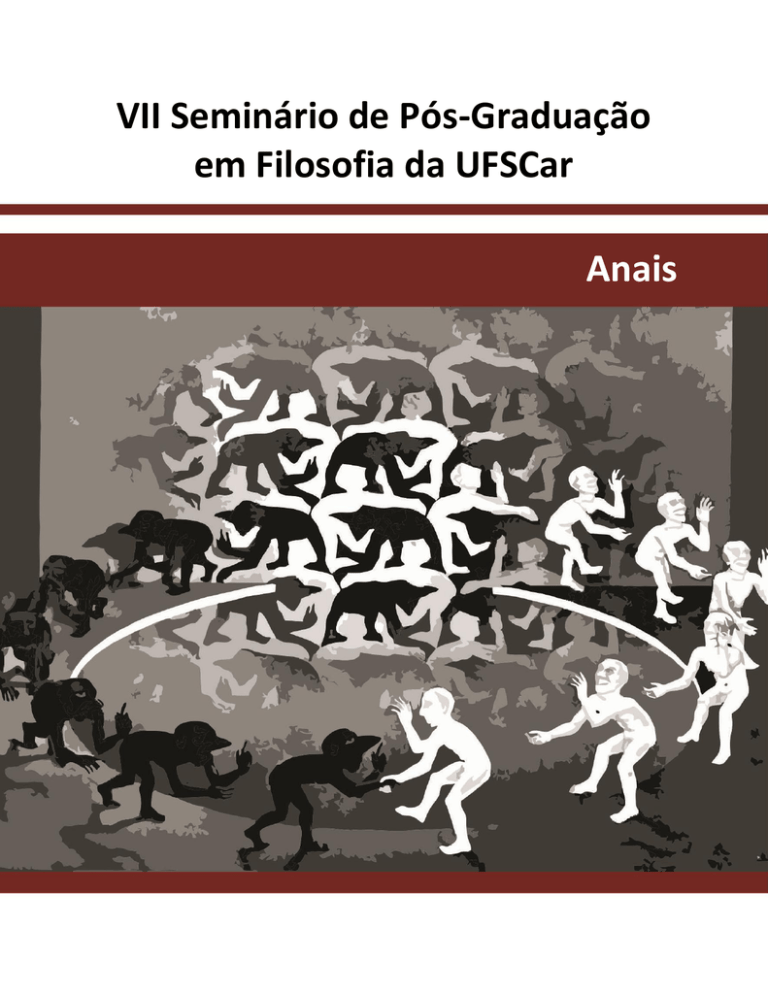
VII Seminário de Pós-Graduação
em Filosofia da UFSCar
Anais
VII Seminário de Pós-Graduação
em Filosofia da UFSCar
Anais
São Carlos, 2012
Universidade Federal de São Carlos
Centro de Educação e Ciências Humanas
Programa de Pós-Graduação em Filosofia
Reitor
Prof. Dr. Targino de Araújo Filho
Pró-Reitor de Pesquisa
Prof. Dr. Claudio S. Kiminami
Pró-Reitor de Pós-Graduação
Prof. Dr. Bernardo Arantes do N. Teixeira
Diretora do Centro de Educação e Ciências Humanas
Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffman
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia
Prof. Dr. Paulo Roberto Licht dos Santos
Comissão Organizadora
André Santana Mattos
Andressa Alves Souto
Fillipa Silveira
Gustavo Oliveira Fernandes Melo
Juliano Orlandi
Capa
M. C. Escher, Encontros, 1944
Apoio
Departamento de Filosofia e
Metodologia das Ciências
Programa de Pós-Graduação em
Filosofia
SUMÁRIO
Apresentação
9
TRABALHOS COMPLETOS
Abraão Carvalho
Da noção de espíritos animais em René Descartes
11
Adriano Ricardo Mergulhão
A Montanha Mágica: o Debate de Davos em 1929, entre Cassirer e Heidegger
26
Alexandre Gomes dos Santos
Liberdade, um debate ético possível em Michel Foucault
52
Alexandre Klock Ernzen
A noção de Verdade no Sistema Popperiano
61
André Campos de Camargo
Félix Guattari: o capitalismo mundial integrado
69
André Santana Mattos
A relação entre a linguagem e a consciência em Nietzsche e em Freud
77
Bruno Moretti Falcão Mendes
O problema da reificação em História e Consciência de Classe de Georg Lukács
87
Caio Augusto T. Souto
A literatura, uma noção tardia: reflexão sobre As palavras e as coisas de Michel Foucault
108
Carlos Eduardo de Moura
Sartre e a consciência no processo da construção de si: o “Eu” como valor e projeto
116
Catarina Rochamonte
Élan Vital e experiência mística: a intuição bergsoniana entre filosofia e espiritualidade
123
Cinthia Alves Falchi
As sexualidades no âmbito escolar. Respostas científicas e históricas
transformadas em questionamentos e problematizações
133
Cristiano Garotti da Silva
A conflituosidade das relações intersubjetivas em Huis clos, de Sartre
144
Daniel Verginelli Galantin
Verdade e subjetividade nos estudos de Foucault sobre a ética clássica: uma
estética da existência
154
Eder David de Freitas Melo
Nietzsche: liberdade, tragédia e destino
166
Edgard Vinícius Cacho Zanette
Descartes e Hobbes: A questão da subjetividade como ponto de encruzilhada
177
Fabiano Barboza Viana
Michel Foucault e o Modernismo Literário
186
Fabrício Klain Cristofoletti
A reflexão sobre Deus na discussão dialética do De ordine de Agostinho de Hipona
194
Fillipa Silveira
A questão da antropologia entre o empírico e o transcendental: Foucault sobre Kant
203
Gabriel Pinto Nunes
A Ética Samurai e a construção de uma Nação: a apresentação da Ética Oriental
Moderna na obra de Inazo Nitobe
214
Gautier Maes
A Instituição na filosofia do Merleau-Ponty
227
Jean Rodrigues Siqueira
Obras de arte múltiplas, obras de arte singulares e a hipótese do objeto físico
237
Jeovane Camargo
Silêncio e linguagem em Merleau-Ponty
246
João Paulo Simões Vilas Bôas
Subsídios para uma apreciação do fundamentalismo e do terrorismo a partir
da filosofia de Friedrich Nietzsche
259
Julio Cezar Lazzari Junior
A alma em Voltaire
270
Kelly Ichitani Koide
O modelo reticulado e as estratégias de pesquisa: sobre o papel dos valores
cognitivos na atividade científica e a perspectiva de uma epistemologia engajada
279
Luís Thiago Freire Dantas
O Niilismo da vontade de poder: maquinação e desertificação da terra
290
Luiz Henrique Monzani
O conceito de história em Rousseau
303
Marcio Tadeu Girotti
Os Träume eines Geistersehes e a Kritik der reinen Vernunft: as ilusões
na Dialética transcendental
312
Marco Antonio Gonçalves
Indivíduo hipermoderno e o consumo
327
Maria Érbia C. Carnaúba
A importância de Herbert Marcuse para a relação entre Teoria Critica e Psicanálise
no contexto da década de 30
337
Mayara Annanda Samarine Nunes da Silva
Sobre a normatização da vida: um ensaio a partir de Nietzsche e Agamben
346
Nelson Maria Brechó da Silva
Apontamentos entre o conceito do eros em Platão e em Montaigne
357
Rafael Fernando Hack
Foucault e as sínteses objetivas
364
Renato Machado Pereira
A Concepção da Verdade-como-Correspondência
374
Rodrigo Souza Fontes de Salles Graça
Tradução cultural e política: recepção de Walter Benjamin em Homi Bhabha
385
Rodrigo Ponce Santos
A indeterminação do político: Hannah Arendt e Roberto Esposito
395
Solange Bitterbier
Ação e duração: a visão bergsoniana da liberdade
409
Tales Carnelossi Lazarin
O realismo de entidades de Nancy Cartwright
416
Tatiane Boechat
A relação entre compreensão e regras
428
Valdinei Caes
A Concepção de Indivíduo Segundo Kierkegaard
437
Vanessa de Oliveira Temporal
A contribuição de Matéria e Memória para o estudo da linguagem na filosofia de Henri
Bergson
447
9
APRESENTAÇÃO
Entre os dias 3 e 6 de outubro de 2011 teve lugar, na Universidade Federal de São
Carlos, o VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia desta universidade. Este é um evento
destinado aos estudantes de pós-graduação em filosofia da UFSCar e de outras universidades,
que tem o objetivo de proporcionar aos estudantes um ambiente que favoreça, além da
divulgação de suas pesquisas, sobretudo o debate de qualidade. Com este propósito, adotamos
um formato no qual os textos completos das comunicações de cada apresentador são enviados
a outro participante da mesma mesa, antes do evento, para que este debata o texto com o seu
autor. Desse modo, todos os apresentadores são também debatedores.
Nesta sétima edição do evento, contamos com uma palestra de abertura, proferida pelo
Prof. Dr. João Carlos Salles (UFBa), uma palestra de encerramento, proferida pelo Prof. Dr.
Roberto Bolzani Filho (USP), além de um mini-curso, ministrado pelo Prof. Dr. Franklin Leopoldo
e Silva (USP/UFSCar). Contamos com 78 apresentações de comunicações de estudantes de pósgraduação, das quais 41 têm aqui o seu texto completo publicado. É com grande prazer que vos
apresentamos aqui os textos daqueles que optaram por aqui publicá-los.
Agradecemos o amplo apoio do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar e o
apoio financeiro da CAPES, sem os quais o evento não aconteceria como gostaríamos.
Agradecemos também a todos que contribuíram de alguma forma com o evento,
especialmente aos colegas que mediaram as mesas e aos estudantes de graduação que deram
apoio técnico.
A Comissão Organizadora
10
Textos completos
11
Da noção de espíritos animais em René Descartes
Abraão Carvalho*
RESUMO
Na problemática do corpo o filósofo René Descartes a partir de suas investigações, sobretudo
nas obras O tratado do Homem e As paixões da alma, pontua uma categoria que
modernamente a neurociência irá fixar estudos, pormenorizando e identificando aquelas
substâncias que atuam no corpo e que correspondem ao modo através do qual as sensações do
corpo nos ocorrem e bem como podem atuar em nossos sentimentos ou afecções. Contudo,
tais espíritos animais para Descartes consistem antes de tudo em uma matéria, que circula no
próprio corpo, na medida em que tais espíritos correm através do sangue e recaem entre as
concavidades do cérebro nos fazendo perceber, no caso especifico do corpo, o modo através do
qual os estímulos são recebidos. Todavia, ao chamarmos estas substâncias do próprio corpo
que correm o sangue e incidem em nosso cérebro, que Descartes chama de espíritos animais,
não são uniformemente compreendidos, de modo que para cada estímulo externo um tipo
diferente dentre os espíritos animais são impulsionados no corpo. Em
nossa investigação pretendemos indicar que tais espíritos animais funcionam como uma
espécie de mediação entre corpo e alma, de modo que compreendemos os movimentos dos
espíritos animais no corpo como algo que possui não somente sua direção que vai do próprio
corpo até a alma, alma que é compreendida como pensamento, bem como, compreendemos
que os movimentos dos espíritos animais possuem também sua direção inversa, a saber, como
tendo início no pensamento que por seu turno ativa o movimento de certos espíritos animais
no corpo.
PALAVRAS-CHAVE: Corpo, alma, espíritos animais, Descartes.
*
Artigo escrito tendo como orientação a professora Cláudia Murta no Programa de Mestrado/Filosofia/UFES, e
tendo como apoio a sua disciplina oferecida naquela ocasião.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
12
Dos “espíritos animais” como uma força vital ao corpo para Descartes
Na problemática tão arraigada na tradição da metafísica ocidental, a saber, o tema da
relação entre corpo e alma, o filósofo francês René Descartes em seu livro publicado
postumamente, de nome O mundo ou o Tratado da luz/ O Homem, com a intenção de, por
mediação de uma cisão conceitual, entre corpo e alma, assim como através de uma radical
reflexão filosófica que converge esforços em definir um e outro, em toda sua amplitude e
dimensão, somos levados a despertar para uma compreensão de corpo e bem como o seu
modo de mediação com a alma, que de certa maneira nos surpreende.
Neste movimento de pensamento, Descartes promove sua compreensão e observação
em torno da problemática do corpo, de modo a primeiro tratá-lo com rigor, tanto em
observações sobre o corpo quanto de reflexões acerca, para então em um momento posterior,
tratar da alma enquanto problema metafísico. E é esta perspectiva que é deixada bem claro ao
início da parte do livro em que Descartes promove esta delimitação de modo de pensamento, a
saber, na parte do Tratado intitulada “O homem”:
“Esses homens serão compostos, como nós, de uma alma e de um corpo. É
necessário que eu vos descreva, primeiramente, o corpo à parte, depois a alma
também separadamente, e, enfim, que eu vos mostre como essas duas
naturezas devem estar juntas e unidas, para compor os homens que se
assemelham a nós.”1
De todo, o curioso que nos levou a uma direção de investigação do que sejam os tais
“espíritos animais” em Descartes, partiu da constatação de que esta categoria, conceito, nome,
converge para si uma possibilidade muito sustentável de interpretação filosófica em torno da
relação entre corpo e alma. Contudo, para que nos aproximemos de alguma noção do que
significam os espíritos animais e sua posição e lugar na relação entre corpo e alma, precisamos
nos conter, nesta mesma marcha de pensamento, aos limites e observações sobre o corpo, no
qual se encontra a alma, sendo o homem aquilo que é o “composto”, de corpo e alma.
1
O homem, de René Descartes; pág. 119-120.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
13
Nesta perspectiva as observações de Descartes, como o filósofo nos ressalta, em relação
às partes do corpo humano bem como suas descrições, “podem ser mostradas por algum
especialista de anatomia” 2. No entanto, criar conceitos e definições a partir do corpo que
possam estar envolvidos com a dinâmica através da qual a alma é afetada de súbito pelos
sentidos, é o que Descartes nos apresenta de novo e curioso, a respeito da relação entre os
afetos, sentimentos, e o corpo, seja em seu ir de encontro aos objetos, seja quando a alma
presume estar tomada por este ou aquele estado de ânimo, afeto, ou nos termos de Descartes,
paixão, recorrente que é, em sua perspectiva, da ebulição e condução destes tais espíritos
animais no corpo.
Descartes compreendia que a manutenção da força vital do corpo era conhecida como
“um certo vento muito sutil, ou antes uma chama muito viva”, que percorre as artérias através
de partes do sangue, e que prescinde em conservar a substância do cérebro. E que esta força
vital que percorre e mantém vivo o corpo dá-se o nome de espíritos animais. Assim lemos na
seguinte passagem: “Quanto às partes do sangue que chegam ao cérebro, elas servem não só
para nutrir e conservar a sua substância, mas também, principalmente, para produzir um certo
vento muito sutil, ou antes uma chama muito viva e muito pura que é chamada de espíritos
animais.”3 De acordo com o filósofo, neste movimento do sangue pelo corpo em sua direção à
superfície e concavidades do cérebro, movidas pelo calor do coração (órgão), temos a
passagem de simples substâncias que nutrem o cérebro, para o que ele chama de espíritos
animais. É o que nos leva a crer a seguinte passagem do texto de Descartes:
“Assim, sem outra preparação nem mudança, a não ser que elas são separadas
das maiores e que retém ainda a extrema rapidez que o calor do coração lhes
deu, elas deixam de ter a forma do sangue e passam a se chamar espíritos
animais.”4
2
Idem, pág. 120.
Idem, pág. 129.
4
Idem, pág. 130.
3
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
14
Espíritos animais e a relação corpo-máquina
Segundo Descartes, esses espíritos animais na medida em que vão sendo dirigidos às
concavidades do cérebro, tendem a realizar um movimento que vai dos poros para os nervos, e
nesta posição, os espíritos animais através do sangue produzem tal força de modo a mover e
alterar a forma dos músculos, que por sua vez promovem os movimentos dos membros. E é
justo neste contexto que surge a associação do funcionamento de uma máquina e o
funcionamento do corpo humano. Pois à máquina segue-se a analogia do corpo humano, ao
qual abriga uma alma, que, sendo racional, tende a fomentar os movimentos do corpo, como
nos demonstra um vestígio encontrado no texto de Descartes a respeito da relação entre corpo
e alma: “Quando houver uma alma racional nessa máquina, ela terá sua principal sede no
cérebro.”5 Logo em seguida o filósofo nos chama a atenção, que nesta sede da alma, que é o
cérebro, deriva-se a capacidade e possibilidade de: “excitar, impedir ou mudar, de algum modo,
seus movimentos”6, isto é, os movimentos do corpo.
É preciso neste ponto, precisamente em relação à noção que articula o corpo com a
figura de uma máquina, um certo cuidado, para que um deslize ou deslocamento de
compreensão possa ser evitado. Nos deparamos com questões decorrentes dessa articulação
entre corpo e máquina, que de certo está no cerne da modernidade, sobretudo a partir da
leitura dos trabalhos de Cláudia Murta encontrados no livro “Humanização, corpo, alma e
paixões”. Nos trechos de nome: “Uma nova visão de mundo?”, “O homem-máquina” e “O
homem-máquina ocidental”, encontramos um melhor esclarecimento em torno do debate que
envolve a compreensão moderna de corpo como uma máquina, e seu decorrente
deslocamento para a compreensão de homem-máquina.
O que Descartes propõe, com o recurso teórico de aproximar a relação entre corpo e
máquina, reside em demarcar princípios filosóficos distintos, que preservam o que o filósofo
chama de “privilégio metafísico” do homem, “que consiste no pensamento e que engaja
5
6
Idem, pág. 131.
Idem, pág. 131-132.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
15
também a imortalidade de sua alma.” O que se afasta da compreensão de homem ocidental
compreendido como homem máquina fundada na modernidade, como nos indica Cláudia
Murta em relação à proposta de Descartes:
“A conseqüência desse tipo de pensar e viver a realidade do homem-ocidental
é aquela que o reduz em seu próprio fazer-se, ou seja, construir-se máquina. O
que confirma um monismo radical acreditando ao extremo na força da técnica
sobre a vida. Tal ideia vem em muito se distanciar da então proposta por
Descartes, que pensa o animal-máquina ser conseqüência do dualismo almacorpo, ‘servindo para garantir ao homem seu privilégio metafísico, que
consiste no pensamento e que engaja também a imortalidade de sua alma’.”7
Esta melhor contextualização do pensamento de Descartes, ainda segundo Claudia
Murta, se inscreve no século xviii, sobretudo em relação ao debate entre Descartes e as
aproximações e distinções do pensamento de La Mettrie. Para este último, a compreensão
fundada desde o materialismo, que afirma ser o homem uma máquina, e para aquele outro, a
compreensão de que somente o corpo é uma máquina, e que o pensamento resguarda o seu
“privilégio metafísico”, resultante de seu dualismo. A linha tênue que pode nos trazer grandes
embaraços é melhor demarcada no texto de Cláudia Murta a fim de situar a distinção entre o
pensamento de La Mettrie e Descartes:
“Julien de La Mettrie, em sua obra ‘O homem-máquina’, elabora uma tese
própria para a sua época. No século xviii, quando o homem, a fim de justificar
seu domínio à natureza, dela se distancia, intuitivamente associa a imagem do
homem à de uma máquina, denunciando por viés o espírito de manipulação
que o conduz. A proposta de Descartes, que descreve o funcionamento do
corpo humano como uma máquina, é, assim, derivada numa afirmação outra,
a afirmação de ser o homem uma máquina.”8
Contudo, a abertura de compreensão nos deixada por Descartes consiste em indicar um
círculo de relações do próprio corpo, e que atravessa os nervos, músculos, cérebro, espíritos
animais e membros, e se articulam desde uma dinâmica de movimentos muito fugaz e rápida,
7
8
Murta, Cláudia. Humanização, corpo, alma e paixões. Nead/UFES. Vitória/ES.2009; pág. 17.
Idem, pág. 23.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
16
todavia, permanente na organização e manutenção da força vital do corpo e de sua condição
de afetar a alma. Uma passagem encontrada neste Tratado do Homem, que nos desperta uma
mais precisa compreensão acerca deste círculo traçado por Descartes, é a seguinte:
“Mas, a fim de que eu vos faça entender tudo isso distintamente, quero,
principalmente, vos falar da estrutura dos nervos e dos músculos, e vos
mostrar como, unicamente do fato de, os espíritos que estão no cérebro se
apresentarem para entrar em alguns nervos, eles têm a força de mover, no
mesmo instante, algum membro.”9
Os espíritos animais, todavia, convergem para si uma importante função, neste conceito
de corpo instaurado por Descartes. A possibilidade que arriscamos em tomar como
fundamental no pensamento de Descartes, é a de que os espíritos animais, abrigados no corpo,
seriam o ponto de mediação entre corpo e alma, ou entre corpo e humores, corpo e
pensamento, corpo e paixões ou afetos. Esta nos parece ser a perspectiva perseguida por
Descartes. O filósofo promove nesta investida a seguinte linha de raciocínio: Ora, se os espíritos
animais dizem respeito àquele vento ou chama mais sutil, estando os espíritos animais em
constante movimento no corpo, este possuirá seus músculos, que podem fomentar ou não,
uma força capaz de os enrijecer de acordo com o movimentos dos espíritos animais abrigados
no corpo.
Nesta perspectiva, aos espíritos animais é atribuída uma posição muito importante, pois
este corpo simplesmente se move, desde que os espíritos animais possam “escoar” do cérebro
para os nervos, e assim interferir no movimento dos membros. Assim nos orienta a pensar
Descartes quando se refere à relação entre espíritos animais, nervos, cérebro, e por fim todo
movimento do corpo, que realiza seus gestos “somente pela força dos espíritos animais que
escoam do cérebro para os nervos.”10 Mais adiante, Descartes evidencia a relação entre os
9
Tratado do homem, Descartes; pág. 132.
Idem, pág. 137.
10
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
17
espíritos animais e os membros do corpo humano: “os espíritos animais podem causar alguns
movimentos em todos os membros onde alguns nervos têm suas terminações”. 11
Dos espíritos animais à alma
Todavia, o percurso dos espíritos animais como um “vento ou chama muito sutil” 12 que
governa os movimentos do corpo e seus membros, coincide mais precisamente ao que os
sentidos, enquanto capacidade da percepção e sensibilidade, possuem de importante na
recepção dos objetos externos e no modo de atingir a alma. A descrição e as observações daí
decorrentes da relação, a saber, a relação entre os espíritos animais e o aparato sensorial do
corpo humano, é evidenciada como perspectiva e interesse de Descartes em uma precisa
passagem: “os espíritos animais seguem seu curso através dos poros do cérebro, e como esses
poros estão dispostos, quero vos falar aqui, particularmente, de todos os sentidos”. 13
Neste momento do texto de Descartes, temos uma rica conjunção de descrições, um a
um, de cada sentido e sua condição de recepção dos objetos externos, uma minúcia de certo
muito perspicaz. Contudo, é neste contexto de tentativa de recurso de observação, em tomar o
aparato sensorial como ponto de movimento em relação aos espíritos animais, que acabamos
sendo levados mais adiante ainda do simplesmente aparato sensorial, e observar, a partir da
leitura de Descartes, ao que os espíritos animais também interferem: a saber, os sentimentos. E
deste modo nos aproximar daquela relação que fundamenta nossa interpretação, e que aponta
para a possibilidade de que os espíritos animais em Descartes ocupam posição de mediação da
relação entre o corpo e alma.
Por outro lado, Descartes procura também nesta parte do Tratado que versa sobre O
Homem, em sua compreensão de unidade entre corpo e alma, o interesse em demarcar que
11
Idem, pág. 138.
Idem, pág. 137.
13
Idem, pág. 142.
12
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
18
neste corpo ao qual temos uma minuciosa descrição de seu funcionamento, há uma
possibilidade de unir-se à uma alma racional. O que pode nos levar para a decorrência adversa
desta afirmação, a saber, a leitura de que, uma vez podendo esse corpo unir-se a uma alma
racional, existirá então a possibilidade desde corpo ser também desprovido de uma alma
racional. Vejamos a seguinte passagem do texto de Descartes relacionada a este momento de
nossa leitura:
“Quando Deus, unir uma alma racional a essa máquina (...), ele lhe dará sua
sede principal no cérebro e a fará de tal natureza que, de acordo com as
diversas maneiras pelas quais serão abertas as entradas dos poros que estão
na superfície interna desse cérebro por intermédio dos nervos, ela terá
diversos sentimentos.”14
Ora, se os espíritos animais movimentam-se do cérebro aos nervos, movendo os
membros que se estruturam nos limites do corpo humano, Descartes nesta passagem dá um
passo adiante em demarcar que ao percorrer os limites do corpo, os espíritos animais incidem
de modo mediador nos sentimentos aos quais somos tomados. Isto significa: a provocação de
sentimentos na alma causados pelo movimento, força e intensidade destes chamados espíritos
animais em nosso corpo. E justo neste ponto a relação corpo, espíritos animais e alma, começa
a ganhar um outro ajunte.
Contudo, devemos avançar um pouco mais na leitura de Descartes na direção de uma
melhor precisão da nomeação de “espíritos animais” e sua circunscrição no corpo, e nos
possibilitar um ponto de mediação à compreensão de que tais espíritos animais também
incidem, por intermédio do próprio corpo, no modo como os sentimentos nos sobrevêm, de
maneira a encontrarmos uma perspectiva de unidade entre corpo e alma, enquanto cisões
conceituais, na leitura que fazemos de Descartes.
Por sentimentos Descartes toma como exemplo a medida e intensidade destes espíritos
animais a partir da compreensão de que, uma vez que a estrutura do corpo humano, que ele
associa ao funcionamento de uma máquina, retrai seus nervos abruptamente, de modo aos
14
Idem, pág. 143.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
19
espíritos animais incidirem de outra maneira no cérebro, isto dará alma, por exemplo, o
sentimento de dor. Assim compreendemos a leitura da seguinte passagem:
“Assim, primeiramente, se os filetes que compõe a medula desses nervos
forem puxados com tanta força que eles se rompam e se separem da parte à
qual estavam unidos, de forma a estrutura de toda a máquina se torne de
alguma maneira menos completa, o movimento que eles causarão no cérebro
dará ocasião à alma, à qual importa que o lugar de sua permanência se
conserve, de ter o sentimento de dor.”15
Em outra camada de compreensão identificamos a precisa relação entre o que
Descartes chama de “movimento no cérebro”, e com o que corresponde na alma como
possibilidade de dar “ocasião à alma” deste ou daquele sentimento. O que nos chama a
atenção é que Descartes afirma que, como causa dos sentimentos, teremos então esta
oscilação e movimento no corpo dos tais espíritos animais. O que leva o filósofo à constatação
de que mesmo o sentimento da dor, enquanto sentimento provocado na alma, e também o
sentimento de “volúpia corporal”, que pode ser compreendido como “cócegas” na alma,
possuem enquanto causa o mesmo. A saber, o corpo e movimento e intensidade dos tais
espíritos animais, entre dor e “cócegas” na alma, possuem uma e mesma origem, no entanto
seus efeitos sobre a alma sejam precisamente muito distintos. Segundo Descartes, para
recorremos com melhor precisão aos termos utilizados pelo filósofo,
“um movimento no cérebro que, testemunhando a boa constituição dos
outros membros, dará ocasião à alma de sentir uma certa volúpia corporal que
chamamos de cócegas, e que, como vós vereis, estando muito próxima da dor
em sua causa, é totalmente contrária ao seu efeito” 16
15
16
Idem, pág. 143-144.
Idem, pág. 144.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
20
As paixões da alma em Descartes: O nexo corpo alma e espíritos animais
A indicação precisa da posição dos chamados espíritos animais como participantes do
movimento do corpo para Descartes, entendemos ser o percurso do pensador na obra O
tratado do homem no intuito de demonstrar que a força e intensidade da agitação destes
espíritos no corpo correspondem a certos movimentos no próprio corpo, bem como sua
recepção de objetos por mediação do aparato sensorial, e que envolvem todavia a oscilação
dos espíritos animais no corpo.
Contudo, pretendemos a partir de agora, indicar um outro percurso de pensamento que
se articula como um todo na filosofia de Descartes, acerca da relação entre corpo e alma, ao
passo que até este momento, através da leitura do Tratado do homem, realizamos um
movimento de pensamento que investiga o conceito do que sejam estes tais espíritos animais,
que atendem pela designação de um movimento ou chama muito sutil em constante circulação
no corpo, como encontramos nesta passagem de Descartes em que ele afirma:
“sabe-se que todos esses movimentos dos músculos, assim como todos os
sentidos, dependem dos nervos, que são como pequenos fios ou como
pequenos tubos que procedem, todos, do cérebro, e contêm, como ele, certo
ar ou vento muito sutil que chamamos espíritos animais.”17
Nesta direção, a partir da leitura, sobretudo da primeira parte do Tratado das Paixões
da Alma, o movimento descrito nos parece tomar um ponto de partida oposto ao Tratado do
homem, se nesta obra o corpo é ele mesmo pormenorizado, partes, sensações distintas
descritas, nos parece que nas Paixões da alma, a intenção é tomar como ponto de partida a
própria alma, que é a casa das paixões, e que em suma não é corpo, e se familiariza com o
pensamento.
Todavia, Descartes nos parece apontar para uma posição em que a indicação da cisão e
distinção da natureza do corpo e da natureza da alma, possuem sua tensão justo na mediação
17
As paixões da alma. Art. 7.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
21
da agitação dos espíritos animais nas paixões. Sendo as paixões o nexo umbilical e o que em sua
metafísica lemos como a relação entre corpo e alma. Contudo, para que melhor possamos
compreender o lugar e natureza dos espíritos animais cabe-nos agora delimitar de que lado
tende a natureza destes espíritos. Por um lado, se nesses espíritos situamos o ponto de
mediação entre corpo e alma, por outro, a sua natureza, como nos afirma Descartes, é a
condição de serem corpos, como nos demonstra essa passagem ao Tratado das Paixões:
“o que denomino aqui espíritos não são mais do que corpos e não têm
qualquer outra propriedade, exceto a de serem corpos muito pequenos e se
moverem muito depressa, assim como as partes da chama que sai de uma
tocha; de sorte que não se detêm em nenhum lugar e, à medida que entram
alguns nas cavidades do cérebro, também saem outros pelos poros existentes
na sua substância, poros que os conduzem aos nervos e daí aos músculos, por
meio dos quais movem o corpo em todas as diversas maneiras pelas quais esse
pode ser movido”18
Nesta direção, o movimento destes espíritos no corpo, para Descartes, precisa ser
identificado quanto às suas causas, isto é, o que pode influenciar a disposição destes espíritos
desta ou daquela maneira. E é justo neste ponto que encontramos uma indicação do nexo
entre corpo e alma via espíritos animais. Descartes afirma que, uma das causas dos espíritos
moverem-se desta e não daquela maneira, é justo a alma: “a ação da alma, que é
verdadeiramente em nós uma dessas causas”19. A disposição dos espíritos no corpo terá
também como causa a “diversidade dos movimentos excitados nos órgãos dos sentidos por seu
objetos”20, e por fim como causa dos movimentos dos espíritos o seu percurso através do
cérebro, músculos e nervos.
Neste sentido, Descartes aponta para a compreensão de que também os objetos
externos que nos chegam por mediação da sensibilidade, na medida que ultrapassam a sua
condição de sensação diante de objetos, nos chega até a alma enquanto pensamento, não de
outra maneira senão através da representação. Isto é, tudo que nos chega primordialmente
18
Idem, Art. 10.
Idem, Art. 12.
20
Idem, Art. 12.
19
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
22
através dos sentidos, é posto para a alma por meio da representação. Em outros termos
poderíamos afirmar que os objetos externos, como também os apetites internos, promovem
certo movimento e agitação dos espíritos animais no corpo e que esta agitação dos espíritos
provoca a alma a tomar o objeto ou o apetite, por meio de uma representação, sendo esta
representação o que produz na alma os sentimentos. De acordo com o filósofo:
“é fácil conceber que os sons, os odores, os sabores, o calor, a dor, a fome, a
sede e, em geral, todos os objetos, tanto dos nossos demais sentidos externos
como dos nossos apetites internos, excitam também alguns movimentos em
nossos nervos, que se transmitem por meio deles até o cérebro; e além de
esses diversos movimentos do cérebro fazerem com que a alma tenha diversos
sentimentos”21
Assim, o movimento descrito por Descartes, de representação dos objetos ou apetites
naturais por mediação da agitação dos espíritos e que incide até a alma, nos aproxima
sobretudo de sua compreensão acerca da articulação entre corpo e alma que é caracterizada
também como percepção. Percepção será então um outro contorno ou ajunte do que
chamamos paixões, sendo as paixões não tão e simplesmente corpo, ou tão somente
pensamento, mas o ajunte entre corpo e alma. Segundo Descartes, as nossas percepções serão
de duas espécies; “umas têm a alma como causa, outras o corpo” 22.
Às percepções relacionadas ao corpo, designamos os “apetites naturais” ou
“afecções”23, que sentimos através do corpo. Sendo as percepções relacionadas à alma, as
paixões como a alegria ou a cólera. Assim, Descartes entende que tais percepções, seja por
intermédio do corpo ou pela alma, podem ser “verdadeiramente paixões com respeito à nossa
alma”24, mas que a proposta neste trabalho é abordar com certa restrição as paixões mais
vinculadas à alma, o que podemos designar como sentimentos ou emoções. E que o “curso
fortuito dos espíritos”25 incide de maneira decisiva na provocação desta ou daquela paixão na
21
Idem, Art, 13.
Idem, Art 19.
23
Idem, Art. 24.
24
Idem, Art, 25.
25
Idem, Art, 25.
22
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
23
alma, que para Descartes é uma percepção. É nesta direção que Descartes pretende
encaminhar a sua definição do que sejam as paixões da alma, sobretudo a partir de sua
compreensão das paixões como percepção e o lugar dos espíritos animais em sua definição das
paixões. Assim lemos no Tratado das Paixões:
“Depois de haver considerado no que as paixões da alma diferem de todos os
seus outros pensamentos, parece-me que podemos em geral defini-las por
percepções, ou sentimentos, ou emoções da alma, que referimos
particularmente a ela, e que são causadas, mantidas e fortalecidas por algum
movimento dos espíritos”26
Justamente neste ponto, encontramos uma das passagens na obra de Descartes em que
a posição ocupada pelos espíritos animais como mediação entre corpo e alma possui o estatuto
de condição necessária para o surgimento das diversas paixões na alma, de maneira que os
espíritos animais são lançados à posição de causa das percepções ou paixões da alma, e não
somente encontram-se na posição de causa como também participam, todavia, do ciclo que
envolve cada paixão específica, de modo que Descartes chega também a afirmar que as paixões
são causadas “sustentadas e fortalecidas por algum movimento dos espíritos.” 27
Da noção de espíritos animais como neuromediadores
Uma associação levantada, e que precisa ser melhor investigada, é a indicação de que os
espíritos animais descritos por Descartes se aproximam do que as neurociências modernas irão
chamar de neuromediadores. É no texto de Cláudia Murta que encontramos esta indicação: os
“espíritos animais seriam os equivalentes aos nossos atuais neuromediadores” 28. Para que
possamos melhor compreender alguns dos traços dessa associação entre espíritos animais e
26
Idem, Art. 27.
Idem, Art, 29.
28
Murta, Cláudia. Humanização, corpo, alma e paixões. Nead/UFES. Vitória/ES.2009; pág. 47.
27
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
24
neurotransmissores, faz-se necessário, fazer um recuo em relação aos pressupostos da filosofia
de Descartes.
De acordo com o que encontramos no texto da filósofa e psicanalista Cláudia Murta em
seus estudos a partir de Descartes, a filosofia cartesiana se inscreve, sobretudo quando começa
a empreender o estudo das paixões, desde a perspectiva da fisiologia mecanicista, como um
importante traço de sua filosofia mecanicista, na qual uma específica noção de organismo é
instaurada. Nesta direção, “A concepção cartesiana de organismo inscreve-se no quadro da
filosofia mecanicista, que tem como postulado fundamental a interpretação da natureza em
termos de matéria e movimento.” 29
Ora, a noção de espíritos animais na filosofia de Descartes irá atender, a estes dois
traços conceituais: matéria e movimento. Como causa da possibilidade de gerar esta ou aquela
paixão na alma, encontramos uma base material, a saber, os espíritos animais que ocupam
lugar importante no estudo das paixões da alma e do corpo. Mais adiante nos indica Cláudia
Murta a respeito da posição importante dos espíritos animais no contexto da filosofia de
Descartes que toma mais como referência a física e as ciências naturais, diferente da tradição
escolástica, que tomava a matemática como principal referência. Deste modo, encontramos a
seguinte passagem a respeito do texto cartesiano:
“Assim, as explicações cartesianas sobre as funções do organismo tomam por
base a física... (...) Nos textos que se voltam para o estudo dos seres vivos, as
partículas nomeadas espíritos animais estão na base de todo o processo de
locomoção e de percepção do homem: elas são produzidas no cérebro e daí
vão para os nervos, possibilitando tanto a locomoção como a sensação. (...)
Tudo se reduz a partículas em movimento, quantitativamente diferentes, que
se chocam e estão na base do funcionamento do organismo.”30
Nesta direção, a associação da noção de espíritos animais com o que as neurociências
chamam de neuromediadores, ganha uma melhor contextualização, a medida que
29
30
Murta, Cláudia. Humanização, corpo, alma e paixões. Nead/UFES. Vitória/ES.2009; pág. 39.
Idem.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
25
compreendemos o traço de matéria e movimento que perpassa a filosofia cartesiana. Um
preciso trecho a respeito dos espíritos animais como corpos, físicos, materiais, partículas,
encontramos no Tratado das paixões, e nos parece este ser um ponto de partida para uma
melhor investigação a respeito dos neuromediadores e sua associação com a noção de espíritos
animais, o que seria tema para outro estudo. A passagem de Descartes a qual nos referimos é a
seguinte: “o que denomino aqui espíritos não são mais do que corpos e não têm qualquer outra
propriedade, exceto a de serem corpos muito pequenos e se moverem muito depressa...”31
Desta maneira, encontramos nos espíritos animais, a base física e material da filosofia de
Descartes, de modo a situar a agitação destes espíritos no corpo como o ponto de precipitação
na alma do universo das paixões. Assim como nos indica o texto de Cláudia Murta a respeito da
posição dos espíritos animais na teoria cartesiana em seu empreendimento no estudo das
paixões, segundo a pesquisadora: “Os espíritos animais são, na teoria cartesiana, os elementos
materiais, cuja movimentação permite à alma sentir a paixão.”32
Referências bibliográficas
DESCARTES, René. O mundo (ou o Tratado da Luz) e O homem/ Apresentação, apêndices,
tradução e notas: César Augusto Battisti, Maria Carneiro de Oliveira. – Campinas, SP: Editora da
Unicamp, 2009.
______________. As paixões da alma, in Os Pensadores, ed. Abril, Rio de Janeiro, 1979.
MURTA, Cláudia & MAMERI FILHO, Justino. Humanização, corpo, alma e paixões. Nead/UFES.
Vitória/ES. 2009.
31
32
As paixões da Alma, Art. 10.
Murta, Cláudia. Humanização, corpo, alma e paixões. Nead/UFES. Vitória/ES.2009; pág. 47.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
26
A Montanha Mágica: o Debate de Davos em 1929, entre Cassirer e Heidegger
Adriano Ricardo Mergulhão*
RESUMO
O presente resumo tem por finalidade, expor uma discussão acerca de um debate específico,
ocorrido no ano de 1929, entre uma série de conferências organizadas entre os dias 17/03 e
6/04, em um resort localizado na montanha de Davos (Suíça). Uma das apresentações, tinha
como temática global “Homem e Geração” e discutiria a “Crítica da Razão Pura de Kant, e a
tarefa da fundamentação da metafísica”. Dois convidados debateriam o tema: Ernst Cassirer e
Martin Heidegger. Representantes de duas conflitantes correntes filosóficas, vigoradas na
Alemanha do séc. XIX. O movimento denominado Neokantiano guiado pela epistemologia da
ciência, que influenciou E. Cassirer, junto a uma apropriação do método transcendental
kantiano. E por outro lado, o historicismo e a hermenêutica de W. Dilthey, junto à
fenomenologia de E. Husserl, que influenciaram sobremaneira Heidegger. O caráter desta
“divisão” é marcado pela oposição entre filosofia analítica, de orientação lógica (científicoepistemológica) e a filosofia continental, de inclinação fenomenológica (e tendência “literária”).
Nosso intuito é esclarecer esta polêmica, procurando situá-la à luz, do contexto filosófico que a
produziu, ou seja, definir quais tradições serviram de “pano de fundo” para a realização desta
(disputatio) “disputa”. Existe aqui a preocupação central, de esclarecer a transformação do
problema da objetividade, mediante uma compreensão mais aguda das ressonâncias e campos
de influência da filosofia de Kant dentro do âmbito das tradições que culminaram ao longo dos
séculos XIX e XX (as escolas de Baden, Marburg e Freiburg), como uma resposta, ou
desdobramento das consequências do declínio da República de Weimar e da extensão da
influência dos movimentos classificados como Romantismo e Idealismo Alemão.
PALAVRAS-CHAVE: Metafísica, neokantismo, epistemologia, fenomenologia, filosofia alemã,
Cassirer, Heidegger, Kant, Debate de Davos, 1929.
*
Adriano Ricardo Mergulhão é aluno do Mestrado em Filosofia da Faculdade de São Bento (SP). E-mail:
[email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
27
INTRODUÇÃO
No ano de 1929, entre os dias 17 de março a 6 de abril, foram realizadas em Davos
(Suíça) uma série de conferências que tinham por objetivo discutir a filosofia alemã
contemporânea à época. Uma das apresentações discutiria a “Crítica da Razão Pura de Kant, e a
tarefa da fundamentação da metafísica”. Dois convidados debateriam o tema: Ernst Cassirer e
Martin Heidegger. Grandes representantes de duas correntes filosóficas vigoradas na Alemanha
do séc. XIX. O movimento Neokantiano guiado pela epistemologia da ciência, que influenciou E.
Cassirer (junto a uma apropriação do método transcendental kantiano). E por outro lado, a
Hermenêutica e o Historicismo de W. Dilthey, junto à fenomenologia de E. Husserl, que
influenciaram sobremaneira Heidegger na elaboração de seu próprio caminho filosófico. Neste
período também, estamos diante de uma configuração exemplar sobre a divisão de tradições
ideológicas distintas, presentes no pensamento filosófico daquele contesto histórico. O caráter
desta “divisão” é marcado pela oposição entre filosofia analítica, de ordem lógico/semântico
(científico/epistemológico) e a filosofia continental, de orientação fenomenológica (e tendência
“filosófica/literária”). Em um primeiro momento, seguindo esta linha interpretativa, e testando
a legitimidade de suas premissas, esta exposição tem por diretriz, a análise histórica e filosófica,
relativa não só ao conteúdo do diálogo travado por Heidegger e Cassirer, sobre duas leituras
possíveis da filosofia Crítica de Kant. Mas de forma mais abrangente, nosso intuito é esclarecer
alguns aspectos específicos e polêmicos, procurando situá-los à luz, do contexto filosófico que
os delimita, ou seja, situar as tradições que serviram como “pano de fundo” para a realização
desta “disputa” histórica entre estes dois grandes mestres do pensamento ocidental.
DESENVOLVIMENTO
Como temos um debate realizado no ano de 1929 como nosso tema principal. Neste
período ilustraríamos, em um bom exemplo o quadro cultural desta época, com a alusão que
fazemos ao livro do qual “emprestamos” o título para o presente trabalho, “A montanha
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
28
mágica”. A partir desta escolha, queremos indicar uma dupla referência, (histórica/geográfica e
literária/poética) para uma possível analogia entre dois acontecimentos. Primeiramente ao fato
do debate aqui estudado, ter se realizado nas frias montanhas da cidade de Davos, na Suíça,
mesmo local onde se desenrola o romance. Sua versão original, Der Zauberberg (“A Montanha
Mágica”) foi publicada em 1924 pelo conhecido escritor alemão Thomas Mann (1875-1955),
que coincidentemente, recebeu o premio Nobel da literatura, no mesmo ano de 1929, data em
que também se passa o debate entre Cassirer e Heidegger. Este último filósofo, aliás, havia,
recentemente lido tal romance (“O próprio Heidegger lera o romance A montanha mágica com
Hannah Arendt no verão do amor de 1924” SAFRANSKI 2005 p. 228), alguns anos antes do
aludido encontro com Cassirer, e então, possivelmente deve ter lhe passado pela mente, a
existência deste intrigante
personagem fictício, que foi o engenheiro Hans Castorp, o
protagonista da obra, que naquele mesmo local geográfico, havia travado extensos diálogos
sobre um tema, que ao filósofo da floresta negra, também era imprescindível compreender, em
seu viés fenomenológico, o Tempo. O literato T. Mann, no cap. VII do mencionado livro nos
atesta que nesta obra “Colocamos a questão de saber se é possível narrar o tempo, unicamente
para reconhecer que era esse, precisamente, o nosso propósito com a história em curso”.
Já o nosso propósito, com a história em curso neste resumo é muito mais modesto,
aludimos a esta comparação apenas para suavizar o semblante de nossos leitores. Pois esta
referência que utilizamos como título, nos foi suscitada por Rüdger Safranski, um dos principais
biógrafos de personalidades do meio filosófico atual, ao sugerir a similaridade entre o pensador
“campônio” M. Heidegger e o personagem Leo Naphta, um jesuíta, místico e conservador das
tradições antigas, e a figuração do filósofo cosmopolita E. Cassirer no personagem liberal
Lodovico Settembrini um humanista convicto. É o que respectivamente sugere a biografia
“Heidegger um mestre da Alemanha entre o bem e o mal”, onde nos dizeres do autor:
“Lá em cima em Davos, em seu romance A montanha mágica, surgido em 1924,
T. Mann fizera o humanista Settembrini e o jesuíta Naphta realizarem seu
grande debate. Eram arquétipos do embate intelectual daquela época. De um
lado Settembrini, filho impenitente do iluminismo, um liberal, um anticlerical,
um humanista de incrível eloqüência De outro Naphta, apóstolo do
irracionalismo e da inquisição, apaixonado pelo eros da morte e da
violência.(...) Settembrini quer o bem dos seres humanos, Naphta é um
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
29
terrorista metafísico. Participantes da semana universitária de Davos realmente
lembravam-se daquele fato ficcional. Kurt Riezler, então curador da
universidade de Frankfurt e acompanhante de Heidegger nos passeios de
esqui, alude ao episódio da Montanha Mágica em seu relato para o Neue
Zürcher Zeitung. Portando atrás de Cassirer o fantasma de Settembrini , e atrás
de Heidegger o de Naphta?” (SAFRANSKI p. 228)
É óbvio que não podemos responder de modo objetivo a esta pergunta, pois seria
leviano explicar a realidade com estes arquétipos ficcionais. Mas pudemos constatar, que além
de Safranski, outras publicações se utilizaram também destas aproximações, para
desenvolverem suas teorias. É o caso, do ótimo artigo de Irene Borges Duarte 1, que descreve de
forma literária/filosófica, a factível participação do personagem Hans Castorp como um possível
espectador do debate, criando assim uma ficção dentro da realidade histórica. Porém, nosso
objetivo se situa no âmbito do estudo acadêmico desta situação, não se permitindo assim, estas
“extravagâncias” saudáveis do pensamento, e embora admita perfeitamente o diálogo com a
literatura, a poesia e a arte em geral não têm como proposta estabelecer aqui uma filosofia da
ficção (ou ficção filosófica), mas pelo contrário, temos a pretensão de realizar uma historiografia
prévia das imbricações a que estão sujeitos Heidegger e Cassirer naquele ano de 1929. Nosso
desejo na realização desta tarefa é poder compreender com mais exatidão as implicações
filosóficas de suas teorias, a luz do contexto existente na historicidade do momento, para daí
extrair um resumo crítico do significado de seus pontos de vista sobre a história da própria
filosofia, e em especial das suas relações com o desenvolvimento do pensamento metafísico, da
antiguidade, até o advento da critica Kantiana.
Desta forma, não poderíamos desprezar o diálogo constante com a história dos
conceitos metafísicos inseridos nestas tradições “paralelas”. Isto fez com que optássemos como
eixo condutor das nossas discussões, uma passagem por alto pela história da metafísica
(utilizada como um apêndice de apoio para a reflexão sobre o desenvolvimento de
determinados conceitos, haja vista, este ser um tema profundamente hermético, e de extrema
importância para a elucidação de alguns trechos do debate), onde o que esta em jogo, seria em
última instância, esta é nossa hipótese, uma compreensão adequada do conceito de “ser” e de
1
Vide o artigo: “A Imaginação na Montanha Mágica. Kant em Davos, 1929” ( DUARTE 2006)
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
30
“ser - humano”, concebidos de forma distinta por cada um dos respectivos autores. Heidegger,
durante o debate, diz que a questão do ser neste sentido, faz parte da constituição humana e de
sua confrontação entre a finitude e infinitude:
“O homem como ser finito, tem determinada infinitude no ontológico, mas o
homem, jamais é infinito e absoluto em fatura do ente mesmo, senão, que ele
é infinito, no sentido de entender o ser” (HEIDEGGER 1969 p.215)
É certo, que um tema tão abrangente, tal qual a compreensão do conceito de “ser”, nos
leva a um inevitável diálogo com grande parte da tradição filosófica, que não poderia ser
tratada aqui sem a tentação de se realizar um reducionismo que acabasse por “nivelar por
baixo” a nossa discussão, levando-a ao nível, de um “grande elenco” apoiado num “amontoado”
de nomes e datas, que acabaria por fim atravancando nosso objetivo primordial. Portanto, foi
nossa decisão, de modo um tanto arbitrário (necessário a nossa própria erudição para a
clarificação de nossa literatura sobre o tema), circunscrever nosso foco de atenção aos autores
essenciais para Heidegger e Cassirer em se tratando de metafísica. Chegamos assim a oferecer
ao longo da discussão principal de nosso trabalho (sobre o debate de Davos) um pequeno
“sobrevôo” histórico pelas teorias de alguns destes mestres do pensamento ocidental, tendo
Kant como a maior influência, este autor estando inserido dentro de um movimento filosófico
em especial, circunscrito ao século das luzes (séc. XVIII), que poderia ser ainda denominado,
segundo Cassirer2 de, “o século da crítica”, do qual todos somos herdeiros intelectuais, em
maior ou menos medida. Isto se fez necessário, em um primeiro momento, para sanar as
dúvidas pessoais que surgiram ao longo de nossa investigação, assim, do nosso ponto de vista,
este “apanhado” conceitual, um tanto superficial, foi realizado, para que a vista de nossos olhos,
se tornasse um pouco mais nítido o desenvolvimento da história da Metafísica, que culmina
nesta época iluminista em que Kant viveu, sendo que este filósofo é o alvo principal das
2
Vide CASSIRER 1992 p. 367-371 “Pois o século XVIII, mesmo quando admite que o pensamento esbarra com um
limite, quando reconhece a existência de um “irracional”, exige um conhecimento claro e seguro desse mesmo
limite. Sabe-se que o mais profundo dos seus pensadores, Kant, elevará no final do século essa existência a
categoria de um caráter próprio, constitutivo da filosofia em geral: ele só verá na própria “razão” filosófica uma
faculdade original e radical de determinação de limites”
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
31
especulações propostas como tema do debate. Ou, como nos diz Cassirer 3:
“Além disso, tampouco há necessidade de, após a obra de Kant, e a “revolução
do pensamento” realizada pela Crítica da Razão Pura, revertemos aos
problemas e as conclusões da filosofia do iluminismo. Mas se algum dia tivesse
de ser escrita essa “história da razão pura”, da qual Kant nos ofereceu um
esboço na última seção da Crítica da Razão, ela não deixaria de reservar um
lugar de destaque para aquela primeira época que foi a primeira a descobrir e a
afirmar apaixonadamente a autonomia da razão e a impô-la em todos
domínios da vida do espírito. Alias, é de uma evidencia cristalina que nenhuma
obra da história da filosofia pode ser pensada e realizada numa perspectiva
puramente histórica: toda a volta ao passado da filosofia constitui um ato de
conscientização e autocrítica filosófica”
Para tanto, como foi dito, nos utilizaremos de um fio condutor, que estará atrelado
(funcionando como nosso elo, de ligação) aos pontos de vista de E. Cassirer e M. Heidegger em
meio ao conteúdo teórico do debate de 1929 entre ambos, publicado como anexo a obra “Kant
e o problema da Metafísica” (HEIDEGGER, 1966) aludindo o fato de que ambos pensadores nos
sugerem (em diferentes sentidos) uma “volta a Kant” (Zurück zu Kant),4 ou “Volta para Kant”
(Zurück auf Kant, como preferem alguns comentadores do período) que supostamente estaria
sendo promovida não apenas por estes dois autores, mas por distintas correntes do
pensamento alemão contemporâneo a eles. Portanto,
buscaremos realizar um recorte
temático, das obras de Cassirer e Heidegger, apontando os rumos tomados por suas teorias,
para que a partir deste levantamento, pudéssemos sintetizar uma concepção mais global sobre
o tratamento dado a metafísica por ambos, apontando assim as possíveis aproximações ou
supostas discordâncias existentes dentro da temática proposta, ou seja, o método
transcendental. Sendo, que as obras citadas competem diretamente a uma leitura, que
pretenda se fundamentar por uma declarada argumentação em favor de suas possíveis
analogias com o conteúdo do Debate de Davos.
3
Vide a introdução de: CASSIRER, E. [1932] A filosofia do Iluminismo. Tradução de Álvaro Cabral. Campinas:
Unicamp, 1992.
4
“ZURÜCK ZU KANT” é a frase originalmente usada pelo pensador Otto Liebmann, no livro “Kant und die Epígonen”
com a qual ele pretende fazer uma critica, ao defender que todo o movimento do idealismo alemão não realizou o
conseqüente desenvolvimento da filosofia transcendental, mas pelo contrário, foi um retrocesso e um
descaminho. Assim esta frase seria um apelo para uma volta aos fundamentos da obra de Kant, marco alegórico do
inicio do neokantismo. (para mais detalhes ver o esclarecedor artigo “Zurück zu Kant” de PORTA 2005)
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
32
O que temos em mente com isto, é a construção de um diálogo entre a teoria destes
dois autores, com base no conteúdo de suas argumentações ao longo da disputa, para que
possamos nos deter, com maior exatidão, no significado de determinadas passagens,
demonstrando suas referências, a um contesto mais amplo que procure justificar os porquês da
defesa de certos pontos de vista antagônicos quanto as leituras possíveis da obra de Kant (“Daí
a (importância da) discussão que se realizou em 1929, em Davos, com Cassirer, onde, pela
primeira vez, Heidegger se estabeleceu em público com uma posição de rejeição dura e crítica
ao neokantismo” STEIN 1993 p.215). Assim, se justifica a utilização de referências diretas ao
pensamento de Immanuel Kant, em especial a sua obra “Crítica da Razão Pura” (que é o tema
especifico do debate) para tentarmos compreender as divergentes interpretações desta mesma
obra, pelo viés analítico/epistemológico (Cassirer) e ontológico/fenomenológico (Heidegger). 5
Deste modo, as contundentes afirmações de Kant em sua crítica, sobre a ontologia
metafísica ( onde como alguns exemplos os trechos; “Em todos os homens, desde que neles a
razão se elevou à especulação, houve realmente uma metafísica, e nunca a deixaremos de
encontrar neles.” (...) “mesmo se todas as outras ciências juntas fossem precipitadas no abismo
de uma barbárie que tudo devastasse, nem por isso ela, (A Metafísica) deixaria de existir” (KANT
1997), nos levaram a
propor, neste projeto, uma análise, do que Cassirer e Heidegger
compreendem como significado do termo “ser” para a Metafísica, e suas conseqüências para
uma adequada compreensão do “ser humano” em sua essência e manifestação. Tanto para a
tradição anterior, como para a posterior a Kant.
Parece-nos que Heidegger dedicou grande atenção a estas passagens relacionadas a
ontologia, realizada na Crítica, pois ele também se propõe a fazer uma nova “crítica” ao antigo e
consagrado modelo do homem, como um ser, definido em sua essência como sumamente
racional. Fazendo então referencias diretas ao fato
6
, do homem não ser estritamente um
animal racional (ponto que Cassirer também toca, ao sugerir, que o homem, além de animal
5
“In Kant and the problem of Metaphysics Heidegger presented his own interpretation of Kant in explicit contrast
to the neo-Kantian view.” (GORDON 2010 p.126) nossa tradução; “Em Kant e o problema da Metafísica Heidegger
apresentou sua própria interpretação de Kant, em contraste explicito com a visão Neo-Kantiana.”
6
LIMA VAZ, 1997 p. 256 “Sem retomar os termos da problemática heideggeriana e os passos de seu itinerário ,
vários pensadores, ao aceitar o interdito de Heidegger à idéia de uma antropologia filosófica, tentaram por outros
caminhos a recuperação do de uma idéia do homem genuinamente filosófica, capaz de responder a simples
questão sobre o próprio ser daquele que é o único dentre os seres capaz de levantar estas questão fundamental”
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
33
Racional, é também um animal Simbólico), conforme a definição consagrada de Aristóteles
(Heidegger faz severas objeções a esta determinação por exemplo, ao dizer que a “Metafísica é
o perguntar além do ente para recuperá-lo, enquanto tal e em sua totalidade, para a
compreensão” [HEIDEGGER 2005 p.61]). O professor Ernildo Stein (2010 p.29), nos enfatiza, a
importância que esta definição cabal do pensador estagirita, tomou ao longo dos séculos:
“Muitas vezes não nos damos conta das severas conseqüências que teve no
pensamento antropológico do Ocidente a definição aristotélica do homem
como zoon logon echon. A idéia de Animal Racional passou a ser a justificativa
para se definir o ser humano de tal modo que ele se diferenciasse totalmente
dos animais em geral. Esta tradição standard foi incorporada na Filosofia e
assumida pela tradição cristã para acentuar a dignidade do ser humano em
contraste com os animais. O problema desta definição não consiste no fato de
ela ser certa ou errada, mas no fato de ela ter consolidado uma imagem
dualista do homem na filosofia e nas ciências da cultura ocidental”
Aqui, encontramos um ponto de apoio, para as teses que serão levantadas ao longo
deste trabalho, ou seja, uma crítica em comum ao modelo dogmático do homem racional
imposto ao pensamento ocidental pela tradição grega, e que impera até os dias atuais. Tanto
Cassirer, quanto Heidegger demonstram uma relutância em aceitar tacitamente esta definição,
de forma que criam novos modelos, que poderiam até mesmo substituir o já desgastado
modelo racional em definições mais abrangentes, e abertas. Este é o paradigma de maior
interesse para nossa pesquisa proporcionado por Davos. Pois o encontro entre estes filósofos
nos permitiu ressaltar a intersecção e o choque entre duas gerações, ali representadas (pela
arbitrariedade da escolha dos organizadores) por estes dois singulares indivíduos, neste não
menos singular evento. Se por um lado temos Cassirer, um pensador cosmopolita e humanista,
na figura de um ancião (de origem judaica), já bem estabelecido entre os grandes nomes de sua
época. Vemos por seu turno, o pensador (interiorano e obscurantista) que era Heidegger
(acusado mais tarde, injustamente de anti-semitismo), ainda jovem, se firmando frente à
“ressaca” (como ele mesmo classifica) provocada pela onda avassaladora de seu primeiro (e
único) livro publicado, “Ser e tempo”.7 Obra que acabou por dividir muitas opiniões entre
7
“Heidegger escreveu apenas um livro: Ser e Tempo. E mesmo este nasceu nas análises em aula e nos seminários,
onde se delinearam sua forma e sentido. Todas as outras obras de Heidegger são resultado direto de preleções,
seminários, conferências e ensaios.” (STEIN, 2002, p.41)
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
34
entusiastas e críticos, quanto a seu valor como filósofo, pois seu ainda seminal e atribulado
projeto monolítico ali iniciado, nunca foi concluído, como previa o índice da segunda parte
(ainda por ser escrita) desta obra, a qual como sabermos, nunca chegou a termo (embora E.
Stein argumente que o projeto original de Ser e Tempo, apenas mudou de orientação, mas
nunca foi abandonado, se apresentando ao longo de toda obra de Heidegger). Para
conseguirmos ter uma vaga noção metafórica, do que foi este encontro, possuímos o
depoimento do filósofo E. Lévinas, a época um estudante que ali presenciou a disputa e cuja
impressão foi de “estar assistindo à criação ou ao fim do mundo”.
Portanto, a análise que propomos neste projeto compreende uma revisão bibliográfica
extensa, mas que se mostra necessária devido às mutuas referencias que estes pensadores
fazem em suas obras, um com relação ao outro. Como exemplo, temos a revisão que Heidegger
fez posteriormente ao debate sobre a questão do pensamento mítico na obra de Cassirer, (a
qual oferecemos uma tradução direta do inglês, ao final de nossa dissertação), que se figura
presente como apêndice do livro “Kant e o problema da Metafísica”, elaborado em 1929, em
apenas três semanas8, poucos dias depois da realização do encontro de ambos, fato este que
teria, aliás, inspirado a escrita desta obra, temos também a famosa nota de rodapé 9 que
Heidegger coloca em sua obra “Ser e Tempo” depois que este livro foi reeditado (a primeira
edição sai a público em em 1927), fazendo referencias positivas a “Filosofia das Formas
Simbólicas Vol. II” obra que Cassirer publica em meados de 1925.
Ernst Cassirer, por seu turno devolve a “gentileza”, e faz sua própria revisão do livro de
8
DUARTE 2006 p. 560 - “W. Von Hermman, no seu epílogo da 5º ed. De Kant e o problema da Metafísica, refere,
igualmente, que Heidegger lhe comunicou “durante o trabalho de correção de provas da 4ºed. Que, ao voltar de
Davos, se entregou de imediato à elaboração do manuscrito do Kantbuch, escrevendo-o em três semanas de
trabalho sem pausa”
9
Reprodução da nota de Ser e Tempo (HEIDEGGER 2006 p.96): “Recentemente E. Cassirer submeteu a presença
mítica a uma interpretação filosófica. Essa investigação propicia perspectivas mais abrangentes às pesquisas
etnológicas. Do ponto de vista da problemática filosófica, ainda permanece de pé a questão se os fundamentos
da interpretação são suficientemente transparentes e, sobretudo, se a arquitetônica da Crítica da Razão Pura de
Kant e seu conteúdo sistemático podem oferecer um arcabouço possível de acolhimento para tal tarefa, ou se
aqui não seria necessário um novo ponto de partida mais originário. O próprio Cassirer vê a possibilidade de
uma tarefa dessa natureza. É o que mostra a sua nota da p. 16 onde ele aponta para os horizontes abertos pela
fenomenologia de Husserl. Numa conversa que o autor teve com Cassirer por ocasião de uma conferência sobre
“Tarefas e caminhos da pesquisa fenomenológica”, na seção de Hamburgo da Sociedade Kantiana, em dezembro
de 1923, mostrou-se já um acordo quanto a exigência de uma analítica existencial, esboçada na mesma
conferência.”
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
35
Heidegger sobre Kant em 1931,10 (com direito a uma réplica de Heidegger, em pequenas notas
publicadas anos mais tarde, intituladas; “On Odebrecht´s and Cassirer´s Critiques of the
Kantbook”, “Sobre as críticas de Odebrecht e Cassirer do livro sobre Kant”). E embora Cassirer
não publique em vida o quarto volume de sua Filosofia das Formas Simbólicas, que seria
provavelmente intitulado, “Metafísica das Formas Simbólicas” ele esboça neste manuscrito
inédito um comentário, chamado “Mente e Vida: Heidegger” sobre a obra Ser e Tempo11. Além
deste fato Cassirer inclui posteriormente, ao debate, algumas importantes notas de rodapé, em
sua “Filosofia das Formas Simbólicas Vol.III” de 1929, fazendo referencias ao projeto
heideggeriano iniciado com a obra “Ser e Tempo”. Por fim, temos ainda a da crítica direta
dedicada ao tema da filiação de Heidegger ao PNSTA (Partido Nacional Socialista dos
Trabalhadores da Alemanha) esboçada em todo o capítulo XVIII “A técnica dos mitos políticos
modernos”, em seu livro póstumo “O Mito do Estado” (de 1946). Afora os muitos comentários
esparsos em cartas, ou mesmo dentro de suas obras, onde os nomes específicos não são
citados diretamente, mas que podemos supor, fazem analogia um ao outro.12
Deste modo, iremos apenas indicar e sugerir possíveis leituras para os acontecimentos,
sem que estes sejam maculados pela parcialidade de um observador onisciente, que já sabe de
antemão os desfechos históricos que serão prerrogativa por exemplo da associação, mais tarde
levada a cabo por muitos comentadores, de Heidegger e o Nacional Socialismo Alemão 13.
Estamos ainda como foi dito, detendo nossa atenção ao ano de 1929 e seus arredores,
portanto, aquilo que está em questão neste momento, é principalmente uma crise dos valores
humanos, e a sua conseqüente crise financeira das bolsas de valores, que como sabemos servirá
como um estopim para a eclosão da segunda Guerra Mundial.
Deparamo-nos neste ano, com uma época singular, de intensa crise espiritual e
ideológica do mundo contemporâneo. Que possibilitou a celebração de um embate ideológico,
que talvez pudesse indicar uma “válvula de escape” para esta derrocada interior que o ocidente
10
“Kant und das Problem der Metaphysik. Bemerkungen zu Martin Heidegger Kant interpretation” (1931) em E.
CASSIRER “Gesammelte Werke” p.221 a 250, vol.17, 2004.
11
“Mind and Life”: Heidegger (An unpublished Manuscript)” , vide também o texto seguinte de M. KROIS;
“Cassirer´s umpublished Critique of Heidegger”, in Philosophy & c, vol. 16 n. 3 (1983) pp. 147 a 166
12
Para mais detalhes ver FRIEDMAN 2005 CAP. I –Encounter at Davos p. 6-12.
13
Para mais detalhes ver LOPARIC 1997. “Heidegger Réu” especialmente cap. 1, 2 e 3. E também “Heidegger e os
judeus” de Jean François Lyotard Ed. Vozes, 1994.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
36
vivia. Talvez ali fosse esboçado um esclarecimento sobre estas crises. Mas será que um debate
entre estes dois “estranhos” personagens históricos, a primeira vista tão antagônicos poderia
realmente nos indicar algum caminho a ser seguido? Todos os que estavam ali presentes já
podiam suspeitar o tom de estranhamento que se faria presente em suas falas sobre um
mesmo tema específico, a crítica kantiana às nossas faculdades que presidem a razão, em seu
uso puro e a rede de conceitos sobre; o que seria enfim o Homem?14
Temos por traz de tudo isto, uma época de entre guerras, onde a soma de óbitos da
primeira grande guerra (ocorrida entre 1914 e 1918), chegou aos estratosféricos 14 milhões de
corpos ceifados, os ânimos da nação alemã se encontravam mergulhados
em profunda
melancolia, que afora as vidas tolhidas de seus habitantes, custou-lhes ainda (com o tratado de
Versalhes) uma grande área geográfica, multas impagáveis, e a desmoralização frente o Mundo.
Portanto não estávamos apenas diante daquela crise de visibilidade mais imediata, ou seja, a
crise financeira de 1929, que levou a falência muitas nações capitalistas, tanto as consagradas
pela longa tradição neste mercado de risco, quanto as emergentes15, (gerando o que
poderíamos classificar como a primeira grande crise econômica de abrangência global.). Mas,
afora esta crise permeada por valores financeiros, temos ainda em vista uma crise espiritual
mais ampla, que afetará todos os acontecimentos do período. Portando também estamos
diante de uma crise da ciência e da filosofia, que ira correr em paralelo nas academias e
laboratórios em todos os departamentos científicos e filosóficos do continente europeu e
americano que se alastrava como um caminho de pólvora, uma “crise social” de amplitude
global, já diagnosticada por uma série de intelectuais.
14
LIMA VAZ 2001 p. 10 “Ora, como já sucedera coma Filosofia da natureza a situação da antropologia filosófica em
face dos novos saberes sobre o homem assume inicialmente as características de uma crise, agudamente analisada
entre outros por M. Scheler. Esta crise apresenta duas vertentes: a histórica, apresentada pelo entrelaçar-se, no
tempo, das diversas imagens do homem que dominaram sucessivamente a cultura ocidental, tal como o homem
clássico, o homem cristão e o homem moderno e a metodológica, provocada pela fragmentação do objeto da
antropologia filosófica nas múltiplas ciências do homem, muitas vezes apresentando as peculiaridades sistemáticas
e epistemológicas dificilmente conciliáveis.”
15
No Brasil, por exemplo, em 30/10/1929 na manchete que estampava a capa de nosso principal jornal (A “folha de
São Paulo”), lia-se em letras garrafais: “Grande pânico na bolsa de Nova Yorke ameaça a economia global” - A
situação criada pelas especulações na bolsa de Nova Yorke culminou ontem na chamada “terça feira negra”.
Jamais houve tamanha quantidade de investidores a tentar se desfazer de tantas ações de grandes corporação por
ninharias. “Há antes incrível baixa dos valores que ameaça quebrar firmas financeiras e coloca em risco a
estabilidade econômica mundial”
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
37
Temos como, por exemplo, as obras de; Georg Simmel (1918 “O Declínio do Ocidente”),
Thomas Mann ( 1918 “Confissões de um homem a-político”), Alfred Weber ( 1925 “A crise da
idéia moderna de estado na Europa”), E. Jünger (1932 “O trabalhador”), E. Husserl (cujo
trabalho inacabado “A crise das ciências Européias”, lhe rendeu o tema de uma de suas últimas
conferências em 1935; “A crise da humanidade européia e a filosofia transcendental”), e outros
afins. Na filosofia, a crise também se revelava com grande extensão teórica:
“Philosophy too, was seized by crisis. During the war coma, new voices arose to
challenge the primacy of academic ephistemology coma quickening rumors of
a “crisis in the modern theory of knowloledge. But the crises came in various
kinds, not all of them traceable of the same philosofical origins. Perhaps the
most proeminent conflict turned on the questions of how modern
philosophers might wrest genuine problems from the heritage of German
Idealism. The problem afflicted Hegelians as well Kantians, Neo-hegelians and
neo Kantians, but was felt most acutely perhaps in the philosophical debate
over Kant´s ephistemology”(...) For Heidegger himself, the fondations crisis that
afflicted physics, matematics, and philosophy appeared as a herald of radical
Inovation.”16
Cassirer também comenta posteriormente (em 1944 no auge da segunda guerra) os
efeitos desta grande crise do ser humano e do próprio “humanismo” (em seu sentido mais
amplo), já nas primeiras linhas de sua antropologia filosófica, em seu capítulo inicial, nomeado
“A crise no conhecimento do homem sobre si mesmo.” (vide Cassirer 1977). As conseqüências
imediatas, deste clima ocasionado pela “crise dos fundamentos” resulta na ascensão e decaída
de muitos paradigmas científicos que estavam causando muitas ressonâncias no declínio
espiritual que já se delineava nos horizontes (um deles, de conseqüências mais monstruosas, é
o conceito de raça pura ariana) , em um momento prévio, ao absurdo avassalador, que foi a
Segunda Guerra Mundial. Heidegger definira este período, como um beiral para o abismo no
qual nos movemos. E iniciará, a partir de 1929 (com maior nitidez em 1931) um
16
(GORDON 2010 p.44 e 45);Nossa tradução: “A filosofia também foi acometida pela crise. Durante o coma de
guerra, novas vozes surgiram para desafiar a primazia do (coma da) Epistemologia acadêmica, dando vida a
rumores de uma “crise na teoria moderna do conhecimento”. Mas a crise surgiu em várias formas, e nem todas
elas podiam ser seguidas pelas mesmas origens filosóficas. Talvez o conflito mais proeminente retorna para a
questão de como os filósofos poderiam “arrancar” problemas genuinamente da herança do idealismo alemão. O
problema afetava tanto os Hegelianos quanto os Kantianos, neo hegelianos e os neo kantianos, mas foi mais
agudamente sentido, talvez no debate filosófico sobre a epistemologia kantiana. “Para o próprio Heidegger a crise
do fundamento que aflige a física a matemática e a filosofia apareceu como início de uma inovação radical”
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
38
aprofundamento acerca de suas discussões sobre o velamento do Ser ocasionado pelos abusos
da técnica e do pensamento cientifico. Demonstrando assim que existem determinados fatores
históricos que causam a obnubilação de nosso acesso a verdade do Ser, assim diz Stein (1993
p.218) que:
“A crise de 1929 é uma crise que entendemos, em primeiro lugar como uma
crise mundial, uma crise econômica. Mas no pequeno mundo da Europa e no
mundo ainda menor da universidade, e no mundo ainda menor do movimento
fenomenológico, e no mundo ínfimo da vida de um filósofo, esta crise
evidentemente toma proporções e nuanças muito surpreendentes”
Portanto, por “crise espiritual”, não devemos conceber meramente uma decaída dos
valores fundamentais (teológicos, filosóficos e científicos) envolvidos na crença pessoal ou
coletiva em determinado dogmatismo. É certo que também isto se inclui nesta crise, mas
ressaltaremos que para definir os fundamentos desta crise devemos nos voltar para
o
abandono dos preceitos religiosos e afins, em lugar de uma secularização do homem moderno
que se torna um “cético neoliberal”.Este homem, acaba por ser o herdeiro de uma certa fé
iluminista nos poderes da racionalidade que hoje se vê profundamente abalada em suas
estruturas pelo surgimento de tempos em tempos, das ondas do “irracionalismo estatal”. Como
dizem os pensadores frankfurtianos, Adorno e Horkeimer, um “eclipse da razão” se escondia
por detrás de mitologemas teórico, como é o caso do nacional socialismo, que pairava no
horizonte do debate em questão e que acabaria por contaminar países que sempre prezaram o
uso de um bom senso sistemático (como no caso do Japão ou mesmo um cultivo da tradição
humanista, como a Itália, que cedeu para Mussolini ou a Espanha de Franco, entre outros).
Porém, o que mais nos espanta é saber que todo o esplendor literário da república de Weimar,
se esfacelava como um castelo de areia frente a truculência de um totalitarismo alienante que
conseguia cooptar cada vez mais adeptos para o triunfo da “banalidade do mal” (conceito
amplamente desenvolvido por Hannah Arendt). O triunfo da vontade e do horror expresso pelo
que a historia nos apresenta sobre os campos de concentração da Alemanha, Polônia, Ucrânia e
arredores. Cassirer, como foi mencionado anteriormente, é um filosofo de ascendência judaica,
herdeiro intelectual dos ideais estabelecidos pela república de Weimar, tendo até mesmo
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
39
realizado escritos em defesa da constituição Alemã, por sua conta em risco pois: 17
“Cassirer delivered hiss adress, “The idea of a Republican Constitution” for the
Verfassungsfeier on august, 11, 1928, at a moment when the ultimate collapse
of the Weimar Republic was still unforeseen. The Nazis had held their first
party rally at Nuremberg in August 1927.”
Ele também irá realizar durante os amargos anos em que será exilado (1934 – 1945),
uma obra emblemática sobre o tema, da alienação da racionalidade, frente aos totalitarismos
do mundo moderno. Em seu livro “O mito do estado” (publicado postumamente em 1946),
temo o exemplo pioneiro de uma obra em que analisa irrestritamente o totalitarismo em suas
diversas facetas históricas e geográficas (principalmente os casos específicos de Hitler e Stalin),
fixando sua crítica predominantemente em um detalhamento, do que estava ocorrendo
naquele instante em que redigia sua obra (no ano de 1943), para que todos os terríveis
acontecimentos que ele acompanhava pelos noticiários, não se tornassem mais tarde, uma
versão idealizada dos castigos deixados a mercê do povo que ousou abrir a grande “caixa de
Pandora”, em nome de uma assombrosa e alienante, “depuração” do sangue da sua “raça”
“pura” ariana (CASSIRER 1946):
“Foi em 1933 que o mundo político começou a preocupar-se com o
rearmamento da Alemanha e com as suas possíveis repercussões
internacionais. O verdadeiro rearmamento já tinha começado anos antes, mas
passado despercebido. O verdadeiro rearmamento começou com a origem e a
ascensão dos mitos políticos. O rearmamento militar posterior foi somente
uma coisa acessória. O fato estava consumado há muito; o rearmamento
militar foi apenas a conseqüência necessária do rearmamento mental
provocado pelos mitos políticos.”
A partir desta perspectiva, ainda nesta mesma obra, Cassirer não poupa Heidegger por
suas escolhas. E procura refletir (embora soubesse por seus contatos pessoais com o mesmo
que não se tratava de um anti-semita) como um pensador de tão grande porte intelectual pôde
ter sua conduta pessoal manchada por um episódio (embora passageiro), que nunca poderia ser
17
GORDON 2010, p.23 nossa tradução: “Cassirer apresentou seu discurso “A idéia de uma constituição
republicana” para a comemoração da constituição em onze de agosto de 1928, no momento, quando ainda o
último colapso da Rebública de Weimar não estava previsto. Os nazis tinham organizado seu primeiro comício em
Nuremberg em agosto de 1927.”
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
40
relegado ao esquecimento18. Pois o fato ocorrido, dava provas, de que até mesmo os homens,
supostamente mais preparados para enfrentar com todas as armas intelectuais os perigos e os
enigmas de uma “loucura massificante” (que tomava a forma de um novo mito político
moderno, baseado na des-razão) poderiam ser cooptados pela “grandiosidade” de um falso
ideal.
“Os novos homens estavam convencidos de que tinham realizado a profecia de
Spengler. Interpretavam-no segundo seu próprio interesse. Se a nossa cultura ciência, filosofia, poesia e arte - está morta, comecemos tudo de novo, em
nossas vastas possibilidades, criemos um novo mundo e tornemo-nos os seus
senhores. A mesma tendência aparece na obra de um moderno filósofo alemão
que, à primeira vista, pouco parece ter em comum com Spengler e cujas teorias
se desenvolveram independentemente daquele. Em 1927, Martin Heidegger
publicou o primeiro volume do seu livro Sein und Zeit (Ser e Tempo). (...) Tal
filosofia existencial não pretende nos dar uma verdade objetiva e
universalmente válida. Nenhum pensador pode dar mais que a verdade de sua
própria existência; e essa existência tem um caráter histórico (...) Ser lançado
na corrente do tempo é um aspecto fundamental e inalterável da condição
humana. Não podemos emergir dessa corrente nem mudar sua direção. Temos
de aceitar as condições históricas de nossa existência. Podemos tentar
compreendê-las e interpretá-las, mas não podemos alterá-las."
Esta doutrina fatalista (lembremos, esta é a visão de Cassirer sobre a obra), esboçada em
“Ser e Tempo”, poderia ser utilizada como uma chancela para grandes ideais políticos
revolucionários, que acabariam por levar a todos que ali penetrassem, ao “encantamento”
mítico e alienante de uma doutrina degenerada, que fizesse uso de suas teorias. Como na
história clássica do flautista de Hamelin, narrada pelos irmãos Grimm, muitos alemães foram
levados pela melodia dos discursos entusiastas e xenofóbicos de um Reich, que não obtendo
seu “devido” (e delirante) reconhecimento pela eliminação dos “camundongos”, resolveu
aprisionar toda a nova geração de seus seguidores em uma caverna de medo e remorso
insuperáveis. Neste sentido, diz Cassirer (p.338);
“Não pretendo afirmar que essas doutrinas filosóficas tiveram uma influencia
18
HANNA ARENDT (2008 p.288) compara este desvio da vida de Heidegger, a tentação de Platão ao governar
Siracusa; “Ora sabemos todos que Heidegger também cedeu uma vez à tentação de mudar de “morada” e de se
“inserir”, como então se dizia no mundo dos afazeres humanos. E, no que concerne ao mundo, mostrou-se ainda
um pouco pior para Heidegger do que para Platão, pois o tirano e suas vitimas não estava além mar, mas em seu
próprio pais.”
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
41
direta no desenvolvimento das idéias políticas na Alemanha. Muitas dessas
idéias brotaram de fontes bem diferentes. Tinham uma finalidade “realista”, e
não “especulativa”. Mas a nova filosofia enfraqueceu e minou lentamente as
forças que podiam ter resistido aos modernos mitos políticos. Uma filosofia da
história que consiste em sombrias predições de decadência e da inevitável
destruição de nossa civilização (Spengler) e uma teoria que vê no Geworfenheit
do homem (o Ser lançado de Heidegger) uma das suas principais características
renunciaram a todas as esperanças de uma participação ativa na construção e
reconstrução da vida cultural do homem. Tal filosofia renuncia a seus próprios
idéias éticos e teóricos fundamentais. Pode então ser usada como instrumento
dócil nas mãos dos chefes políticos”
Como sabemos, este chefe político que menciona Cassirer, esta fazendo referencia aos
desvarios de Hitler, e seus planos megalomaníacos que fariam enrubescer até mesmo a face de
um Deus grego como Epimeteu, cuja caixa esquecida, e aberta por sua mulher Pandora, fez
liberar o que em seu interior estava contido, a saber, todos males e tragédias humanas. Porém
o conteúdo desta “caixa de pandora” moderna deixou escapar uma onda de violência sem
precedentes, que seguramente, nunca antes havia chegado, até limites tão extremos. O que se
passou com Reich Alemão, em especial, tudo o que ocorreu no perímetro de seus campos de
concentração, em seus laboratórios experimentais (como o de Menghele), e nas mais diversas
trincheiras, durante os cinco anos de conflito, foi algo feito por homens como nós, por seres
humanos que não estavam presos aos feitiços de nenhum flautista mágico, ou gênio maligno
sobrenatural, muito menos por leitores desavisados de “Ser e Tempo”. A cristalização do horror
supremo se dava em meio ao cotidiano das ideologias de massa. Resta-nos agora, ao fundo
desta caixa, outrora aberta por Pandora, apenas uma tênue esperança, de que possamos nos
reabilitar deste estupor que espalhou a sua febre e sua desrazão pelo mundo afora. Novamente
algumas perguntas fundamentais da filosofia, voltam a ser colocadas;
O que podemos saber, acerca do destino para o qual se encaminha a humanidade, se
esta persistir nestes passos, que levaram a morte (num período de menos de 6 anos) entre 40 e
60 milhões de seres humanos? O que nós devemos fazer, após um acontecimento de tal porte,
com suas catástrofes cinicamente planejadas e executadas? Enfim, o que nos será permitido
esperar do futuro? Adorno, já se questionava o que seria da educação após Auschwitz... Existirá
uma nova paidéia a redimir o povo alemão de seu “eixo do mal”? Devemos, nos perguntar
friamente o que levou o ser humano a abolir todos os limites de sua moral em nome de uma
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
42
tácita aceitação do horror supremo, frente a monstruosidade das “soluções finais” descritas
com abundantes e sórdidos detalhes por homens como Eichman, Goebbels, Speers e demais
nacionais socialistas, em seus julgamentos? Se silenciarmos perante as perguntas, o que
devemos esperar como respostas? Não há racionalmente uma devolutiva para estas questões...
Observamos, que embora seja ponto pacífico, que dediquemos os trechos acima a este tema,
não temos aqui o intuito de suscitar suspeitas tão graves sobre qualquer similaridade entre a
obra heideggeriana e a ascensão do nazismo (como diz Racine, “esqueçamos do homem, tudo o
que importa é sua obra”), pois estas implicações políticas não competem a proposta central do
nosso trabalho, sendo nossa intenção deixar claro apenas que o levantamento bibliográfico
relativamente posterior a década de 30 (e suas conseqüentes implicações políticas), nos serve
como fonte secundária para a abordagem dos pensadores aqui em evidencia. Agora, na
argumentação sobre o conjunto de suas obras, quando estas puderem fazer alguma ponte, ou
referência com os conteúdos discutidos no debate de Davos, tomamos a liberdade de nos
utilizar de livros, elaborados em diferentes períodos (conforme já deixamos claro
anteriormente), que nos ajudassem trazer alguma luz sobre determinados aspectos específicos
de suas teorias.
Agora, retornando a nossa temática original, podemos notar a existência de um grande
volume de fontes que por si mesmas justificam e ressaltam a importância do desenvolvimento
desta nossa pesquisa, para que possamos clarificar aquilo de Friedman nomeou como a “divisão
de caminhos” entre a teoria da ciência e a fenomenologia assim o nosso objetivo geral se foca
na existência desta reviravolta intelectual, que nos possibilitou, melhor delinear os rumos desta
partilha (e esta é nossa principal hipótese), que tem seu caso exemplar no Debate de Davos,
posto que esta discussão estaria absolutamente ligada a duas diferentes interpretações da
história da metafísica ocidental.
Em especial reside o fato, que teríamos como o ponto
culminante desta querela ontológica, e como o principal signo de manifestação desta viravolta,
a filosofia crítica de Kant, dentro de dois vieses interpretativos distintos. Sua obra “Crítica da
razão pura” seria, portanto, o marco divisor de águas entre dois diferentes “mundos”
intelectuais. A saber, a filosofia analítica, e a filosofia continental, que até os dias de hoje,
continuam a cindir departamentos de filosofia por ambos hemisférios de nosso planeta. É,
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
43
portanto, esta a pergunta nevrálgica que nos assalta, e que este projeto de pesquisa pretende
ao menos delimitar em seus mais nítidos contornos, fazendo uso destas obras, para identificar a
dinâmica que levou a esta singular configuração que permitiu colocar frente a frente Cassirer e
Heidegger sob o prisma crítico da historicidade: O que significa esta partilha de caminhos na
história da Metafísica e quais suas implicações para a contemporânea fundamentação do
conceito de ser humano? 19 Dito isto, o leitor poderá decidir por si mesmo, se obtivemos algum
êxito em nosso empreendimento, haja vista nossa tentativa de oferecer, uma via de discussão,
ou roteiro de leitura, que se afaste de alguns preconceitos que incorrem das análises
precipitadas ou ingênuas sobre o tema em questão. Em linhas gerais, estamos de acordo, que:
“Em março de 1929, Heidegger debateu sua interpretação de Kant com
Cassirer em Davos, na Suíça. Cassirer era um neo-Kantiano com uma mistura de
hegelianismo. Nossas categorias variam ao longo da história sustentou ele. (...)
O homem é de certo modo, infinito, quando ascende as formas simbólicas. À
ênfase de Heidegger na finitude, ele objeta que a ética kantiana, que se aplica
a todos os “entes racionais” e não apenas aos homens, revela a infinitude do
homem, assim como o faz o nosso conhecimento das verdades eternas tais
como a matemática. Heidegger replica que só necessitamos de leis morais
porque somos finitos, e que a matemática, para Kant, depende de nosso tipo
de sensibilidade especial, não sendo portanto mais eterna que nossa
compreensão do ser. Cassirer e Heidegger estão freqüentemente em conflito,
por serem profundas suas diferenças filosóficas”.20
Vejamos então algumas questões importantes sobre a diferenciação do método
Heideggeriano e Cassireriano e suas implicações existenciais para o Debate de Davos. Qual é
portanto a visão de mundo (Weltanschaaung) à que o ser humano está circunscrito, do ponto
de vista de Heidegger e de Cassirer, e quais suas correlações com o campo metafísico esboçado
pelo criticismo kantiano? Estamos de acordo com o filósofo francês Jean Luc Ferry (Em sua obra
“Kant, uma análise das três críticas” p.69), quando nos diz que este debate gira em torno de
dois pontos de vista distintos sobre o significado da obra Critica da Razão Pura:
“Ao fazer essa ligação entre a primeira e a terceira Crítica, provavelmente
tocamos no ponto culminante do sistema kantista. No entanto, ainda resta uma
questão a ser elaborada. Ela constitui todo o tema do célebre debate que, nos
19
20
Todos os grifos do texto são de nossa autoria e responsabilidade.
INWOOD M., em “Dicionário Heidegger” p. 105
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
44
anos 20, opôs Heidegger e Cassirer, um dos mais eminentes representantes da
escola neokantista: A primeira Crítica deve fundamentalmente ser
compreendida como uma nova ontologia, que partiria de uma “analítica da
finitude” para elevar-se a uma desconstrução da metafísica ou, de maneira
mais banal, como uma teoria moderna do conhecimento, uma simples
epistemologia?”
CONCLUSÃO
Como sabemos, tanto Cassirer quanto Heidegger travaram um diálogo constante com
toda a tradição do pensamento Ocidental (com Kant em primeiro plano, mas com referências
também a todos grandes pensadores do mundo ocidental em algumas partes específicas de
suas obras). Esta familiaridade que ambos possuem com a história da filosofia se reflete de
modo constante no desenvolvimento de suas concepções filosóficas. Porém neste ponto,
devemos destacar a diferença metodológica destes autores ao tratar destas questões. Embora
possamos afirmar que ambos possuem um domínio excepcional sobre os clássicos da filosofia, a
abordagem que fazem destas obras é absolutamente distinta, pois aqui se situa um problema
referente à noção de historiografia, ou seja, o conceito de história (e da história da filosofia
propriamente dita) que estes pensadores adotam para a realização e fundamentação de suas
próprias teorias. Vejamos então quais as implicações destas noções distintas. No caso de
Cassirer, sabemos aliás que a repercussão de suas obras como comentador da história da
filosofia21 e noutro particular quanto as que versam sobre a história do desenvolvimento do
pensamento cientifico22, acabaram por sobrepujar sua fama como filósofo stricto senso. Neste
quesito, argumentamos, que embora muito negligenciado ele foi o grande articulador de uma
doutrina absolutamente original, isto é, a sua filosofia das formas simbólicas, que se baseia,
como vimos, em um relativismo antropológico, onde o espírito humano se auto constrói, e se
articula em diferentes mundos/formas. Esta teoria, foi precursora de noções semióticas e
estruturalistas, que por muito tempo se viram relegadas ao segundo plano de sua obra, mas
21
vide os clássicos “A questão Jean Jacques Rousseau”, “A Filosofia do Iluminismo” “Indivíduo e Cosmos na filosofia
do Renascimento”.
22
Vide a enciclopédica obra “El problema del conocimiento en la filosofía y en la ciência modernas” 1979, editada
em 4 volumes.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
45
que atualmente, tem sido gradativamente retomada, principalmente por uma releitura
proposta por universidades americanas e do Reino Unido.
Diante desta questão, se esboçam duas concepções antagônicas tanto epistêmicas 23,
quanto ontológicas, sobre a história da filosofia. Uma delas, a de Cassirer, nós poderíamos
denominar como “histórica/dialética”, visto sua influência Hegeliana. Por outro lado, em
Heidegger, iremos denominar sua postura como especulativa/hermenêutica (já que seu
objetivo seria o de extrair características novas, retiradas de uma reinterpretação
“tendenciosamente forçada” da tradição metafísica, submetendo-a ao crivo do método
fenomenológico.) O que gostaríamos de ressaltar com isto, seriam as implicações relativas a
escolha de um destes dois diferentes caminhos pela história da metafísica. Na decisão de
engajamento em uma destas duas vias, reside uma grande e incontornável perspectiva
metodológica, quanto aos conteúdos representados pela evolução temporal de determinados
conceitos que se ligam as suas temáticas específicas. Tais conceitos que se encontram
conectados (neste caso específico, em nossa dissertação, a evolução do conceito de “Ser” e
“ente”) a diferentes tradições, passam a desempenhar diferentes papéis em épocas distintas.
Neste sentido temos a concepção de Cassirer sobre Heidegger quanto a sua admissão de um
método historicista, que ele esboça em uma longa, porém elucidativa nota de rodapé (nota 35
p. 223) de sua filosofia das formas simbólicas vol. III “Fenomenologia do Conhecimento”:
Nota (35) Cf.. supra, PP. 213ss Th. Litt (Individuym und Gemeninshaft, 3ª Ed
p.307) formula elegante e concisamente a mesma concepção básica da
essência do “tempo histórico”: “Vejo o que tem sido e tornado, mover-se até
mim como o centro do processo posto que este centro indica ao mesmo tempo
o único lugar em que posso mover a alavanca para completar o começado,
corrigir o equivocado, realizar o exigido. No entanto, não é uma justaposição
exterior de duas formas e direções de configuração o que une em seu seio este
centro, como todo foco vital; não é uma concatenação de atos contemplativos
e práticos que estiveram unidos meramente pelo principio formal da livre
23
Ver Stein 1973 p.158 - “Tanto no pensamento neokantiano como na fenomenologia de Husserl a intenção
fundamental se concentrava na busca daquela esfera em que reside toda a experiência ôntica dos objetos. Além
da lógica da experiência deveria haver uma lógica pura. Por isso ambos fugiram de todas as questões facticas ou
de conteúdo psicológico. Husserl levou esta atitude até a radicalidade do eu transcendental. Só assim pensava
encontrar a condição ontológica do conhecimento ôntico. A transcendentalidade da consciência permitiria
descobrir a correlação entre cogitatio e cogitatum, entre sujeito e objeto. Heidegger destaca-se de todas estas
tentativa por uma afirmação ousada e totalmente nova: já na minha vida concreta, estou ligado a questão do
ser. Só posso ser transcendentalmente, isto é compreendendo a mim mesmo em meu ser.”
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
46
configuração, senão ambos estão intimamente unidos até o último detalhe.
Cada linha do devir que vejo correr até mim, desde o passado, significa para
mim não só um motivo de articulação e interpretação para o presente, o qual
me rodeia e me requer como o reino da história em processo de devir, senão
também um chamado a tomar uma decisão com a qual eu, o ator, determino
por minha parte o futuro desta realidade... Assim pois, nisso que com uma
verdade a medida que chamamos a “imagem”do passado, vive também a
vontade a qual se volta por sobre o por vir, e na imagem guiadora com a qual
se compromete a vontade se encontra submerso um conhecimento deste
passado”. Partindo de suposições essencialmente distintas Heidegger tem
fundamento o mesmo resultado, isto é, a intuição do motivo futuro inerente ao
“tempo histórico”, e esta fundamentação forma parte dos resultados mais
frutíferos e importantes de sua análise de “Ser e Tempo”. “Só o ente – assim
resume Heidegger em sua análise – que é essencialmente futuro em seu ser de
modo tal que seja livre para nele fracassar para morrer e se ver rechaçado, até
para seu ‘aí’ fático, pode...ser momentaneamente para “seu tempo”. Só uma
autentica temporalidade que é ao mesmo finita se faz possível, algo assim
como destino, isto é, historicidade propriamente dita.” (Ser e tempo, primeira
parte, parágrafo 74.) A oposição sistemática básica que existe entre a
“metafísica do tempo” de Bérgson e a de Heidegger se encontra talvez
expressada nestas frases com a máxima agudeza. (CASSIRER 1998 p.223)
(nossa tradução)
Nesta “concepção metafísica do tempo” a partir da finitude do Dasein podemos ainda
fazer uma segunda apreciação do tempo histórico a partir da historicidade do ser, pois neste, se
administra ainda uma possível releitura de todo o passado pelo prisma do presente (enquanto
ser lançado) o que implícita ainda em toda possibilidade do futuro, enquanto cuidado (Sorge)
do Dasein com sua destinação. Neste contexto pela possibilidade que se abre no Dasein
temporal, temos que observar no tempo a constante “metamorfose ideológica” que pode ser
facilmente constatada por exemplo na transposição de certos significados de alguns conceitos
no decorrer de diferentes épocas históricas. Como exemplo, temos os termos gregos, que
foram transpostos para o latim, língua oficial do império romano, vejamos aqui o caso
emblemático do termo razão (Ratio), que no grego antigo era designado por Logos, isto pode
ocasionar implicações indeléveis na interpretação do passado. Na visão de Heidegger, esta
tradução feita pelos romanos, denota já uma interpretação, um tanto quanto impertinente,
como veremos mais a frente. Certamente, tanto Heidegger quanto Cassirer, (pensadores
versados nas línguas antigas e eminentes poliglotas), estavam bastante atentos a estas
modificações dos significados semânticos e suas conseqüentes inadequações em outras línguas
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
47
(a própria linguagem já é sempre uma inadequação em relação ao significado espiritual que
esta tenta em vão exprimir em sua exatidão). 24 Rios de tinta, já correram na tentativa de
justificar a modificação dos significados a que são impostos por diversos propósitos e interesses
específicos (geralmente de caráter político) as palavras “traduzidas” de uma para outra língua,
sem contar a re-apropriação dos profundos temas que se referem ao cabedal filosófico,
teológico e cultural, na passagem entre diferentes épocas, impérios e governos.
Verdadeiros malabarismos etimológicos são feitos, por exemplo de caso, com os termos
platônicos e aristotélicos durante a época medieval/escolástica, como veremos no apêndice de
nosso trabalho. Porém, muitas vezes este pretensioso e enviesado “desenvolvimento das
idéias” de um autor, acaba por incorrer em certos “abusos ideológicos” que não justificam a
liberdade do pensamento, nem mesmo dentro da perspectiva de Kant, ao afirmar em uma
passagem famosa de sua primeira crítica que: “Nada há de extraordinário em que, graças à
comparação dos pensamentos que um autor exprimiu acerca de seu objecto, o compreendamos
até melhor do que ele se compreendeu a si próprio, por não ter determinado suficientemente
sua idéia” (KANT 1997 p.263). Porém, quando um pensador, declara peremptoriamente ser
este seu objetivo, não podemos lhe fazer objeções quanto à re apropriação de teorias clássicas,
mesmo que estas, não estejam seguindo o caminho sugerido pelo seu autor original. Neste
campo, é notório o caso de Heidegger. Cuja “má reputação” ocasionada muitas vezes por seu
estilo hermético, de “tomar os pés pelas mãos” de muitos filósofos, não é, no entanto,
resultado nem de má-fé, muito menos signo de uma ingenuidade teórica. Sua minuciosa
atenção, dedicada ao resgate de um sentido já esquecido das palavras, faz com que sua
filologia, se detenha, muitas vezes, aos verdadeiros significados, que deveriam estar
interligados aos termos correntes da tradição metafísica, e ao vocabulário filosófico dos gregos
antigos, que por fim, servem ao propósito de uma nova aplicação dentro de sua teoria. Esta
busca faz com que por vezes ele também se permita o ofício de “ourives”, e seja condescende
com certas extravagâncias, como a “criação” de novos termos (em geral valendo-se da
liberdade que o alemão permite, em referência a aglutinação de palavras), que melhor possam
24
Nietzsche, por exemplo, afirma de que toda palavra já é um pré-conceito; “Jedes Wort ist ein Vorurteil” , e que
toda tradução é já uma interpretação: “Jede Übersetzung ist eine Interpretation”
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
48
expressar seus pensamentos, contidos nestes novos conceitos, feitos para a “filigrana” de sua
própria fenomenologia enquanto método do pensamento. Esta “licença poética”, lhe é
concedida graças a todo seu cuidado com a língua alemã, utilizada, até seus limites gramaticais,
para melhor expressar aquilo que seria impronunciável pela linguagem lógico cientifica
tradicional.
Deste modo, Heidegger nos avisa, que o homem deve aprender a escutar o que está
sendo dito em meio ao mais absoluto silêncio. Esta pode parecer uma afirmação contraditória,
mas devemos nos lembrar que para a existência do som, é essencial que em seu intervalo,
exista o silêncio. (“No pensamento, a fala nunca é primeiro” [Heidegger 1969 p. 15]). O Ser, para
Heidegger, não pode ser dito em sua inteireza, visto que ele extrapola todo logos, que tenta
defini-lo (o ser está além do logos, por isso a necessidade do silêncio para que possamos
“escutá-lo” com o pensamento), pois este Ser, é pré-condição de toda definição.
Isto é
explorado pelo filósofo, em sua busca pela superação da Metafísica tradicional, onde a tentativa
da filosofia seria de mediar esta relação de afecção do homem, na sua relação de unidade
(enquanto compreensão hermenêutica) com o próprio Mundo (em sua Totalidade). Por isso
Heidegger, mais tarde, no desenvolvimento de seu pensamento, irá considerar de extrema
importância a analítica da linguagem, não por seu viés lógico, mas sim, em seu caráter poético,
para que, tanto quanto possível, exista uma aproximação entre, aquilo que é (a priori), e aquilo
que é dito, de modo a tentar precisar aquilo que é (a posteriori) por meio do logos. Portanto, a
única maneira de se obter um pensamento metafísico sobre o Ser, é abrangê-lo a partir de um
referencial que o englobe e ao mesmo tempo o ultrapasse em seus limites finitos
(transcendência) de modo sine qua non. Devemos nos concentrar no Ser, e para isto ser feito, é
necessário tomar a filosofia, a partir de si mesma, como expressão e diálogo (logos) derradeiro
com toda a tradição e com o próprio “ser lançado” que transpassa o homem em sua essência.
Assim, a pergunta pela metafísica, se torna uma pergunta pelo homem, não em seu sentido
antropológico, mas como indagação sobre; “Quem é o homem?”25
25
As três grandes questões (Que podemos saber? Que devemos Fazer? O que nos é permitido esperar?) seriam
então resumidas nesta única dúvida fundamental: Que é o homem? Neste sentido diz Heidegger (1964 p. 173,
174): “Surge aqui uma quarta pregunta acerca Del hombre. No queda como agregada exteriomente a las otras
três y como supérflua, por lo tanto, si se considera que La psycologia rationalis como disciplina de La
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
49
“Kant percebeu que ele mesmo contara, pelas suas duas primeiras críticas o
caminho para a questão, que é o homem?, isto é, para sua Antropologia
filosófica. Esta por sua vez, viera constituir, agora, por sua vez, uma pedra no
caminho de sua compreensão sistemática. (...) Assim, Kant reduziu, recuando
dum caminho muito promissor, a Antropologia a uma espécie de segunda
inquilina da disciplina da filosofia prática. Acima dela estavam a Ética e a
filosofia da história.” (STEIN 2010p. 218)
Isto por que, a partir do advento do iluminismo, o homem deve passar a viver sem
dogmas absolutos, pois tanto o sujeito, quanto o objeto estão em constante mutação, restando
ao ser humano, apenas sua liberdade, que é guiada em última instância pela autonomia de sua
razão. Porém, ao se prestar atenção demasiada ao ente racional, na tentativa de objetivá-lo,
esta “ratio sapiens” de que deriva a techné (compreendida como: “produzir a partir do deixar
aparecer”, “tirar de dentro”) o homem acaba se esquecendo que o Ser (como “a questão
metafísica essencial”), não se deixa conhecer a partir de um sujeito que se situa do lado de fora
de seu plano de imanência. Ou seja, o sujeito da ciência, que busca conhecer seu oposto, o
objeto (aos moldes do cogito Cartesiano, ou a partir da epistemologia tradicional, ou mesmo a
partir de uma pretensa ciência positiva). Esta divisão lógica que se estabelece nesta relação
dualista diametralmente oposta, fracionaria a totalidade em duas diferentes instâncias (a do
sujeito [eu singular], e a do seu objeto [neste caso o Ser]). Pressupõe-se que estes (sujeito e
objeto) pudessem ser pensados de modo distinto, como se o sujeito não participasse da
totalidade, o que seria absurdo de um ponto de vista ontológico. Heidegger contrapõe esta
noção clássica (também compartilhada por Descartes) ao seu conceito de Dasein, que é o ser
propriamente humano em sua relação de imanência com o Ser (enquanto totalidade), ou seja, o
Dasein tenta situar sua compreensão do ser em um campo pré lógico, posto que a existência
preceda a própria essência (o que Sartre ira reafirmar). Este Dasein ao se lançar no Mundo
poderia promover o desvelamento (alétheia) do Ser em sua totalidade, por meio de uma
tonalidade afetiva fundamental, a saber a angústia, ou tédio profundo (conceito este inspirado
pelas reflexões de Kiekergaard).
De tudo isto que foi exposto, o que nos é licito concluir, reside no fato, de que tanto
metaphysica specialis, trata ya Del hombre? (...) Com esto Kant expresó inequivocamente el verdadero
resultado de su fundamentacion de La metafísica.”
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
50
Heidegger, quanto Cassirer, procuram averiguar fundamentalmente, por caminhos paralelos,
uma mesma e definitiva questão. A saber, a grande e insolúvel questão que versa sobre a
essência do Ser em geral, e de um ser (ou um ente, se preferirem outra terminologia) em
particular, que dentre todos os outros, é único capaz de dar explicações coesas sobre a
estrutura do que é existente em seu entorno e de sua compreensão sobre seus próprios
resultados intelectuais acerca de sua própria condição humana, que por essência busca sempre
uma explicação que o defina enquanto uma parte integrante do Todo. E se não foram
suficientes destacados os grandes esforços para este fim, a partir da exposição destes dois
pensadores que são Heidegger e Cassirer ao menos, nosso texto deverá servir como uma
indicação sobre uma leitura destes grandes filósofos que buscaram com grande afinco a
resposta para aquilo que resulta das três primeiras dúvidas de Kant, e que se resumiria a
questão fundamental, que talvez nunca encontre sua resposta crucial e derradeira: “O que é o
homem?” 26
BIBLIOGRAFIA
CASSIRER, E. Antropologia Filosófica- Um ensaio sobre o homem. tradução: Vicente Felix de
Queiroz Editora Mestre Jou, São Paulo 1977.
CASSIRER, E. A Filosofia das formas simbólicas volume II – O Pensamento Mítico. Tradução:
Flávia Cavalcanti Editora Martins Fontes, São Paulo, 2004.
CASSIRER, E. Filosofía de las formas simbólicas volume III- Fenomenologia Del reconocimiento
Tradução: Armando Morones Ed. Fondo de Cultura Económica, México 1998.
DUARTE, Irene Borges “A Imaginação na Montanha Mágica. Kant em Davos, 1929” 2006
FERRY, Luc. Kant: uma leitura das três críticas. Rio de Janeiro: Difel, 2010.
26
Esta questão além de aparecer na Lógica (Ak. Augsg. IX Logik, A25, trad. L. Amoroso, Laterza, Bari, 1984, p. 19) se
encontra ainda em uma carta de Kant a C. F. Stäudlin de 1973, na qual Kant afirma que as 4 perguntas constituem
o cerne de todo o seu trabalho filosófico.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
51
FRIEDMAN, M. A Parting of the Ways – Carnap, Cassirer, and Heidegger – Ed. Open Court,
Illinois 2005.
GORDON, P. E. - “Continental Divide – Heidegger , Cassirer, Davos” – Ed. Harvard University
Press – London, 2010.
HEIDEGGER, M. Conferências e Escritos Filosóficos. Coleção Os Pensadores. Tradução de Ernildo
Stein. Nova Cultural: São Paulo, 2005.
HEIDEGGER, M. O que é metafísica? Tradução de Ernildo Stein. Livraria Duas Cidades:São Paulo,
1969.
HEIDEGGER, M. Kant y el problema de la metafísica. Tradução: Gred Ibscher Roth
Ed. Fondo
de Cultura Econômico Mexicano, Cidade do México, 1966.
HEIDEGGER, M. Os conceitos Fundamentais da Metafísica – Mundo. Finitude. Solidão. Tradução:
Marco Antonio Casanova Ed. Forense Universitária, Rio de Janeiro, 2006.
KANT, I. Critica da Razão Pura Tradução: Manuela Pinto dos Santos Ed. Fundação Calouste
Gulbenkian, Lisboa 1997.
KROIS, J. “Cassirer unpublishe Critique of Heidegger” – in Filosophy an Rhetoric nº16 p.147-166.
PORTA, M. Artigo publicado: Doispontos, Curitiba, São Carlo, vol.2 p.35-59, outubro 2005
“Zurück zu Kant- Adolf Trendelenburg, La superacion Del idealismo y los Orígenes de La filosofia
contemporânea”.
SAFRANSKI, R. – Heidegger Um mestre da Alemanha entre o bem e o mal, Geração Editorial ,
São Paulo 2005.
STEIN, E. “Antropologia Filosófica – questões epistemológicas”. Ed. Unijui, Ijuí 2010.
STEIN, E. –“Seminário Sobre a Verdade” Ed Vozes, Petrópolis 1993.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
52
Liberdade, um debate ético possível em Michel Foucault
Alexandre Gomes dos Santos*
RESUMO
O percurso intelectual de Michel Foucault, como ele mesmo afirmou no final de sua vida, teve
como eixo temático o debate em torno da formas de subjetivação sofridas pelos indivíduos na
sociedade ocidental e sua relação com os “jogos de verdade”, ou aquilo que se diz de
verdadeiro ou de falso através dos discursos de saber sobre o homem. Nossa tentativa tem sido
apreender esta relação incontida entre sujeito e verdade a partir de um tema que para nós se
faz conexo – a liberdade. Liberdade enquanto “condição ontológica da ética”, de uma ética que
se apresenta como a forma refletida que essa liberdade toma. É a partir deste estatuto que
inquirimos o discurso foucaultiano, perseguindo a noção de “cuidado de si”, de um si que se
apresenta enquanto se fomenta a si mesmo, tendo apenas a forma que o sujeito se dá
enquanto se faz existente e atuante no mundo. Mas o que dizer das potenciais críticas ao
estatuto que se pode dar a tal liberdade por um cuidado consigo mesmo, uma liberdade
“avessa ao social”? E o que dizer do “retorno aos gregos” empreendido por Foucault na sua
última “fase” intelectual? Que relevância tem estes temas na realidade brasileira
contemporânea, ou seja, por que deveríamos nós, latino-americanos, estudar o “último
Foucault”? Estas são questões que vem ao encontro de nosso anseio pelo estudo da liberdade
em Foucault. Com este trabalho, pretendemos aprofundar tal discussão e elucidar nossos
próprios dilemas teórico-práticos nos colocado durante nossa leitura e pesquisa em torno do
tema da liberdade em Michel Foucault.
PALAVRAS-CHAVE: liberdade, ética, Michel Foucault.
*
Aluno do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Ceará. E-mail:
[email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
53
INTRODUÇÃO
A primeira “fase” teórica de Michel Foucault fora marcada pelas discussões travadas no
seio do movimento estruturalista e da batalha com os existencialistas e os historicistas
escatológicos em geral, aqueles proclamadores de uma substancialidade humanísticas do
sujeito na história. Em sua segunda “fase”, vemos polemizar-se a hipótese de que o poder
permeia toda relação social por mais microfísica que seja. Já na terceira “fase” de nosso autor,
aquilo que dá peculiaridade a este seu momento toma a forma de uma mudança de caráter em
torno de suas questões, de inflexão mesma do tema e dos problemas que ele abordava. Se até
então Foucault era conhecido pela elisão radical de toda e qualquer possibilidade de ação para
o sujeito, vê-se surgir no cerne de suas pesquisas um sujeito renovado, não na história ou no
discurso, mas perante o último refúgio do ser, o derradeiro foco de resistência diante do
mundo – o si mesmo. E é este conceito de si mesmo, de um elemento discursivo que aponta
uma dimensão de ação própria ao indivíduo, que desponta como novidade nas análises
foucaultianas dos anos oitenta. Mas o que foi relevante para que tal empreendimento se
sobressaísse diante do histórico “pós-estruturalista” de Foucault? Uma mudança de caráter,
digamos assim, de suas questões.
Oito anos separaram a primeira da segunda “História da sexualidade”. Dentro deste
período, ocorre uma inflexão em suas preocupações filosóficas. Do eixo do poder como
esquema de análise para as questões sociais e históricas, Foucault passa a se valer de um novo
eixo para problematizar a política e os discursos de saber. Este, o eixo do governo. A partir
deste novo eixo, um novo esquema de análise surge para pensar a dinâmica do poder e da
dominação na sociedade ocidental. Antes a relação beligerante que vinha substituir as
corriqueiras análises legais, agora a relação de governo do outro, de condução da conduta do
outro, como prisma de análise para pensar-se a relações políticas entre os indivíduos (ORTEGA,
1999, p. 34). Portanto, o modo de relação próprio ao poder não deveria ser buscado do lado da
violência e da luta, ou do lado do contrato e da aliança voluntária, mas “do lado deste modo de
ação singular – nem guerreiro nem jurídico – que é o governo” (FOUCAULT, 2008, p. 244).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
54
DESENVOLVIMENTO
Neste novo momento teórico, Foucault confere sempre às suas análises um terceiro
estágio de reflexão. À questão do saber, em suas implicações discursivas sobre a identidade do
indivíduo humano nas sociedades, à questão do poder, na complexificação das determinações
políticas sobre corpo/alma deste indivíduo, segue-se uma interrogação relativa ao momento do
“si para si”, do indivíduo para consigo mesmo na busca de tornar-se sujeito moral de si mesmo.
Como por exemplo, na questão das “lutas marginais” empreendidas nas sociedades
humanas, ele nos diz que existem três tipos de lutas: “contra as formas de dominação (étnica,
social e religiosa); contra as formas de exploração que separam os indivíduos daquilo que
produzem; ou”, e é aqui que surge o novo momento da análise foucaultiana, “contra aquilo que
liga o indivíduo a si mesmo e o submete, deste modo, aos outros (lutas contra a sujeição,
contra as formas de subjetivação e submissão)” (FOUCAULT apud DREYFUS;RABINOW, 1995, p.
235).
Mais ainda, em o “Uso dos prazeres” (), para introduzir o estudo sobre a história do
homem de desejo, Foucault faz algumas considerações de método na forma dos tipos de
comportamento moral das pessoas face a um código prescritivo, onde “uma coisa é uma regra
de conduta; outra, a conduta que se pode medir a essa regra. Mas, outra coisa ainda é a
maneira pela qual é necessário conduzir-se”. E o que é esta condução? É “a maneira pela qual
se deve constituir a si mesmo como sujeito moral, agindo em referência aos elementos
prescritivos que constituem o código” (FOUCAULT, 2007, p. 27). A questão são as diferentes
maneiras de o indivíduo atuar como “sujeito moral” de sua própria ação, de “conduzir-se”
moralmente. Toda ação “moral” comportaria, assim, uma relação ao real em que se efetua,
uma relação ao código a que se refere e uma relação a si enquanto constitutiva do sujeito
moral que se busca ser.
Portanto, a “relação a si” surge como o seu “momento ético”, o terceiro movimento de
pensamento em nosso autor. Neste terceiro momento, a novidade é a ênfase no elemento da
liberdade que faz nosso autor perquirir pela dimensão ética do sujeito, dimensão da formação
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
55
de si por si enquanto sujeito de suas próprias ações morais. Essa propriedade dá o tom da
subjetividade “autoconstituída” perseguida por Foucault no final de sua vida.
Este último estágio analítico de nosso autor, este seu “momento ético”, consiste no
estágio culminante de sua obra para nós. Se em suas pesquisas sempre esteve em discussão a
relação subjetividade e verdade, dizemos nós que a liberdade aí também esteve como projeto
ético decorrente e possível. Na arqueologia do saber, o fim do sujeito epistêmico; na genealogia
do poder, o derradeiro hálito do sujeito político de direitos; e, na hermenêutica do sujeito, o
declinar do sujeito do desejo. Portanto, neste momento as questões relativas à liberdade
ganham primeiro plano, não mais referentes ao projeto metodológico de cada pesquisa, mas
abertamente apontadas, urgentes e requeridas.
Estudando a relação entre sujeito e verdade, podemos ver que o “retorno aos gregos”
ocorrera devido a uma reformulação dos objetivos de estudo de Foucault. Mas agora, diante da
noção de liberdade, o que podemos referir? A dimensão da ética como um possível “programa
político” para ele. Como “ética da liberdade” referimos, então, o projeto filosófico de Foucault.
Vislumbrando a noção de “cuidado de si”, podemos ver que o interesse de Foucault
consistiu na elaboração de uma história da subjetividade a partir das diferentes tecnologias de
si, no estudo das diferentes práticas que permitiam ao indivíduo estabelecer uma determinada
relação consigo.
Uma ética como uma estética, é isto que Foucault “descobre” na sociedade grega
clássica. E a que deve responder uma ética como esta, uma ética como uma “estética da
existência” em nossa época? À ausência de moral como obediência a um código de regras. Da
antiguidade grega ao cristianismo passou-se de uma moral da ética pessoal a uma moral da
obediência a um sistema de regras. Esta está desaparecendo e a este desaparecimento
“responde, deve responder, uma busca de uma estética da existência” (FOUCAULT, 2010, p.
290).
Em uma entrevista concedida a Dreyfus e Rabinow, Foucault diz:
Alguns dos principais princípios de nossa ética foram relacionados, num certo
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
56
momento, a uma estética da existência [...]. Durante séculos, fomos
convencidos de que entre nossa ética, nossa ética pessoal, nossa vida de todo
dia e as grandes estruturas políticas, sociais e econômicas, havia relações
analíticas, e que nós nada poderíamos mudar, por exemplo, da nossa vida
sexual ou da nossa vida familiar sem arruinar a nossa economia, a nossa
democracia, etc. Creio que devemos nos libertar desta ideia de um elo
analítico ou necessário entre a ética e as outras estruturas sociais ou
econômicas ou políticas (FOUCAULT apud DREYFUS;RABINOW, 1995, p. 261).
Isto quer dizer que a ética, pessoal como se apresenta, cotidiana, da “vida de todo dia”,
não deve estar sujeita, ou não deveríamos nós condicioná-la, a outros ditames que os da
própria existência, da própria vida.
A “escolha da própria existência” é o que Foucault (2010, p. 290) aponta como
possibilidade ética concreta atualmente, dada uma certa mudança nas preocupações dos
discursos filosófico, teórico e crítico, onde não mais, segundo ele, sugere-se às pessoas o que
elas devam ser, fazer, crer ou pensar.
Esta sua constatação leva à criação de novas formas de vida que se instaurariam “por
meio de nossas escolhas sexuais, éticas e políticas”, com vistas a não apenas nos defendermos,
mas a “afirmarmo-nos enquanto força criativa” (FOUCAULT, 2004, p. 260).
A ética, o “tipo de relação que se deve ter consigo mesmo” e que “determina a maneira
pela qual o indivíduo deve se constituir a si mesmo como o sujeito moral de suas próprias
ações” (FOUCAULT apud DREYFUS;RABINOW, 1995, p. 263), esta ética, Foucault vai buscá-la na
Antiguidade grega, onde a “vontade de ser um sujeito moral e a procura de uma ética da
existência” eram principalmente “um esforço para afirmar a própria liberdade e dar a sua
própria vida uma certa forma na qual se podia reconhecer e ser reconhecido por outros e onde
a posteridade mesma poderia encontrar como exemplo” (FOUCAULT, 2010, p. 290). Fazer da
vida uma obra de arte pessoal, isso é o que estava no centro da experiência moral da
Antiguidade, de acordo com nosso autor.
Em Foucault, a ética é estética quando aponta um estilo de vida como seu fundamento e
não uma regra universalmente válida. Mesmo a relação do indivíduo consigo deve ser
perpassado pelo jogo do si com o si, não havendo uma “identidade como uma regra ética
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
57
universal” (FOUCAULT, 2004, p. 266). As relações de identidade existentes para o indivíduo
“devem ser antes relações de diferenciação, de criação, de inovação”, como na questão da
sexualidade, onde “o problema não é descobrir em si a verdade sobre seu sexo, mas, para além
disso, usar de sua sexualidade para chegar a uma multiplicidade de relações”, devendo nós
“nos posicionar em relação à questão da identidade”, partindo do fato de que “somos seres
únicos” (FOUCAULT, 2004, p. 266).
A questão foucaultiana é o critério do agir ético que no seu caso é mais estético do que
ético na medida em que desmerece o tipo de conduta que se toma em favor da intensidade da
prática. O prazer como objetivo do agir ético, o bem de si, o belo de si, e o outro que se
relaciona ao si de modo decorrente. O outro é uma decorrência da maestria de si, não havendo
como fazer passar a preocupação dos outros antes da preocupação de si; a preocupação de si é
eticamente primeira, na medida em que a relação a si é ontologicamente primeira.
Foucault pensa, afinal, numa estetização completa da vida: “não poderia a vida de todos
se transformar numa obra de arte?”, pergunta (FOUCAULT apud DREYFUS;RABINOW, 1995, p.
261). Para ele, devemos praticar o “princípio da obra de arte”, qual seja, aplicar os valores
estéticos no si, na própria vida, na própria existência.
O propósito ético de Foucault implica numa “estetização” completa da vida na medida
em que aponta o trabalho sobre a formação subjetiva de si mesmo, a partir das próprias
escolhas sexuais, éticas e políticas: “novas formas de vida, de relações, de amizades nas
sociedades” (FOUCAULT, 2004, p. 262). A que ponto chega toda esta estetização na ética de
Foucault?
Rosa Maria Dias (2008, pág. 14) tenta responder à questão sobre o que seria uma ética
concebida como arte de viver. Para ela, Foucault entende a ética como um problema de
organização da existência. A ética é inseparável da forma que o indivíduo se dá, da escolha que
ele faz de si mesmo para não ser submetido às normas e às convenções e o cuidado consigo
pode ser concebido como uma verdadeira arma de resistência contra o poder político, pois
impediria que as relações de poder se transformassem em estados de dominação. “Dessa
maneira, a concepção de ética como estética da existência deve ter maior alcance que o
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
58
interesse pela própria existência, sem que com isso se pretenda estabelecer uma ética universal
válida para todos os tempos e todas as circunstâncias.” (DIAS, 2008, p. 14).
Ainda segundo Dias (2008, p. 13), a elaboração estética de si não constituiria um
exercício de solidão. Desde as vanguardas do século XX, a separação entre arte e vida é uma
coisa absurda. Assim, a colocação em obra de uma arte de viver implica em um trabalho na
organização da sociedade. Transformação de si por uma transformação do mundo, o que nos
autorizaria a falar em uma “política da arte de viver” em Foucault.
“Haverá sempre uma relação consigo que resiste aos códigos e aos poderes”, assim nos
fala Deleuze em analisando este novo momento intelectual de Foucault. Para ele a “relação
consigo” é possivelmente uma das origens dos pontos de resistência. “Recuperada pelas
relações de poder, pelas relações de saber, a relação consigo não pára de renascer, em outros
lugares e em outras formas” (DELEUZE, 1988, p. 111).
CONCLUSÃO
Mas, afinal, o que resta de preocupação com as questões sociais em uma ética dos
prazeres como a de Foucault? Estetização do mundo, prazeres, si mesmo, onde repousa a
preocupação com o outro? E dizer que “não há como fazer passar a preocupação dos outros
antes da preocupação de si” ou que o cuidado de si tem como objetivo o cuidado com os
outros, isso não adianta, pois não há garantia real (leia-se “legal) da conclusão deste
movimento “ético-espirituoso”.
Entramos, então, no debate do “politicamente correto”, miragem política, imagética da
responsabilidade, suspensão da ação moral de si mesmo.. Numa sociedade onde a
individualidade é mais objetivamente referida do que subjetivamente promovida, não é de
espantar-se que a referência ao “coletivo” seja da ordem das abstrações modernas, dos
“agregados”. A preocupação pelo coletivo, o interesse prioritário pelo “social”, neste nosso
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
59
presente histórico, não é o avesso do individualismo crasso, “doença de caráter”, mas o
contraditório de um individualismo que transgride a barreira entre hierarquias sociais e
familiares quando aponta o trabalho sobre si mesmo como uma referência para o cuidado com
o outro. O “social” vem a ser o agregado dos egoísmos, o amálgama mal elaborado das
vontades mesquinhas e truculentas que abalroam toda nova relação possível. O “social” é a
coleção dos embotados morais. Preferimos ver no tergiversar do si consigo uma tentativa de
desenredar a trama social do “estar sujeito a governo”.
De modo prático, o que tudo isto quer dizer? O governo de si, o desgoverno do outro.
Como aplicar este princípio? Praticando a liberdade, não buscando conquistá-la, pois isso
equivaleria a totemizá-la, torná-la ideal e, portanto, mais um universal pelo qual lutar, pelo qual
morrer, pelo qual matar, o que, mais do que nunca, é algo que não se nos avizinha como
permissível. Como se dá tal prática? Pela constituição de si, que não é a prática do solipsismo,
mas a “des-re-construção” do estar com o outro. O si não é uma entidade solipsista, ou seja,
não coaduna com os ditames pragmáticos e moralistas de uma sociedade cujo centro nervoso é
representado por esquemas mercadológicos e onde a “ontologia da dinâmica das trocas”
define o indivíduo como o núcleo duro do sistema social de mercado. Ele não se reduz,
portanto, ao contorno biológico do corpo, nem aos limites legais da consanguinidade. Por conta
disto, é promotor de novas formas de relacionar-se com o outro, um outro que não é
puramente o outro do eu, mas um eu do outro. Então não seria de todo mau dizermos que se
trata de um “projeto” individualista, já que é de um outro indivíduo que se quer tratar, não do
núcleo solipsista da “sociedade do valor de troca”, mas daquilo que irrompe por entre os
limites de “eu” e “tu”, portanto, o si.
REFERÊNCIAS
DELEUZE, Gilles. Foucault. São Paulo, SP: Brasiliense, 1988.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
60
DIAS, R. M. Nietzsche e Foucault: a vida como obra de arte. In: Imaculada Kangusso, Olimpio
Pimenta, Pedro Süssekind, Romero Freitas. (Org.). O cômico e o trágico. 1ª ed. Rio de Janeiro: 7
Letras, 2008, v. 1, p. 41-55.
DREYFUS, Hubert L; RABINOW, Paul. Michel Foucault, uma trajetória filosófica: para além do
estruturalismo e da hermenêutica. Tradução de Vera Porto Carrero. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 1995.
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: a vontade de saber. Tradução de Maria Thereza
da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 1988.
______. Sexo, poder e a política da identidade. Tradução de Wanderson Flor do Nascimento.
In: VERVE: Revista Semestral do NU-SOL - Núcleo de Sociabilidade Libertária/ Programa de
Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais, PUC-SP. Nº 5 (maio 2004). São Paulo: o Programa,
2004. Disponível em: <http://www.nu-sol.org/verve/pdf/verve5.pdf>. Acesso em: 10/03/2010.
______. Historia da sexualidade 2: o uso dos prazeres . 12. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2007.
______. Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-1978).
Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2008. (Coleção Tópicos)
______. Ética, sexualidade, política. Organização e seleção de textos Manoel Barros de Motta;
tradução de Elisa Monteiro, Inês Autran Dourado Barbosa. 2ª edição. RJ: Forense Universitária,
2010. (Ditos e escritos; V)
MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. Tradução de Bertha Halpern Gurovitz.
Petrópolis, RJ: Vozes, 1996.
ORTEGA, Francisco. Amizade e estética da existência em Foucault. Rio de Janeiro: Edições
Graal Ltda, 1999.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
61
A noção de Verdade no Sistema Popperiano
Alexandre Klock Ernzen*
RESUMO
O presente trabalho visa demonstrar a importância do conceito de verdade no sistema
popperiano. O método hipotético-dedutivo é, em Popper, a base lógica fundamental para a
constituição de sua teoria epistemológica, baseado em um critério de demarcação que impõe
ao cientista submeter as teorias incansavelmente a testes buscando falseá-las. A verdade atua
como elemento regulador das pesquisas científicas, dado que a atividade do cientista e do
filósofo é a busca por teorias crescentemente mais próximas à verdade. Embora não possa ser
atingida, a ideia de verdade no sistema popperiano possibilita pensar teorias concorrentes com
possibilidade de escolha entre teorias que descrevem melhor a realidade, ou que apresentam
soluções interessantes e criativas para a resolução de problemas teóricos ou práticos. A
verdade enquanto ideia reguladora das pesquisas implica tanto para a metafísica, já que a
própria verdade não pode ser verificada, quanto a postura indeterminista do mundo. Portanto,
a noção de verdade é essencial para a instauração do pensamento de Popper, porém, é após o
encontro com Tarski que este conceito teve seus argumentos revisados, o que possibilitou ao
filósofo vienense pensar o cosmos enquanto totalidade, e conceber as pesquisas científicas e
filosóficas como podendo dizer algo acerca do mundo. Entretanto, a ciência será compreendida
como uma atividade pautada pela ideia de busca pela verdade e cujos conhecimentos serão
sempre conjecturais, a própria cientificidade tem sempre caráter provisório, sem qualquer
descrição última de como o mundo, o homem e tudo aquilo que se encontra no cosmos
funciona.
PALAVRAS-CHAVE: Epistemologia, Verdade, Metafísica.
Se o conhecimento humano, desde os tempos mais remotos, almejou determinar a
verdade incondicional sobre a natureza e tudo que nos rodeia, a filosofia de Karl Popper aborda
o problema da verdade sob uma nova perspectiva. A constituição do conhecimento científico
*
Aluno de Mestrado da Unioeste. Bolsista CAPES.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
62
após vinte séculos de pesquisas é reinterpretada à luz da tese de que a verdade é elemento
regulador de ordem metafísica e abre caminho para o indeterminismo científico, além de
possibilitar pensar a ciência como sendo de natureza conjectural.
Explicações causais e absolutas na tentativa de entender o funcionamento do cosmos e
tudo que se encontra nele já não são mais plausíveis, e nosso argumento segue a ideia de que
qualquer demonstração final em se tratando de conhecimento objetivo, não é possível, dado
que o conhecimento é sempre provisório. Entretanto, não é por termos conhecimento
provisório que abandonamos a busca da verdade. A “ideia de Verdade” tem fundamental
importância para a ciência, pois, atua como ponto norteador das pesquisas teóricas no
processo de constituição de novos conhecimentos, dado que estamos sempre na busca
incessante por teorias que nos aproximem mais da verdade.
O presente artigo visa abordar alguns dentre os argumentos de Popper em favor da
teoria da Verdade, cuja natureza metafísica exerce influência na constituição de conhecimento,
em especial, conhecimento científico. Em 1934 com a obra Logik der Forschung, Popper inicia
sua epistemologia propriamente dita, porém, afirmando seu critério de demarcação como
fonte da verdade, mas sem qualquer conotação de que a verdade poderia ser ideal regulativo.
O critério de demarcação baseado na ideia de que uma hipótese ou conjectura que pretende
descrever fatos de um mundo possível será verdadeira se, e somente se, corresponder
efetivamente aos fatos mencionados na teoria. Tal proposição será falsa quando estiver em
desacordo com a realidade em questão.
Minha posição está alicerçada numa assimetria entre verificabilidade e
falseabilidade, assimetria que decorre da forma lógica dos enunciados
universais. Estes enunciados nunca são deriváveis de enunciados singulares,
mas podem ser contraditos pelos enunciados singulares. Consequentemente, é
possível, através de recurso a inferências puramente dedutivas, (com o auxílio
do modus tollens, da lógica tradicional), concluir acerca da falsidade de
enunciados universais a partir da verdade de enunciados singulares (POPPER,
1934, pág. 43).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
63
O modus operandi da ciência para nosso autor será de submeter hipóteses de caráter
universal a testes rigorosos de modo a garantir que nossas conjecturas podem dar respostas
efetivas e resolver problemas teóricos ou práticos. Buscam-se teorias de caráter universal e
com melhores respostas, garantindo que o conhecimento de tudo o que nos rodeia possa ser
cada vez maior. Até 1934 parece que, em linhas gerais, esta era a posição de Karl Popper sobre
a verdade, cujo critério de demarcação entre teorias científicas e teorias metafísicas era
suficiente para diferenciar teorias que descreviam a realidade e postular o conhecimento
científico.
Ao se contrapor ao método indutivo na constituição do conhecimento científico, Popper
também apresenta outro critério de demarcação entre concepções metafísicas e concepções
científicas, e deste modo, reconhece que elementos metafísicos atuem ativamente na
constituição do conhecimento, mais propriamente na dimensão especulativa, na concepção das
conjecturas, antes dos testes objetivos. É claro que, na medida do possível, a tarefa do teórico é
sempre purificar suas teorias eliminando tais elementos metafísicos das teorias científicas.
Porém,
É um fato que as ideias puramente metafísicas – e, portanto, as ideias
filosóficas – têm-se revelado da maior importância para a Cosmologia. De Tales
a Einstein, do atomismo antigo às especulações de Descartes acerca da
matéria, das considerações de Gilbert, Newton, Leibniz e Boscovic, a propósito
das forças, às de Faraday e Einstein, a respeito de campos de forças – a
Metafísica sempre indicou rumos (POPPER, 1974, p. 540).
Entretanto, o critério de correspondência de uma teoria com a realidade não era tão
claro e preciso a ponto de justificar a busca da verdade no expediente científico. Porém, toda a
formulação da ideia da verdade que para Popper parecia obscura, torna-se clara após o contato
com a teoria da verdade de Tarski em 1935. O mérito de Tarski, segundo Popper, foi reabilitar a
noção de verdade como elemento regulador no âmbito das linguagens formais, porém, o autor
acreditou poder tornar este critério de verdade perfeitamente aplicável ao seu sistema de
constituição do conhecimento científico.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
64
Ao aceitar a teoria de Tarski1, Popper abre portas para pensarmos que a busca da
verdade configura um programa metafisico dentro da constituição do conhecimento. O filósofo
recorre à história da ciência para afirmar que programas metafísicos exerceram grande
influência na própria visão de ciência, e para sua proposta, a busca da verdade, configura o
papel principal de pesquisa tanto para o filósofo quanto para o cientista propiciando que as
bases fundamentais de tais pesquisas abram possibilidades de pensamento e fechem outras
com o intuito de procurar a melhor descrição para o mundo de fatos que se apresentam. A
posição do autor é que,
(...) tais programas de investigação são indispensáveis à ciência, ainda que
tenham uma natureza de física metafísica ou especulativa e não de física
científica. Originalmente, eram todos metafísicos, em quase todas as acepções
da palavra (embora com o tempo alguns se tenham tornado científicos). Eram
grandes generalizações baseadas em diversas ideias intuitivas, a maior parte
das quais nos surgem agora como estando erradas. Eram imagens unificadoras
do mundo – do mundo real. Eram altamente especulativas. E eram
originalmente, não-testáveis (POPPER, 1989, p. 172-173).
Segundo Popper, a verdade não pode ser alcançada em sua plenitude, porém, é possível
tê-la como elemento regulador das pesquisas científicas, ou seja, mesmo que a verdade não
possa ser reconhecida enquanto tal, ela configura um recurso metodológico de primordial
importância para determinar se teorias científicas descrevem ou não a realidade existente.
Posto isto, é preciso atentar para a tese de que o conhecimento científico será sempre
provisório, de modo que teorias, embora com grande poder de descrição de fatos, serão
tomadas como próximas à verdade, ou seja, verossimilhantes, mas sem qualquer estatuto de
descrição última da realidade. Segundo Popper,
Uma grande vantagem da teoria da verdade objetiva ou absoluta é que ela nos
permite dizer que buscamos a verdade, mas podemos não saber quando a
1
“A maior realização de Tarski, o verdadeiro significado de sua teoria para a filosofia das ciências empíricas, é ter
reabilitado a teoria da correspondência da verdade objetiva ou absoluta, que se havia tornado suspeita. Propugnou
o uso livre da ideia intuitiva da verdade como correspondência com os fatos. A meu ver, a afirmação de que essa
teoria só se aplica às linguagens formalizadas é errônea. A teoria é aplicável a qualquer linguagem consistente,
mesmo ‘natural’” (POPPER, 1963, p. 249).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
65
encontramos; que não dispomos de um critério para reconhecê-la, mas que
somos orientados assim mesmo pela ideia da verdade como um princípio
regulador; e que, embora não haja critérios gerais para reconhecer a verdade –
exceto talvez a verdade tautológica – há sem dúvida critérios para definir o
progresso feito na sua a aproximação (POPPER, 1972, p. 251).
Se a tarefa da ciência é a busca da verdade, é por meio da crítica racional de teorias e
com a submissão destas teorias a incansáveis testes que poderemos estabelecer quais as
teorias que fornecem respostas mais adequadas a problemas, ou mesmo que auxiliem no
conhecimento deste mundo que nos rodeia. Este recurso metodológico, de apelo à verdade
como elemento regulador, possibilita que o filósofo mantenha sua postura indeterminista 2 do
mundo, porém, com a possibilidade de alcançar conhecimento do mundo, independentemente
de não termos a verdade em caráter absoluto. Se o conhecimento é sempre provisório e, para
não cairmos em um ceticismo absoluto, esta ideia de verdade como elemento regulador atua
como “ponto-norteador” ou como meta da ciência. A constituição do conhecimento científico,
portanto, poderá ocorrer com teorias que apresentam melhores descrições da realidade.
A busca da verdade, portanto, torna-se essencial para o entendimento do mundo.
Porém, para não recair no ceticismo, devemos ter a hipótese de que o mundo se apresenta
como unitário. Diante disso, cabe a questão: para a constituição de uma epistemologia é
necessária uma ontologia? A resposta à luz da filosofia popperiana é que sim. Uma vez que para
que se possa compreender como ocorrem as mudanças – com vistas à verdade – necessitamos
de uma ideia unificada de mundo. É possível pensar em uma ontologia neste sentido, se
levarmos em conta a possibilidade de pensar o mundo como um todo, da forma como
Parmênides e Einstein o fizeram. Entretanto, esta ideia de um cosmos ou mundo unificado
também se encontra no âmbito da metafísica, pois, é somente factível postular sua existência,
sua influência é significativa em todos os ramos do conhecimento objetivo.
2
Um argumento forte em favor do indeterminismo expresso por Popper é este: “Mas como não há medida
absoluta do grau de aproximação alcançado – do caráter grosseiro ou apurado da nossa rede – mas apenas uma
comparação com aproximações melhores ou piores, até mesmo os nossos esforços mais bem sucedidos podem
produzir apenas uma rede cuja malha seja larga de mais para o determinismo. Tentamos examinar exaustivamente
o mundo através das nossas redes, mas a malha há de sempre deixar fugir algum peixe miúdo: haverá sempre
folga suficiente para o indeterminismo (POPPER, 1988, p. 62).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
66
Através da ideia de totalidade é possível pensar em teorias que possam descrever em
caráter universal os fatos e assim nos aproximarmos mais da verdade. Nesse caso, uma teoria é
mais verossímil na medida em que melhor descreve os fatos. Mediante a imagem de mundo
estabelecida, ainda que hipotética, poderão ser aceitos ou refutados determinados enunciados,
à luz da teoria em questão. Popper acrescenta a seu arsenal teórico com vistas a analisar a
constituição do conhecimento, a ideia de que é por meio das chamadas “propensões” que
poderemos conjecturar como é o cosmos. Isto é, através de proposições conjecturais serão
possíveis explicações sobre o mundo sempre partindo da metafísica rumo a explicações
empíricas e reais. É claro que as propensões se apresentam em caráter inicialmente metafísico,
porém, a intenção de Popper é que, através deste recurso, seja possível delinear uma possível
explicação de todo o funcionamento do universo.
Enfim, tais recursos metodológicos culminam na tese do mundo 3, o mundo no qual
reside o conhecimento objetivo, cuja objetividade acontece pelo fato de que ele é
independente de qualquer sujeito, porém, sua manutenção é feita pelos indivíduos que
acrescentam novos dados ao conhecimento científico. O progresso do conhecimento ocorrerá
porque partimos de problemas abertos e soluções propostas presentes no mundo 3, sempre
avançando rumo a verdade com novas hipóteses e conjecturas como respostas a problemas em
questão. Mesmo que o mundo do conhecimento objetivo seja independente, ele exerce
influência nas ações e pensamentos dos indivíduos, influenciando certamente as decisões
acerca de escolhas entre teorias concorrentes. Vejamos:
Compreendi, em primeiro lugar, que o mundo 3, conquanto autônomo, era
obra humana, sendo perfeitamente real visto que podemos agir sobre ele, tal
como ele também agia sobre nós, ocorrendo pois uma ação de dádiva e
recebimento, uma espécie de efeito de transferência energética. Em segundo
lugar, apercebi-me de que no reino animal existia já um análogo do mundo 3 e
que, portanto, seria possível estudar a globalidade do problema à luz da teoria
da evolução (POPPER, 1994, p. 68).
Portanto, a proposta popperiana apresenta a ciência como conhecimento provisório,
uma tentativa de descrição de um mundo possível e real, cujos dados são deduzidos de
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
67
hipóteses que atuam como descrição de fatos rumo à verdade. Os teóricos implicados com o
crescimento do conhecimento devem estar preocupados e com a busca pela verdade através
da constante substituição de hipóteses por teorias melhores e mais fecundas, no sentido de
que apresentam descrições mais ricas e interessantes para a ciência, e, consequentemente
expandir o conhecimento objetivo. Para que seja possível o progresso científico devemos levar
em consideração que o mundo se apresenta de modo unificado. Mas isto não basta.
Necessitamos de conceitos que possibilitem a descrição de fatos com explicações
suficientemente interessantes.
Popper não hesita em afirmar que a metafísica é importante para a epistemologia, pois,
possibilita o surgimento de teorias que possam apresentar tentativas de descrição de tudo
aquilo que nos rodeia. A verdade, enquanto reconhecida como meta da ciência, será primordial
para o desenvolvimento do conhecimento científico, e, embora inalcançável, se apresenta de
modo a permitir que o homem busque continuamente desvendar o “mistério” da constituição
do mundo e do homem. O método hipotético-dedutivo, portanto, nos possibilita compreender
a ciência em suas várias tentativas de explicações cosmológicas. Ainda que tenhamos teorias
que foram abandonadas em prol de outras melhores e com descrições mais ricas nada temos
que possa garantir uma explicação final sobre a realidade, sobre o homem e sua liberdade.
Mesmo sem qualquer explicação última, não hesitamos em novas tentativas de compreensão
do mundo através da atribuição de sentido objetivo a este mundo.
BIBLIOGRAFIA
POPPER, Karl. Autobiografia intelectual. Trad. Leônidas Hegenberg e Octanny Silveira da Motta.
São Paulo: Cultrix, 1° ed., 1977.
POPPER, Karl R. A Lógica da Pesquisa Científica. Trad. Leônidas Hegenberg. São Paulo: Cultrix, 2°
ed., 1974.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
68
POPPER, Karl R. Conjecturas e Refutações. Trad. de Sérgio Bath. Brasília: Editora da UNB, 3º
ed., 1972.
POPPER, Karl R. Conhecimento Objetivo. Trad. de Milton Amado. Belo Horizonte, Editora
Itatiaia, 1975.
POPPER, Karl R. O conhecimento e o problema corpo-mente. Trad. Joaquim Alberto Ferreira
Gomes. Lisboa: Edições 70, 1996.
POPPER, Karl R. Pós-Escritos à Lógica da Descoberta Científica volume 1. O realismo e o objetivo
da ciência. Trad. Nuno Ferreira da Fonseca. Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1987.
POPPER, Karl R. Pós-Escritos à Lógica da Descoberta Científica volume 2. O Universo Aberto.
Lisboa: Dom Quixote, 1988.
POPPER, Karl. Pós-Escritos à Lógica da Descoberta Científica volume 3. A Teoria Quantica e o
Cisma na Física. Trad. de Nuno Ferreira da Fonseca. Lisboa: Dom Quixote, 1989.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
69
Félix Guattari: o capitalismo mundial integrado
André Campos de Camargo*
RESUMO
O presente trabalho está apoiado em dois textos de Félix Guattari publicados no Brasil em 1981
(O Capital como integral das formações de poder e O capitalismo mundial integrado e a
revolução molecular), que se encontram no livro Revolução Molecular: pulsações do desejo,
assim como em algumas passagens de outras obras do autor. Neste trabalho pretendemos
mostrar algumas considerações de Guattari sobre o capitalismo contemporâneo e sua
capacidade de controlar e organizar produtivamente não só as atividades econômicas
tradicionais, mas também as que formalmente escapam da definição econômica de trabalho.
Além de apontarmos algumas possibilidades de resistência a esse processo.
PALAVRAS-CHAVE: capitalismo mundial integrado, produção capitalista, resistência.
A subjetividade como matéria-prima do capitalismo mundial integrado
Em dois textos esclarecedores, O capital como integral das formações de poder e O
capitalismo mundial integrado e a revolução molecular, publicados em 1981 no Brasil, o filósofo
francês Félix Guattari, problematizou as relações de produção do capitalismo contemporâneo,
apresentando sua dimensão econômica e subjetiva. Para Guattari, da mesma forma que o
capitalismo contemporâneo utiliza-se da produção econômica para se expandir, ele necessita
também de certo tipo de subjetividade.
Para o autor, as antigas formas de capitalismo sempre se utilizaram do par
economia/subjetividade para se reproduzir. Entretanto, as antigas formas de produção de
*
Mestrando do Programa de Filosofia e História da Educação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
E-mail: [email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
70
subjetividade capitalista não eram hegemônicas. Havia outras formas de se subjetivar que
escapavam da padronização capitalista. Foi apenas com o capitalismo contemporâneo, das três
últimas décadas do século xx, que a produção da subjetividade capitalista ganhou vocação
universal.
A dependência econômica do capitalismo contemporâneo, em relação à produção de
subjetividade, pode ser constatada historicamente pela necessidade do capitalismo em
incorporar, mesmo que lentamente, todos os tipos de atividades que formalmente escapavam
da definição clássica de trabalho. Só foi no final desse mesmo século, que as atividades da vida
doméstica, do esporte, da cultura, do turismo, da religião e da educação, por exemplo, foram
investidas por certo modo de subjetividade que procurou fazer com que todos os setores, se
tornassem duplamente produtivos. A própria produção de subjetividade gerada por esses
setores asseguraram sua reprodução econômica.
O capitalismo mundial integrado, no final do século XX, não só incorporou as atividades
humanas não produtivas ao setor de produção, mas ainda, inclui os países que pareciam
historicamente ter escapado desse processo. Alguns de forma completa, como foi o caso dos
países do antigo bloco soviético e a China e outros que, apesar de resistirem, se encontram em
um processo de amoldamento, como Cuba e Coréia do Norte. 1
A hegemonização dos valores capitalistas, por meio da produção de subjetividade, só é
possível quando uma série de equipamentos coletivos - a escola, a igreja, a família, a mídia, os
partidos políticos, as empresas, sindicatos, revistas, programas de televisão, centros de saúde,
etc.- prepara a subjetividade do indivíduo para se apropriar dos valores capitalistas.
O equipamento coletivo que melhor realiza, involuntariamente ou não, essa preparação,
pelo menos do nosso ponto de vista, é o equipamento escolar. Mas, seria a maior parte das
escolas uma espécie de empresa capitalista com postos de trabalho não assalariados? Caso a
resposta seja afirmativa, outras questões aparecem, como por exemplo: o que ela produz e
para quê?
1 GUATTARI, Félix. Revolução Molecular: pulsações políticas do desejo. Tradução de Suely Rolnik. 3° edição, São Paulo: Brasiliense, 1986. p.212.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
71
Em seu livro Revolução Molecular Félix Guattari afirma que a noção de empresa
capitalista deveria se estender aos Equipamentos Coletivos 2, e a de posto de trabalho, à maioria
das atividades não assalariadas. E acrescenta:
De certa maneira, a dona-de-casa ocupa um posto de trabalho em seu
domicílio; a criança ocupa um posto de trabalho na escola, o consumidor no
supermercado, o telespectador diante de seu vídeo... Quando as máquinas
parecem trabalhar sozinhas, na verdade o conjunto da sociedade é adjacente a
elas. 3
Dessa forma, o capitalismo busca fazer com que todos os setores não produtivos da
sociedade tornem-se adjacentes ao setor produtivo e que de certo modo possam também
produzir. O que ocorre na escola, como também em outros equipamentos coletivos, é um
investimento do capital em forma de produção de subjetividade sobre o desejo.
Na medida em que um aluno se encontra a tempo vinculado a um sistema de
representação escolar capitalista, o seu desejo cai sob a dependência da máquina capitalista
levando-o a se relacionar através dos valores capitalistas. Esse processo pode ser caracterizado
como um assujeitamento dos fluxos desejante aos valores capitalistas.
Por isso, quanto mais cedo à criança decifrar os diferentes códigos do poder, melhor ela
estará preparada para fazer parte do sistema capitalista.
Essa iniciação ao capital, dizia
Guattari, consiste em arrancar da criança, o quanto antes, sua capacidade especifica de
expressão e adaptá-la aos valores dominantes.
A subjetividade capitalizada, produzida pelos equipamentos coletivos, tem a função de
tornar homogêneos os valores do capitalismo, preparando os indivíduos para a produção
econômica e subjetiva. Mesmo que um indivíduo, que passou pelos equipamentos coletivos,
não consiga ser inserido no mundo do trabalho para produzir, ele estará apto para reproduzir
as relações subjetivas capitalizadas. Frente a essas observações, surgem duas questões
2 Félix Guattari no livro Revolução Molecular fez uma adaptação do conceito de Aparelhos ideológicos de Estado de Louis Althusser, acrescentando a esse conceito o
componente maquínico. A preocupação do pensador francês, portanto, não estava em superar ou negar o conceito utilizado por Althusser, mas em ampliá-lo.
3 GUATTARI, Félix. Revolução Molecular: pulsações políticas do desejo. Tradução de Suely Rolnik. 3° edição, São Paulo: Brasiliense, 1986. p. 199.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
72
fundamentais: Como esse processo se realiza? Como o indivíduo se subjetiva a partir dos
valores capitalistas?
A captura da produção desejante pelo capitalismo
Para Guattari, o capitalismo mundial integrado estimula a produção desejante dos
indivíduos por meio das relações sociais, para depois capturá-las a partir de seus próprios
valores de mercado. Ao manipular o desejo, o capitalismo procura desassociar a produção
desejante da produção social. O que ocorre de fato é apropriação dos fluxos desejante para
reproduzir materialmente a sociedade (produção social). Assim, aquilo que chamamos de nosso
desejo, não é exclusivamente nosso, não é algo interior ao homem e muito menos sublimável,
ele é produzido nos encontros que ocorrem no campo social, portanto, exterior ao próprio
homem. Podemos dizer que os fluxos desejante produzidos em nossa sociedade passam antes
por uma axiomatização capitalista, para depois, e só depois, ser sentido por cada um de nós.
Nas palavras de Guattari e Deleuze:
Dizemos que o campo social é imediatamente percorrido pelo desejo, que ele
é seu produto historicamente determinado, e que a libido não precisa de
nenhuma mediação ou sublimação, nenhuma operação psíquica, nenhuma
transformação, para investir as forças produtivas e as relações de produção.
Não há senão desejo e o social, e nada mais.4
Não podemos, portanto, separar de um lado, a produção social e, de outro, uma
produção desejante porque toda produção desejante é produção social. Gilles Deleuze no
prefácio do livro: Psicanálise e Transversalidade, escrito por Félix Guattari, comenta o
posicionamento de Guattari frente ao desejo e ao inconsciente:
4 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O Anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1976. p. 46
.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
73
Veremos que Guattari teve muito cedo o sentimento de que o inconsciente
está antes diretamente vinculado com todo um campo social, econômico e
político do que com as coordenadas míticas e familiares tradicionalmente
invocadas pela psicanálise. Trata-se da libido propriamente dita, como essência
de desejo e de sexualidade: ela investe e desinveste os fluxos de toda natureza
que permeiam o campo social, efetua cortes desses fluxos, bloqueios, fugas,
retenções.5
Para Guattari, o capitalismo desenvolveu uma capacidade inovadora de combinar
espaços nacionais, culturas, religiões, sistemas políticos, temporalidades desiguais em função
das necessidades do mercado mundial integrado. Nessa nova fase o capitalismo investiu mais
na produção de subjetividade do que em qualquer outro momento da história, tornando-se
assim um sistema produtor de mercadorias e subjetividades. O capitalismo desta terceira
revolução industrial, do ponto de vista de Guattari, foi capaz de criar e integrar um mercado
subjetivo mundial, sem conseguir, por certo, fazê-lo do ponto de vista social.
Ao analisar a subjetividade pela ótica da produção, o pensador francês procurou ampliar
a definição de subjetividade para ultrapassar a oposição clássica entre individuo e sociedade.
Ao invés de sujeito, deveríamos dizer componentes de subjetivação, isso ocorria porque apesar
da subjetividade estar no inconsciente do indivíduo, ela é construído na exterioridade. 6 Logo,
teríamos que renunciar a idéia de que os fenômenos de expressão social são resultados de um
aglomerado, de uma somatória de subjetividades individuais, mas sim, pelo contrario, que a
subjetividade individual resulta de um emaranhado de agenciamentos coletivos extraídos do
social.
Assim, a subjetividade não poderia ser entendida como parte de uma identidade fixa e
individual, como geralmente se compreende, mas como um resultado da junção de diferentes
experiências da realidade. Quando falamos de subjetividade procuramos não confundi-la com o
sentido que comumente damos a subjetivismo7 nem a subjetivo8, mas buscamos compreendê5 GUATTARI. Félix. Psicanálise e Transversalidade: ensaios de análise institucional. Tradução de Adail Ubirajara Sobral, Maria Stela Gonçalves. Aparecida: Idéias & Letras, 2004. p.
08.
6 GUATTARI, Félix. As três ecologias. Tradução de Maria Cristina F. Bittencourt. 12º Edição, Campinas: Papirus Editora, 2001.p. 17.
7 Como preferências individuais.
8 Como o oposto a algo objetivo. Essa definição e a anterior aparecem no dicionário de filosofia Nicola Abbagnano. ABBAGNANO. Nicola. Dicionário de Filosofia, 2° Edição, São
Paulo: Martins Fontes, 1998.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
74
la como um aglomerado de inúmeros fluxos desejantes, axiomatizados ou não pelo capital, que
se cruzam instaurando uma interioridade que o “sujeito” relaciona e chama de seu.
A forma pelo qual o indivíduo vive essa subjetividade, de acordo com Guattari, pode
oscilar entre: viver a subjetividade da forma tal como a processaram por meio de uma relação
de alienação e opressão ou através de uma relação de expressão e criação, na qual o indivíduo
se reapropria dos componentes da subjetividade, produzindo um processo de singularização. 9
O primeiro modo aprisiona, o segundo liberta. Escolher o primeiro posicionamento, só nos
manteria na servidão voluntária, para usar parte do título da obra de La Boétie 10, que nos
parece exprimir a maior parte das ações dos indivíduos atualmente. Optar pelo segundo modo
significa, para o filósofo francês, combater qualquer produção de subjetividade que objetive
desenvolver relações de exploração e de dominação.
Por singularização o pensador francês compreendia um processo de rompimento com
os desejos axiomatizados pelo capital. Tal rompimento levaria a outras maneiras de ser, de
sentir, de perceber e de se relacionar coletivamente. Apesar do processo de singularização
parecer à melhor opção para os indivíduos em sociedade, por que ela não ocorre com maior
freqüência? O que impede uma pessoa de se singularizar?
No esforço de pensar as problemáticas vinculadas às questões acima, como também de
pensar o funcionamento do inconsciente, Guattari desenvolveu uma analítica das formações do
desejo no campo social, mais conhecida como micropolítica, e para instrumentalizá-la criou
dois conceitos, a saber: o conceito de molar e molecular. O primeiro conceito se refere à
realidade constituída, lugar de excelência do registro e controle dos corpos no social, local
gerido preferencialmente pelas instituições reprodutoras das relações sociais dominantes. O
segundo a realidade em vias de se constituir (territorialização) e, ao mesmo momento, em vias
de se desmanchar (desterritorializar), lugar de produção onde os fluxos de desejo se relacionam
através de inúmeras conexões. Apesar de não existir entre os planos uma diferença de valor, o
movimento operado por eles poderia resultar em uma organização diferenciada dos planos,
9 GUATTARI, Félix, ROLNIK Suely. Micropolítica: Cartografias do Desejo. 6º edição, Petrópolis: Editora Vozes, 2000. p. 34.
10 LA BOÉTIE, Etienne de. Discurso da Servidão Voluntária. Tradução de Laymert Garcia dos Santos. Comentários de Lefort; Claude; Clastres; Pierre; Chauí, Marielena. Coleção
Elogio da Filosofia. Edição Bilingüe: São Paulo: Brasiliense, 1990.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
75
segundo modelos reacionários ou emancipatórios. Para o pensador francês, uma mesma
pessoa ou instituição, poderia operar nos dois planos de formas distintas. Nos seus dizeres:
Assim, por exemplo, um grupo de trabalho comunitário pode ter uma ação
nitidamente emancipadora a nível molar, mas a nível molecular ter toda uma
série de mecanismos de liderança falocrática, reacionária, etc. Isso, por
exemplo, pode ocorrer com a igreja. Ou, o inverso: ela pode se mostrar
reacionária, conservadora, a nível das estruturas visíveis de representação
social, a nível do discurso tal como ele se articula no plano político, religioso,
etc., ou seja, a nível molar. E, ao mesmo tempo a nível molecular, podem
aparecer componentes de expressão de desejo, de expressão de singularidade,
que não conduzem, de maneira alguma, a uma política reacionária e de
conformismo.11
A singularização não ocorreria facilmente, porque o movimento molar e molecular
dependeria também de uma revolução molecular, mas não como as que ocorrem de forma
reacionária. E acrescenta: ‘não foi uma revolução molecular que precedeu o advento do
Nacional-Socialismo na Alemanha’.12
A revolução molecular só alcançaria um resultado progressista, segundo o pensador
francês, desde que tivesse a capacidade de articular os agenciamentos moleculares
explicitamente revolucionários com as lutas molares de interesse social. Caso essa articulação
não ocorresse, saberíamos quem são as pessoas que trabalham para que os processos
moleculares revolucionários entrem em conformidade com as estratificações molares
capitalistas.13
O desafio está lançado, ou criamos diferentes resistências aos processos micropolíticos
de subjetivação ou estaremos fadados ao controle constante do capitalismo mundial integrado
em nossas vidas.
11 GUATTARI, Félix, ROLNIK Suely. Micropolítica: Cartografias do Desejo. 6º edição, Petrópolis: Editora Vozes, 2000. p. 133.
12 GUATTARI, Félix. Revolução Molecular: pulsações políticas do desejo. Tradução de Suely Rolnik. 3° edição, São Paulo: Brasiliense, 1986. p. 213.
13 Ibdem. p. 221.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
76
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O anti-édipo: capitalismo e esquizofrenia. Rio de Janeiro:
Imago Editora, 1976.
GUATTARI, Félix. As três ecologias. Tradução de Maria Cristina F. Bittencourt. 12. ed. Campinas:
Papirus Editora, 2001.
______. Caosmose: um novo paradigma estético. Tradução de Ana de Oliveira e Lúcia Cláudia
Leão. São Paulo: Ed. 34, 2ª reimpressão, 1993.
______. O inconsciente maquínico: ensaios de esquizo-análise. Tradução de Constança
Marcondes César e Lucy Moreira César. Campinas: Papirus, 1988.
______. Psicanálise e Transversalidade: ensaios de análise institucional. Tradução de Adail
Ubirajara Sobral, Maria Stela Gonçalves. Aparecida: Idéias & Letras, 2004.
______. Revolução Molecular: pulsações políticas do desejo. Tradução de Suely Rolnik. 3. ed.
São Paulo: Brasiliense, 1986.
GUATTARI, Félix; ROLNIK, Suely. Micropolítica: cartografias do desejo. 6. ed. Petrópolis: Editora
Vozes, 2000.
LA BOÉTIE, Etienne de. Discurso da Servidão Voluntária. Tradução de Laymert Garcia dos
Santos. Comentários de Lefort; Claude; Clastres; Pierre; Chauí, Marilena. Coleção Elogio da
Filosofia. Edição Bilíngüe: São Paulo: Brasiliense, 1990.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
77
A relação entre a linguagem e a consciência em Nietzsche e em Freud
André Santana Mattos*
RESUMO
Fazemos aqui um estudo comparativo da relação entre a linguagem e a consciência em
Nietzsche e em Freud, procurando delinear as semelhanças e diferenças entre as concepções
dos dois autores. Em 1869, no pequeno texto intitulado Da origem da linguagem, Nietzsche
apresenta uma concepção de linguagem que possui certa anterioridade em relação à
consciência, na medida em que é necessária para o surgimento desta. No aforismo 354 de A
gaia ciência, o autor, tomando a consciência como algo desnecessário à vida e essencialmente
supérfluo, remete o seu desenvolvimento à necessidade de comunicação, e, reconhecendo
também a primazia dos pensamentos inconscientes, afirma que o pensar que se torna
consciente é apenas aquele que ocorre em palavras. Encontramos em Freud uma concepção
bastante semelhante, formulada pela primeira vez no Projeto de 1895, e retomada em termos
mais estritamente psicológicos em textos posteriores. Tal formulação, em seu teor psicológico
geral, afirma que o pensar, para tornar-se consciente, precisa associar-se a representações
lingüísticas. Porém, se esta descrição sumária da concepção freudiana a aproxima
sobremaneira à de Nietzsche, devemos logo adicionar a ela um importante elemento distintivo:
a razão pela qual o pensamento precisa da associação lingüística, para Freud, deve-se ao fato
de que, para ele, a consciência está intimamente relacionada à percepção, antes de o estar à
linguagem – desse modo, é através da descarga verbal, que é seguida de uma percepção da
mesma, que a linguagem possibilita que os pensamentos tornem-se conscientes. Se
considerarmos, além disso, a especificidade dos quadros teóricos onde se inserem as
elaborações freudianas do tema, haveremos de marcar uma maior diferença entre os dois
autores. Por fim, parece haver outra diferença, esta mais radical, entre ambos: trata-se do valor
conferido à consciência, que em Nietzsche é marcado por uma forte negatividade, a qual não
parece ser compartilhada por Freud.
*
Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar.
[email protected].
Bolsista CAPES.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
E-mail:
78
A questão da relação entre as idéias de Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud é um tema
que chamou a atenção desde cedo, tendo tocado o próprio Freud e alguns integrantes do
primeiro círculo psicanalítico1. Em 1908, por exemplo, houve duas das famosas quartas-feiras
da Sociedade Psicanalítica de Viena nas quais Nietzsche foi discutido, sendo que as discussões
alternavam entre uma análise psicológica do homem Nietzsche, a partir de suas obras, e uma
tomada propriamente filosófica das suas idéias, onde foram levantadas semelhanças com as
idéias de Freud.
Se, por um lado, sabemos que Freud teve contato não tão tardio com as obras de
Nietzsche2, por outro, as suas afirmações relativas à leitura das obras do filósofo são bastante
ambíguas. Ora diz que não conhece as obras de Nietzsche, ora diz que nunca passou de meia
página em sua leitura, ora reconhece antecipações de suas idéias, mas resolutamente nega a
influência das idéias de Nietzsche sobre o desenvolvimento das suas próprias. 3.
Talvez possamos confiar nesta afirmação de Freud, mas mesmo que quiséssemos tentar
remeter suas idéias a uma possível influência de sua leitura de Nietzsche, estaríamos no âmbito
do imponderável. Porém, não deixando de constatar notáveis semelhanças entre algumas
idéias dos dois autores, e buscando contrastar suas diferenças, o que propomos aqui é um
estudo comparativo de alguns de seus textos que apresentam formulações sobre a relação
entre a linguagem e a consciência.
I
Em uma introdução escrita para um curso de gramática latina, intitulada Vom Ursprung
der Sprache (Da origem da linguagem), datada de 1869, Nietzsche apresenta uma concepção
sobre a relação entre a linguagem e a consciência que aqui nos é de grande interesse, no
entanto não é precisamente de sua autoria. Este pequeno texto, não publicado em vida,
1
Sobre estas informações e as que seguem, cf. Assoun (1989).
Sabemos por uma carta a Fliess, de 1º de fevereiro de 1900, que nesta data ele estava de posse delas.
3
Assoun (1989) cita as minutas da Sociedade Psicanalítica de Viena, sessão de 1º de abril de 1908, redigidas por
Otto Rank: “Apesar das semelhanças que muitos levantaram entre Nietzsche e ele, Freud pode garantir que as
idéias de Nietzsche não tiveram influência sobre seus trabalhos” (p. 19).
2
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
79
consiste basicamente em uma espécie de “colagem” de passagens da Philosophie des
Unbewuβten, de Eduard von Hartmann, e da Geschichte der Sprachwissenschaft, de Theodor
Benfey, ambas publicadas no mesmo ano de 18694. O que nos interessa em especial do texto
de Nietzsche foi tirado de Hartmann, e trata-se da idéia de que o pensamento consciente não é
possível sem a linguagem: “Todo pensar consciente só é possível com ajuda da linguagem” 5.
Hartmann cita um trecho da Introduction der Philosophie der Mythologie, de Schelling, que já
contém tal idéia, e que é também reproduzido por Nietzsche:
Como sem a linguagem não se pode pensar não apenas nenhuma consciência
filosófica, mas nenhuma consciência humana em geral, não se pode situar a
base da linguagem na consciência, e no entanto, quanto mais profundamente
penetramos naquela, tanto mais seguramente se descobre que sua
profundidade supera e muito a da produção inteiramente consciente. – Ocorre
com a linguagem como com os seres orgânicos; acreditamos que estes se
desenvolvem às cegas, e não obstante não podemos duvidar da imperscrutável
intencionalidade [Absichtlichkeit] da sua constituição, até em seus
pormenores.6
No sentido do problema posto em Schelling, a solução desenvolvida por Hartmann e
reproduzida esquematicamente por Nietzsche consiste em conceber a linguagem como
produto do instinto (Instinkt) de uma massa, como ocorreria na vida da colméia e do
formigueiro.
Ainda nesse texto de 1869, Nietzsche apresenta outra idéia, a partir de Hartmann, que
se tornará particularmente interessante mais adiante, na comparação com Freud, acerca do
valor da consciência. “O desenvolvimento do pensar consciente é prejudicial à linguagem” 7,
afirma Nietzsche, situando o fato em um movimento de decadência que acompanha o
desenvolvimento da cultura. Segundo Cavalcanti (2005), porém, “o tema da simplificação e
4
Sobre o uso da obra de Hartmann: “Cláudia Crawford, em seu livro The Beginnings of Nietzsches Theory of
Language [1987], chamou atenção, pela primeira vez, para a importância da obra Philosophie des Unbewussten
(Filosofia do Inconsciente) de E. von Hartmann na elaboração desse capítulo. De fato, não apenas as principais
teses apoiam-se na obra de Hartmann, mas, como mostrou posteriormente Hubert Thüring [1994], parte
significativa do texto de Nietzsche compõe-se de transcrições e resumos, de uma colagem de diferentes passagens
de Philosophie des Unbewussten.” (CAVALCANTI, 2005, p. 39).
5
Nietzsche, Obras completas, vol. V, Buenos Aires, 1967, p. 424. Tradução nossa. Cf. Hartmann, Philosophie des
Unbewussten, p. 258: “jedes bewusste menschliche Denken erst mit Hülfe der Sprache möglich ist”.
6
Schelling, citado por Hartmann (ibid., p. 254) e reproduzido por Nietzsche (ibid., p. 426). Tradução nossa.
7
Nietzsche, ibid., p. 424.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
80
degradação progressiva da linguagem com o desenvolvimento da cultura”, retomado por
Hartmann, já havia sido discutido por Schelling e por Schopenhauer, enquanto a atribuição da
degradação da linguagem ao desenvolvimento da consciência seria de autoria nietzscheana:
“Enquanto Hartmann afirma que o progresso da cultura corresponde ao declíneo das formas
lingüísticas antigas, Nietzsche atribui esse declíneo não apenas à cultura, mas ao
desenvolvimento do pensamento consciente” (p. 55).
Saltando para um texto de maturidade de Nietzsche, o aforismo 354 de A gaia ciência,
que faz parte do Livro V desta obra, adicionado em 1887, na sua segunda edição, retoma o
tema que nos interessa, e que havia sido abordado em 1869, desta vez aludindo apenas
sutilmente a Hartmann. O título do aforismo chama-se Do “gênio da espécie”, o que, após o
contato com a obra de Hartmann, a partir do texto nietzscheano de 1869, nos aparece como
uma alusão ao “gênio da humanidade”, que, correspondendo ao instinto de massa
(Masseninstinct), Hartmann afirma como o produtor da linguagem8. Mas vejamos como
Nietzsche desenvolve, no aforismo, a questão da relação entre a linguagem e a consciência, em
seus próprios termos, mas sem abandonar, a nosso ver, o núcleo da formulação de Hartmann.
Ao considerar como podemos prescindir da consciência, o que viria sendo possibilitado
pela fisiologia e pela zoologia (e há dois séculos por uma “premonitória suspeita de Leibniz” 9), e
ao considerar como ela é supérflua, Nietzsche questiona qual a sua utilidade. A resposta que
oferece é que sua utilidade reside na necessidade de comunicação 10, de modo que “um ser
solitário e predatório não necessitaria dela” 11. “O fato de nossas ações, pensamentos,
sentimentos, mesmo movimentos nos chegarem à consciência – ao menos parte deles –, é
conseqüência de uma terrível obrigação que por longuíssimo tempo governou o ser humano” 12,
afirma Nietzsche. Essa obrigação teria sido devida justamente ao fato de aquele ser, em termos
8
Hartmann, Philosophie des Unbewussten, p. 259.
Um pouco mais à frente, no aforismo 357, Nietzsche explica a antecipação de Leibniz: “[...] a incomparável
percepção de Leibniz, com a qual ele teve razão não só perante Descartes, mas ante todos os que haviam
filosofado até então – de que a consciência é tão-só um accidens da representação, não seu atributo necessário e
essencial; que, portanto, isso que denominamos consciência constitui apenas um estado de nosso mundo
espiritual e psíquico (talvez um estado doentio) e de modo algum ele próprio” (ibid., p. 254).
10
Nietzsche apresenta, assim, “a conjectura de que a consciência desenvolveu-se apenas sob a pressão da
necessidade de comunicação” (ibid., p. 248).
11
Nietzsche, ibid., p. 249.
12
Nietzsche, ibid., p. 249.
9
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
81
gerais, o animal mais fraco, e por isso precisar expressar suas necessidades aos seus
semelhantes – precisava de “consciência” (Bewusstsein) no sentido de que precisava “saber”
(wissen) aquilo a ser comunicado. Desse modo, a crítica de Nietzsche à consciência parece se
sustentar no fato de que esta se deve a uma fraqueza, que exige a comunicação.
No trecho a seguir, entretanto, é onde ele apresenta a formulação da relação entre a
linguagem e a consciência, depois de reafirmar a primazia dos pensamentos inconscientes e do
pouco valor do pensar consciente:
[...] o ser humano, como toda criatura viva, pensa continuamente, mas não o
sabe; o pensar que se torna consciente é apenas a parte menor, a mais
superficial, a pior, digamos: – pois apenas esse pensar consciente ocorre em
palavras, ou seja, em signos de comunicação, com o que se revela a origem da
própria consciência. Em suma, o desenvolvimento da linguagem e o
desenvolvimento da consciência (não da razão, mas apenas do tomarconsciência-de-si da razão) andam lado a lado.13
Ocorre aí, como se vê, a íntima associação da linguagem com a consciência, de modo
que o pensar consciente é apenas aquele que ocorre em palavras. Guardemos esta afirmação
para quando adentrarmos os textos de Freud.
No que toca às particularidades do pensamento de Nietzsche, porém, devemos observar
como esta afirmação, a associação do pensar consciente à linguagem, aos signos de
comunicação, o torna de pouco valor (o “mais superficial”, o “pior”). Portanto, se podemos
considerar que Nietzsche faz aqui uma crítica à consciência, ela parece pressupor uma crítica à
linguagem, ou ao menos à linguagem comunicativa, que teria sua razão de ser na fragilidade à
qual é abandonado o ser humano. Tal crítica à linguagem também parece estar no bojo de uma
crítica à moral, e a tudo que se refere à comunidade (Gemeinschaft), ao comum, ao vulgar, à
coletividade, ao rebanho (Herde), contrapondo a isso uma apologia da existência individual. E
desta, para Nietzsche, não faz parte a consciência, já que “apenas como animal social o homem
aprendeu a tomar consciência de si” 14.
13
14
Nietzsche, ibid., p. 249.
Nietzsche, ibid., p. 249.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
82
II
A concepção de Freud acerca da relação entre a linguagem e a consciência, que
apresenta semelhanças com a de Nietzsche-Hartmann, é formulada pela primeira vez no
Projeto de uma psicologia científica, de 1895, e retomada em termos mais estritamente
psicológicos em A interpretação dos sonhos (1900) e em Formulações sobre os dois princípios
do acontecer psíquico (1911). Em 1915, no artigo metapsicológico sobre o inconsciente, Freud
dá desenvolvimento posterior ao tema, que, por sua vez, é retomado em O eu e o isso (1923) e
no Esboço da psicanálise (1938). Tomaremos aqui dois destes textos, que em alguma medida
são representativos do pensamento de Freud em seu movimento.
No capítulo 7 de A interpretação dos sonhos, de 1900, Freud retoma a formulação
levada a cabo no Projeto de 1895, em termos mais estritamente psicológicos e articulada à
concepção de aparelho psíquico que vem a ser forjada. Apresentamos, em primeiro lugar, um
trecho que, por um lado, golpeia a consciência “todo-poderosa”, no mesmo tom de algumas
afirmações de Nietzsche15, e, por outro, apresenta-a na concepção distintiva freudiana, como
uma espécie de órgão sensorial: “Que papel resta em nosso esquema a essa consciência
outrora todo-poderosa e que tudo recobria? Nenhum outro senão o de um órgão sensorial
para a percepção de qualidades psíquicas”16. A linguagem entra em cena, então, na medida em
que é a associação lingüística que permite que os processos de pensamento pré-conscientes
tornem-se conscientes, ao ligarem-se a qualidades perceptíveis:
Com efeito, os processos de pensamento não possuem qualidade, salvo as
excitações de prazer e desprazer que os acompanham, que devem manter-se
refreadas como perturbação possível do pensar. Para fornecer-lhes uma
qualidade, são associados, no ser humano, com recordações de palavra, cujos
restos de qualidade bastam para atrair sobre si a atenção da consciência e para
mover ao pensar, a partir desta, um investimento móvel.17
No artigo metapsicológico O inconsciente, de 1915, há um desenvolvimento posterior do
tema que é formulado pela primeira vez, por Freud, no Projeto. Aqui, Freud lança mão dos
15
Cf. A gaia ciência, §11, p. 62-3, e §333, p. 221.
Freud, Obras completas, Amorrortu Editores, vol. 5, p. 603.
17
Freud, Obras completas, Amorrortu Editores, vol. 5, p. 604-5.
16
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
83
conceitos de representação de palavra (Wortvorstellung) e representação de objeto
(Objektvorstellung), além do conceito de representação de coisa (Sachvorstellung), sendo que
os dois primeiros são retomados de sua monografia sobre as afasias, de 1891. O conceito de
representação de objeto é ressignificado no texto de 1915, e aparece na frase imediatamente
anterior ao trecho que reproduzimos adiante, significando aqui a composição da representação
de palavra com a representação de coisa. Os três conceitos são articulados, como segue, para
formular a distinção entre uma representação consciente e uma inconsciente:
De repente, acreditamos saber agora onde reside a diferença entre uma
representação consciente e uma inconsciente. Elas não são, como
acreditávamos, diversas transcrições do mesmo conteúdo em lugares psíquicos
diferentes, nem diversos estados funcionais de investimento no mesmo lugar,
mas a representação consciente abarca a representação de coisa mais a
correspondente representação de palavra, e a inconsciente é apenas a
representação de coisa.18
Porém, não se deve deixar de notar, como Freud enuncia claramente mais adiante, que
sua concepção relega à linguagem – isto é, à ligação com as representações de palavra – apenas
o possibilitar que algo se torne consciente; logo, as representações de palavra são
compreendidas como características do sistema pré-consciente, e não da consciência: “Bem
compreendemos que a ligação com representações de palavra, todavia, não coincide com o
tornar-se consciente, mas apenas traz a possibilidade disso; portanto, não caracteriza outro
sistema senão o do Pcs”19. Desse modo, os conceitos de representação de coisa e
representação de palavra correspondem à distinção entre os sistemas inconsciente e préconsciente, que é como o problema propriamente se coloca no contexto da primeira tópica.
18
19
Freud, Obras completas, Amorrortu Editores, vol. 14, p. 198.
Freud, Obras completas, Amorrortu Editores, vol. 14, p. 199.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
84
III
A partir do que foi exposto dos dois autores, podemos reunir os aspectos que tendem a
uma concordância, e que atingem mesmo uma notável semelhança, assim como os pontos de
divergência, os contrapontos, quem sabe mesmo oposições.
Comecemos pelo aspecto semelhante no pensamento destes autores, que chama
inicialmente nossa atenção. Está já enunciado por Hartmann, e reproduzido por Nietzsche em
Da origem da linguagem, assim como já havia sido sugerido por Schelling: é apenas com a ajuda
da linguagem que o pensar pode tornar-se consciente. Nietzsche retoma a questão no aforismo
354 de A gaia ciência, formulando-a desta vez em seus próprios termos e tecendo articulações
outras. A concepção desenvolvida por Freud, por sua vez, é bastante semelhante, se pudermos
deixar de lado por ora o aparato teórico no qual se articula em cada momento, pois a idéia
básica que permanece em todas as suas formulações sobre o tema é justamente que o pensar
necessita da associação lingüística para tornar-se consciente. Comecemos, porém, a considerar
algumas diferenças.
Em primeiro lugar, é imprescindível notar que, para Freud, a consciência, antes de estar
relacionada à linguagem, possui uma relação íntima com a percepção, entendida como uma
espécie de órgão sensorial para a apreensão de qualidades psíquicas. Toda percepção, afirma
Freud desde o Projeto, excita a consciência, e é por isso que a linguagem se torna o meio
privilegiado para tornar os pensamentos conscientes – através de eliminações motoras, ela
proporciona novas percepções, logo consciência. Nietzsche não parece desenvolver idéia
semelhante em sua concepção de consciência.
Por outro lado, a particularidade que encontramos na concepção nietzscheana de
consciência é o decidido valor negativo que é a ela atribuído. “O desenvolvimento do pensar
consciente é prejudicial à linguagem”20, afirma ele no texto de 1869, imprimindo sua autoria a
partir do texto de Hartmann, mas também situando este desenvolvimento em um movimento
de decadência cultural. Alguns dos aforismos de A gaia ciência, também neste sentido,
apresentam a consciência como algo perigoso à vida, como algo fraco, sem vigor, e ainda
20
Nietzsche, Obras completas, vol. V, Buenos Aires, 1967, p. 424.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
85
equivocado, fonte de erros, de duvidoso valor epistêmico. Não nos parece, porém, que Freud
compartilhe tal negatividade relativa ao valor da consciência.
Segundo nos parece, Nietzsche e Freud estão juntos na tarefa de golpear a consciência,
de tirá-la do privilegiado trono em que vinha sendo concebida. Pois concebem que a
consciência não é, ao contrário do que muito se pensou, todo-poderosa no domínio do
psíquico; afirmam, pelo contrário, que seu poder é ínfimo, que ela de modo algum é senhora da
alma ou do corpo, ou do aparelho psíquico onde tem lugar. Contudo, a compreensão dos dois
autores somente se coaduna do ponto de vista descritivo. Se a tomamos em consideração de
um ponto de vista prescritivo ou valorativo, porém, teremos possivelmente uma oposição.
Enquanto a consciência, para Nietzsche, deveria talvez ser contra-recomendada, já que se
apresenta mesmo como perigo à vida, para Freud, do modo que concebe a terapêutica
psicanalítica, o tornar-se consciente é um devir efetivamente buscado, um tanto no sentido que
concebe o devir do isso que se torna eu.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ASSOUN, Paul-Laurent. Freud e Nietzsche. São Paulo: Brasiliense, 1989.
CAVALCANTI, Anna H. Símbolo e alegoria: a gênese da concepção de linguagem em Nietzsche.
São Paulo: Annablume, Fapesp; Rio de Janeiro: DAAD, 2005.
FREUD, Sigmund. La interpretación de los sueños. In: ______. Obras completas. vol. 4-5. 2ª ed.
Buenos Aires: Amorrortu editores, 1991 [1900]. p. 1-612.
FREUD, Sigmund. El inconciente. In: ______. Obras completas. vol. 14. 2ª ed. Buenos Aires:
Amorrortu editores, 1992 [1915]. p. 153-214.
HARTMANN, Eduard von. Philosophie des Unbewussten. Leipzig: Hermann Haacke, s/d [1869].
Disponível em: <http://gallica.bnf.fr>.
NIETZSCHE, Friedrich. Sobre el orígen del idioma. In: ______. Obras completas. vol. V. Buenos
Aires: Aguilar, 1967. p. 424-6.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
86
NIETZSCHE, Friedrich. A gaia ciência. Trad., notas e posfácio de Paulo César de Souza. São
Paulo: Companhia das Letras, 2001.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
87
O problema da reificação em História e Consciência de Classe de Georg Lukács
Bruno Moretti Falcão Mendes*
RESUMO
Neste presente trabalho, temos como intuito analisar a discussão filosófica promovida por
Lukács em História e Consciência de Classe, a partir do problema da reificação. Em História e
Consciência de Classe, Lukács busca encontrar a unidade sujeito-objeto idêntico no plano
material da história, ou seja, buscar o sujeito real e efetivo na história a partir dos
desdobramentos das “figuras” da consciência. Para tanto, a perspectiva da totalidade será
fundamental para esta articulação dialética entre ser e consciência. A partir da universalidade
da forma estrutural da mercadoria posta na dinâmica da objetividade reificada e a consequente
manifestação subjetiva dessa objetividade, há um ser social completamente distinto dos
períodos anteriores, que se constitui numa realidade em que o fenômeno da reificação atinge
as manifestações gerais do conjunto da sociedade. Sob estas condições que se dá a gênese da
filosofia moderna, segundo Lukács, sendo possível acompanhar os vários níveis de contradição
do ser em face da consciência. Reportaremo-nos mais especificamente à exposição de Lukács
acerca da trajetória da filosofia clássica alemã e a relação desta trajetória com a busca por uma
unidade dialética sujeito-objeto, ainda que, no âmbito da filosofia clássica alemã, tal unidade só
possa ser levada a cabo no nível abstrato, filosoficamente, através dos paroxismos que
circunscrevem as oposições mais fundamentais da reflexão filosófica; situação esta descrita na
trajetória que será representada pelas figuras das antinomias. Neste registro, a referência à
universalidade no plano de ser e do pensar pode ser definida como uma tentativa em conciliar
a universalidade da liberdade subjetiva (e interior) com o substrato material (o dado) do mundo
objetivo, constituindo os fundamentos do método dialético.
*
Aluno do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de São Carlos.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
88
1.1 A Wissenchaft: Lukács como herdeiro da filosofia clássica alemã.
Ao nos atermos ao problema da reificação que é exposto e desenvolvido por Lukács com
grande originalidade em HCC, (exposição esta que influenciará posteriormente toda a produção
do marxismo ocidental) entendemos esse fenômeno social como um produto social dos
homens, como objetividade específica na forma de uma segunda natureza. A seguinte epígrafe
utilizada por Lukács, “ser radical é tomar as coisas pela raiz. Ora, para o homem, a raiz é o
próprio homem” (MARX apud LUKÁCS, 1974, p.97), presente no capítulo central de HCC – A
Reificação e a Consciência do Proletariado – traz uma das questões centrais que serão
analisadas neste presente trabalho; a preocupação de Lukács em buscar no plano efetivo da
história a unidade dialética entre sujeito e objeto, ou como a partir do caráter universal da
mercadoria posta na dinâmica da objetividade reificada e a consequente manifestação
subjetivada dessa objetividade, seria possível os vários níveis de articulação entre o
pensamento e o ser (lembrando das diferenças das formas e condições desse ser social em
relação a outros momentos da história, fato que circunscreve a gênese da própria filosofia
moderna).
A busca pela constituição de um sujeito concreto na história a partir das figuras da
consciência (e nesse ponto muito importância terá os “paroxismos” levados a cabo pela
filosofia clássica alemã, nas relações entre o sujeito e objeto e que constituirá o fundamento
para o método dialético, ainda que abstratamente, no nível da consciência) faz necessária a
perspectiva da totalidade para articular dialeticamente ser e consciência. A teorização filosófica
a que Lukács se propõe está referida a uma práxis relativa a um nível específico da formação
social e histórica, a da universalização da forma social da mercadoria no capitalismo moderno.
Nesta perspectiva em torno de uma dialética sujeito-objeto idênticos, que consideramos
estar presente nas exposições centrais de HCC, “teoria e pratica participam do mesmo processo
de constituição da realidade [Wirklichkeit]” (MAAR, 1988, p.206) e não constituem uma
dualidade instransponível no sentido de uma teoria fechada em si mesma como simples
proposição teórica formal, sem vínculo com o substrato material da realidade específica
determinada pelos próprios sujeitos que a constituem. Assim, a reflexão teórica não estaria
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
89
fora dos antagonismos econômicos na constituição e reprodução da realidade material
estabelecida através das classes sociais.
A estes aspectos até aqui salientados equivale dizer que, ao analisar o conceito de
reificação [Verdinglichung] em HCC, Lukács projeta uma das questões fundamentais da obra, a
preocupação em torno dos problemas da consciência na realidade efetiva [Wirklichkeit] e a
busca por uma teoria que seja capaz de superar as aparências dos fenômenos sociais e tenha
como objeto a apreensão da essência desses fenômenos sociais. A essência que permeia todas
as relações entre os homens estaria obliterada na forma mercadoria.
A centralidade da mercadoria na análise do fenômeno da reificação, questão que será
analisada neste trabalho em um momento posterior deste respectivo capítulo, confirma a
vinculação desse pressuposto teórico de Lukács à prática cotidiana concreta, a atividade
sensível dos homens.
As práticas cotidianas concretas seriam afetadas pela forma estrutural da mercadoria,
que no atual estágio do modo de produção capitalista, tornara-se generalizável para todas as
esferas da sociedade, afetando as formas de manifestações sociais objetivas e as consequentes
formas subjetivas, ou seja, como e “em que medida o tráfico mercantil e as suas consequencias
estruturais são capazes de influenciar toda a vida, exterior como interior, da sociedade.”
(LUKÁCS, 1974, p.98)1. Estaria aqui presente a originalidade da proposta lukacsiana, conferindo
um vínculo dialético entre teoria e prática, na medida em que, longe do formalismo
fragmentário das teorias que representam as ciências particulares, a teoria como investigação
criteriosa da sociedade moderna deveria comportar a perspectiva da totalidade.
A função – “teórica” – da teoria, diz Lukács, é o conhecimento de si da
realidade [Wirklichkeit], aplicada por si, a partir de critérios imanentes, para si:
o “desvendamento” para si das conexões internas, essenciais, que
caracterizam a realidade em seu devir. Esta “imanência do critério” é apenas
uma das características da imanência na totalidade, cuja perspectiva significa o
predomínio do todo sobre as partes, ou seja, a não exclusão de qualquer parte
1
Do mesmo modo que Lukács analisa as formas do ser reificado, em sua objetividade, na 1º parte do capítulo 4 da
obra (O fenômeno da reificação), também analisa as formas do pensar reificado, presente na 2º parte do capítulo
4 (As antinomias do pensamento burguês). O trecho a seguir já antecipa essa proposta dialética do autor. “A
questão da extensão do tráfico mercantil como forma dominante das trocas orgânicas numa sociedade não pode
portanto ser abordada na esteira dos hábitos modernos de pensamento, já reificados sob a influência da forma
mercantil dominante, como mera questão, quantitativa”. (LUKÁCS, 1974, p.98).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
90
em relação ao todo e á sua abrangência crítica. (MAAR, 1988, p.213, grifo do
autor).
A associação do conceito de reificação a uma teoria como conhecimento de si da
realidade exige alguns comentários acerca do legado da filosofia clássica alemã, mais
notadamente a noção de Wissenchaft, e a apropriação desta tradição por Lukács. Lukács busca
recuperar, a partir da proposta dialética hegeliana, a noção de uma teoria que estaria vinculada
à prática, ou seja, a proposta de Ciência como Sistema, em que a ideia de sujeito está integrada
no objeto, seja este objeto a cultura, as instituições, o trabalho, etc, como figuras do Saber
mesmo.
A interação da subjetividade da consciência com o ser (o objeto) em níveis de fluidifição
constantes, faz de Hegel o ponto máximo no projeto metodológico da filosofia clássica alemã
no que concerne ao amadurecimento das relações dialéticas entre sujeito e objeto. Nesse nível,
seria possível “acompanhar” a exteriorização da liberdade subjetiva da consciência em relação
ao objeto, procurando tornar essa liberdade cada vez mais “substancializada”, e desse modo,
buscando escapar a um modelo de práxis fadado a interioridade. Nestes termos, podemos
enfatizar o longo caminho da consciência que experimenta a si própria no trajeto de sua
experiência perante o mundo objetivo, sobre o Espírito que reconhece a si mesmo como Saber
Absoluto, conforme expresso na Fenomenologia do Espírito.
Na perspectiva dialética de Hegel, o sujeito não é mais exterior ao objeto falado, que o
próprio sujeito experimenta ao longo do processo de constituição da realidade em-si e para-si,
ou seja, no que concerne a construção do objeto e da consciência de-si, pois isto implicaria
numa noção dualista entre ser e pensar. Nesta medida, a Fenomenologia seria a introdução e
acesso a noção de um Sistema como Ciência.
Julga-se Ciência pela necessidade de conceptualizar o objeto que se lhe defronta ao
longo da experiência da consciência, “como conceito [que é o] movimento do saber” (HEGEL,
2005) e tende a se efetivar no sentido pleno da razão. A questão posta é que há em Hegel uma
reflexidade total da Ciência sobre si própria, ou seja, reportando e tematizando a si própria,
com a significação da experiência da consciência naquilo que se refere ao caminho e
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
91
desenvolvimento que a consciência faz de si mesma, rompendo a dualidade entre sujeito e
objeto.
A própria exposição de Hegel no que diz respeito ao tratamento com o particular e sua
integração dentro do universal e a apreensão do falso não de forma unilateral, isolada, mas
como instante ainda abstrato de aparição da verdade expressam a relação dialética entre os
opostos na exposição filosófica de Hegel. A forma de exposição do Prefácio já assinala para essa
questão.
Com a mesma rigidez com que a opinião comum se prende à oposição entre o
verdadeiro e o falso, costuma também cobrar, ante um sistema filosófico dado,
uma atitude de aprovação ou rejeição. Acha que qualquer esclarecimento a
respeito do sistema só pode ser uma ou outra. Não concebe a diversidade dos
sistemas filosóficos como desenvolvimento progressivo da verdade, mas só vê
na diversidade a contradição [...] Mas a contradição de um sistema filosófico
não costuma conceber-se desse modo; além disso, a consciência que apreende
essa contradição não sabe geralmente libertá-la – ou mantê-la livre – de sua
unilateralidade; nem sabe reconhecer no que aparece sob a forma de luta e
contradição contra si mesmo, momentos mutuamente necessários. (ibid, 2005,
p.26).
A verdade não deve estar numa perspectiva dos juízos, numa acepção tradicional
segundo a lógica formal, que significaria apenas a adequação do intelecto à coisa (objeto) a ser
analisada. A adequação deve ser em relação ao seu conceito e essa adequação é relativa. Há
momentos de verdade relativa no desenvolvimento, assim como há momentos de falsidade
relativa. Assim, há a necessidade de compreensão do Todo, que não é um conjunto externo ao
processo e sim um Todo em um processo do devir, que traz os elementos negativos da
particularidade que vão entrando na constituição do Sistema. A idéia de uma “negação
determinada” é a de que o universal e o particular vão se condicionando dialeticamente, ou
seja, não há uma exclusão do particular como falsidade absoluta.
A essência para Hegel é a identidade da coisa consigo mesma; é aquilo que a coisa é emsi mesma. O problema seria tornar a essência como coisa última, como verdade pronta e
definitiva. A essência ainda é carente de efetividade no que diz respeito ao tratamento interior
especulativo do conteúdo do conceito. A crítica de Hegel ao formalismo, presente no Prefácio
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
92
da Fenomenologia do Espírito, traz questões importantes acerca da constituição do conteúdo
do conceito e a falsa efetividade presente no pensar meramente formal do entendimento.
A carência de efetividade através de uma universalidade abstrata estaria presente nas
formas de identidade absoluta do Eu, no Eu absoluto ou na ideia já pronta, conhecida e
classificada através de uma ideia absoluta. O formalismo que sustenta a diversidade da
diferença, para Hegel, apenas colocou a “mesma forma, única e imóvel [...] adaptada pelo
sujeito sabedor aos dados presentes” (HEGEL, 2005, p.33). Nesta forma de saber obtida como
“unidade tranquila” ou como Eu Absoluto, ocorre apenas a “repetição informe do idêntico [...]
aplicado de fora a materiais diversos, obtendo assim uma aparência tediosa de diversidade”.
(ibid, 2005, p.33).
Tal formalismo sustenta que essa monotonia e universalidade abstrata são o
absoluto; garante que o descontentamento com essa universalidade é
incapacidade de galgar o ponto de vista absoluto e de manter-se firme nele [...]
Aqui, considerar um ser-aí qualquer, como é no absoluto, não consiste em
outra coisa senão dizer que dele se falou como se fosse um certo algo; mas
que no absoluto, no A=A, não há nada disso, pois lá tudo é um coisa só. É
ingenuidade de quem está no vazio pôr esse saber único – de que tudo é igual
no absoluto – em oposição ao conhecimento diferenciador e pleno (ou
buscando a plenitude); ou então fazer de conta que seu absoluto é a noite em
que “todos os gatos são pardos”, como se costuma dizer. (ibid, 2005, pp.33-34,
grifo do autor).
No âmbito do formalismo, o sujeito, com a sua capacidade de ser o outro de si mesmo,
pode conhecer as questões metafísicas da substância. Um sujeito que, pela sua autorreflexão,
põe-se a si mesmo. Essa assertiva seria um desdobramento do princípio da identidade lógica,
que seria o primeiro princípio constitutivo do Eu.
A proposição especulativa e dialética de Hegel substitui a noção pronta e acabada de
substância, pois substância passa a ser concebida como processo de automediação e
autoconstituição do sujeito. Esta noção de substância não recebe conteúdo de modo exterior e
vai se constituindo em sua interação com o sujeito; sujeito este que parte do início,
indeterminado e vai se constituindo pelos seus predicados até ao nível do sujeito absoluto ou
substancial.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
93
Segundo minha concepção – que só deve ser justificada pela apresentação do
próprio sistema -, tudo decorre de entender e exprimir o verdadeiro não como
substância, mas também, precisamente, com sujeito. Ao mesmo tempo, devese observar que a substancialidade inclui em si não só o universal ou a
imediatez do saber mesmo, mas também aquela imediatez que é o ser, ou a
imediatez para o saber [...] Aliás, a substância viva é o ser, que na verdade é
sujeito, ou – o que significa o mesmo – que é na verdade efetiva, mas só na
medida em que é o movimento do pôr-se-a-si-mesmo, ou mediação consigo
mesmo do tornar-se outro. (ibid, 2005, pp.34-35, grifo do autor).
Esta relação dialética do sujeito com o objeto pressupõe uma elaboração teórica mais
aprofundada, especulativa. Seria uma nova forma de tratar a imediatidade pura e simples que
aparece ao sujeito, já que o imediato deixa de ser apreendido de modo unilateral e arbitrário e
passa a haver um necessário processo de mediação e posteriormente um retorno ao imediato,
não como no primeiro momento, mas em uma nova figura que passa a comportar novos
elementos constitutivos.
Para o sujeito, estar em-si no seu Outro exige o reconhecimento no seu Outro, no
objeto. Esta relação com o Outro não é obtida com as disposições de uma unidade pronta e
tranquila sob a forma de uma idéia absoluta, como ocorre em Fichte, mas sim a partir do
caminho de automediação e efetivação da consciência, que realiza-se em processo no seu
Outro e retorna a si mesmo, culminando na reflexão de si mesmo como consciência-de-si.
Como sujeito, é a negatividade pura e simples, e justamente por isso é o
fracionamento do simples ou a duplicação do oponente, que é de novo a
negação dessa diversidade indiferente e de seu oposto. Só essa igualdade
reinstaurando-se, ou só a reflexão em si mesmo no seu ser-Outro, é que são o
verdadeiro; e não uma unidade originária enquanto tal, ou uma unidade
imediata enquanto tal. O verdadeiro é o vir-a-ser de si mesmo, o círculo que
pressupõe seu fim como sua meta, que o tem como princípio, e que só é
efetivo mediante sua atualização e seu fim. (ibid, 2005, p.35, grifo do autor).
Como já frisado, a noção do Todo traz os elementos negativos da particularidade que
correspondem à necessidade de integrar a negatividade com a perspectiva no verdadeiro, na
medida em que há uma oposição relativa entre o verdadeiro e o falso, ou seja, os momentos
parciais e falsos, no nível mais abstrato do conceito, só podem ser apreendidos como
momentos do Todo. Na perspectiva do processo de negação determinada, o que resulta
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
94
depende do que foi negado, ou seja, o negado possui determinidade no processo. Aqui nos
referimos ao importante conceito de Aufhebung, que significa supressão ou suprassunção e
compreende três momentos constitutivos; o de supressão, o de conservação e o de superação
ou elevar-se a um estágio ou figura mais elevada.
As considerações até aqui desenvolvidas, ao nosso entender, são necessárias para a
compreensão da tradição dialética em HCC de Lukács ao ser destacado o vínculo dialético entre
sujeito e objeto. Nesta medida, se em Hegel a verdade se situa não apenas no âmbito fechado
da substância, do objeto, mas também do sujeito, tal assertiva ainda se dá no nível de uma
sistematização idealista em que a efetividade se dá no tratamento interior e especulativo do
conceito.
Em Lukács, a perspectiva de uma dialética sujeito e objeto é trazida para um plano
materialista e histórico, tendo como respaldo a teoria do fetichismo da mercadoria de Marx, na
medida em que o aspecto da mercadoria é entendido como forma social generalizável do ser.
Nestes termos, a perspectiva dialética da totalidade “promove uma refundação dialética da
crítica marxiana, procurando apreender o capitalismo como uma totalização objetiva, como
uma reconstrução que abrange [...] as formas da consciência em sua objetividade, como cultura
e ciência”. (MAAR, 2000, p.123). Passemos então às questões concernentes a perspectiva
dialética em HCC.
1.2 A questão do método: A perspectiva dialética em História e Consciência de Classe.
O método dialético é essencialmente vinculado à prática, “pois a transformação da
realidade constitui o problema central” (LUKÁCS, 1974, p.18). Estaria em questão novamente o
vínculo entre a teoria e a prática, essência mesma do método dialético. A teoria se torna
veículo da transformação material da realidade não apenas ao se apoderar das “massas”, pois
este fato por si só poderia indicar que, movida por interesses distintos as classes agiriam com
finalidades distintas através de um voluntarismo contingente e abstrato.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
95
Em HCC, teoria e prática estão vinculadas na medida em que são constituintes do
mesmo processo de produção da realidade; a teoria não seria uma reflexão externa à realidade
mas constitui de modo imanente a própria realidade, é expressão pensada do próprio processo
da realidade. Assim, “a teoria permite ‘prever’ historicamente, porque pode orientar a ação
pela formação dos agentes da mesma” (MAAR, 1988, 206), já “a prática intervém na
determinação da teoria, recheando historicamente seus conceitos, considerando-os como
‘categorias do ser’ (ibid, 1988, 206).
Tais momentos e determinações, o vínculo necessário entre sujeito e objeto, unidade
entre teoria e prática e as transformações históricas do substrato material das categorias como
fundamento da sua modificação no pensamento é que fazem da “dialéctica materialista [...]
uma dialéctica revolucionária” (LUKÁCS, 1974, p.16) a partir de uma teoria viva, prática. Assim,
“a revolução na forma do pensamento é tomada como elemento real do processo social real”.
(KORSCH, 2008, p.29).
Insistimos neste quadro de articulação entre o ser e a consciência, ou em outros termos,
entre a consciência e a realidade (de suma importância para a compreensão da questão do
método em HCC) como condição necessária para tornar possível a unidade entre teoria e a
prática. As questões que envolvem a formação da consciência já aparecem em O que é
marxismo ortodoxo, no 1º capítulo de HCC, pois a tomada de consciência implica num
momento fundamental e determinante do processo histórico enquanto processo em
desenvolvimento, como devir.
Mas a questão a ser traçada aqui é como Lukács recupera a fecundidade da dialética
hegeliana. A relação dialética entre sujeito e o objeto, exposta por Lukács inicialmente nas
discussões acerca da “questão do método”, retoma novamente a questão de Hegel de não
tratar a verdade do objeto apenas como substância, mas também como sujeito. A ideia de um
sujeito não apenas como produtor da realidade, mas também como produto da mesma sugere
o caminho traçado por Lukács, ou seja, a ideia de um sujeito integrado na noção de objeto.
Estes pressupostos indicam a radicalidade do método dialético naquilo que diz respeito mais
precisamente a posição do método, do movimento do pensar em face da realidade material
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
96
subjacente à esfera prática dos homens, pois “para o método dialéctico, a transformação da
realidade constitui o problema central”. (LUKÁCS, 1974, p.18).
Mas não seria possível a transformação da realidade a partir de ações práticas imediatas
e contingentes, segundo a pura vontade dos agentes, tampouco a própria edificação da
realidade em pensamento. Trata-se de reproduzir em pensamento a própria realidade material,
do pensamento que tende a interferir na realidade material a partir de condições históricas
específicas.
Neste aspecto, Lukács ressalta o papel da consciência no processo histórico. As
condições de surgimento do proletariado implicam nas condições de tomada de consciência em
face de ordem existente na medida em que o conhecimento de si como classe na realidade
reificada corresponde ao conhecimento exato de toda a sociedade, ou quando “a consciência
exata da sociedade se torna, para uma classe, a condição imediata da sua auto-afirmação na
luta” (ibid, 1974, p.17). A teoria se traduz como o conhecimento de si na realidade e, para este
conhecimento, a classe habilitada a desvelar as formas fenomênicas 2 da realidade e romper
efetivamente com o véu da reificação só pode ser concebida como sujeito e objeto do processo
real. Sobre esta relação entre realidade e pensamento, Marx, retratando as condições
específicas do próprio processo histórico alemão, afirma:
Mesmo do ponto de vista histórico, a emancipação teórica possui uma
importância especificamente prática para a Alemanha. As revoluções precisam
de um elemento passivo, de uma base material. A teoria só se realiza num
povo na medida em que é a realização das suas necessidades. Não basta que o
pensamento procure realizar-se; a realidade deve igualmente compelir ao
pensamento. (2005, p.152, grifo do autor).
Lukács salienta, em O que é Marxismo Ortodoxo, o problema central da teoria exposta a
partir de uma perspectiva dialética e revolucionária, a transformação material da realidade.
Neste sentido, Lukács critica até mesmo a conceptualização científica do método dialético
presente em um autor consagrado como Engels. Engels destacara a necessária superação da
2
Sobre a questão das formas fenomênicas, “o complexo dos fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a
atmosfera comum da vida humana, que, com a sua regularidade, imediatismo e evidência, penetram na
consciência dos indivíduos agentes, assumindo um aspecto independente e natural, constitui o mundo da
pseudoconcreticidade. (KOSIK, 1969, p.11, grifo do autor).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
97
rigidez dos conceitos e dos objetos que lhe correspondem como condição para a passagem
fluida de uma determinação para outra, como processo em devir caracterizado pela passagem
de um estágio a outro, em níveis de determinação, substituindo a unilateralidade causal e
contingente pela ação recíproca.
Mas o aspecto essencial dessa forma de ação recíproca teria passado despercebido por
Engels - “a relação dialéctica entre sujeito e objecto no processo da história” (LUKÁCS, 1974,
p.17) - aspecto sem o qual o método dialético perderia o seu caráter prático, de transformação
da realidade, reduzindo-se a um aspecto “puramente contemplativo” (1974).
1.3 O problema da reificação em HCC.
1.3.1 O fenômeno da reificação e a consciência reificada
A já mencionada epígrafe que inicia o capítulo central de HCC, Lukács se utiliza de um
trecho da Crítica da Filosofia do direito de Hegel, de Marx, que diz que “ser radical é agarrar as
coisas pela raiz. Mas, para o homem, a raiz é o próprio homem”. (2005, p.151), o que filia
Lukács ao “radicalismo” existente na tradição da teoria alemã, ou seja, confirma o vínculo da
teoria desenvolvida em HCC com a esfera prática, na medida em que o homem deve ser
compreendido como produto do próprio homem. Mas este homem é o homem alienado,
despojado de si mesmo.
O conteúdo interno das formas sociais, porém, só se revelará em sua concretude, como
realidade efetiva [Wirklichkeit], no âmbito de uma perspectiva da totalidade. Totalidade não
apenas como objeto, mas o próprio sujeito como totalidade, conduzindo a teoria para uma
perspectiva de classe, já que a noção do indivíduo não conduziria a nenhuma totalidade. A raiz
do homem, a essência desvelada por detrás das formas sociais, só pode ser compreendida e
solucionada na perspectiva de classe.
A “raiz” do homem se apresenta na própria produção da realidade, nas formas sociais
reificadas. Assim, a reificação se manifesta como um produto social dos homens, como uma
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
98
objetividade específica na forma de uma segunda natureza. A centralidade na análise da forma
mercadoria visa apreender, partindo da teoria do fetichismo da mercadoria de Marx, as formas
de objetividade específicas e as correspondentes formas de pensar.
Tendo em vista os pontos acima, a teoria da reificação que foi apresentada por Lukács
em HCC contribuiria para “descortinar” o véu da reificação, desvelar as formas aparentes e
imediatas provocadas pelos fenômenos sociais reificados; fenômenos estes que seriam
traduzidos na consciência a partir das categorias econômicas reificadas.
Lukács atenta, na análise da reificação, para o aspecto estrutural da mercadoria, já que
nessa estrutura estaria a forma social ocultada pelas categorias econômicas reificadas. Ao
tomar a centralidade da mercadoria como um ponto de partida de análise e para onde
convergem os problemas mais imediatos da consciência no período específico do capitalismo
moderno, Lukács, seguindo o modo como as categorias econômicas são tratadas por Marx 3,
não toma “o problema da economia como um problema particular” ou “[...] como problema
central da economia tomada como uma ciência particular, mas como [...] problema estrutural
da sociedade capitalista” (LUKÁCS, 1974, p.97) que se irradiaria nas manifestações vitais dessa
sociedade.
A mercadoria é entendida por Lukács como a “categoria universal do ser social”
(LUKÁCS, 1974, p.100), visto que só assim “a mercadoria pode ser compreendida na sua
essência autêntica” (ibid, 1974, p.100), ou seja, torna-se necessário a perspectiva da totalidade
como forma de suplantar a imediatidade aparente da mercadoria na forma histórico-concreta
do capitalismo. Essa totalidade atravessaria as várias dimensões da realidade humana, sejam
estas econômicas, políticas, filosóficas, artísticas, etc.
A perspectiva da totalidade em Lukács, na medida em que possibilita a compreensão
das formas aparentes dos fenômenos sociais, suscita as condições de uma teoria em que
fenômeno da realidade deixa de ser tratado como fato particular e isolado, como fato dado.
Seria possível reconciliar essência e aparência, suplantando a imediatidade dos fenômenos
sociais reificados.
3
E aqui entendemos principalmente o texto de O Capital.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
99
Para Lukács, além da compreensão das formas objetivas reificadas através da análise
das categorias econômicas e, consequentemente, do comportamento do sujeito que está
submetido a tais formas de objetividade, estaria também implícito, por estes dois primeiros
pressupostos, apontar as possibilidades para a superação dessa forma objetiva dada pela
estrutura mercantil.
Já muitas vezes ser realçou a essência da estrutura mercantil, que assenta no
facto de uma ligação, uma relação entre pessoas, tomar o carácter de uma
coisa, e ser, por isso, de uma “objectividade ilusória” que, pelo seu sistema de
leis próprio, aparentemente rigoroso, inteiramente fechado e racional,
dissimula todo e qualquer traço da sua essência fundamental: a relação entre
homens [...] Limitar-nos-emos a chamar a atenção – pressupondo as análises
econômicas de Marx – para as questões fundamentais que decorrem, por um
lado, do caráter fetichista da mercadoria como forma de objectividade, por
outro, do comportamento do sujeito que lhe está coordenado, questões cuja
compreensão basta para permitir uma visão clara dos problemas ideológicos
do capitalismo e do seu declínio. (ibid,1974, pp.97-98, grifo do autor).
Ao desenvolver o conceito de reificação, Lukács se utiliza da teoria do fetichismo da
mercadoria, principalmente a partir do capítulo inaugural de O Capital – A mercadoria –, além
de redimensionar o conceito de racionalização, tomado de Max Weber. Neste momento,
estaremos enfatizando a dimensão social presente na teoria da reificação exposta por Lukács,
na parte I do quarto capítulo – O fenômeno da reificação – para posteriormente, no momento
central desse capítulo, analisarmos a discussão filosófica traçado por Lukács em torno da
questão da teoria, ou seja, o debate de Lukács com alguns representantes da filosofia moderna,
em especial, a filosofia clássica alemã.
Compreender em que medida a universalidade da forma mercadoria em sua
objetividade é capaz de trazer conseqüências estruturais para toda a vida em sociedade, ou
seja, “como o tráfico mercantil e as suas conseqüências estruturais são capazes de influenciar
toda a vida, exterior como interior, da sociedade” (ibid, 1974, p.98, grifo do autor) seria, para
Lukács, não apenas compreender todo o metabolismo social dessa forma histórico-concreta do
capitalismo moderno, com uma forma de objetividade que se impõe a todo o conjunto social a
partir da estrutura mercantil, mas também apontar os limites dessa formação social específica
e as possibilidades de sua superação.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
100
O significado do conceito de reificação como uma relação social estabelecida entre
homens manifestando-se na forma de uma relação entre coisas, ou, como “as relações sociais
de produção assumem inevitavelmente a forma de coisas e não podem se expressar senão
através de coisas” (RUBIN, 1980, p.20) indica o caráter específico do fetichismo da mercadoria,
a singularidade histórica dessa formação social do capitalismo moderno, que a difere de todas
as épocas anteriores.
Como se sabe, o tráfico mercantil e as relações mercantis subjectivas e
objectivas que lhe correspondem já existiam em etapas muito primitivas da
evolução da sociedade. Mas trata-se aqui de saber em que medida o tráfico
mercantil e as suas conseqüências estruturais são capazes de influenciar toda a
vida, exterior como interior, da sociedade. A questão da extensão do tráfico
mercantil como forma dominante nas trocas orgânicas numa sociedade não
pode portanto ser abordada na esteira dos hábitos modernos de pensamento,
já reificados sob a influência da forma mercantil dominante, como mera
questão quantitativa. (ibid, 1974, p.98, grifo do autor).
Quando Lukács fala que todos os problemas “nesta etapa da evolução da sociedade”
(ibid, 1974, p.97) reportam para questões que só podem ser solucionadas a partir do “enigma
da estrutura da mercadoria” (ibid, 1974, p.94, grifo do autor), fica claro que o autor situa este
fenômeno social da reificação historicamente, e não como um fenômeno universal comum a
todos os períodos da humanidade.
Acessar a essa universalidade seria possível, como já foi falado em momento anterior, se
o problema da estrutura da mercadoria for tomado “como o problema central, estrutural da
sociedade em todas as suas manifestações vitais” (ibid, 1974, p.97). Só assim seria possível, a
partir da universalidade da forma da mercadoria em suas objetivações e das “formas
correspondentes de subjectividade” (ibid, 1974, p.97), apreender o universal em sua dimensão
concreta e efetiva, intrínseca ao processo de trabalho social.
Lukács afirma que a filosofia, como expressão do pensamento burguês, expõe os limites
da própria sociedade da qual ela deriva. O substrato material dos sistemas formais continuaria
sempre inviolável para o pensamento burguês, postos como dado. Seguindo a perspectiva de
HCC, caberia então analisar, no âmbito desse pensamento burguês, a partir do momento em
que o racionalismo se propõe à universalidade, mais especificamente no registro da trajetória
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
101
da filosofia clássica alemã, o esforço filosófico em busca da dialética sujeito-objeto idêntico ao
nível abstrato do pensamento. A partir desse registro, reportar as condições subjetivas do
passado e compreender porque a mesma não poderia externalizar-se efetivamente perante o
mundo objetivo indicaria os limites de um percurso teórico, através das antinomias. Será esse
o ponto a ser tratado no tópico a seguir.
1.4 As antinomias do pensamento burguês
O item que passa a ser tratado em questão – As antinomias do Pensamento Burguês –
remeta à exposição filosófica do marxismo desenvolvida por Lukács e como seria possível
encontrar no trajeto da filosofia clássica alemã a unidade dialética sujeito-objeto. Como pensar
a conciliação da universalidade da liberdade (subjetiva) exteriorizando-se com mundo objetivo,
ao substrato material real, tornando essa liberdade “substancialializada” e escapando a mera
contemplação em relação ao devir real deve ser a premissa que norteará a análise desse item.
A universalidade do racionalismo moderno (burguês) teria como superar o nível abstrato do
puro pensar e traduzir as questões relativas ao sujeito e ao objeto para o plano materialista da
história?
A partir dos caminhos e desdobramentos que se abrem ao longo da exposição, dos
limites e contradições do próprio ser em face da consciência, esta leitura filosófica de Lukács
pode ser considerada uma “história da filosofia sob uma perspectiva marxista”, ou então, uma
interpretação filosófica do marxismo. Também seria interessante retomar a questão de que,
com a perspectiva da totalidade que abrange a unidade da obra, ser e consciência são
buscados por Lukács como uma unidade articulada dialeticamente, sem a primazia de uma
esfera sobre a outra.
Lukács inicia esse item afirmando que “a filosofia moderna nasceu da estrutura reificada
da consciência” (ibid, 1974, p.126). Esta estrutura que permite diferenciar qualitativamente os
problemas que permeiam essa filosofia das filosofias anteriores, pois por mais que algumas
filosofias tenham nascido dessa estrutura reificada, como a filosofia grega, “já que o fenômeno
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
102
da reificação também desempenhou um certo papel na sociedade evoluída grega” (ibid, 1974,
p.126), apenas a filosofia moderna se manifesta como produto da universalidade da forma
mercadoria em sua objetividade, e consequentemente, apenas a filosofia moderna
corresponde a dimensão subjetiva dessa universalidade.
A filosofia crítica moderna corresponde a um ser social completamente diferente ao ser
social de períodos anteriores, ou seja, nasce há um tempo em que o problema da reificação
assume o caráter de universalidade nas manifestações do ser social. Há um “substrato
ontológico” presente na evolução da história da filosofia moderna.
Lukács assinala que o fundamento que estabelece a diferença entre as filosofias
anteriores da filosofia moderna pode ser claramente descrito na célebre expressão a seguir; a
“revolução copernicana que tem que ser operada no problema do conhecimento” (ibid, 1974,
pp.126-127), descrita no Prefácio à segunda edição da Crítica da Razão Pura, de Kant.
Até hoje admitia-se que o nosso conhecimento se devia regular pelos objetos;
porém, todas as tentativas para descobrir a priori, mediante conceitos, algo
que ampliasse o nosso conhecimento, malogravam-se com este pressuposto.
Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas
da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso
conhecimento. (KANT, 2001, p.46) 4
A questão fundamental a ser colocada pela filosofia moderna é a de não mais aceitar o
mundo como algo independente do sujeito do conhecimento, mas como produto desse próprio
sujeito, ou como afirma Lukács, numa “revolução que consiste em captar o conhecimento
racional como um produto do espírito” (LUKÁCS, 1974, p.127).
Essa revolução não seria promovida por Kant, que teria apenas lhe dado mais
radicalidade que os seus predecessores. Essa tendência em considerar o objeto do
conhecimento não mais como algo independente, mas como produto do espírito segue uma
liga reta, como afirma Lukács, “do cogito ergo sum de Descartes, passando por Hobbes,
Spinoza, Leibniz” (ibid, 1974, p.127) até ganhar, a partir do sistema da crítica de Kant,
radicalidade e nível especulativo nunca visto antes.
4
Ver também a tradução brasileira da Coleção OS Pensadores, 2005, p.39
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
103
Os métodos das matemáticas e da geometria, o método da construção, da
criação do objecto a partir das condições formais de uma objectividade em
geral, e, posteriormente, os métodos da física matemática, tornam-se assim o
guia e a medida da filosofia como conhecimento do mundo como totalidade.
(ibid, 1974, p.127).
Sobre este ponto, Kant estabelece que a matemática e a física seriam bons exemplos do
qual se poderia caminhar de modo seguro rumo a um conhecimento sintético a priori. A física e
a matemática poderiam, através de conceitos que já existem em nós e, portanto, sem precisar
acrescentar nada a coisa “senão o que fosse consequência necessária do que nela tinha posto,
de acordo com o conceito”. (KANT, 2001, p.43) determinar o seu objeto a priori. Kant faz uma
observação quanto a evolução mais lenta que teria tido a física, experimentando essa
“revolução copernicana” no pensar apenas um século e meio atrás. Mas não estenderemos
esse ponto e discutiremos brevemente o problema presente na crítica de Kant ao dogmatismo
metafísico; importante para compreender a relação da filosofia transcendental com o
fundamento antinômico do racionalismo burguês moderno, o problema da coisa-em-si e o seu
caráter impenetrável.
A metafísica não conseguira trilhar os caminhos seguros da ciência na medida em que,
como “conhecimento especulativo da razão completamente à parte e que se eleva acima das
lições da experiência, mediante simples conceitos” (ibid, 2001, pp.44-45) coloca a razão em
conflito consigo mesma, mesmo quando pretende dominar a priori “as leis que a mais comum
experiência confirma”. (ibid, 2001, p.45).
O “procedimento crítico” “não se opõe ao procedimento dogmático da razão no seu
conhecimento puro, enquanto ciência (pois esta é sempre dogmática, isto é, estritamente
demonstrativa, baseando-se em princípios a priori seguros)” (ibid, 2001, p.56, grifo do autor),
mas sim ao puro dogmatismo, que despreza qualquer procedimento crítico à capacidade da
própria razão pura. Kant afirma que a pretensão especulativa da antiga metafísica em conhecer
o mundo em si mesmo, portanto sem diferenciar fenômeno e coisa em si, se eleva a todo o
limite da experiência sensível, o que implicaria, nos termos do esquematismo transcendental
kantiano, em formas de conhecimento vazias de sentido.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
104
Neste sentido, da mesma forma que Kant indaga o dogmatismo da metafísica quanto à
ausência de um procedimento crítico em relação ao seu próprio limite, ou seja, como a mesma
chega a tais conteúdos “com um conhecimento puro por conceitos (conhecimento filosófico),
apoiado em princípios, como os que a razão desde há muito aplica, sem se informar como e
com que direito os alcançou” (ibid, 2001, p.56), Lukács estendera a todo o racionalismo
burguês, que ganha contornos significativos com a filosofia clássica alemã. O “procedimento
crítico” não conseguira superar a indiferença da forma em relação ao conteúdo, do mistério do
substrato material inerente ao conteúdo das formas do entendimento.
A questão de saber porque e com que direito o entendimento humano
apreende precisamente como sua própria essência tais sistemas de formas
(por oposição ao carácter “dado”, estranho, incognoscível dos conteúdos
destas formas) é questão que não se põe: aceita-se como evidência. Que tal
aceitação se exprima (em Berkeley ou Hume) pelo cepticismo, pela dúvida
relativamente à capacidade de o “nosso conhecimento atingir resultados
universalmente válido, ou, pelo contrário (em Spinoza ou Leibniz), por uma
confiança ilimitada na capacidade de estas formas captarem a essência
“verdadeira” de todas as coisas, é secundário. (LUKÁCS, 1974, pp.128-129).
Como Lukács salienta, não seria o intuito esboçar uma história da filosofia moderna,
mas “apenas descobrir, indicativamente, a ligação entre os problemas fundamentais desta
filosofia e o fundamento ontológico do qual se destacam as suas questões e ao qual elas se
esforçam por voltar, compreendendo-o”. (LUKÁCS, 1974, p.128, grifo do autor). Esse ponto
deve ser entendido como crucial para termos claro a intenção de Lukács em HCC; “buscar no
plano da consciência – no caso, em sua expressão filosófica – a formação do sujeito real na
história” (MAAR, 1993, p.190), ou seja, buscar a unidade sujeito-objeto idêntico.
A preocupação em identificar essa associação entre ser e consciência tem um fator
significativo na medida em que são apresentadas as condições específicas para o
desenvolvimento da filosofia moderna a partir do substrato ontológico. É a partir do que Lukács
identifica como o racionalismo burguês moderno, que a filosofia deve ser pensada como
expressão na consciência de um ser social completamente distinto de períodos anteriores.
Nasce em um momento em que as manifestações do ser social atingem todo o conjunto da
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
105
sociedade, objetiva e subjetivamente, a partir da já referida universalidade estrutural da forma
mercadoria.
Logicamente, não iremos discorrer sobre a história da filosofia que se verifica no
desenvolvimento do racionalismo burguês moderno, já que estaremos dando ênfase
especificamente ao trajeto da filosofia clássica alemã e a questão das antinomias e
principalmente, a relação desta questão com o propósito de Lukács; a busca por um sujeito
concreta na história a partir dos desdobramentos das figuras da consciência.
Já foi enfatizada a dupla dimensão a partir da estrutura universal da mercadoria; a
objetividade reificada (analisada no item “o fenômeno da reificação”) e a subjetivação dessa
objetividade reificada, no âmbito da consciência (analisada já ao final do item indicado acima,
no caso das ciências particulares como a economia e o direito e principalmente no item
seguinte, “as antinomias do pensamento burguês”). Assim, “há uma diferença entre estes dois
níveis de objetividade – um desnível temporal – no plano do ser, operado pela consciência”
(MAAR,1988, p.242). O ser não seria pensado por Lukács de modo estático e pronto, como no
método das ciências naturais, mas de modo dialético, em processo dinâmico de adequações
sucessivas com a consciência.
Esse processo, tendo o fundamento originário na produção da própria realidade
material dominada pela forma mercadoria, seria o “dinamismo ser-pensar” (MAAR, 1988,
p.242), na qual a filosofia clássica alemã, através das figuras representadas no problema das
antinomias, expressaria os momentos do ser e a consequente adequação do pensar.
Voltando brevemente ao início do item “as antinomias do pensamento burguês”, Lukács
discorre sobre a diferença histórica e qualitativa do racionalismo burguês moderno em relação
às outras formas anteriores de racionalismo, já que “não convém compreender o racionalismo
de modo abstracto e formal nem fazer dele, desse modo, um princípio supra-histórico”.
(LUKÁCS, 1974, p.129).
O racionalismo presente em diversas fases da história configurava-se mais como uma
ordenação de sistemas formais parciais, integrados sob um princípio calculador. Lukács afirma
que nesse caso, toda a irracionalidade do sistema – como no caso da ascese hindu – a
inacessibilidade do entendimento humano aos conteúdos das formas, não representa
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
106
problema metodológico, “uma vez que constitui um meio para atingir um fim não racional”
(ibid, 1974, p.130).
A situação é diferente no caso do racionalismo burguês moderno, que não trata mais de
promover um encadeamento entre sistemas formais já que
esse racionalismo moderno
“reivindica para si [...] ter descoberto o princípio de conexão entre todos os fenômenos que se
opõem à vida do homem na natureza e na sociedade” (ibid, 1974, p.129, grifo do autor). Como
decorrência de um novo ser social, há uma referência à universalidade também ao nível do
pensar. Assim, o racionalismo burguês moderno “reivindica representar o método universal
para o conhecimento do conjunto do ser” (ibid, 1974, p.130).
Sobre a independência dos conteúdos das formas em relação ao entendimento humano,
sobre o seu caráter impenetrável, Lukács afirma que “nesse caso, a questão da correlação
necessária com o princípio irracional assume uma importância decisiva, dissolvente e
desintegrante para todo o sistema”. (ibid, 1974, p.130). O problema da impenetrabilidade dos
conteúdos, do substrato último, pelos conceitos do entendimento aparece com clareza no
conceito kantiano de coisa em si.
O projeto metodológico que será desenvolvido na filosofia a partir de Kant, e a presença
das antinomias, “representam a dissolução do projeto racionalista ao nível da construção de
sistemas contemplativos” (ARATO, 1972, p.48). Mas, naquilo que deve ter suma importância
nesse ponto, a atitude do sujeito perante o mundo, sua ação racional, “a renuncia do ideal de
sistematização não significa o fim da estância contemplativa em relação ao mundo”. (ibid, 1972,
p.48).
BIBLIOGRAFIA
ARATO, Andrew. Lukács´ Theory of Reification, Telos, 11, 1972, pp.25-66.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
107
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espírito. Tradução de Paulo Meneses; com
a colaboração de Karl-Heinz Efken e José Nogueira Machado. Petrópolis: Vozes: Bragança
Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2005.
KANT, Imannuel. Crítica da Razão Pura. Tradução de Manuel Pinto dos Santos Alexandre
Fradique Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.
KORSCH, Karl. Marxismo e Filosofia. Tradução de José Paulo Netto. Rio de Janeiro: Editora UFRJ,
2008.
KOSIK, Karel. Tradução de Célia Neves e Alderico Toríbio. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1969.
LUKÁCS, Georg. História e Consciência de Classe: estudos de dialética marxista. Lisboa:
Escorpião, 1974.
_____________. História e Consciência de Classe. Tradução de Rodnei Nascimento. São Paulo:
Martins Fontes, 2003.
MAAR, Wolfgang Leo. A Formação da Teoria em História e Consciência de Classe de Georg
Lukács. São Paulo, 1988. Tese defendida no Departamento de Filosofia da FFLCH-USP. São
Paulo, 1988.
______________. História e Consciência de Classe, setenta anos depois. In: Novos Estudos
Cebrap, 36, pp.179-194.
MARX, Karl. Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Tradução de Rubens Enderle. São Paulo:
Boitempo, 2005.
RUBIN, Isaak Illich. A Teoria Marxista do Valor. Tradução de José Bonifácio de S. Amaral Filho.
São Paulo: Brasiliense, 1980.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
108
A literatura, uma noção tardia:
reflexão sobre As palavras e as coisas de Michel Foucault
Caio Augusto T. Souto*
RESUMO
As palavras e as coisas (1966), assim como os demais ensaios de Foucault da época, afirmam
ser a literatura uma noção tardia. Embora textos muito antigos, como os atribuídos a Homero,
sejam considerados literatura, ela, enquanto noção, só encontrou seu lugar na modernidade,
numa data que Foucault não precisou exatamente, mas indicou as transformações gerais na
ordem do saber que a inauguraram, algo situado no limiar entre os séculos XVIII e XIX. A fim de
entender por que o autor pôde dizer ser a noção de literatura eminentemente moderna,
retomaremos a idéia de epistémê, central em As palavras e as coisas. Das três epistémês
analisadas naquele livro (a do Renascimento, a da Idade Clássica e a da Modernidade), apenas a
terceira pôde comportar a noção de literatura, embora seja aplicável, uma vez cunhada, a
textos muito mais antigos. Esta reflexão recai sobre quais são, em linhas gerais, as mudanças
profundas no saber ocidental que permitiram o “nascimento” ou a “emergência” dessa
especificidade discursiva à qual se passou a denominar como literatura, e por que não poderia
ter existido (enquanto função discursiva) em épocas precedentes.
PALAVRAS-CHAVE: Foucault, literatura, epistémê.
Os estudos literários de Michel Foucault não são algo marginal em seu pensamento, mas
estão inseridos perfeitamente dentre os principais objetivos da arqueologia do saber e mantém
relações com os diferentes objetos de pesquisa que se dedicou a estudar. Tanto em seus
ensaios e conferências, quanto em seus grandes livros da época (História da loucura, As
palavras e as coisas), importantes passagens são inteiramente consagradas a estudos literários,
sempre em articulação com os temas mais gerais que abordava. Neste breve ensaio,
*
Mestrando na UFSCar. Bolsista CAPES.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
109
tentaremos nos limitar a explorar o que o autor entende por literatura, tomando como
referencial seus textos da época, entre 1961-1966, cujas reflexões culminam no livro de 1966
As palavras e as coisas. Gostaríamos de tentar analisar a que domínio discursivo específico o
autor pôde chamar de literatura, buscando relacioná-la ao conceito de epistémê, largamente
explorado naquele livro. Para Foucault, a noção de literatura é eminentemente moderna,
embora possa ser reportada a textos muito antigos, como os de Homero ou Virgílio. Porém,
somente na contemporaneidade é que se os passou a nomear como pertencentes a essa
caracterização discursiva à qual se diz ser a literatura, em sentido estrito, apartada das outras
especificidades discursivas como a científica, a filosófica, a jornalística, a jurídica. O discurso
literário, tenha sido escrito na antiguidade, na idade média, no renascimento, na idade clássica
ou na atualidade, possui elementos comuns que permitem reconhecê-lo. E se há certa
insistência por parte de Foucault em abordá-la tantas vezes durante o período mencionado, é
porque seu caráter singular auxiliava ao seu projeto de delineamento das condições históricas a
priori de formação dos discursos numa dada sociedade em certo período de sua história.
Embora não lhe seja dedicado exclusivamente nenhum dos dez capítulos de As palavras
e as coisas, a temática da literatura permeia toda a extensão desse livro de 1966, com o qual
Foucault encerrou um longo ciclo de ensaios (mais de uma dezena). Já nas primeiras linhas, o
autor anuncia que o livro nascera de sua leitura de Borges, autor conhecido por sua criação
fictícia comumente atribuída ao gênero da literatura fantástica. O texto de Borges ali
comentado não é propriamente fictício: trata-se de um ensaio publicado no livro Outras
inquisições em que Borges compara as peripécias especulativas de John Wilkins (teólogo e
cientista inglês que viveu entre 1614 e 1672), numa tentativa de organizar o mundo em uma
tábua de categorias segundo um certo idioma analítico, às de outras tentativas classificatórias
igualmente “ambíguas”, “redundantes” e “deficientes” (BORGES, 2007, p. 124), como as de
uma certa enciclopédia chinesa ou do Instituto Bibliográfico de Bruxelas, absurdas se
comparadas ao sistema classificatório que o Ocidente atualmente conhece. Foucault utiliza esse
texto que evidencia o disparate criado pelo embate entre essas classificações, para nós
insólitas, das coisas e dos seres, com o nosso saber e a maneira própria como ele se articula,
classifica e dispõe as coisas e os seres. As palavras e as coisas diz desde o seu Prefácio que é
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
110
uma análise da ordem de nosso saber, saber esse que não permite que outras formas de
pensamento pousem nele suas raízes, e se lança a partir do primeiro capítulo à tentativa de
delimitação das regras de formação a priori desse saber.
O saber, segundo Foucault nesse livro, possui uma unidade de formação extensível a
todas as especificidades discursivas bem como aos seus diferentes objetos, unidade essa que é
mutável através da história (o a priori em Foucault não é transcendental, mas sim histórico),
passando por grandes transformações cuja arqueologia busca analisar. A essas unidades de
formação discursiva, Foucault chamou em As palavras e as coisas de epistémês. Tal noção diz
respeito a uma necessária ordem do saber. Como diz Roberto Machado em Ciência e saber,
trata-se de “um princípio de ordenação histórica dos saberes anterior à ordenação do discurso
estabelecida pelos critérios de cientificidade [...] a configuração, a disposição que o saber
assume em determinada época e que lhe confere uma positividade” (1981, pp. 148-149). Cada
epistémê não pode comportar em sua positividade e sob pena de recair em absurdo ou
disparate, outras formas, ou uma ordem diversa, de pensamento. Porém, e a elas Foucault se
dedicará longamente em seus estudos posteriores, há sempre possibilidades de pensamento (e
de conduta) que estão no limite de determinada epistémê e que apontam para o que lhe é
exterior, possibilidades de pensamento subversivas ou mesmo que fazem rir àquele que
percebe a mera impossibilidade de pensar de uma maneira outra numa dada epstémê. Para
Foucault, o texto de Borges aponta para tais limites, e o discurso literário tem como
prerrogativa justamente encetar esse pensamento-limite que provocaria uma espécie de
disparate frente à epistémê da qual ele fala.
Em As palavras e as coisas, Foucault alude a três configurações epistêmicas distintas que
se sucederam historicamente em nossa cultura, cada uma delas possuindo uma determinada
ordem cuja sucessão não se deu de maneira linear, mas, como diz o autor, “por uma erosão
que vem de fora” (reportando a que as modificações e rupturas entre uma epistémê e outra
não se devem nunca a uma precipitação interna à própria epistémê, como se ela tivesse vida
própria, mas corresponde a modificações externas, dados em outro plano que não apenas
discursivo): há uma configuração epistêmica relativa ao século XVI (Renascimento), outra
relativa aos séculos XVII e XVIII (idade clássica) e outra a partir de fins do século XVIII
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
111
(modernidade). É nesta última, que Foucault dirá ser ainda a nossa, que surgiu segundo o autor
a noção de literatura enquanto uma modalidade do discurso. Não que não houvesse literatura
anteriormente, mas ela só passou a existir enquanto função discursiva a partir de meados do
século XVIII, embora remete a textos muito antigos.
Passaremos a uma breve caracterização dos três períodos mencionados para ao fim
situar o surgimento da literatura.
O Renascimento, segundo As palavras e as coisas, presenciou um regime de signos que
operava uma “autonomização” da linguagem. A linguagem não remetia às coisas, pois era ela
própria, em seu ser bruto, um objeto de decifração; ela própria, de certa forma, uma coisa. A
linguagem era reconhecida como coisa a existir em uma espécie de materialidade própria,
comportando o caráter de sido criada por Deus, assim como todas as coisas do cosmo. A
palavra era texto primeiro e essencial que deveria ser decifrado por aquele que quisesse
compreender o mundo, não havendo diferença de natureza entre ela e as demais marcas do
universo. Nesse sentido, tudo possuía (ou poderia possuir) algum caráter de signo. Como diz
Foucault: “A verdade de todas essas marcas – quer atravessem a natureza, quer se alinhem nos
pergaminhos e nas bibliotecas – é em toda parte a mesma: tão arcaica quanto a instituição de
Deus” (2002, p. 47). Mas para que fosse descoberta a relação de significação entre o signo e o
que ele significava (relação essa incutida por Deus desde a origem) era necessário um terceiro
elemento, a conjuntura, o chamado tynchanon no estoicismo (“Desde o estoicismo”, diz
Foucault, “o regime de signos era ternário”). E o que permitia ver essa relação eram as
assinalações ou marcas (signatures), pelas quais era possível decifrar o significado de um signo.
A partir da conjuntura específica em que orbitava um signo, era possível ver nele as
assinalações que apontavam ao seu significado. O decifrador deveria dispor, para isso, de uma
certa capacidade adivinhatória. Daí pensadores como Paracelso e Crollius pertencerem
coerentemente à epistémê renascentista, pois fundem o saber erudito com a adivinhação
(Divinatio e Eruditio), a feitiçaria, a astrologia, a medicina. A linguagem discursiva possuía então
um caráter solene, pois caberia a ela, em sua materialidade primeira e essencial, “cerrada em si
mesma”, interpenetrar-se infinitamente com o mundo. Ao mesmo tempo em que as palavras
eram coisas a decifrar, todas as coisas passavam também por ser, de certa forma, linguagem.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
112
Não estava em jogo seu papel representativo, como seria para a gramática geral na idade
clássica. A linguagem valia por ter ela própria o estatuto de coisa e um valor em si mesma, os
quais comportavam relações com as outras coisas do mundo, tudo já bem arquitetado por Deus
desde o início: “As línguas”, escreve Foucault, “estão com o mundo numa relação mais de
analogia que de significação” (2002, p. 51).
Só na idade clássica, que Foucault situa entre meados do século XVII e do XVIII, com os
gramáticos de Port-Royal (Antoine Arnauld e Claude Lancelot que publicaram em 1660 a
Gramática Geral), é que a ligação entre significante e significado na linguagem passou a ser
meramente binária. Excluiu-se do regime de signos do Ocidente aquele terceiro elemento (o
tynchanon) que, segundo Foucault, fora essencial desde a antiguidade (desde o estoicismo) ao
nosso saber. Doravante, a palavra perderia seu estatuto material de coisa e passaria a tãosomente servir à representação das coisas, num papel de subserviência. A palavra seria
separada das coisas por uma cisão ontológica. Porém, diz Foucault, ela adquiriria igualmente
um novo poder. Pois caberia a ela, e somente a ela, a tarefa de representar o pensamento, à
custa de perder aquela materialidade bruta em prol de uma transparência absoluta.
Meramente significante, a linguagem na idade clássica comportava em seu bojo inclusive o que
indica que ela é uma representação. A isso Foucault chamou “a representação reduplicada”,
que redobra sobre o próprio signo, agora não mais uma coisa, a relação de representação que
ele encerra. Não era mais necessária a conjuntura para assinalar as possíveis relações de
analogia entre uma coisa e outra, ou entre elas e os signos, que afinal também pertenciam ao
reino das coisas. Significante e significado agora passam a se relacionar sem nenhuma figura
intermediária. Não será mais a adivinhação ou a magia que assegura a descoberta dessa relação
secreta. Doravante, o próprio signo, para ser signo, deve manifestar também sua relação de
significado e de representação: “A partir da idade clássica”, diz Foucault, “o signo é a
representatividade da representação enquanto ela é representável” (2002, p. 89, grifos do
autor).
Já na modernidade, o sistema de signos, que permanecerá com sua estrutura binária
essencialmente intocada, exigirá, no entanto, que uma figura exterior relacione o significante
ao seu significado, mas esse terceiro elemento é algo diverso do que fora o contexto
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
113
(tynchanon) até o Renascimento. É a época de uma grande transformação na epistémê
ocidental quando, com Kant, a razão se viu pela primeira vez, segundo Foucault, questionada
quanto aos seus limites representativos, constrita em seus limites, limites esses impostos pela
condição do homem e de sua finitude (não é nosso intuito explorar esse tema aqui). Cabe dizer
que essa grande reconfiguração da epistémê ocidental teve ecos em todo seu campo de
extensão. Quanto à linguagem e quanto ao regime dos signos, agora passou-se a reconhecer
que é o próprio homem quem criou as línguas, e não foi Deus quem as deu ao homem e que as
embaralhou para castigá-lo. A tarefa da divinatio permanece excluída do cenário do saber
ocidental, que contará agora, como método para a interpretação dos signos, de uma
hermenêutica. Não há mais signos desconhecidos que teriam sido espalhados pelo divino no
mundo, como no Renascimento. Todo signo, para ser signo, agora deve se submeter a um ato
de conhecimento, o que põe fim também à idade da representação, aquela em que o próprio
signo continha o índice da representatividade que fazia dele um signo. Com o advento da
hermenêutica, caberá ao sujeito tornar algo um signo e interpretá-lo, por um ato de
conhecimento que dá ao signo seu significado. Não, porém, à maneira renascentista quando
era preciso que as assinalações pelas quais as coisas eram marcadas permitissem uma analogia.
É o homem quem, por um ato de conhecimento, dá ao signo o que para o saber clássico era-lhe
intrínseco: o seu próprio estatuto de signo. Não será mais necessário que o signo traga em si a
duplicação da representação que ele encerra. Caberá ao sujeito por um ato cognitivo conferir
ao signo seu estatuto de signo, o que fará com base numa hermenêutica.
Em As palavras e as coisas Foucault situa o aparecimento do discurso literário na
modernidade, porém com um papel exatamente inverso aos demais discursos. É verdade que
nenhum discurso produzido numa época poderia fugir às regras de formação de sua epistémê.
Se um saber sobre a linguagem como a filologia, saber esse que a toma em sua autonomia (a
partir da análise da cultura que originou cada língua, a homologia entre estas últimas, a
sonoridade, a função da interlocução, a análise dos radicais, etc.), se tornou possível e mesmo
necessário na virada do século XVIII para o XIX (com Schlegel, Grimm, Bopp), é por conta de
uma mais profunda modificação no subsolo do saber, que fez com que cada objeto de saber
dispusesse de uma espécie singular de discurso (alguns deles com estatuto de ciência) que o
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
114
estudasse em sua autonomia. O saber sobre a linguagem, doravante a filologia, acompanhou
esse movimento: “A partir do século XIX”, escreve Foucault, “a linguagem se dobra sobre si
mesma, adquire sua espessura própria, desenvolve uma história, leis e uma objetividade que só
a ela pertencem” (2002, p. 409). É então que pôde surgir, inesperadamente, prossegue o autor,
um discurso oposto a esse que se estende por toda a ampla camada do saber moderno, o
contradiscurso da literatura.
O estatuto dado à literatura por Foucault em As palavras e as coisas é extremamente
privilegiado. Apenas o discurso literário pode marcar, por exemplo, a passagem entre uma
epistémê e outra. Foucault dá pelo menos dois exemplos da condição limite da literatura: Dom
Quixote de Cervantes e Justine e Juliette de Sade. No primeiro caso, trata-se de um texto
literário que marca a passagem entre a epistémê renascentista e a clássica. A primeira parte do
romance em que o protagonista quer se tornar um cavaleiro tal qual aqueles heróis de que os
textos que lê estão repletos, assimilando o que lê (que também possuíam no Renascimento o
estatuto de coisas) ao que vive. Já na segunda parte do romance, Dom Quixote se defronta com
o disparate causado entre o que ele lia e o que passava a viver, causando um efeito cômico
análogo ao causado pelo texto de Borges quando lido atualmente. Correlatamente, Justine
descreve minuciosamente as aventuras do desejo, mas o faz à maneira de uma afirmação da
condição representativa da linguagem, pois o desejo ali é submetido ao jogo da representação
de que a linguagem faz parte. Apenas com Juliette é que o desejo passa a resplandecer em sua
materialidade bruta, puramente desejo. Daí Foucault dizer que Justine é a última das obras
libertinas (uma noção clássica), e que Juliette é a primeira das obras modernas, pois põe em
jogo a noção de sexualidade. Eis a peculiaridade do texto literário segundo Foucault em As
palavras e as coisas: nos exemplos de Cervantes e de Sade, a literatura se encontra no limite
entre duas epistémês, marcando a passagem que se dará noutras esferas do saber. Por isso ela
ocupa um papel privilegiado em toda a arqueologia do saber de Michel Foucault. Mas ela só
pode passar a ser reconhecida estritamente como literatura, ou seja, como uma especificidade
discursiva, na modernidade.
E a literatura se encontra também no limite da experiência discursiva moderna, pois no
mesmo momento que o homem passa a existir como necessidade epistemológica, como o
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
115
senhor da linguagem, vemo-nos defrontados com essa outra linguagem que não remete ao
sujeito que a originou, pois só remete a seu próprio ser, à sua essencial solidão (referência a
Blanchot em “A solidão essencial” in O espaço literário). Blanchot, Bataille, entre outros,
interessam a Foucault por sua experiência de dessubjetivação, à qual a experiência literária
propicia. A literatura demonstra, antes de tudo, a falibilidade da relação entre o sujeito como
entidade ontologicamente imutável (que existe autônoma e anteriormente ao que ele funda) e
o objeto de sua criação. Encerramos com uma citação extraída de As palavras e as coisas que
resume o estatuto da palavra literária como invenção moderna, ainda que seja reportada a
textos muito antigos de nossa civilização, pelo que podemos dizer que se trata de uma invenção
tardia.
Finalmente, a última das compensações ao nivelamento da linguagem, a mais
importante, a mais inesperada também, é o aparecimento da literatura. [...] A
literatura é a contestação da filologia (de que é, no entanto, a figura gêmea):
ela reconduz a linguagem da gramática ao desnudado poder de falar, e lá
encontra o ser selvagem e imperioso das palavras. [...] torna-se pura e simples
manifestação de uma linguagem que só tem por lei afirmar [...] sua existência
abrupta. [...] No momento em que a linguagem, como palavra disseminada se
torna objeto de conhecimento, eis que reaparece sob uma modalidade
estritamente oposta: silenciosa, cautelosa deposição da palavra sobre a
brancura do papel, onde ela não pode ter nem sonoridade, nem interlocutor,
onde nada mais tem a dizer senão a si própria, nada mais a fazer senão cintilar
no esplendor do seu ser. (FOUCAULT, 2002, pp. 415-416).
BIBLIOGRAFIA
BORGES, J-L. Outras inquisições. Trad. Davi Arigucci. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
FOUCAULT, M. As palavras e as coisas. Trad. Salma Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes,
2002.
MACHADO, R. Ciência e saber: a trajetória da arqueologia de Foucault. Rio de Janeiro: Graal,
1981.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
116
Sartre e a consciência no processo da construção de si: o “Eu” como valor e
projeto
Carlos Eduardo de Moura *
RESUMO
O texto tem como objetivo mostrar a importância do pensamento de Sartre sobre as
significações em torno do conceito de sujeito, sobretudo no processo da construção de si. O
homem, livre criador de valores e significações, deverá superar a angústia e o desespero
inerentes às suas escolhas concretas: é a construção de seu projeto. O homem sartreano será
compreendido como fundamento (projeto) de si, como desejo e falta de plenitude. É deste
modo que o para-si (movimento, temporalização, processo de historialização) encontrará no
mundo a possibilidade da realização de seu projeto fundamental. Caracterizado como potência
de simbolização (linguagem, conhecimento), o sujeito terá na consciência (na relação consigo,
com o mundo e com o Outro) o projeto de fundamento de si. Por fim, procurar-se-á relacionar
conceitos morais em Sartre (autenticidade, inautenticidade, liberdade engajada, autonomia,
conversão, generosidade) com a construção de um “projeto consciente de si” como projeto
visando um fim: é o processo livre de formação da personalidade.
Para se compreender as reflexões em torno deste tema, será preciso ter como “pano de
fundo” três pressupostos fundamentais:
1º pressuposto) ao refletir-se sobre as questões em torno do conceito de “sujeito”,
tanto na dimensão individual (singular) quanto na dimensão social (coletiva), encontrar-se-á um
indivíduo diante do processo da construção de si, isto é, diante de um sujeito mergulhado no
mundo e assumindo responsabilidades: eis o homem enquanto fundamento de si, enquanto
projeto de si. Mas, o que seria, especificamente, “projeto de fundamento”? Seria o homem
*
Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
Bolsista CAPES. E-mail: [email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
117
estabelecendo-se como valor dentro de uma situação concreta no mundo, criando um sentido
de si a partir de suas relações com os objetos do mundo (com a matéria humanizada,
significada), com o Outro e consigo mesmo.
2º pressuposto) a consciência é livre, é movimento (é intencional, é criadora de sentido,
é abertura em direção ao ser, é desejo de ser, é falta de plenitude 1). Sendo assim, o
conhecimento, a linguagem, os símbolos, os signos, intrinsecamente ligados ao desejo de
construir um si (justamente pela falta de plenitude), caracterizam a relação da consciência com
o mundo enquanto uma relação existencial: é o para-si desejando a totalidade e o mundo.
3º pressuposto) a liberdade é acessível pelo engajamento do indivíduo no mundo; pelo
homem mergulhado na contingência, na finitude, na adversidade: é o homem em situação.
Portanto, é o seu ser-no-mundo que lhe possibilita o ato criativo.
Dados os pressupostos, propõe-se agora tomar como ponto de partida das reflexões em
torno do tema aqui proposto, a experiência do “Olhar”. Mas, por qual motivo? Ora, pelo fato
de que a experiência do encontro com o Outro se dá pelo Olhar (O ser e o nada, Terceira Parte:
o Para-Outro, item IV: o Olhar). No entanto, é preciso lembrar que jamais haverá, por esta
experiência do Olhar, uma fusão de consciências: não será possível experienciar a subjetividade
do outro do mesmo que ele a experimenta, do mesmo modo que ele a vivencia. No Olhar
(nesta experiência de um “ser-em-par-com-outro”) 2, o Outro é objeto real e fundamenta o
“ser-para-outro” 3 daquele que o olha: o “observador” não é mais o centro do universo, ele é,
agora, um “ser-olhado”. No Olhar, portanto, o sujeito experiencia sua “queda original” (a
passagem da soberania que era a experiência de ser um simples objeto para o Outro), de modo
que o “Eu” (o Ego, a psyché) e o mundo (os objetos, a matéria, o conhecimento, os conceitos, as
verdades, os valores, as normas) são também manipulados, utilizados e produzidos pelo Outro.
Dito isto, é possível afirmar que todo “conhecimento de si” é uma questão de ordem
1
A ausência de fundamento ou a gratuidade da consciência será compreendida por Sartre como falta (ver Caderno
XII, Diário de uma Guerra estranha). Essa falta existencial de ser é o reflexo da falta do Em-si e é essa falta (do Emsi) que possibilita a presença da consciência no mundo sob a forma do Para-si. A consciência é, enquanto desejo,
potência de simbolização para mostrar o mundo.
2
SARTRE, Jean-Paul. L'être et le néant: essai d'ontologie phénoménologique. France: Gallimard, 2001, p. 292.
3
Ibidem, p. 293.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
118
individual e coletiva: o sujeito individual (em sua percepção e em sua constituição de si) é
colocado em jogo. Os valores, os possíveis, a ação, a materialidade (a matéria humanizada)
esbarram na existência do Outro. O buscar um fundamento de si (o procurar constituir um
projeto de si) passará, necessariamente, pela tensão individual-coletivo. Mas, será exatamente
por esta tensão que o si se configurará como possibilidade de se instaurar uma “realidade
humana”. O sujeito (ator/agente) buscará um fundamento de si apenas enquanto um si-emvias-de-se-fazer: não haverá substancialidade ou conteúdo na consciência. “O Ego não está nem
formalmente, nem materialmente na consciência: ele está fora, no mundo; é um ser do mundo,
como o Ego do Outro.”
4
O si é projeto que se define e se fundamenta por seu fim (futuro,
possíveis; futuro/significação, passado/fundamento); ele não é o produto de uma interioridade,
ele não é sustentado por nenhuma substância e não possui qualquer conteúdo: o si é escolha.
Não há plenitude de ser, não há substância ou qualquer condição a priori que garanta a
instauração de uma “realidade humana” que suprima o desejo e a falta de ser (falta de
plenitude).
O si, enquanto Ego, Eu, psyché, é unidade transcendental dos estados e das ações
(sejam elas físicas ou psíquicas 5). O problema é quando o si, o Ego, o Eu, a psyché mascaram a
espontaneidade da consciência. O homem é livre (“não há diferença entre o ser do homem e
seu ‘ser livre’” 6), mas, o processo de individuação e de construção de si (a busca de
fundamento, o esboçar uma definição de si), somente é possível em situação: a escolha de ser
no mundo coincide com a descoberta do mundo. “Sem mundo não há ispseidade, não há
ninguém; sem a ipseidade, não há ninguém, não há mundo.” 7 O sujeito está sempre em vias de
se criar um si futuro em função dos possíveis que encontra no mundo que o rodeia: o si como
valor é procura (o valor como aquilo o que a consciência deseja ou uma falta que deve ser
preenchida).
Assim, o processo de fundamento de si se dá em situação, constituindo-se como um
4
SARTRE, Jean-Paul. La transcendance de L'Ego: Esquisse d'une description phénoménologique. Paris: VRIN, 2003.
p. 13.
5
Ibidem, p. 52.
6
SARTRE, Jean-Paul. L'être et le néant: essai d'ontologie phénoménologique.France: Gallimard, 2001, p. 60.
7
Ibidem, p. 141.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
119
perpétuo movimento de historialização, em que a criação de valores, de significações, de
sentidos, se configura como experiência angustiante da liberdade e ainda como experiência da
“queda original”: “a aparição, entre os objetos de meu universo, de um elemento de
desintegração desse universo, é aquilo o que eu chamo de aparição de um homem em meu
universo.” 8 O homem sartreano, por intermédio de uma consciência que não é substancial e
desprovida de estrutura, se insere no mundo através da vivência de três estruturas
fundamentais do ser: o Ser-em-si, o Ser-para-si e o Ser-para-outro. Tal vivência pode seguir-se
segundo uma postura autêntica ou por intermédio de uma estrutura de má-fé (inautêntica).
Nesta última, o sujeito procura constituir-se pela visão reflexiva de um si dotado de uma
natureza fixa, estável, segura e permanente sem que, no entanto, se perca a liberdade (postura
fadada ao fracasso!).
Mas o homem não pode atingir seu fim (tornar-se um Em-si) porque a consciência se
projeta sempre se lançando a um futuro, ela não pode tornar-se um dado estático, não pode
nunca coincidir consigo mesma. A consciência jamais poderá ser como uma mesa é uma mesa,
porque o sujeito tem sempre que enfrentar a angústia de sua liberdade e aceitar o fato de que
não pode se estabelecer no mundo definitivamente como esse tipo de pessoa (mal por
essência, justo por essência, generoso por essência). É assim que a ambição humana essencial é
criar um si semelhante aos outros objetos no mundo e permanecer, ao mesmo tempo, livre.
E o problema vai além, isto é, o fracasso também se dá ao procurar conceber o Outro
apenas como um objeto entre outros no mundo, negando-se uma das estruturas fundamentais
(uma estrutura ontológica) do ser: o ser-para-outro – um Outro que também olha, nomeia,
reflete e participa da construção do mundo. Mas, a consciência que o sujeito tem de si (e do
mundo) torna-se, indubitavelmente, objeto para outra consciência. A consciência é, enquanto
falta e desejo, potência de simbolização para mostrar o mundo. Mas isto não se realiza apenas
por um indivíduo, a potência “simbolizante” possui uma dimensão de alteridade que diz
respeito ao seu caráter não conclusivo. Isto significa que as coisas estão sob o olhar humano e
precisam ser decifradas; as coisas são humanas e portadoras de significações.
8
Ibidem, p. 294.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
120
O Para-si, portanto, é desejo de totalidade, desejo do mundo. É pela falta que ele se
lança em direção àquilo que lhe falta, em direção ao mundo. O mundo (Em-si) é sua
possibilidade e seu futuro. É na ausência de fundamento, na gratuidade, na faticidade, na falta
e no desejo de constituir-se como um em-si-para-si que é possível afirmar que “os valores
revelam a liberdade ao mesmo tempo em que eles a alienam”9. Ora, o processo da construção
de si deve passar pela dimensão da alteridade: o desejo de si, a “potência de simbolização”, a
falta, não são condições que pertencem apenas a um indivíduo, mas também aos Outros e será
na relação consciência/mundo que se produzirá conhecimento, linguagem, significações,
sentidos, valores, matéria humanizada, permitindo ao homem agir sobre o já criado: será neste
contexto que o sujeito buscará constituir o fundamento de si. Será por meio desta tensão
(indivíduo-coletivo) que se poderá falar de autenticidade, pois “Ser autêntico é realizar
plenamente seu ser-em-situação”
10
e toda situação implicará nesta relação tensional entre a
singularidade de um sujeito e sua relação com o universal.
Em O ser e o nada 11 Sartre nos mostra que a liberdade é ação e autonomia de escolha: é
a auto-criação do Para-si movendo-se no mundo e, ao mesmo tempo, transcendendo-o. A
liberdade do indivíduo apenas será acessível pelo engajamento de sua consciência no mundo e
toda ação, ao longo da construção de si, não encontrará nenhum princípio a priori que poderá
tirar-lhe a autonomia. O homem autêntico, portanto, será aquele que mergulhará na
contingência e na finitude e em seu ser-no-mundo e será a própria adversidade que lhe
proporcionará seu ato criativo. A angústia habita aquele que toma consciência de que é
necessário continuar a agir, mesmo que não conheça ou domine sempre as conseqüências de
suas ações. Mas é aqui que o sujeito constrói, ao contrário de um pessimismo ou de um mero
quietismo, uma “duração otimista” 12, colocando-o na dimensão da responsabilidade da criação
de sentido e afirmando a sua liberdade de criá-lo ou não.
Jean-Paul Sartre é acusado de pessimista quando insiste no capítulo Les relations
9
SARTRE, Jean-Paul. Cahiers pour une morale. Paris: Éditions Gallimard, 1983, p. 16.
SARTRE, Jean-Paul. Les Carnets de la Drôle de Guerre: Novembre 1939-Mars 1940. France: Gallimard, 1983, p.
72.
11
SARTRE, Jean-Paul. L'être et le néant: essai d'ontologie phénoménologique. France: Gallimard, 2001, pp. 528529.
12
SARTRE, Jean-Paul. L’existentialisme est un humanisme. Paris: Gallimard, 1996, p. 53.
10
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
121
concrètes avec autrui em L’être et le néant sobre a inevitabilidade do conflito nas relações,
acusam-no de uma ontologia negativa das relações interpessoais. Mas ele mesmo sugere, em
uma nota de rodapé bem instigante, que essas considerações não poderiam excluir a
possibilidade de uma moral da libertação e da salvação e que deveria ser alcançada em termos
de uma conversão radical a uma valorização da liberdade. 13 Pela conversão radical, o sujeito
abandona a idéia de que a liberdade substantiva é possível, conduzindo-o a renunciar a
manipulação, a supressão ou a degradação do Outro, já que ele passa a ter a consciência de que
o Outro jamais poderá contribuir para a substancialização de seu si. A conversão radical é
marcada pela valorização do processo de criação de valor, sempre renunciando a criar um si
substantivo e compreendendo que os valores são dados (transcendentes) que dependem da
subjetividade humana.
O sujeito não pode ser visto como sendo apenas um produto de forças passadas
(hereditariedade, condições naturais e culturais), mas sim um sujeito livre, capaz de criar
sentido e de resistir às mudanças ou mesmo permiti-las.
A história de uma vida, qualquer que seja, é a história de um fracasso. O
coeficiente de adversidade das coisas é tal que é preciso anos de paciência
para obter o mais ínfimo resultado. Ainda é preciso ‘obedecer a natureza para
comandá-la’, isto é, inserir minha ação nas malhas do determinismo.14
As questões em torno da experiência de si encontram respostas por meio de
interrogações que examinam o vivido em suas estruturas fundamentais, abrindo-se na
perspectiva concreta da vida do sujeito, à sua história, aos outros, às suas experiências vividas,
fazendo esse sujeito ser aquilo o que ele é: questionar o mundo, a consciência, as
determinações materiais e históricas da praxis, conduz o homem à compreensão da
subjetividade. Talvez estes sejam alguns dos caminhos possíveis para se compreender melhor
as contribuições de Sartre sobre as questões em torno do conceito de “sujeito” – na dimensão
individual e social – e no processo de formação da personalidade, temas essenciais ao
13
14
SARTRE, Jean-Paul. L’être et le néant: essai d’ontologie phénoménologique. Paris: Gallimard, 2001, p. 453.
Ibidem, p. 527.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
122
enriquecimento de numerosas disciplinas acadêmicas (antropologia, ciências sociais,
psicanálise, psicologia). O estudo é necessário, basta ter a coragem de “lançar os dados”!
BIBLIOGRAFIA
SARTRE, Jean-Paul. La transcendance de L'Ego: Esquisse d'une description phénoménologique.
Paris: VRIN, 2003.
___________________. L'être et le néant: essai d'ontologie phénoménologique. France:
Gallimard, 2001.
___________________. L’existentialisme est un humanisme. Paris: Gallimard, 1996.
___________________. Cahiers pour une morale. Paris: Éditions Gallimard, 1983.
___________________. Les Carnets de la Drôle de Guerre: Novembre 1939-Mars 1940. France:
Gallimard, 1983.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
123
Élan Vital e experiência mística: a intuição bergsoniana entre filosofia e
espiritualidade
Catarina Rochamonte*
RESUMO
Segundo Bergson, é possível uma dilatação, uma extensão, um alargamento ou
aprofundamento da percepção capaz de dotar a filosofia da precisão de que ela carece quando
permanece no domínio puramente conceitual. Tal possibilidade encontra seu fundamento na
tese bergsoniana da constituição do conhecimento por dissociação brusca ao invés de
associação de elementos simples. Essa tese, ao considerar que a percepção supera o estado
cerebral que corresponde à nossa representação, fundamenta a hipótese de uma percepção
mais ampla que aquela que se dá em função da nossa faculdade de agir; tal hipótese encontra
respaldo ainda na constatação da existência de homens “desprendidos”, nos quais a faculdade
de perceber, desvinculada da faculdade de agir, torna-se uma visão privilegiada das coisas,
visão esta que nos é apresentada nas obras de arte. Uma vez constatada a possibilidade de uma
percepção desvinculada da necessidade de ação, caberia à filosofia deslocar metodicamente a
nossa atenção para essa percepção mais completa da realidade. Ainda, dado que se
estabeleceu uma relação entre desinteresse e amplitude de percepção, caberia também ao
filósofo interpretar o significado metafísico da ação desinteressada, tão característica das almas
generosas e santas. A evolução seria vista então como um esforço de liberação que se realiza
no homem, sendo a alegria o sinal de que a energia espiritual que evolui encontrou sua
destinação. Distinta do prazer, trata-se da alegria presente em toda criação, cujo apogeu seria a
ação generosa das almas místicas por onde atravessaria sem obstáculos a impulsão vital
original sob a forma de amor. Os místicos seriam misteriosamente insuflados pelo mesmo élan
cujo desenvolvimento resulta no interminável espetáculo da evolução.
*
Aluna do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-mail:
[email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
124
INTRODUÇÃO
Ao apontar a “metafísica inconsciente” escondida por trás de teses supostamente
cientificas, Bergson pretende estabelecer um empirismo no qual a experiência seja interpretada
a partir de um modelo de inteligibilidade diferente daquele exigido pelo rigor matemático1. As
ciências nascentes tais como biologia, psicologia e sociologia poderiam oferecer esse novo
modelo desde que não buscassem reduzir o campo da experiência àquilo que é mensurável. A
precisão matemática, o modelo geométrico, o caráter mensurável da física e da química seriam
adequados ao conhecimento do sólido, do inerte, do inorgânico, não daquilo que muda, que
dura, que vive. A evolução da vida não poderia, portanto, ser interpretada através de uma
redução do vital ao material. A interioridade do vital conduz ao espiritual e é o espiritual – cuja
característica é não prestar-se a medidas – que ilumina o significado daquilo que vive.
Tanto a ciência quanto a metafísica deixaram escapar de suas investigações o tempo
real, i.e, a duração2. A ciência busca aquilo que é mensurável e aquilo que é mensurável
caracteriza-se justamente por não durar. No caso da metafísica, a perda da duração relaciona-se
à linguagem, pois esta, não encontrando meios de exprimir o tempo real, mescla-o ao espaço,
falando do movimento como uma série de posições e da mudança como de estados sucessivos.
Tal afastamento da duração ou mascaramento do tempo real deve-se a um condicionamento do
intelecto que, destinado à ação, busca exercê-la sobre pontos fixos. Não estaríamos, porém,
condenados a um distanciamento do tempo real, pois a duração que a ciência e a metafísica
eliminam, sentimo-la em nós. A restituição do movimento à sua mobilidade, da mudança à sua
1
Quanto mais a ciência se aproxima do vital, mais perde em objetividade e tem de perder, pois o vivo não se deixa
apreender pelo método objetivo. Cabe então à filosofia, com um novo método, evitar que a análise dos fatos
biológicos e psicológicos fique limitada à ciência positiva que busca no rigor matemático seu modelo. Iluminadas
pela abordagem filosófica, biologia e psicologia se acercariam do vital com mais propriedade, pois é justamente o
caráter psicológico da vida o que a intuição filosófica vem apontar. A ciência, que lida com a matéria espacializada,
toma-a por objeto tal como ela se nos apresenta já adaptada à nossa inteligência, mas, se a física toma por objeto
a matéria assim analisada em sua adaptação natural à inteligência, a metafísica pretendida por Bergson toma por
objeto o fluxo vital cuja interrupção se apresenta como matéria.
2
Devido a uma inclinação natural da inteligência humana, a história da filosofia caracterizou-se, segundo Bergson,
pela negação da duração concreta, ou seja, pela compreensão do Ser como algo imóvel, intemporal. Da mesma
forma a ciência, por uma espécie de metafísica inconsciente, reduziu a realidade àquilo que se repete, que pode
ser calculado ou que já estaria dado.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
125
fluidez, do tempo à sua duração remete-nos à interioridade ao mesmo tempo em que reabilita
a metafísica a partir da experiência interna da própria duração.
A reflexão de Bergson sobre a duração fê-lo erigir a intuição como método filosófico3,
mas, diferentemente da utilização do termo por outros filósofos, a intuição bergsoniana seria
uma reinserção no próprio tempo e não um salto para o eterno. Filósofos como, por exemplo,
Schelling e Schopenhauer, já haviam contraposto a intuição à inteligência, mas, aceitando o
pressuposto da idealidade do tempo, identificaram a superação da inteligência com a saída da
temporalidade. A tese de Bergson, porém, é que a inteligência não opera naturalmente sobre o
tempo real4, isto é, sobre a duração, mas que é capaz de fazê-lo através de um esforço que
reverte a sua inclinação natural. Esse esforço, contração ou tensão é o que Bergson chama de
intuição e define como consciência imediata do fluxo da vida interior, passível de ser prolongada
em intuição da consciência em geral por meio de uma “simpatia divinatória” com tudo o que
vive e dura. Tratar-se-ia, neste caso, de uma intuição do vital; recuperação, pela consciência, do
elã de vida que também está em nós. Esta analogia entre o sentimento de existência em nós e a
duração das coisas seria o limite da intuição filosófica que fundamenta a metafísica da vida
presente em Evolução criadora. Haveria, entretanto, uma intuição que a prolongaria, a
3
O método filosófico proposto por Bergson é caracterizado por um esforço de redirecionamento da inteligência
que, somente contrariando a sua tendência natural, é capaz de iluminar de algum modo o movimento próprio da
vida. A nova metafísica, fundada na intuição da duração, não seria uma sistematização da ciência, mas um
conhecimento complementar que dela difere tanto em seu método quanto no aspecto da realidade que toma por
objeto. A intuição seria o método da metafísica, enquanto o espírito (ou o que há de espiritual na matéria) seria
seu objeto. À ciência caberia a análise da matéria, por intermédio da inteligência. Ciência e metafísica seriam,
portanto, métodos diferentes, mas complementares e de igual valor, que consideram metades diferentes de uma
mesma realidade. A intuição, que é intuição da duração, teria uma certa prioridade ontológica, mas o caráter
originário e positivo da intuição, assim como o caráter secundário da inteligência não invalidam a relação de
complementaridade entre ambas. O êxito dessa relação, que equivale à relação entre metafísica e ciência,
depende de que cada uma se volte para o seu objeto próprio. Intuição seria, pois, pensamento da duração, do
tempo não espacializado, não figurado, não representado, não fragmentado, seria intuição do espiritual e o
espírito seria o objeto da metafísica.
4
O que Bergson se propõe a demonstrar é que a inteligência não nos põe naturalmente em contato com o tempo
real, mas apenas com um tempo espacializado, adequado ao nosso modo próprio de concebê-lo, com vistas à
ação. De acordo com isso, a preensão do “Ser” ou do “absoluto” seria antes a apreensão efetiva e desinteressada
do tempo concreto e não a suposta apreensão de uma eternidade atemporal. Haveria, então, a possibilidade de
uma experiência do absoluto, embora tal não se dê, como supuseram os pós-kantianos, através de uma intuição
atemporal, mas sim através da intuição própria da duração.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
126
experiência mística5.
Baseada em uma substituição do percepto pelo conceito, a filosofia, construída no
terreno da dialética, estaria fadada ao conflito entre sistemas, como já o diagnosticara Kant,
caso não pudesse, de alguma forma, remontar à percepção em um esforço de intuição. Segundo
Bergson, é possível uma dilatação, uma extensão, um alargamento ou aprofundamento da
percepção capaz de dotar a filosofia da precisão de que ela carece quando permanece no
domínio puramente conceitual. Tal possibilidade se efetivaria em homens “despreendidos”, nos
quais a faculdade de perceber, desvinculada da faculdade de agir, tornar-se-ia uma visão
privilegiada das coisas, visão esta que nos é apresentada nas obras de arte. Uma vez constatada
a possibilidade de uma percepção desvinculada da necessidade de ação, caberia à filosofia
deslocar metodicamente a nossa atenção para essa percepção mais completa da realidade.
Ainda, dado que se estabeleceu uma relação entre desinteresse e amplitude de percepção,
caberia também ao filósofo interpretar o significado metafísico da ação desinteressada, tão
característica das almas generosas e santas, auferindo assim um valor filosófico ao misticismo6.
Em A Evolução Criadora, Bergson (2008a) apresenta o alcance filosófico da intuição,
ancora a possibilidade desta forma de conhecimento na sua metafísica da vida7, mas se depara
5
“Até onde vai a intuição? Somente ela poderá dizê-lo.Ela retoma um fio. A ela compete ver se esse fio vai até o
céu ou estaciona em alguma distância da terra. No primeiro caso, a experiência metafísica se religará àquela dos
grandes místicos: De nossa parte, acreditamos constatar que a verdade está aí” (BERGSON. Ouevres – La pensée et
le mouvant, p.1292).
6
“Ou eu me engano muito, ou os filósofos serão levados a atribuir uma importância cada vez mais considerável
àquilo que os místicos escreveram ou, ao menos, ao que escreveram os maiores dentre eles, aqueles que tiveram
uma visão direta das coisas espirituais. […] sem um estudo aprofundado dos místicos, eu duvido que se possa dar
conta da significação de certas noções morais, por exemplo”. BERGSON, Carta à condessa Murat, 2 de setembro de
1916 em Correspondances, p.675, apud “Édition critique de Bergson sous la direction” de Frédéric Worms. In:
BERGSON, 2008b.
7
Torpor vegetativo, instinto e inteligência são as vias divergentes tomadas pelo élan vital no curso do seu
desenvolvimento. Não há uma hierarquia ascendente entre essas três manifestações da vida, mas uma diferença
de natureza, embora todas possam ser remetidas à fonte vital comum. Instinto e inteligência implicam-se
mutuamente, mas não se identificam nem se subordinam um ao outro. Trata-se, sobretudo de duas formas de
atividade psíquica ou, ainda, de duas espécies distintas de conhecimento. O conhecimento possibilitado pela
inteligência é exterior e vazio, mais pensado e consciente; o conhecimento instintivo é interior e pleno, mais
atuado e mais inconsciente. Embora inteligência e instinto sejam manifestações vitais, a inteligência, enquanto
instrumento de fabricação, tem preferencialmente por objeto o sólido inorganizado, o estável e imóvel, sendo
naturalmente incapaz de uma compreensão adequada da vida. O instinto, por sua vez, afina-se perfeitamente com
o vital e, tornado desinteressado e consciente de si mesmo (fenômeno chamado por Bergson de intuição), pode
nos revelar da vida aquilo que a inteligência inevitavelmente deixa escapar.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
127
também com os limites para a apreensão da duração real. A intuição pressupõe uma “simpatia”
que a maior parte da humanidade só é capaz de ter consigo mesma, permanecendo portanto
indireto o acesso à duração das coisas, dado apenas através de uma analogia. Uma experiência
direta da duração real pressuporia a possibilidade de simpatia com a totalidade do vivente. É
essa possibilidade que se viabilizaria na experiência mística, cujo critério distintivo não é nem
contemplação nem êxtase, mas um tipo de ação que visa a totalidade do vivente, a ação
generosa que caracteriza a moral aberta.
Pode-se dizer que, antes de focalizar seu interesse na mística, já havia, na obra de
Bergson, um espaço aberto para a significação dessa experiência. Para além dos falsos
problemas tradicionalmente enfrentados, o que a metafísica carecia era antes de uma
experiência imediata que os dissipasse. Ultrapassando a teoria e os limites de uma abordagem
externa ao objeto, a experiência mística se apresenta como a vivência interna de um contato;
mais precisamente, contato de um indivíduo com a força criadora da vida. O testemunho dos
místicos valeria assim como critério empírico para uma filosofia que não abandonou sua
pretensão metafísica, mas guardou sua dimensão existencial através da inserção na
temporalidade real, no devir, na evolução criadora. Essa coincidência com a criação equivaleria
nos místicos a um acompanhamento da força criadora através de uma sobrecarga na potência
de agir; ação essa caracterizada não pelo interesse individual, mas pelo desinteresse de si em
favor da humanidade, ação capaz de levar a solidariedade para além dos limites impostos pela
natureza8, o que caracterizaria, segundo Worms, a abertura como critério último do
misticismo9. Mais do que a experiência contemplativa e extática, o que marca as almas místicas
é a generosidade; a vontade de distribuir para a humanidade inteira o amor em cuja fonte
8
“[...] almas privilegiadas surgiram que sentiram-se aparentadas a todas as outras almas e que, ao invés de
permanecerem nos limites do grupo e de se limitarem à solidariedade estabelecida pela natureza se dirigiram à
humanidade em geral em um elã de amor.”(BERGSON, 2008b, p.97)
9
“[...] é o critério da abertura, isto é, de uma moral que se dirige à humanidade inteira e se opõe a todo
fechamento, que permanece determinante. O que seguirá não é, absolutamente, justificável ou pensável sem esse
critério. É ele que vai ancorar sempre o misticismo não somente no homem, mas na história, não somente na
experiência, mas na ação. […] É sempre seu alcance moral, sua abertura de princípio, que o define. Uma mística da
força da exclusão, da guerra, é impensável ou, antes, contraditória aqui.” (WORMS, 2010, p. 326-327).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
128
inesgotável ela soube se nutrir10.
DESENVOLVIMENTO
A vida mística ou a via mística seria aquela em que, através de um retorno à sua fonte,
através de um aprofundamento da própria humanidade, o homem descobre que o seu destino
é tornar-se mais que homem, é tornar-se como um deus. A experiência mística apresentar-se-ia
ao olhar de Bergson como “função essencial do universo11”, zênite da evolução criadora, ponto
culminante dos esforços do espírito, destinação maior do homem que logrou mais nessa vida do
que sobreviver. A evolução seria vista então como um esforço de liberação que se realiza no
homem, sendo a alegria o sinal de que a energia espiritual que evolui encontrou sua
destinação12. Distinta do prazer, trata-se da alegria presente em toda criação, cujo apogeu é a
ação generosa das almas místicas por onde atravessa sem obstáculos a impulsão vital original
sob a forma de amor. Os místicos seriam misteriosamente insuflados pelo mesmo élan cujo
desenvolvimento resulta no interminável espetáculo da evolução13.
Há entretanto uma tensão entre natureza e humanidade ou entre a destinação do
homem como espécie e as suas possibilidades enquanto indivíduo. O verdadeiro misticismo,
10
“Os verdadeiros místicos se abrem simplesmente à vaga que os invade. Seguro deles mesmos, porque sentem
neles qualquer coisa melhor que eles, revelam-se grandes homens de ação, para surpresa daqueles para quem o
misticismo não passa de visão, transporte e êxtase. Aquilo que eles deixaram fluir no interior deles mesmos, é um
fluxo descendente que desejaria, através deles, ganhar os outros homens: a necessidade de difundir em torno
deles aquilo que eles receberam , eles os sentem como um elã de amor. (BERGSON, 2008b,. p.101-102).
11
“A humanidade geme, esmagada sob o peso do progresso que fez. Ela não sabe o bastante que o seu futuro só
depende dela. Dela depende primeiro ver se quer continuar a viver. Dela depende em seguida se perguntar se
quer apenas viver ou fornecer o esforço necessário para que se cumpra, até mesmo no nosso planeta refratário, a
função essencial do universo, que é uma máquina de fazer deuses.” (BERGSON, 2008b,. p.338).
12
“Os filósofos que especularam sobre o significado da vida e sobre o destino do homem não observaram bem que
a própria natureza se deu ao trabalho de informar-nos sobre isso: avisa-nos por meio de um sinal preciso que
nossa destinação foi alcançada. Esse sinal é a alegria” (BERGSON. A consciência e a vida. In: ______, 2009, p.22).
13
“Aos nossos olhos, o ponto de chegada do misticismo é uma tomada de contato, e por consequência uma
coincidência parcial com o esforço criador que manifesta a vida” (BERGSON, 2008b, p.233).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
129
sendo definido em sua relação com o élan vital, é um fenômeno raro14, compreendido por
Bergson como o transbordamento da energia criadora em um indivíduo capaz de ir além do que
é natural à espécie humana. O misticismo ou a religião dinâmica seria uma retomada do
processo evolutivo ou do esforço criador que estacionara na inteligência humana como se aí
houvesse encontrado seu triunfo final. A moral e a religião seriam naturais, embora essa
natureza tenha obtido no homem a capacidade de ir além de si mesma. Seria natural para o
homem ir além da humanidade, i.e., além daquilo que o caracteriza enquanto espécie e que o
conserva em sociedade. Seria natural, mas raro; seria a destinação de todo homem, mas um
destino excepcional. O homem seria portanto a razão de ser da vida na terra e o triunfo da
evolução criadora; não por ser dotado de inteligência, mas por ser capaz de amar. O contato
efetivo com o elã da vida e com a sua fonte, do qual dão testemunho os místicos, possibilitaria a
superação do caráter trágico da existência humana, dando lugar a uma serenidade perene e a
uma alegria sem culpa15. É a essa serenidade que se dirige o homem enquanto sentido da
evolução.
“Moral fechada” ou “religião estática”, “moral aberta”, ou “religião dinâmica”16, tudo
seria de essência biológica17 pois se daria em função da vida. No primeiro caso, em função de
uma vida que quer se conservar; no segundo caso, em função de uma vida que quer se superar.
14
“Definindo-o pela sua relação com o élan vital, nós admitimos implicitamente que o verdadeiro misticismo era
raro” (BERGSON, 2008b, p.225).
15
“Existe uma alegria sem mescla, situada para além do prazer e da dor, que é o estado de alma definitivo do
místico” (BERGSON, 2008b, p.277)
16
A religião chamada por Bergson de primitiva, natural ou estática seria uma resposta da natureza à perturbação
que a inteligência traz à vida individual ou social, seja quando inclina o homem ao egoísmo, seja quando debilita o
ímpeto vital com a idéia da morte. Em ambos os casos entram em cena as representações religiosas fabricadas
pela função fabuladora da inteligência. São então criados deuses que asseguram punição e castigo para aqueles
que, seguindo uma inclinação egoísta, prejudicam a coesão social. Representa-se também a imagem de uma vida
após a morte ou, ainda, figuram-se potências favoráveis ou desfavoráveis aos anseios individuais capazes de
preencher o espaço de indeterminação entre o desejo e sua concretização. A religião estática está, portanto,
sempre ligada à representação, havendo na evolução das representações religiosas um progresso que
corresponderia ao processo civilizatório. A religião dinâmica, porém, ultrapassa o âmbito da representação porque
é contato direto com a vida, é retorno do instinto e da inteligência à sua origem comum através da intuição
mística.
17
“Se a sociedade se bastasse a si mesma, ela seria a autoridade suprema. Mas se ela é apenas uma das
determinações da vida, então concebemos que a vida, que depositou a espécie humana em tal ou tal posição,
comunica uma impulsão nova a indivíduos privilegiados que nela se retemperarão a fim de ajudar a sociedade a ir
mais longe. É verdade que fora necessário impelir até o princípio mesmo da vida. [...]demos portanto à palavra
biologia o sentido muito compreensivo que ela deveria ter, que ela tomará talvez um dia, e digamos para concluir
que toda moral, pressão ou aspiração é de essência biológica” (BERGSON, 2008b, p.103).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
130
O élan vital seria a fonte de toda moral e toda religião. Abaixo do plano da inteligência está a
obrigação moral que, atuando com uma força comparável à do instinto, assegura a coesão e a
ordem da sociedade. Acima do plano da inteligência está o apelo sobre-humano lançado às
almas heróicas, cuja atuação renova a sociedade e faz nascerem novas idéias.
No comum dos homens, a inteligência permanece serva do instinto de conservação
individual ou social, enquanto em alguns indivíduos excepcionais ela ultrapassa essa
necessidade de sobrevivência ao mergulhar na fonte da potência fundamental que domina a
vida. Essa potência seria o amor18. A religião, enquanto produto da própria inteligência, tem
como função básica salvaguardar a vida em sociedade, mas pode ir além dessa função primária.
A natureza nos destina a uma sociedade (fechada), mas tal destinação natural pode ser
ultrapassada pelo impulso moral advindo de fontes mais profundas que a mera pressão social.
Essa fonte mais profunda seria o próprio princípio da vida.
CONCLUSÃO
O místico estaria ligado de alguma forma a este princípio da vida e exprime esse contato
como sendo uma experiência de amor que se eleva de suas almas a Deus e retorna estendendose a toda a humanidade19. Identificado com o “esforço criador que é de Deus, senão o próprio
Deus (BERGSON, 2008b, p.233), ele derrubou a última barreira que o separava da liberdade
absoluta e da alegria definitiva: a própria vontade. O misticismo completo não seria, pois,
apenas possibilidade de contemplação e êxtase, mas potência de ação capaz de levar a
realizações extraordinárias. Retornando à sua origem, a vontade individual renuncia a si mesma
e encontra a liberdade ao deixar coincidir sua ação com a atividade divina. A união mística
18
“[...] sua direção [do amor místico da humanidade] é a mesma do élan da vida. Ele é este elán mesmo,
comunicado integralmente a homens privilegiados” (BERGSON, p. 248-249).
19
“[...] pois o amor que o consome não é mais simplesmente o amor de um homem por Deus, é o amor de Deus
por todos os homens. Através de Deus, por Deus, ele ama toda a humanidade com um divino amor” (BERGSON,
2008b, p.247).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
131
caracterizar-se-ia assim não pela inação ou passividade, mas pela ação inteiramente generosa
de uma vontade que, desinteressada de si mesma, passou a querer apenas o bem: “A união
mística – lê-se na explicação da máxima dos santos - nada mais é que a simples realidade do
amor sem interesse próprio. É o mais alto estado da justiça cristã... porque ele é o mais
voluntário”20.
Manifestando-se em obras, a mística revelaria a essência metafísica do amor21,
desvelando o segredo da criação: “A criação [...] aparecerá como um empreendimento de Deus
para criar criadores, para se juntar a seres dignos de seu amor”22. Para surgirem, esses seres
dignos do amor de Deus precisaram de outros seres vivos que foram a sua preparação, assim
como precisaram de uma materialidade sobre a qual exerceriam seu esforço: “Eles só puderam
surgir em um universo, e foi por isso que o universo surgiu23”.
BIBLIOGRAFIA
Obras de Bergson:
BERGSON, Henri. A energia espiritual. Trad. Rosemary Costhek Abílio. SP: WMF Martins Fontes,
2009.
______. Cursos sobre a filosofia grega. Trad. Bento Prado Neto. SP: Martins Fontes, 2005
______. Durée et simultanéité. 3 ed. Paris: Quadrige/PUF, 2007
______. Essai sur les données immédiates de la conscience. 9 ed. Paris: Quadrige/PUF, 2007
20
VETÖ, 2005, p. 100.
“[...] coincidindo com o amor de Deus por sua obra […] ele [o amor místico da humanidade]ele entregaria, a
quem soubesse interrogá-lo, o segredo mesmo da criação. Ele é de essência metafísica ainda mais que
moral.”(BERGSON, 2008b, p.248-249)
22
BERGSON, 2008b, p. 270.
23
BERGSON, 2008b, p.273.
21
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
132
______. L´evolution créatrice.11ª ed; Paris: Quadrige/PUF, 2008a
______. Les deux sources de la morale et de la religion. 10 ed. Paris: Quadrige/PUF, 2008b
______. Matéria e memória. Trad. Paulo Neves da Silva 2 ed.SP: Martins Fontes,1990
Outras obras consultadas:
DELEUZE, Gilles. Bergsonismo. Trad. Luiz B. L. Orlandi. São Paulo: Editora 34, 1999.
FOUCAULT, Michel. Hermenêutica do sujeito. Martins Fontes, 2006.
FRANÇOIS, Arnaud. La critique schélérienne des philosophies nietzchéene et bergsonienne de la
vie. In Bulletin d´analyse phénoménologique VI 2, 2010 (Actes 2), p.73-85
______. La volonté chez Bergson et Schopenhauer. In Methodos, número 4 (2004).
PINTO, Débora Cristina Morato; MARQUES, Silene Torres (Orgs.). Henri Bergson: crítica do
negativo e pensamento em duração. São Paulo: Alameda, 2009.
VAZ, Henrique C. De Lima. Experiência mística e filosofia na tradição ocidental. São Paulo:
Loyola, 2000.
VETÖ, Miklos. O nascimento da vontade. Trad. Álvaro Lorencini. São Leopoldo, RS: Editora
Unisinos, 2005.
VIEILLARD-BARON, Jean-Louis. Compreender Bergson; Trad. Mariana de Almeida Campos.
Petrópolis: RJ: Vozes, 2007 (Série Compreender)
WORMS, Frédéric. Bergson ou os dois sentidos da vida. Tradução de Aristóteles Angheben
Predebon. São Paulo: editora Unifesp, 2010.
______. La conversion de l´expérience. Mystique et philosophie, de Bergson au moment de
l´existence. In ThéoRèmes, número 1 (2010)
______. La philosophie en France au XX siècle. Gallimard, 2009.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
133
As sexualidades no âmbito escolar. Respostas científicas e históricas
transformadas em questionamentos e problematizações
Cinthia Alves Falchi*
RESUMO
Na pretensão de questionar e problematizar as relações que as sexualidades adquirem no
espaço escolar, efetua-se, neste projeto, apontamentos acerca das diferenciações que Foucault
manifestou para a produção de verdade, vinculada à área em questão: as sexualidades.
Portanto, como primeiro passo haverá a diferenciação entre Ars erotica e Scientia sexualis,
onde teremos por objetivo a tentativa de elucidar a respeito da formação de sujeitos sexuais a
partir do científico. Neste trajeto será utilizado, como base de compreensão, a História da
sexualidade I. Em seguida percorreremos pela Hermenêutica do Sujeito para que seja possível
visualizar a vivência do cuidado de si em alguns de seus momentos históricos e a mudança que
ocorre entre o cuidado de si grego, onde Alcibíades é visto por Foucault como obra central, e as
modificações que ocorreram para que práticas de si e técnicas emergissem como maneira de se
obter um “ocupar-se consigo” como imperativo romano. Durante o trajeto questões serão
levantadas na tentativa de provocar uma inquietação e uma busca por possíveis novos
caminhos, visto que, em nenhum momento o “espaço escolar” será deixado de lado na
discussão. Ao contrário, tanto a formação do sujeito a partir da pedagogia como a partir da
psicagogia serão utilizadas para que o foco da pesquisa não se perca em sua temática.
PALAVRAS-CHAVE: Educação; Sexualidades; Erótica; Foucault.
Foucault trabalha, em História da Sexualidade I, destacando a construção de
sexualidades periféricas, as que ficam a margem do ideal heterossexual. Tal explicação esclarece
a presença de um discurso heteronormativo, trazido a nós como científico-médico, apoiado em
atos sexuais que foram classificados como normais ou anormais.
*
Aluna do Mestrado em Educação – Filosofia da Educação, da Universidade Estadual Paulista (UNESP) – campus
Marília. E-mail: [email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
134
A partir da visão médica-científica da sexualidade e do próprio sexo, estabelecido como
a ação da sexualidade, notamos que o discurso sobre a sexualidade começa a ser pautado
tendo como contraponto as sexualidades periféricas, com o objetivo de estabelecer identidades
sexuais específicas e classificatórias.
Ao invés de identidades sexuais marcadamente classificatórias, há a busca por uma
Erótica a partir da transformação de si, portanto uma busca pela verdade a partir desta
transformação de si. Este é posicionamento em Alcibíades de Platão, descrito por Foucault. E
será no denominado momento cartesiano, que haverá uma ruptura clara e a ascensão do
conhecimento do objeto como verdade.1 Citamos aqui o que Foucault coloca após uma longa
discussão acerca das posturas distintas de formação dos sujeitos em busca da “verdade”: “[...] a
noção de conhecimento do objeto vem substituir a noção de acesso à verdade.” (2010, p.173).
Não podemos deixar de ressaltar que esta é apenas uma das vertentes que podemos
seguir a respeito das construções das sexualidades. No entanto, a nosso ver, esta é a vertente
que mais se aplica para as formações de sujeitos das sexualidades no âmbito escolar. E dizemos
isto, justamente neste momento em que as sexualidades têm angariado espaços de discussão
nos diversos nichos sociais. Apesar desses espaços já existirem de maneira mais pontual e
ordenada, os mesmos, em grande medida, compactuam com os regulamentos científicos
apontados a partir de uma regularidade heteronormativa compulsória.
Neste sentido, vemos que as sexualidades, no âmbito escolar, ainda perpassam pelas
dúvidas do que é certo e errado, e que, portanto, há um certo a ser seguido ou buscado. Este
certo/errado está vinculado também a um julgamento moral que se esconde e fica entrelaçado
numa dinâmica científica, portanto, a um objeto específico. Assim, este tipo de postura fica
vinculado a valores da cultura na qual esta “norma” se faz presente, atrelada, portanto, à
heteronormatividade.
Não temos a pretensão de classificação de grupos sexuais, ao contrário, a intenção é
mostrar que indivíduos se tornam sujeitos a uma sexualidade a partir de sua cultura e de sua
1
Estas mudanças estão assim colocadas nas primeiras aulas de Foucault-1982 na Hermenêutica do Sujeito, obra
citada na bibliografia.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
135
inserção social. Mas que, talvez, o problema se encontre em nos tornarmos sujeitos a uma
sexualidade com um modelo pré-existente do que vem a ser o correto ou normal. Um segundo
problema adviria desse posicionamento ao nos utilizarmos desse mesmo modelo para pensar a
sujeição de várias outras especificidades sexuais distintas. Diante desses problemas, como
discutir o tema da sexualidade, transversalmente ou não, nas escolas, sem cair na armadilha de
uma ou de outra forma de subjetivação?
Quando falamos de sexualidade, lembramos do binômio homem e mulher, e não de
indivíduos, ou mesmo sujeitos, mas únicos, com formação de desejos distintos, com prazeres e
assimilações contraditórios.
Não parece mais um grande continente de normalidade cercado por pequenas
ilhas de distúrbios. Em vez disso, podemos agora presenciar uma grande
quantidade de ilhas, grandes e pequenas... Surgiram novas categorias e
minorias eróticas. Aquelas mais antigas experimentaram um processo de
subdivisão como preferências especiais, atitudes específicas, e as necessidades
tornaram-se a base para a proliferação de identidades sexuais. (GIDDENS,
1993, p. 44).
Queremos focar a formação de sujeitos caracterizados a partir de suas sexualidades
estereotipadas. Isso não significa que as identidades tenham como premissa as sexualidades.
Esta é apenas uma das características que podem ser ressaltadas quando não está de acordo
com o modelo normativo.
Damos preferência às sexualidades por analisarmos que a moral direcionada a elas,
dentro do espaço escolar, na maioria das vezes está de comum acordo com os sujeitos que
socialmente sofrem os preconceitos, ao mesmo tempo os trata dentro de certo estereotipo e
os apresentam como problema a ser solucionado nesta mesma instituição.
Destacamos a presença maçante das discussões em torno das “diferenças”. Para
minimizarmos o impacto que as nomeadas sexualidades periféricas causaram e causam,
notamos que o slogan do “respeito às diferenças” se coloca em circulação e se faz presente na
escola, como também em vários outros espaços sociais. Porém, com relação a que essas
diferenças foram estabelecidas? Até porque, para “ser diferente” é necessária uma
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
136
comparação. Louro que diz: “diferenças, distinções, desigualdades... A escola entende disso. Na
verdade, a escola produz isso” (1997, p.57).
É necessário um olhar para dentro da escola, um olhar para o espaço escolar, para a
instituição. E, ao mesmo tempo, um olhar para os/a educadores/a que lá encontramos. Talvez
não de maneira esquematizada hierarquicamente, como sabemos que a escola é instituída.
Vemos necessidade de esclarecermos um pouco como observamos esse espaço.
A escola brasileira2 não foi criada, ou fundada, para todos/a. Desde seu princípio ela
priva por ser o diferencial: quem está dentro dela, e quem está fora. Neste sentido, ela sempre
foi instrumento de classificação, separação. Precisamente aqui lembramos que a mesma autora
nos diz que
[...] serão sempre as condições históricas específicas que nos permitirão
compreender melhor, em cada sociedade específica, as relações de poder que
estão implicadas nos processos de submetimento dos sujeitos. (LOURO, 1997,
p.53)
A instituição escolar, do modo como está posta, também diferencia o que Carvalho
denominou de função-educador e função-educando. Esse mesmo autor dirá, no entanto que:
Se o nome na função-educador reconduz a tipos de verdades, trabalhar com as
formas em que elas podem se dar é inclinar-se para trabalhar na construção de
uma nova subjetividade, posição do sujeito, naquilo que cada educador pode
fazer (2010, p.82-83)
Estas breves considerações sobre o espaço escolar é justamente para questionarmos os
processos que lá ocorrem, em seus corredores, salas de aula, pátio, salas dos/a professores/a e
até mesmo diretoria e secretaria, a respeito das produções e confirmações de sexualidades e
gêneros.
2
Dizemos “escola brasileira” nos referindo exclusivamente ao processo educacional do Brasil,mas de uma maneira
ampla, não em suas especificidades. Entendemos risco de assim o fazer, mas não temos, aqui, pretensão em
estudar o processo histórico institucional escolar brasileiro.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
137
Retornando, portanto, às sexualidades, em História da sexualidade I, Foucault faz uma
distinção entre dois procedimentos pretendentes à produção de verdade. A Ars erotica seria
entendida a partir do prazer sexual recolhido e extraído da própria experiência de prazer. Neste
procedimento há uma ligação necessária entre discípulo e mestre, sendo assim um
procedimento que cultiva o ensinamento a partir da vivência, da experiência.
Foucault nos relata que a Ars erotica podia ser encontrada em sociedades como China,
Japão, Índia, Roma, nações árabes-muçulmanas. E nessas sociedades o prazer era conhecido
“[...] segundo sua intensidade, sua qualidade específica, sua duração, suas reverberações no
corpo e na alma” (FOUCAULT, 2005, p.57)
Este primeiro procedimento de produção da verdade do sexo é, portanto, uma “arte
magistral”. Nesta arte há a necessidade de discrição para que, tanto sua eficácia como sua
virtude, possam ser preservadas segundo a tradição. E, se este modo exotérico de iniciação
tende a utilizar de um saber e severidade sem falhas, Foucault ressalta que
Os efeitos dessa arte magistral, bem mais generoso do que faria supor a aridez
de suas receitas, devem transfigurar aquele sobre quem recaem seus
privilégios: domínio absoluto do corpo, gozo excepcional, esquecimento do
tempo e dos limites, elixir de longa vida, exílio da morte e de suas ameaças.
(FOUCAULT, 2005, p.57)
Em contrapartida, este não parece ser o procedimento ao qual nossa sociedade fez e faz
uso. Nossa história da sexualidade é baseada no que Foucault denominou como Scientia
sexualis.
Por Scientia sexualis deve-se entender um procedimento para a produção de verdade
do sexo que utiliza tática de poder imanente de uma dada ordem de discurso, o que significa
que a verdade do sexo aparece através do ritual do discurso. Este ritual do discurso é descrito
por Foucault a partir do procedimento da confissão e de discursividade científica. Tal confissão,
descrita pelo autor, passa por mudança de sentido utilitário
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
138
A própria evolução da palavra “confissão” e da função jurídica que designou já
é característica: da “confissão”, garantia de status, de identidade e de valor
atribuído por outrem, passou-se à “confissão” como reconhecimento, por
alguém, de suas próprias ações ou pensamentos. O indivíduo, durante muito
tempo, foi autenticado pela referência dos outros e pela manifestação de seu
vínculo com outrem (família, proteção); posteriormente passou a ser
autenticado pelo discurso de verdade que era capaz de (ou obrigado a) ter de
si mesmo. (FOUCAULT, 2005, p. 58).
A confissão torna-se, portanto, um procedimento de individualização pelo poder. Poder
este de quem fala em conjunto com a verdade de quem ouve. Neste sentido, corpo e ciência
transformam-se em uma ciência da confissão, onde o objeto nada mais é do que o
inconfessável-confesso. Assim, Foucault dirá que “[...] emprega-se a maior exatidão para dizer o
mais difícil de ser dito; [...], confissões impossíveis de se confiar a outrem, com o que produzem
livros.” (FOUCAULT, 2005, p.59).
Esta confissão tem por finalidade a moralização de atitudes e discursos, na tentativa de
padronização universalizante, transmissão de valores, ética que tem por pretensão uma
possibilidade afirmativa de como algo deve ocorrer. Neste sentido, a verdade de quem ouve é
autoritária, correta e o vínculo estabelecido de moral é de juízos de padrões universais.
Ao creditarmos valor a um dado conhecimento no pressuposto das Scientia sexualis,
fazemos a escolha de um caminho a seguir onde há predominância do conhecimento com fins
iluministas, do que é certo ou errado. Um esforço onde Horkheimer traduzirá estereótipo como
sendo um não exame dos atos lógicos.
Assim que um pensamento ou palavra se torna um instrumento, podemo-nos
dispensar de ‘pensar’ realmente isso, isto é, de examinar detidamente os atos
lógicos envolvidos na formulação verbal desse pensamento ou palavra.
(HORKHEIMER, 1976, p.31)
É por este procedimento individualizante a partir do poder da confissão que a
discursividade científica faz-se visível.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
139
Foucault questiona esta ordem perguntando: “E se fosse, ao contrário, o que se
confessa de forma muito particular? E se a obrigação de escondê-lo fosse apenas um outro
aspecto do dever de confessá-lo?” (FOUCAULT, 2005, p.60) E por este questionamento
podemos notar a inversão do discurso de verdade que corrobora para a explicação das relações
de poder foucaultianas.
A Scientia sexualis, com padrão normativo de conhecimento unilateral e exclusivista,
permeia no cotidiano pessoal e social do sujeito e o regula a uma vida disposta nas medidas
cabíveis aos processos de sujeição de suas nomenclaturas.
Será na possibilidade de contrapor ao discurso de verdade no qual se funda essa Scientia
sexualis que abordaremos um outro denominado de parrésia, que pode ser entendido como
[...] emersão de um tipo de relação específica entre a mestria e a formação,
cuja função é a transformação do sujeito, pois numa relação de franco-falar há
uma transformação do destino da verdade, uma modificação nas pretensões
das terminações de forças arranjadas por uma verdade. (CARVALHO, 2010,
p.96)
Neste modo de relação é possível admitir, não uma busca pela verdade universal em
relação às sexualidades e às identidades, mas uma transformação do sujeito que ao trabalhar
sobre si mesmo se depara, entre outras dimensões, também com uma erótica que admite,
compactua e está integrada a este franco-falar, na relação estabelecida com um outro. Ao
mesmo tempo em que amado, o discípulo deve se tornar “amante do mestre de verdade e do
ato amoroso de verdade.” (FIMIANI, 2004, p.113). Nesta Erótica, o encontro de dois amantes
marca a elaboração e cumprimento do domínio e é neste sentido que Foucault acredita ser
possível “[...] entender o amor ao mundo como saber de amor, um saber que sabe ao mesmo
tempo que ama, um saber que implica o si, eu desvia e não pode ser reconduzido ao sistema de
saberes.” (FIMIANI, 2004, p.117).
Para concluirmos, em A Hermenêutica do Sujeito Foucault faz uma análise do diálogo de
Alcibíades com Sócrates que, no decorrer da obra, nos aponta como cuidado de si.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
140
Ao abordar Alcibíades, Sócrates irá delimitar quatro pontos que tem por pretensão o
cuidado de si de seu discípulo. Tais pontos são: a vinculação do cuidado de si ao exercício de
poder; a vinculação à insuficiência da educação de Alcibíades, como déficit pedagógico; o alerta
para ocupar-se consigo na idade crítica, portanto, o começo do período da fase adulta; e por
fim, a urgência em aperceber-se da ignorância que tem quanto ao seu objeto.
O cuidado de si é colocado na juventude, período em que está aprendendo a viver,
preparando-se para a vida. O mestre, diz Foucault:
[...] é aquele que cuida do cuidado que o sujeito tem de si mesmo e que, no
amor que tem pelo seu discípulo, encontra a possibilidade de cuidar do
cuidado que o discípulo tem de si próprio. Amando o rapaz de forma
desinteressada, ele é assim o princípio e o modelo do cuidado que o rapaz
deve ter de si enquanto sujeito. (FOUCAULT, 2010, p.55)
Este cuidado relacional entre mestre e discípulo não implica em cuidados com o corpo
ou com os bens, nem mesmo em ensinar aptidões e capacidades. O mestre não está na ordem
de médicos, professores ou pais de família. Este era limitado a alguns e, neste sentido: elitista.
O movimento atribuído ao “ocupar-se consigo mesmo” era um movimento destinado a
ocupar-se com a justiça. Uma justiça que prevalece em três instâncias, sendo elas: a relação
com a ação política; a questão da pedagogia; e a relação com a erótica dos rapazes. A relação
com a ação política é explicitada pelo fato de Alcibíades querer governar os outros, já que
“cuidar de si é um privilégio dos governantes ou, ao mesmo tempo, um dever dos governantes,
porque eles têm que governar.” (FOUCAULT, 2010, p.69)
A questão da pedagogia é exposta na medida em que a mesma se mostra insuficiente,
deficitária, na vida de Alcibíades, necessitando de um cuidado de si para o ingresso na vida
adulta e cívica, para tornar-se cidadão e, no caso dele, o chefe que pretende ser. Em História
da Sexualidade II, Foucault dirá que: “de modo geral, tudo o que servir para a educação política
do homem enquanto cidadão lhe servirá também para exercitar a virtude e inversamente: os
dois vão juntos.” (2007, p.71).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
141
Interligado a este déficit pedagógico, a questão da Erótica é exposta quando notamos
que há também um déficit erótico, visto que os mestres que passaram pela vida de Alcibíades,
apenas utilizaram de sua beleza e juventude, mas não o amaram verdadeiramente.
É possível adentrar na discussão entre Filosofia e Psicagogia, ambas para elucidar a
relação entre mestre e discípulo que culmina em um cuidado de si. Psicagogia se distingue de
Pedagogia no modo de sua relação com o outro, bem como em sua finalidade. Diz Foucault:
Se chamamos “pedagógica”, portanto, essa relação que consiste em dotar um
sujeito qualquer de uma série de aptidões previamente definidas, podemos,
creio, chamar “psicagógica” a transmissão de uma verdade que não tem por
função dotar um sujeito qualquer de aptidões, etc., mas modificar o modo de
ser do sujeito a quem nos endereçamos. (FOUCAULT, 2010, p.366)
Ao aderirmos a um processo de transformação do sujeito no espaço escolar, portanto,
aludimos a um reencontro com a formação por meio de uma arte da existência3. Não a um
modelo pré-estabelecido de práticas de si, mas a retomada do não querer ser governado de
determinada forma, que é a atitude tomada perante a crítica deste incômodo.
O processo de transformação vincula-se ao jogo de poder estabelecido na luta pela
liberdade. Liberdade da escravidão ao outro assim como de ser escravo de si mesmo/a. E é
neste sentido que o ‘não querer ser governado de determinada forma’ se faz presente. Mas
deixemos claro que esta liberdade não está na ordem dos universais, até porque “não se pode
cuidar de si, por assim dizer, na ordem e na forma do universal” (FOUCAULT, 2010, p.106).
Outra questão que entra em pauta é se é possível instaurar um processo de psicagogia
em uma instituição que tem o princípio disciplinar em seu modus operadi. A instituição escolar
trabalha a partir de dispositivos da sociedade disciplinar (de controle), assim como a pedagogia.
Já a psicagogia lida com a ampliação de práticas de liberdade e de transformação de si. Neste
ponto questionamos: atualmente, é possível uma prática psicagógica na instituição escolar?
3
Cabe-nos entender que arte da existência está relacionada com o domínio de si que está vinculado ao cuidado de
si. São as tekhnai as quais o indivíduo de desejo está vinculado, como conjunto de regras e valores. Não como
comportamentos de valores adequados, na medida de serem seguidos ou aperfeiçoados como valores morais.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
142
Levando em consideração que nossa resposta prive por uma afirmação, damos continuidade à
questão: seria a transversalidade uma maneira de adentrarmos a ampliação de práticas de
liberdade e assim, concomitantemente, a transformações de si onde, tanto educadores/a
quanto estudantes estariam envolvidos/a nesta relação?
Ao associarmos as sexualidades nesta vivência, podemos nos aperceber da diferença
existente no âmbito escolar do que hoje vemos serem as medidas tomadas para a inserção
desta temática e a maneira como podemos repensar nossas posturas.
Não sugerimos, porém, que exista o método certo de se lidar com tal temática, mas que
talvez a transformação de si possa ser uma das possibilidades de adentrar o tema não a partir
exclusivamente desta pedagogia, mas a partir de questionamentos das vivências préestabelecidas, assim como possibilidades de ampliarmos nossas práticas de liberdade.
BIBLIOGRAFIA
CARVALHO, A.F de. Foucault e a função-educador: Sujeição e Experiências de Subjetividades
Ativas na Formação Humana. Ijuí: Ed: Unijuí, 2010. (Coleção fronteiras da educação)
FIMIANI, M. “O verdadeiro amor e o cuidado comum com o mundo”. In: GROS, F. (org.).
Foucault: e a coragem da verdade. São Paulo: Parábola Editorial, 2004.
FOUCAULT, M. História da Sexualidade I: a vontade de saber. Ed.16. Rio de Janeiro: Graal,
2005.
_____. [1984]História da Sexualidade II: o uso dos prazeres. Rio de Janeiro: edições Graal,
2007.
_____. A Hermenêutica do Sujeito: curso dado no Collège de France (1981-1982). Ed.3. São
Paulo: EditoraWMF Martins Fontes, 2010.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
143
GIDDENS, A. A transformação da intimidade: sexualidade, amor & erotismo nas sociedades
modernas. São Paulo: Ed. Da UNESP, 1993.
HORKHEIMER, M. Meios e Fins. In: Eclipse da Razão. Rio de Janeiro, Editorial Labor do Brasil,
1976.p.11-67.
LOURO, G. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. Petrópolis, RJ:
Vozes, 1997.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
144
A conflituosidade das relações intersubjetivas em Huis clos, de Sartre
Cristiano Garotti da Silva*
RESUMO
A partir de Huis clos, de Sartre (1944), pode-se refletir a problemática do Outro e a interrelação entre filosofia e ficção como forma de expressão. Na filosofia sartriana, o Outro significa
empecilho e invasão, que se afirma por meio do olhar; é tido como objeto pela consciência
humana, assim como são captadas todas as coisas que estão fora dela. O Outro é tomado como
objeto por mim, e eu também o tomo como objeto. Três personagens vivem o drama da
relação intersubjetiva dos indivíduos singulares; cada um responde por um crime; um será o
carrasco do outro. Numa sala sem espelhos, são obrigados a se ver através dos olhos dos outros
e, aos poucos, vão se constrangendo e descobrem o horror da nudez psíquica. Assim, configurase o verdadeiro inferno: a consciência não pode se subtrair de enfrentar outra consciência que
a denuncia, por isso ‘o inferno são os outros’.
PALAVRAS-CHAVE: Sartre. Huis clos. O ser e o nada. Relações intersubjetivas. Outro. Conflito.
Introdução
Cabe proceder aqui a um estudo da peça Huis clos (1944) - traduzida para o português
como Entre quatro paredes (1977) - como texto literário, relacionando-a com a filosofia do
próprio autor, Jean-Paul Sartre. Para isso será necessário adentrar-nos um pouco no enredo da
peça, numa tentativa de aclarar o seu sentido e de criar pontes entre a ficção e a filosofia de
Sartre.
*
Doutorando em Filosofia pela PUC/SP e Professor do Departamento de Filosofia da PUC Minas.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
145
O teatro efetiva-se como uma das expressões literárias, à medida que adota a palavra
como veículo de comunicação, ultrapassando suas fronteiras quando executada sobre o palco,
sendo definida por uma duplicidade que deve ser levada em conta na análise.
Destaca-se que a análise se define como um processo de conhecimento de uma
realidade, em que, neste caso, o texto da peça será decomposto em suas partes fundamentais.
A análise literária consiste em desmontar um texto com vistas a conhecê-lo nos elementos que
o estruturam.
Verifica-se que a análise afluirá primordialmente para os elementos literários da peça,
ou seja, a peça será abordada enquanto texto. De certa forma, o texto poderia ser avaliado em
sua representabilidade, teatralidade ou sua probabilidade, enquanto espetáculo; porém o texto
da peça interessará mais como um romance ou um conto, sobretudo porque, participando da
literatura, com aqueles se assemelha. Assim, centra-se na ação da peça, que registra todas as
manifestações vitais dos personagens; cabe apenas interpretar a ação do personagem que se
transmuta em ação e extrair a filosofia lá inserida.
Segundo Teixeira (2008, p. 200) citando o próprio Sartre, em uma entrevista de 1960,
sobre a peça Les séquestrés d´Altona (1959), inserida na obra Un théâtre de situations, este:
[...] notava não se lhe afigurar que o teatro pudesse ser um ‘veículo filosófico’,
pois uma filosofia, na sua totalidade e nos seus detalhes, só poderia exprimirse numa obra filosófica e não numa obra teatral, não devendo, por isso, o
teatro depender nunca da filosofia que, não obstante, não deve deixar de
exprimir.
Entende aquele comentador português que uma ressalva há de ser feita nesse
posicionamento do filósofo:
Embora esta intenção ou preocupação de exprimir ou dar corpo a uma filosofia
seja ainda demasiado visível em peças como Les mouches (1943) ou Huis clos
(1944), desaparece nas seguintes que, sem deixarem de ter um exigente
suporte especulativo, se afirmam autonomamente como sólidos textos teatrais
[...] (TEIXERA, 2008, p. 200).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
146
Portanto, ainda que Sartre tenha declarado em sua entrevista de 1960 que a filosofia e o
teatro são modos de expressão distintos e independentes, e que o teatro não pode se
caracterizar como um ‘veículo filosófico’, percebe-se que esse posicionamento é posterior ao
lançamento de Huis clos (1944), onde notadamente o filósofo tentou inserir na trama certos
elementos de sua filosofia insculpida em L´etre et le néant, lançada no ano anterior.
Assim, a afirmação acima disposta é também corroborada por Teixeira (2008, p. 202),
que faz uma pequena análise descritiva da peça:
Por seu turno, aquela que é certamente a mais conhecida, representada e
imitada peça de Sartre, Huis clos, em que, num ambiente e por meio de um
diálogo de recorte realista, são reconhecíveis claros sinais da herança
expressionista, não foge também, a uma excessiva e paralisante intenção
programática e o desejo de ilustrar uma tese filosófica, sintetizada na bem
conhecida afirmação do personagem masculino de que ‘o inferno são os
outros’, cujo sentido é, em geral, desvirtuado, por ser aquela deinserida do
contexto da peça.
É nessa tentativa de levantar a intenção programática de Sartre e o seu desejo de
ilustrar uma tese filosófica, que se inicia esta análise do texto da peça, a partir das cinco cenas
de um único ato.
O inferno são os outros?
A partir da chegada de Garcin ao inferno para pagar pelos seus crimes, em um ambiente
correlato a uma prisão, este é recebido por um Criado com quem dialoga para se localizar no
espaço e no tempo. Esse diálogo encontra-se estritamente relacionado com o discurso do
personagem principal Garcin, além de se efetivar como uma forma mimética de representação
da sua voz. Verifica-se que Sartre, na peça, utiliza um tempo psicológico, concentrado nas
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
147
vivências subjetivas do passado dos personagens, estabelecendo um redimensionamento ou
alargamento do tempo da história.
Vale destacar a preocupação e o desconforto do personagem Garcin por ficar
permanentemente na claridade, não fechando os olhos ou sequer dormindo. A inexistência de
espelhos coordena-se com a ausência de pálpebras. A única possibilidade de recuperar a
imagem pessoal é fazer um desvio pelo Outro. A identidade do próprio eu é uma tarefa pessoal,
mas implica a mediação. A subjetividade edifica-se através do reconhecimento, pelo qual o
Outro me devolve a mim mesmo.
Além da inexistência de espelhos, essa preocupação do personagem aponta para a
dificuldade do ser visto, a que tanto Sartre fez alusão em O ser e o nada. A questão do olhar
perpassa toda a peça como uma temática basilar, que também está presente no pensamento
filosófico do autor.
Por outro lado, Garcin passa por um processo de reconhecimento do Outro
primeiramente na figura do Criado, e sua indisposição para ser visto e reconhecido, e sofre com
a experiência de ser objeto do olhar. O querer livrar-se da luz, quebrando lâmpadas com o
bronze de Barbedienne, aponta para a dificuldade daquele personagem em lidar com a
claridade que desvela seu olhar para os outros personagens. Assim, estando na escuridão, não
haveria necessidade de proteger a sua subjetividade.
Vale destacar aqui a simbologia do bronze de Barbedienne, objeto que aparece ao longo
da peça. Esse metal origina-se da união de contrários - estanho e prata -, apontando para a
ambivalência e o caráter violentamente conflitivo das duas faces de seu simbolismo - escuridão
e claridade. Garcin tenta várias vezes tomar o bronze para quebrar a lâmpada que ilumina todo
o ambiente, o tempo todo. Quando Garcin olha nos olhos do Criado, sente-se incomodado e
que não poderá esconder sua subjetividade, como relata: “[...] aí está o que explica a
indiscrição grosseira e insustentável do seu olhar [...]” (SARTRE, 1977, p. 12).
A invisibilidade do olhar é explicada por Sartre pela sua ubiquidade relativa, ou seja,
pelo Criado não estar nos olhos de Garcin, mas sobre este, contaminando o espaço e
demarcando uma distância invisível. A incorporalidade do olhar também se explica pela sua
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
148
estrutura especular. Os espelhos são invisíveis, não por serem transparentes, mas por
refletirem as imagens de coisas que lhes fazem face. Com o olhar acontece algo de semelhante:
por um lado, há ali qualquer coisa que faz Garcin sentir, indubitavelmente, a presença do
Criado. Este é o seu primeiro espelho.
Para Sartre, não há separação entre o eu e o Outro quando eles estão em contato,
quando um toma consciência da existência do outro, pois, pela visão, o Outro vai gerar um
estranhamento no eu, e, a partir desse momento, inicia-se um reconhecimento prévio das
intenções que o Outro tem sobre o eu: “Porque perceber é olhar, e captar um olhar não é
apreender um objeto-olhar no mundo, mas tomar consciência de ser visto.” (SARTRE, 2003, p.
333).
No momento em que Inês adentra o mesmo recinto onde se encontra Garcin, trazida
pelo Criado, na Cena II, inicia-se novamente a problemática do personagem em torno do ser
visto. A relação entre Inês e Garcin é muito conflituosa desde o início. Aquela chama Garcin
inicialmente de carrasco, e se incomoda com o “tique nervoso” de cerrar os dentes, que
demonstra o nervosismo do personagem. Inês também se incomoda muito com a presença de
Garcin por este lhe roubar a atenção de Estelle. Inês acaba chamando Garcin de covarde,
exercendo certa ascendência sobre ele.
O que se pode ler em O ser e o nada é que o contato com o Outro revela mais sobre o
eu do que sobre o Outro, porque é a partir dessa relação que se toma consciência de se estar
sendo olhado pelo Outro. Destaca-se que a aparição do Outro faz surgir na situação um dado
não desejado pelo eu, do qual não é dono e que lhe escapa por princípio, posto que é para o
Outro.
Pelo capítulo “O olhar”, da obra O ser e o nada, pode-se entender a problemática de
Garcin e Inês. Nesse trecho, o autor desnuda a relação do eu com o Outro e expõe as verdades
ocultas e o motivo do incômodo do olhar entre essas duas personagens. Destaca-se que Sartre
quer ressaltar que, ao tomar consciência do Outro, o eu não tem noção alguma se esse mundo
se mostra para ele da mesma forma que para o Outro, e isso acaba tornando as coisas muito
mais frágeis do que antes, porque agora o medo do mundo, e, consequentemente, do Outro, é
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
149
muito maior. Nesse momento, a nudez do eu para o Outro - e a do Outro para o eu - é enorme,
pois ambos viram a parte não revelada de cada um, a parte mais quebradiça um do outro. Não
há onde se apoiar, não há onde se esconder: a liberdade de ambos está comprometida ante a
perturbadora presença e o perigo iminente de que, a qualquer momento, uma faceta não
revelada possa ser descoberta, não com permissão, mas com invasão.
A sensação que Garcin e Inês vivenciam na Cena III de que a qualquer momento podem
ser invadidos pelo outro mostra-se sufocante. O maior problema é que, para Sartre, "esse
perigo não é acidente, mas estrutura permanente de meu ser-para-outro". Ou seja, a relação
entre o eu e o Outro vai ser sempre assombrada por esse fantasma do conflito de liberdade.
Com a aparição de Estelle, nova personagem, sendo conduzida também pelo Criado ao final
dessa Cena III, completa-se na Cena IV o quadro dos personagens, e a trama parte para o seu
desfecho na Cena V.
Garcin esconde o rosto diante da chegada de Estelle no ambiente, no momento do
reconhecimento interpessoal dos três personagens. Essa vergonha vivenciada por Garcin é o
sentimento mais utilizado por Sartre para revelar a estrutura ontológica da relação com o
Outro. No caso da vergonha, o seu objeto intencional direto é o próprio sujeito: aquele que se
envergonha daquilo que lhe é imputável, de um defeito físico, de um vício moral, de uma ação
vergonhosa. De certa forma, esse sentimento demarca a presença do Outro na peça.
A Cena V aponta para o desfecho da peça e expõe um novo dilema do triângulo
emocional: Estelle necessita de Garcin para manter a sua imagem de bela e para sentir-se
desejada; Garcin necessita do olhar de Inês para se justificar da covardia de que fora acusado
em vida; Inês prescinde do olhar de medo dos outros dois personagens para manter o seu perfil
de manipuladora. Ao mesmo tempo em que desejam se olhar, o olhar se esvai, diante do medo
de que sejam apontados os erros cometidos em vida. É um constante processo de objetivação
descrito por Sartre na sua filosofia.
Sartre dispõe cada um dos personagens como carrasco do outro, buscando desnudá-los,
buscando o que há por trás dos rostos. A consciência de cada um esbarra no muro da
consciência do outro. Assim, confinados ali, entre quatro paredes, por toda a eternidade, os
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
150
personagens percebem que o inferno imaginado enquanto estavam vivos não tem relação
nenhuma com o inferno que vão vivenciar a partir do momento que entraram no salão.
Toda a trama nessa Cena V gira em torno da necessidade de se saber por que cada um
dos personagens encontrava-se no inferno. Que crime teria cometido? Depois de várias
dissimulações, chega-se a uma verdade sobre o crime de cada um, sendo realizado um
verdadeiro debate entre os três protagonistas.
Com isso, baseado em O ser e o nada, verifica-se que as relações humanas são fadadas
ao fracasso, ou melhor, ao conflito, porque o encontro do eu com o Outro gera uma perpétua
disputa pelo lugar da objetivação. Segundo o filósofo, o olhar do Outro, ao objetivar o eu,
transforma-o em pedra, e consequentemente, como ação defensiva, cabe petrificá-lo também.
É o próprio sentido do mito da medusa descrito por Sartre em O ser e o nada.
Possibilitado a Garcin sair da sala, este escolhe manter-se no seu inferno: existir com os
outros, continuar a construir-se através dos seus olhos, a oferecer-se ao reconhecimento deles,
um reconhecimento que o reenvia para aquilo que ele é, para a maneira como escolheu fazerse.
Descobrir-se a si mesmo é descobrir também o Outro como capaz de exercer as suas
escolhas, cujas repercussões serão sentidas pelo eu, como sons que chegam impuros aos
ouvidos deste, porque já foram ouvidos pelo Outro. Logo, nessa relação entre os três
personagens, o elemento vinculante é o olhar, que acaba por escravizar a liberdade de cada
um, levando a um fracasso relacional, em um espaço imaginário de purificação existencial.
Assim, de acordo com Verstraeten (2005, p. 145), o enredo dessa peça suscita a reflexão
pessoal de cada um, pois se assemelha em muito com as nossas problemáticas existenciais:
[...] é uma bela ilustração do "engajamento" do teatro de Sartre, sobre
determinado ponto que ele não solicita a reflexão de cada um conforme a sua
sensibilidade ideológico-metafísica, mas obriga a todos a fazer uma
experiência de renovação e eventualmente a modificar segundo o grau de
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
151
coerência desejada e reivindicada; um engajamento como "centro social de
irrealização" para o imaginário de cada um ... (Tradução nossa)1.
O comentador belga sustenta que Sartre desmonta o mito da intersubjetividade
harmoniosa considerada como um dado, sendo que Huis Clos é o seu paradigma de
denunciação. Segundo ele, Sartre admoesta cada um a mergulhar no seu imaginário pessoal.
Conclusão
A peça apresenta friamente o embate de consciências que, por se efetivar enquanto
liberdade, leva os personagens a viver um interminável jogo de encontros e desencontros.
Verifica-se que, quando o olhar do Outro está em harmonia com as expectativas do eu,
não há conflito; mas quando isso não acontece, ele se torna um espelho crítico que apontará as
falhas e as mentiras. Assim, a famosa frase de Garcin, “O inferno são os outros”, estará
efetivamente contextualizada, dependendo do tipo de relação que o eu mantiver com o Outro.
O próprio Sartre, em Un théâtre de situations (1998), segundo citação de Teixeira (2008,
p. 202), revela-nos uma interessante conclusão sobre a conflituosidade: não tentou Sartre dizer
que a convivência humana é sempre infernal, mas, ao contrário, que os outros são o que de
mais importante temos, pois a partir deles nos conhecemos, utilizando o pensamento deles
sobre nós, e podemos precisar disso para o autocrescimento.
Pode-se acrescentar ainda, segundo nosso entendimento, baseado na Crítica da razão
dialética, do próprio Sartre, que se as relações humanas estiverem distorcidas por qualquer
motivo, cabe a cada um transformá-las por meio da reciprocidade positiva, na qual os
indivíduos visam fins únicos, respeitando as diferenças. Se não o fizer, esse indivíduo de fato
1
“[...] c´est une belle illustration de ´l´engagement` du théâtre de Sartre, surdéterminée à ce point qu´elle ne
sollicite la réflexion de chacun que selon la sénsibilité ideológico-métaphysique qui est déjà la sienne, obligeant
tout au plu à en faire une expérience renouvelée et éventuellement à la remanier selon le degré de cohérence
souhaitée et revendiquée; um engagement comme ´centre social d´irréalisation` pour l´imaginaire de chacun...”
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
152
estará em um inferno, vivenciando a reciprocidade negativa, onde sabe que não passa de um
meio para que o Outro realize seus fins, e assim reage fazendo do Outro um meio para seu
próprio fim. Assim viverão na pura alteridade, que em Sartre significa a separação dos
indivíduos, isolados como moléculas.
Diante disso, pode-se afirmar que a conflituosidade está instaurada na convivência
diária com o Outro, assim como no inferno da peça; basta querer que seja mantida ou não.
REFERÊNCIAS
CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. (1999). Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, costumes,
gestos, formas, figuras, cores, números. 13. ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: J. Olympio.
DENIS, Benoît (2002). Literatura e engajamento: de Pascal a Sartre. Bauru, SP: EDUSC.
LIMA DA SILVA, A. A. (2009). Os caminhos da intersubjetividade. [Online]. In: Primeiros escritos.
São Paulo: USP. V. 1, n. 1, p. 33-46. Disponível em
http://www.fflch.usp.br/df/site/publicacoes/primeirosescritos/03.Anderson_da_Silva.pdf
Acesso em 10.09.2011.
MOISÉS, M. (2000). A análise literária. 12. ed. São Paulo: Cultrix.
NOUDELMANN, F.; PHILIPPE, G. (2004). Dictionnaire Sartre. Paris: Honoré Champion Éditeur.
PERDIGÃO, P. (1995). Existência & liberdade: uma introdução à filosofia de Sartre. Porto Alegre:
L & PM.
REVUE INTERNATIONALE DE PHILOSOPHIE. (2005). Le théâtre de Jean-Paul Sartre. Presses
Universitaires de France, n. 231 (1-2005).
REIS, C. A. A. dos; LOPES, A. C. M. (1996). Dicionário de narratologia. 5. ed. Coimbra/Portugal:
Almedina.
SARTRE, J.-P. (1943). L'etre et le neant: essai d'ontologie phenomenologique. Paris: Gallimard.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
153
SARTRE, J.-P. (1944). Huis clos: suivi de les mouches. Paris: Gallimard.
SARTRE, J.-P. (1959). Les séquestrés d'Altona: piece en cinq actes. Paris: Gallimard.
SARTRE, J.-P. (1960). Critique de la raison dialectique; precede de Questions de methode. Paris:
Gallimard.
SARTRE, J.-P. (1977). Entre quatro paredes. São Paulo: Abril Cultural.
SARTRE, J.-P. (1998). Un théâtre de situations. Paris: Galimard.
SARTRE, J.-P. (2003). O ser e o nada: ensaio de ontologia fenomenológica. 14. ed. Petrópolis:
Vozes.
SARTRE, J.-P; ELKAÏM-SARTRE, A. (2002). Crítica da razão dialética: precedido por Questões de
método. Rio de Janeiro: DP&A.
TEIXEIRA, A. B. (2008). O teatro de Sartre revisitado. In: CESAR, C. M.; BULCÃO, M. Sartre e seus
contemporâneos: ética, racionalidade e imaginário. Aparecida, SP: Ideias e Letras. p. 199-207.
VERSTRAETEN, P. (2005). La problématique de la communauté humaine dans Huis Clos e Les
séquestres. Revue Internationale de Philosophie. Le théâtre de Jean-Paul Sartre. Paris: Presses
Universitaires de France, n. 231 (1-2005). p. 122-146.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
154
Verdade e subjetividade nos estudos de Foucault sobre a ética clássica: uma
estética da existência
Daniel Verginelli Galantin*
RESUMO
Nesta comunicação apresentamos inicialmente as principais alterações pelas quais passam os
estudos de Michel Foucault durante os anos 80, quando estes são redirecionados para o campo
da ética na Grécia clássica e período helenístico. Trata-se do estudo das técnicas através das
quais os indivíduos se constituem a si mesmos enquanto sujeitos éticos a partir de relações de
si para consigo e com os outros. Para isso nos concentramos na introdução de “O uso dos
prazeres” e “O cuidado de si”. Em seguida destacamos a articulação entre verdade e
subjetividade neste momento (nos restringimos à Grécia clássica). Entre gregos, a figura da
verdade está intimamente ligada à prática da liberdade na vida política. No entanto, apesar da
inseparabilidade entre a constituição de si como sujeito ético e sujeito de conhecimento, esta
verdade não é fruto de uma hermenêutica do desejo como no caso do cristianismo, mas sim
daquilo que Foucault denomina “estética da existência”. Por esse termo devemos entender
uma existência que não se pauta pela obediência a um código transcendente de aplicação
universal, mas por certos princípios gerais que regem o bom uso dos prazeres, evitando que o
indivíduo se torne escravo destes. Daí sua ligação com a liberdade: para entrar na vida política,
era necessário governar a si mesmo, de modo a não se deixar escravizar pelas próprias paixões.
Foucault encontra na Grécia clássica uma noção de verdade diferente da verdade profunda de
si resultado de uma hermenêutica do desejo, e diferente daquela que participa da produção de
sujeitos assujeitados como verificado na modernidade (verdade como norma); o estatuto deste
“si” é, então, diferente daquele do sujeito moderno. Por fim, com o auxílio de algumas
entrevistas e comentadores, apontamos para a atualidade política das pesquisas de Foucault na
década de 1980.
PALAVRAS-CHAVE: Foucault, verdade, subjetividade, ética.
*
Aluno do Programa de Pós Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Bolsista CAPES. Email: [email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
155
Introdução: o novo eixo de estudo da década de 1980
A partir da década de 1980 os estudos de Michel Foucault passam por um significativo
deslocamento com relação àqueles dos anos 70. Nos últimos foram estudadas as articulações
entre poderes e saberes em suas transformações históricas, as quais fazem aparecer novos
objetos, e especialmente novos sujeitos. A partir dos anos 80, Foucault desloca seu olhar para a
Grécia clássica (por volta do século IV a.C.), o período helênico-romano (séculos I e II d.C.), e os
primeiros cristãos (IV e V d.C.). Entre os oito anos que separam a publicação dos dois primeiros
volumes de “História da Sexualidade”, em diversos cursos no Collège de France e outras
conferências, Foucault dedicou-se a estudar as técnicas através das quais os indivíduos se
constituem a si mesmos enquanto sujeitos éticos a partir de relações de si para consigo e com
os outros. Portanto, trata-se de um deslocamento ao mesmo tempo cronológico e temático.
No prefácio de “O Uso dos Prazeres” Foucault sistematiza como teria chegado ao si
mesmo que se autoconstitui a partir das técnicas de si. Ao retomar o projeto de “História da
Sexualidade”, o filósofo francês aponta para o fato deste apresentar-se enquanto “uma história
da sexualidade enquanto experiência, se entendemos por experiência a correlação, em uma
cultura, entre campos do saber, tipos de normatividade e formas de subjetividade”.
Ressaltamos que nem a noção de experiência1 nem a de subjetividade2 estavam presentes nos
estudos genealógicos, mas podemos perceber como saber e normatividade referem-se à
articulação entre saber e poder do momento genealógico. Este novo deslocamento implica em
procurar entender de que maneira “os indivíduos são levados a reconhecer-se como sujeitos de
uma sexualidade” (FOUCAULT, 2010, p.10). Conforme apontado, esta última faceta não existia
anteriormente; os sujeitos eram constituídos no interior do campo de imanência formado pelas
articulações entre poderes e saberes, articulações específicas e localizadas histórica e
geograficamente (sendo então passíveis de mudanças); mas eles não eram levados a
reconhecer-se em nada, uma vez que tratavam-se de sujeitos constituídos a partir de técnicas
1
A concepção de experiência aparece enquanto experiência trágica em “História da Loucura” (FOUCAULT, 1997,
pp.26-29) num sentido significativamente diferente daquele referido por Foucault nesta introdução.
2
Entendemos subjetividade como a dimensão que se constitui pelos três eixos (saber, poder e práticas de si), e
não apenas pelos dois eixos que caracterizam as pesquisas dos anos de 1970 (saber e poder).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
156
de sujeição, processos normalizadores que produziam verdades concomitantemente à própria
produção destes sujeitos; tratava-se, enfim, de sujeitos assujeitados. Digamos que estava
presente o lado passivo da última frase citada (o “levados a”), mas não o lado reflexivo, não o
“reconhecer-se”.
Foucault resume este deslocamento constituinte do terceiro eixo de seus estudos da
seguinte maneira: “a fim de analisar o que é designado como ‘o sujeito’; convinha pesquisar
quais são as formas e as modalidades da relação consigo através das quais o indivíduo se
constitui e se reconhece como sujeito” (FOUCAULT, 2010, p.12). A noção de verdade também
passa por esse deslocamento. Após os estudos dos jogos de verdade considerados entre si
(arqueologia), e considerados em sua articulação com os poderes (genealogia), foi necessário
“estudar os jogos de verdade na relação de si para si e a constituição de si mesmo como sujeito,
tomando como espaço de referência e campo de investigação aquilo que poderia chamar-se
‘história do homem de desejo’”. Para realizar uma história da verdade Foucault opera esse
deslocamento e revê todo seu percurso filosófico a partir do mesmo; trata-se de interrogar:
Através de quais jogos de verdade o homem se dá seu ser próprio a pensar
quando se percebe como louco, quando se olha como doente, quando reflete
sobre si como ser vivo, ser falante, ser trabalhador, quando se julga e se pune
enquanto criminoso? Através de quais jogos de verdade o ser humano se
reconheceu como homem de desejo?3 (FOUCAULT, 2010, p.13).
O número de orações construídas na forma passiva e reflexiva já é, no mínimo, um indício de
que este sujeito não pode ser considerado nem o sujeito soberano das filosofias do sujeito,
nem o sujeito assujeitado, constituído no campo de imanência das articulações entre saberes e
poderes (pois ele se constitui e se reconhece). Trata-se de outra abordagem do sujeito, não
3
Podemos perceber como Foucault se refere aos seus trabalhos anteriores: “História da Loucura”, “Nascimento da
Clínica”, “As Palavras de as Coisas”, “Vigiar e Punir”, “História da Sexualidade” respectivamente. No entanto este
olhar retrospectivo serve antes para entendermos a singularidade do momento no qual ele é lançado (as pesquisas
da década de 1980), que para entendermos as obras às quais ele se refere. Caso contrário, estaríamos adotando
uma concepção de história radicalmente anti-foucaultiana para os próprios trabalhos de Foucault, na medida em
que estaríamos projetando retrospectivamente o presente da década de 1980 nos estudos das décadas de 1960 e
1970. Isso tornaria a obra de Foucault marcada pela continuidade e latência de elementos que apenas
progrediriam com o tempo.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
157
mais como constituinte e nem como constituído; daí a torção e certa imprecisão no uso das
palavras, como se Foucault tentasse fazê-las dizer mais que seu significado usual.
Constituição do sujeito ético na Grécia clássica: ausência de referência à lei e estética da
existência
Com o recorte apontado anteriormente, Foucault investiga as maneiras através das
quais os comportamentos sexuais foram alvo de preocupações e formulações morais. Dizer que
a sexualidade é sempre alvo de interdições fundamentais não basta, pois “ocorre
freqüentemente que a preocupação moral seja forte, lá onde precisamente não há obrigação
nem proibição” (FOUCAULT, 2010, p.17). Tais regras criadas para reger campos éticos não
codificados estritamente são os elementos para os quais o filósofo francês dirige seus estudos.
No mundo greco-latino tais preocupações estavam relacionadas ao que Foucault denomina
artes da existência.
Deve-se entender, com isso, práticas refletidas e voluntárias através das quais
os homens não somente se fixam regras de conduta, como também procuram
transformar, modificar-se em seu ser singular e fazer da sua vida uma obra que
seja portadora de certos valores estéticos e responda a certos critérios de
estilo. Essas ‘artes de existência’, essas ‘técnicas de si’, perderam, sem dúvida,
uma certa parte de sua importância e de sua autonomia quando, com o
cristianismo, foram integradas no exercício de um poder pastoral e, mais tarde,
em práticas de tipo educativo, médico ou psicológico. De qualquer modo,
dever-se-ia, sem dúvida, fazer e refazer a longa história dessas estéticas da
existência e dessas tecnologias de si (FOUCAULT, 2010, pp.17-18).
Para realizar o estudo das éticas antigas, faz-se necessária uma arqueologia das preocupações
morais, focada no âmbito discursivo dos temas e inquietações que perpassam as morais cristã e
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
158
greco-latinas (trata-se da sub-sessão “As formas de problematização” 4); e uma genealogia das
práticas (trata-se da sub-sessão “Moral e prática de si”). Quanto a esta última, Foucault aponta
três possíveis modos de se investigar uma moral. Poder-se-ia problematizar os códigos morais,
ou a ação dos indivíduos perante estes códigos. Mas Foucault propõe outra via. Trata-se de
estudar a autoconstituição de si como sujeito ético: “(...) a maneira pela qual é necessário
‘conduzir-se’ – isto é, a maneira pela qual se deve constituir a si mesmo como sujeito moral,
agindo em referência aos elementos prescritivos que constituem o código” (FOUCAULT, 2010,
p.34). Em suma, trata-se das diversas maneiras pelas quais se pode seguir uma série de
prescrições; as diferentes maneiras de se conduzir e se constituir como sujeito ético. Foucault
destaca quatro pontos aos quais tal autoconstituição refere-se. A determinação da substância
ética (que no caso de “O uso dos prazeres” são os aphrodisia5); o modo de sujeição (a chresis6);
a elaboração do trabalho ético (enkrateia7) e a teleologia do sujeito moral (sophrosune8). Nos
concentramos na relação entre verdade e subjetividade, a relação entre o si mesmo e a verdade
na constituição de si como sujeito ético. Esta relação está trabalhada no quarto item do
primeiro capítulo de “O uso dos prazeres”, onde a sophrosune é investigada em sua
especificidade.
4
Nesta vertente arqueológica da investigação Foucault destaca o medo da masturbação, o esquema da fidelidade,
a imagem da repugnância a homens efeminados e o elogio à abstenção sexual, tanto entre antigos como entre
modernos. A rápida e introdutória comparação acaba por mostrar como apesar da aparente continuidade, há uma
grande diferença entre ambos os períodos. Trata-se de problematizar leituras simplistas que colocam a moral
cristã pré-formada na pagã antiga (dando legitimidade histórica à primeira), ou colocando esta última enquanto
um lugar de liberdade de comportamentos em comparação com o rigorismo cristão (projetando
retrospectivamente para os antigos uma noção moderna de liberdade).
5
“Os aphrodisia são atos, gestos, contatos, que proporcionam uma certa forma de prazer” (FOUCAULT, 2010,
p.53), o que inclui a comida a bebida e os prazeres do sexo. Foucault utiliza a palavra na língua grega para
diferenciá-la tanto da “carne” cristã quanto da “sexualidade” laica moderna.
6
A reflexão grega sobre o uso dos prazeres (tradução de chresis aphrodision) não toma a forma da fixação de um
código universal de regras às quais os indivíduos devem se sujeitar. Trata-se antes de “elaborar as condições e as
moralidades de um ‘uso’: o estilo daquilo que os gregos chamavam chresis aphrodision, o uso dos prazeres”
(FOUCAULT, 2010, p.67). Na moral grega clássica trata-se de um ajustamento que leva em conta a necessidade, o
momento e o status.
7
A enkrateia (pode ser traduzida por “continência”) é uma forma de relação consigo necessária à conduta moral
dos prazeres. Ela se caracteriza por uma luta de si contra si mesmo, com vistas a garantir “uma forma ativa de
domínio de si que permite resistir ou lutar e garantir sua dominação no terreno dos desejos e dos prazeres”
(FOUCAULT, 2010, p.80).
8
A sophrosune (pode ser traduzida por “temperança”) é o estado para o qual tende a enkrateia; esta última é
como a condição para a sophrosune.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
159
Após ter se concentrado na enkrateia, entendida como um tipo de continência o qual
não visa acabar com a luta interna entre paixões (pathos), mas sim equilibrá-las (o que implica
na prática de exercícios que visam atingir e manter tal equilíbrio), Foucault dirige sua atenção à
sophrosune destacando o aspecto político que esta assume na Grécia clássica:
Embora seja tão importante governar os desejos e prazeres, e apesar do uso
que se faz deles constituir um alvo moral de tal preço, não é para conservar ou
reencontrar uma inocência de origem; não é, em geral – salvo, evidentemente,
na tradição pitagórica para conservar uma pureza; é para ser livre e poder
permanecê-lo (FOUCAULT, 2010, p.97).
A liberdade dos cidadãos em seu conjunto não pode ser separada do domínio que cada um
deles é capaz de exercer sobre si mesmo. Esta liberdade não deve ser entendida como livrearbítrio ou liberação, nem independência de coerções exteriores ou interiores. Ela é poder que
se exerce sobre si mesmo, e seu pólo oposto é a escravidão diante das próprias paixões: “Ser
livre em relação aos prazeres é não estar a seu serviço, é não ser seu escravo” (FOUCAULT,
2010, p.98). Ainda mais que uma não-escravidão com relação a si mesmo e aos outros, a
reflexão grega clássica coloca que a liberdade, “na sua forma plena e positiva ela é poder que se
exerce sobre si, no poder que se exerce sobre os outros” (FOUCAULT, 2010, p.99). Isso implica
numa indivisibilidade ou isomorfismo entre governo de si e governo dos outros; ou seja, aquele
que comanda os outros deve acima de tudo ser também capaz de comandar a si mesmo. Por
isso, o tirano político é frequentemente caracterizado não apenas em sua relação com a pólis –
sua falta de cuidado com a justiça na mesma –, como também em sua relação consigo mesmo:
ele é incapaz de dominar a si mesmo9.
9
Já no curso “Hermenêutica do Sujeito”, Foucault encontra no “Alcebíades” de Platão a correspondência entre
governo de si e governo dos outros – no caso trata-se do cuidado de si o qual é necessário para se cuidar da pólis.
Sócrates aborda Alcebíades para mostrar-lhe que ele não tem a tekhné necessária para governar a cidade apenas
quando este pretende transformar seu privilégio estatutário em ação política efetiva: “Não se pode governar os
outros, não se pode bem governar os outros, não se pode transformar os próprios privilégios em ação política
sobre os outros, em ação racional, se não se está ocupado consigo mesmo. Entre privilégio e ação política, este é,
portanto, o ponto de emergência da noção de cuidado de si” (FOUCAULT, 2010h, p.35).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
160
A especificidade da constituição do campo ético quanto à relação entre verdade e
subjetividade na Grécia clássica torna-se evidente quando Foucault o compara com o
cristianismo. A relação entre verdade e subjetividade entre os gregos, segundo Foucault,
jamais assume a forma de uma decifração de si por si e de uma hermenêutica
do desejo. Ela é constitutiva do modo de ser do sujeito temperante; não
equivale a uma obrigação para o sujeito de dizer a verdade sobre si próprio;
nunca abre a alma como um domínio de conhecimento possível onde as
marcas dificilmente perceptíveis do desejo deveriam ser lidas e interpretadas.
A relação com a verdade é uma condição estrutural, instrumental e ontológica
da instauração do indivíduo como sujeito temperante e levando uma vida de
temperança; ela não é uma condição epistemológica para que o indivíduo se
reconheça na sua singularidade de sujeito desejante, e para que possa
purificar-se do desejo assim elucidado (FOUCAULT, 2010, pp.109-110).
Em outras palavras, a constituição do sujeito ético grego passa por uma relação com o
verdadeiro (pois o que hoje denominamos por ética e epistemologia, não se separavam na
antiguidade), que não é o dizer a verdade profunda sobre si. Nem decifração de si por si e nem
hermenêutica do desejo. Trata-se de uma verdade que dota o indivíduo de uma capacidade
autoconstitutiva de sujeito temperante, tornando-o senhor de si, e talvez pudéssemos dizer
que o torna autônomo, no sentido estrito: aquele capaz de dar a si suas próprias regras e com
isso tornando-se capaz de cuidar da cidade – por isso a figura da lei está praticamente ausente
nos textos estudados por Foucault. Através de exemplos encontrados em Xenofontes, nosso
autor mostra que a ética que guiava os prazeres, quando tratava do princípio da necessidade,
implicava em sustentar o prazer pelo desejo tomando o cuidado de não multiplicar desejos não
naturais. Por exemplo, deve-se dormir motivado pelo cansaço e não pela ociosidade. “A
necessidade deve servir de princípio diretor nessa estratégia, a qual, como se vê, nunca pode
tomar a forma de uma codificação precisa ou de uma lei aplicável a todos da mesma maneira e
em todas as circunstâncias. Ela permite um equilíbrio na dinâmica do prazer e do desejo”
(FOUCAULT, 2010b, p.70). Este equilíbrio permite escapar à intemperança, a qual nada mais é
que uma conduta que não remete a uma necessidade:
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
161
Concebida assim a temperança não pode tomar a forma de uma obediência a
um sistema leis ou a uma codificação das condutas; ela também não pode
valer como um princípio de anulação dos prazeres; ela é uma arte, uma prática
dos prazeres que é capaz, ao ‘usar’ daqueles que são baseados na necessidade
[,] de se limitar ela própria (FOUCAULT, 2010b, p.71).
A relação com a verdade na ética antiga não passa por uma hermenêutica do desejo
como no cristianismo, mas por aquilo que o filósofo francês denomina por “estética da
existência”.
Deve-se entender com isso uma maneira de viver cujo valor moral não está na
conformidade a um código de comportamento nem em um trabalho de
purificação, mas depende de certas formas, ou melhor, certos princípios
formais gerais no uso dos prazeres, na distribuição que deles se faz, nos limites
que se observa, na hierarquia que se respeita. Pelo logos, pela razão e pela
relação com o verdadeiro que a governa, tal vida inscreve-se na manutenção
ou reprodução de uma ordem ontológica; e, por outro lado, recebe o brilho de
uma beleza manifesta aos olhos daqueles que podem contemplá-la ou guardála na memória (FOUCAULT, 2010, p.110).
A estética da existência se nos apresenta como um “modo de sujeição” – um dos quatro
vetores da constituição do sujeito ético. O “modo de sujeição” diz respeito à “maneira pela qual
o indivíduo estabelece sua relação com essa regra e se reconhece como ligado à obrigação de
pô-la em prática” (FOUCAULT, 2010, p.35). Foucault dá três exemplos quanto à fidelidade:
pode-se ser fiel por reconhecer-se como ligado a um grupo social que proclama a fidelidade;
por considerar-se ligado a uma tradição espiritual que deve ser revivida ou mantida; por
responder a um apelo, colocar-se como exemplo ou querer dar à própria vida pessoal “uma
forma que corresponda a critérios de esplendor, beleza, nobreza ou perfeição” (FOUCAULT,
2010, p.35). Este último modo é precisamente a estética da existência 10, o que mostra como a
10
No entanto vale ressaltar que por vezes o próprio Foucault mistura a noção de estética da existência com alguns
outros conceitos incipientes neste período. Cf (FOUCAULT, 2010, pp.17-18), quando são misturados os temos
“técnicas de si” e “estética da existência”. Reencontramos tal indistinção na entrevista “Sexualité et Solitude”
(FOUCAULT, 2001b, p.987) onde a confissão forçada de um louco é apresentada como uma técnica de si, enquanto
que pouco depois as técnicas de si serem definidas em termos próximos da estética da existência. Parece-nos que
as técnicas de si são parte da constituição de qualquer sujeito, quer em meio a uma produção heterônoma, quer
em meio a uma produção menos regulamentada.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
162
obediência à lei é apenas uma das figuras possíveis na constituição do sujeito ético, e não a
única.
Ao final do capítulo no qual concentramos nossas atenções, aparece outra comparação
com o cristianismo. Esta deixa evidente que apesar de alguns conteúdos de austeridade
semelhantes, a moral pagã antiga difere da cristã essencialmente na constituição do sujeito
ético, e não pelo código estritamente. No caso do cristianismo, a substância ética não é o
conjunto dos aphrodisia, mas alguns atos definidos minuciosamente e os desejos escondidos
nos recônditos da carne. A forma de sujeição não será um savoir-faire do bom uso dos prazeres,
mas o respeito à lei e “obediência a uma autoridade pastoral”. Assim, o sujeito moral cristão
não se caracteriza por uma maestria e dominação de si sobre si, mas por uma renúncia a si e
busca por pureza cujo modelo é a virgindade.
A partir daí, pode-se compreender a importância, na moral cristã, dessas duas
práticas, ao mesmo tempo opostas e complementares: uma codificação dos
atos sexuais, que se tornará cada vez mais precisa, e o desenvolvimento de
uma hermenêutica do desejo e dos procedimentos de decifração de si
(FOUCAULT, 2010, p.113).
No cristianismo (especialmente em sua faceta monástica) era necessário buscar uma verdade
profunda de si mesmo para poder livrar-se do mal que se tem dentro de si (a verdade implicava
na renúncia a si e na obediência); na modernidade a verdade investigada por Foucault (cujo
modelo é a norma) era produzida na própria constituição dos sujeitos (sujeitos assujeitados e
obedientes); na Grécia clássica tratava-se de outra relação, com uma verdade que é também
outra. Esta implicava na constituição de um si mesmo dotado de auto-domínio e, portanto,
livre. Nem verdade de si com renúncia a si, nem produção heterônoma do sujeito; como
apontado anteriormente, talvez possamos dizer que se trate de uma produção autônoma do
sujeito na relação deste consigo mesmo e com os outros. Autônoma pela ausência de
referência à figura da lei e pela modalização casuística da ética, ou seja, tratam-se de princípios
gerais precisamente para que eles possam ser modelados, adaptados a cada caso, em cada
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
163
momento. Na introdução que serve aos dois últimos volume da “História da Sexualidade”,
nosso autor define o estatuto e o papel de tais discursos verdadeiros:
O papel desses textos era o de serem operadores que permitiam aos
indivíduos interrogar-se sobre sua própria conduta, velar por ela, formá-la e
conformar-se, eles próprios, como sujeito ético; em suma, eles participam de
uma função ‘etopoética’, para transpor uma expressão que se encontra em
Plutarco (FOUCAULT, 2010b, p.20).
Estes são alguns elementos que fazem com que este si não seja indício de um retorno ao
sujeito na década de 1980, e “se em seus últimos trabalhos Foucault fala do sujeito, não se
trata do sujeito epistêmico ou genealógico, mas de um sujeito ético, constituído através de
práticas de si” (ORTEGA, 1999, p.45), as quais são elas também variáveis histórica e
geograficamente e apresentam a capacidade de transformar o ethos deste próprio sujeito. Por
motivos heurísticos, podemos dizer que nos estudos das práticas de si, Foucault trata de
subjetividades, e não de um sujeito. Acreditamos ser possível avançar ainda mais na definição
do estatuto de tal subjetividade constituída a partir das práticas de si ao colocá-la não
enquanto constituída, e nem constituinte (ORTEGA, 1999, p.63), mas no gerúndio reflexivo:
constituindo-se. Assim indicamos melhor a dobra sobre si e o movimento que caracterizam a
subjetividade, em detrimento dos atributos de fixidez, unidade e identidade da noção de
sujeito, pois não há acabamento no trabalho exercido sobre si.
Conclusão: implicações políticas contemporâneas dos estudos éticos de Michel Foucault
Por fim, nos parece válido destacar a contemporaneidade política das investigações de
Foucault nos anos 80. Seu trabalho com os antigos não nos parece nem pura erudição, nem a
procura, nos gregos, da solução para o enfrentamento às tecnologias de poder totalizadoras e
individualizadoras de nossa época, descritas na conferência “Omnes et Singulatim”, de 1981
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
164
(FOUCAULT, 2001b, p.953). Foucault deixa claro na entrevista “A propósito da genealogia da
ética”, de 1983: “Não, eu não procuro por uma solução de rechange11; não se encontra a
solução de um problema na solução de outro problema colocado em outra época por pessoas
diferentes” (FOUCAULT, 2001b, p.1205). Antes que uma história das soluções, o que seu
trabalho faz, é deslocar certas problematizações políticas ao construir uma nova perspectiva do
passado em relação ao presente. Foucault notou bem, na entrevista “O sujeito e o poder” (de
1982), que as lutas políticas contemporâneas mudaram. Elas se constroem contra um tipo de
poder
que se exerce na vida cotidiana das pessoas, que classifica os indivíduos em
categorias, designa-os por sua individualidade e lhes fixa em suas identidades,
lhes impõem uma lei de verdade a qual eles devem reconhecer em si mesmos
e que os outros devem reconhecer neles. Trata-se de uma forma de poder que
transforma os indivíduos em sujeitos (FOUCAULT, 2001b, p. 1048).
Ou seja, são lutas contra a submissão de subjetividades. Estas novas lutas trazem consigo novos
objetivos:
sem dúvida o objetivo principal hoje não é o de descobrir, mas de recusar o
que nós somos. É necessário imaginarmos e construir aquilo que poderíamos
ser para nos desvencilharmos dessa espécie de ‘dupla constrição’ política que é
a individualização e a totalização simultâneas das estruturas do poder
moderno (FOUCUAULT, 2001b, p.1051).
Contrariamente às lutas políticas pautadas pela organização partidária ou pela ótica estatal,
trata-se não mais de lutar por reconhecimento identitário (o que, é preciso ressaltar, coloca em
questão o modo de atuação de alguns movimentos sociais), e nem pela realização e conquista
de algo que já somos em estado latente e só não somos de fato porque somos reprimidos ou
iludidos. Trata-se de abandonar o que já somos, as identidades que nos são conferidas pelos
11
A tradução dos originais em francês é de nossa responsabilidade. Decidimos manter o termo “rechange” no
original por ele ser difícil de traduzir, apesar de seu sentido ser simples. O prefixo “re” diz respeito a um estado de
coisas anterior ao atual, enquanto o substantivo “changement” significa mudança. Logo, rechange nada mais é que
trazer de volta um estado de coisas do passado, e que no caso se refere à ética greco-romana.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
165
mecanismos de assujeitamento, para que diferenciemo-nos de nós mesmos. Para isso parecenos ser necessário outro tipo de relação de nós para conosco e com os outros, novos
experimentos éticos de constituição de subjetividades, para os quais os trabalhos de Foucault
nos anos 80 apontam, contudo sem carregar com isso qualquer prescrição ou normatividade.
BIBLIOGRAFIA
CANDIOTTO, César. Foucault e a crítica da verdade. Belo Horizonte: Autêntica; Curitiba:
Champagnat, 2010.
FOUCAULT, Michel. A Hermenêutica do Sujeito. São Paulo: Martins Fontes, 2010a.
________________. História da Sexualidade: o uso dos prazeres. Rio de Janeiro: Graal, 2010b.
________________. Dits et écrits, tome I. Paris: Gallimard, 2001a.
________________. Dits et écrits, tome II. Paris: Gallimard, 2001b.
ORTEGA, Francisco. Amizade e estética da existência em Foucault. Rio de Janeiro: Graal, 1999.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
166
Nietzsche: liberdade, tragédia e destino
Eder David de Freitas Melo*
RESUMO
A partir da análise nietzscheana da tragédia grega e do fenômeno dionisíaco, pretendo abordar
nesta comunicação um possível sentido trágico para a existência, tendo como eixo
argumentativo a particular relação que Nietzsche faz entre os conceitos de liberdade e destino.
Tanto na estética trágica como no êxtase dionisíaco, Nietzsche argumenta que a mensagem
transmitida é a sabedoria da natureza, da vida, do deus Dioniso. Essa sabedoria ensina que o
indivíduo não está desprendido do mundo; o dualismo homem/natureza é abolido pelo frenesi
dionisíaco o qual proporciona um sentimento de unidade no homem tornando-o capaz de
reconhecer-se como natureza, como parte integrante do mundo. Dessa forma, o destino do
homem e do mundo estão ligados, são um; a liberdade deixa de ser encarada como um
posicionamento solipsista do homem ante ao mundo, passando a um novo estatuto. Nele, uma
aceitação e afirmação das contingências e necessidades da existência configura-se como um
ato de fidelidade à terra no qual o homem experimenta o sentimento de liberdade; nesse ato o
homem sente-se livre quando deixa de agir arbitrariamente e passa a fazê-lo harmonicamente
às pulsões terrestres. Assim, Nietzsche faz uma espécie de amálgama entre a liberdade e o
destino. O resultado disso é uma existência consciente de sua tragicidade, da fragilidade que
permeia tanto a fortuna como a má sorte.
PALAVRAS-CHAVE: tragédia, dionisíaco, destino e liberdade.
Introdução
A ação humana pode ser examinada sob várias perspectivas e por diferentes modos.
Entre eles, as tragédias gregas podem se destacar de mera referência para um modo de pensar,
*
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Goiás (UFG), sob orientação
da Prof.ª Dr.ª Adriana Delbó. Bolsista CAPES. E-mail: [email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
167
representar e avaliar o drama da ação no mundo dos assuntos humanos (Cf. VERNANT, 1990, p
342-3). Sensível a essa possibilidade, Nietzsche desenvolve em sua filosofia uma estética e uma
ética trágicas. Entretanto, apesar da importância da estética trágica na obra nietzscheana, neste
trabalho o caminho investigativo privilegiará uma parte da reflexão ética, o que mais adiante
será identificado com o conteúdo da tragédia ática. A particular perspectiva da ética esboçada
aqui constitui-se na relação do indivíduo consigo mesmo, em que ele, como avaliador, pondera
acerca dos motivos, propósitos, conseqüências e resultados de sua ação, ou seja, o que
doravante será nomeado simplesmente de relação agente/ato. Relação esta que de forma
alguma é algo simples para Nietzsche, pois como diz em um fragmento póstumo: “Que o gato
humano sempre torne a cair sobre [...] sua única perna ‘eu’, é somente um sintoma de sua
‘unidade’ fisiológica, ou melhor, ‘unificação’: nenhuma razão para acreditar em uma ‘unidade
anímica’” (NIETZSCHE, 2002, p. 63 [FP 1(72)]).
Desenvolvimento
“Os gregos, que nos seus deuses expressam e ao mesmo tempo calam a doutrina
secreta de sua visão de mundo” (NIETZSCHE, 2005b, p. 5 [§1]), elegeram para suas artes dois
deuses: Apolo e Dioniso. O primeiro está associado às artes figurativas, plásticas, dotadas de
medida, tais como a pintura e a escultura. Já o segundo refere-se à arte não figurada e
desprovida de medida, ou seja, a música. Dessa forma, os helenos dividiram as artes como
oriundas de dois tipos de pulsões da natureza. Enquanto Apolo representa a tendência ética
dotada de medida, conformadora (dar forma) do indivíduo; Dioniso, o intenso e incerto jogo de
forças da natureza. (NIETZSCHE, 2007, p. 24-39 [§1-§4]). Esses impulsos normalmente
encontram-se em contraposição e discórdia, entretanto a vontade helênica foi capaz de
reconciliá-los por um certo tempo, e conjugados eles se tornaram aptos ao parto da tragédia.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
168
Ambos os impulsos [Apolíneo e Dionisíaco], tão diversos, caminham lado a
lado, na maioria das vezes em discórdia aberta e incitando-se mutuamente a
produções sempre novas, para perpetuar nelas a luta daquela contraposição
sobre a qual a palavra comum ‘arte’ lançava apenas aparentemente a ponte;
até que, por fim, através de um miraculoso ato metafísico da ‘vontade’
helênica, apareceram emparelhados um com o outro, e nesse
emparelhamento tanto a obra de arte dionisíaca quanto a apolínea geraram a
tragédia ática. (NIETZSCHE, 2007, p. 24 [§1]).
Nessa união que deu origem à tragédia, tanto o impulso apolíneo quanto o dionisíaco
estão presentes, porém há a possibilidade de reconhecer uma certa prevalência de Dioniso
nessa aliança. Como mostra Roberto Machado, na arte trágica, a cena e a palavra são instâncias
apolíneas, já a música é uma instância dionisíaca (2006, p. 224). E mais, a tragédia, como
descrita por Nietzsche, é a “transformação de um ‘fenômeno natural’ em um ‘fenômeno
artístico’ [sendo que o] fenômeno natural é o dionisíaco puro, selvagem, bárbaro e titânico; o
fenômeno artístico é a arte trágica, o teatro, a tragédia.” (MACHADO, 2006, p. 224), ou seja, a
tragédia grega é o fenômeno dionisíaco posto em cena, música e palavra.
A tragédia possui como origem o ditirambo dionisíaco, afirma Nietzsche em O
Nascimento da Tragédia, mas quando ela deixa seu estado inicial de proto-tragédia e consolidase em uma fase madura, a esse ditirambo uni-se o mundo apolíneo da cena. Mas com este fato
a mensagem transmitida por essa obra de arte não muda, visto que em seu novo estado
podemos compreendê-la “como sendo o coro dionisíaco a descarregar-se sempre de novo em
um mudo de imagens apolíneo” (NIETZSCHE, 2007, p. 57 [§8]), assim, a tragédia ática é
interpretada como um fenômeno artístico formado por um coro satírico que utiliza imagens
apolíneas para cantar e encenar a sabedoria do deus Dioniso (Cf. MACHADO, 2006, p. 224-234).
É o fato de Nietzsche explicar a arte trágica como ato transfigurador da sabedoria
dionisíaca, que possibilita examinar o mundo dos assuntos humanos, particularmente a relação
agente/ato, e conferir o adjetivo “trágico” a essa relação. A pedra de toque dessa questão
encontra-se em Dioniso e em seu canto trágico, visto que esse canto fala justamente de sua
sabedoria.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
169
A sabedoria de Dioniso é a fala da própria natureza, apesar de estar ligado à
embriaguez, a vertigem provocada por esse deus desvela em vez de velar. Em confronto com a
arte apolínea que representa representações, ou seja, imita a aparência fenomenal das coisas;
o ritual dionisíaco, com seu êxtase, expressa a verdade que está por trás dos fenômenos, “nele
a natureza se desvelou e falou de seu segredo com uma terrível clareza, com o tom diante do
qual a aparência sedutora quase perdeu seu poder” (NIETZSCHE, 2005b, p. 19 [§2]).
O indivíduo destruído na tragédia alude ao consolo de que em confronto com a
totalidade das coisas, o individual deve ser censurado. (NIETZSCHE, 2007, p.36-39, 48-53 [§4,
§7]; MACHADO, 2006, p. 202-224).
[...] a vida, no fundo das coisas, apesar de toda a mudança das aparências
fenomenais, é indestrutivelmente poderosa e cheia de alegria, esse consolo
aparece com nitidez corpórea como coro satírico, como coro de seres naturais,
que vivem, por assim dizer, indestrutíveis, por trás de toda civilização, e que a
despeito de toda mudança de gerações e das vicissitudes da história dos
povos, permanecem perenemente os mesmos. (NIETZSCHE, 2007, p. 52 [§7]).
É graças à indestrutibilidade e vigor da vida que Édipo, apesar de sua desmesurada
sabedoria, não consegue se livrar do próprio destino. As ações planejadas por sua sabedoria
não conseguem driblar o insondável jogo da natureza, o que torna seus atos cúmplices do
destino e inimigos de sua vontade e sabedoria. Essa inimizade não é resultado de uma rixa, mas
de um descompasso entre a capacidade humana e o poder da physis, por isso, na relação que o
agente estabelece com seu ato pensando sobre os possíveis resultados dele, algo sempre
escapa e o inesperado acontece.
O indivíduo, ante à natureza, é somente um fio trançado pelas Moiras. 1 Por isso Édipo
enreda no parricídio e uni-se em um matrimônio execrável com sua mãe. E Prometeu, apesar
de seu amor pelos homens, de sua sabedoria e do dom da vidência, também não escapa ao
destino, pois é a vida em sua totalidade que deve ser afirmada, não o indivíduo.
1
A palavra moira, de origem grega, quer dizer “destino, fado”. Mas também, quando escrita no plural “Moiras”, é
o nome de três irmãs que, na mitologia grega, teciam em seu tear o fio da vida dos deuses e homens.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
170
O que Nietzsche diz ser o segredo da natureza falado pelo boca de Dioniso — no caso da
tragédia é o coro formado por sátiros que canta esse segredo, essa sabedoria —, é perceptível
através de um duplo sentimento de unidade que o ditirambo provoca. O primeiro refere-se à
afirmação da existência em sua totalidade, quando o homem se vê unido ao mundo; o segundo
diz respeito à natureza dessa existência. Nos cultos a Dioniso, o indivíduo é conduzido a um
poderoso esquecimento de si acompanhado de um sentimento sobrenatural de unidade com
os outros homens e com a natureza, onde “cada qual se sente não só unificado, conciliado,
fundido com o seu próximo, mas um só [com o mundo]” (NIETZSCHE, 2007, p. 28 [§1]). Dessa
maneira, o êxtase dionisíaco configura-se como um instrumento desvelador e afirmativo da
unidade partilhada por todas as coisas, com o que deduz-se que homem e mundo partilham o
mesmo destino, são um.
Na embriaguez dionisíaca, no impetuoso percorrer de todas as escalas da alma,
por ocasião das agitações narcóticas ou na pulsão de primavera, a natureza se
expressa em sua força mais elevada: ela torna a unir os seres isolados e os
deixa se sentirem como um único (NIETZSCHE, 2005b, p. 12 [§1]).
Dioniso também é relacionado à metamorfose que está na essência da vida —
lembremos do segundo sentimento de unidade provocado pelos rituais dionisíacos o qual alude
à natureza da existência —. Esse símbolo é responsável pela afirmação do devir como princípio
que conduz tudo à mudança, a uma transformação que condiciona a criação e a destruição.
Com esse princípio, o novo surge a partir da destruição do velho, não se cria sem destruir, assim
como não há superação sem obstáculo a ser transposto.
Esse fluxo incessante do devir conduz os fenômenos em um caminho sem fim. Nele, as
ações enredam-se por uma teia de aniquilamento e fecundidade com um imbricamento tal
entre necessidade e contingência, que
o imenso caráter ocasional de todas as combinações [da ação humana] tem
uma influência ilimitadamente grande sobre todo o vindouro. O mesmo temor
reverencial que [o homem], olhando para trás, dedica a todo o destino, ele
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
171
precisa dedicar também a si mesmo. Ego fatum (NIETZSCHE, 2008, p. 41 [FP 25
(158)]).
Ou ainda, o “que faço ou deixo de fazer agora é tão importante, para tudo o que está
por vir, quanto o maior acontecimento do passado: nesta enorme perspectiva do efeito, todos
os atos são igualmente grandes e pequenos” (NIETZSCHE, 2001, p. 178 [§233]). E de forma bem
semelhante em um fragmento póstumo da primavera de 1884, assim diz Nietzsche: “Útil é
apenas um ponto de vista para o que está próximo: todas as conseqüências longínquas não são
previsíveis, e toda ação pode ser taxada igualmente como útil e como prejudicial” (NIETZSCHE,
2008, p. 35 [25 (128)]).
Nessas passagens em que Nietzsche examina o caráter da ação humana, percebe-se o
quanto a ele é sensível um sentido trágico da ação, visto que esta se desencadeia de forma
imprevisível, fortuita e com desdobramentos tais que permitem avaliá-la tanto como um
destino como algo bom e/ou ruim. Semelhantemente, a relação indivíduo/ato se dá também de
maneira diversa, com influências longínquas e dispersas, passível de ser examinada em várias
perspectivas.
[...] aprendi a diferenciar a causa do agir da causa do agir de tal e tal modo [...].
A primeira espécie de causa é um quantum de energia represada, esperando
ser utilizada de alguma forma, com algum fim; já a segunda espécie é algo
insignificante comparado a essa energia, geralmente um simples acaso,
segundo o qual aquele quantum se “desencadeia” de uma maneira ou de outra
[...]. Entre esses pequenos acasos [...] incluo todos os pretensos fins [...]: são
relativamente fortuitos, arbitrários, quase indiferentes, em relação ao enorme
quantum de energia que urge, como disse, para ser de alguma forma
consumido. [...] O “objetivo”, o “fim”, não seria freqüentemente um pretexto
embelezador, um posterior fechar de olhos da vaidade, que não quer admitir
que o barco segue a corrente na qual fortuitamente caiu? Que ele “quer” ir
para lá porque — tem de ir? (NIETZSCHE, 2001, p. 262 [§360]).
A esse modo trágico de ser da ação humana, Dioniso canta uma melodia harmônica,
com a qual ensina esses saberes por meio de um pathos ritualístico, mas também filosófico,
afirma Nietzsche. Esse pathos ocorre no cortejo dionisíaco, quando a natureza (incluso o
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
172
homem) sensível ao toque do deus é arrebatada em um frenesi fecundo, clarividente e
desconcertante. Também filosófico, pois nesse ritual a sabedoria trágica ensina segredos do
mundo ao homem: que homem e mundo são um só e partilham o mesmo destino; que no fluxo
do vir-a-ser está enredado tanto o homem quanto as coisas; que a direção do caminhar
humano está amalgamado ao fluxo do devir, ao jogo de forças da natureza, sendo que estas
ganham em potência quando comparadas ao indivíduo; que o homem, tomado como causa
exclusiva de seu ato, é uma ilusão e um desconsiderar o imbricamento de inúmeras coisas; que
a vida, em uma perspectiva macro, continua a pulsar no sofrimento e aniquilamento do
indivíduo; que a ação provém de um impulso mas seu modo é influenciado por diversas
variáveis. Nessa crença dionisíaca, tocado pelo êxtase, o homem “acha-se com alegre e
confiante fatalismo no meio do universo, na fé de que apenas o que está isolado é censurável,
de que tudo se redime e se afirma no todo” (NIETZSCHE, 2006, p. 99 [Incursões de um
extemporâneo, §49]).
Com o elogio ao indivíduo que se redime e afirma no todo, percebemos a crítica de
Nietzsche ao argumento racionalista que cria um sujeito isolado, capaz de escolher e agir
independente do curso do mundo, decidindo entre o bem e o mal, criando com solipsismo seu
destino. Esse tipo de arbítrio, que se pretende desprendido do mundo, é um engodo fruto “da
fantasia orgulhosa de que somos diferentes da natureza, de que podemos impor nossas forças
à cega mobilidade do devir” (BARRENECHEA, 2008, p. 25). A compreensão da liberdade humana
tomada como uma capacidade de escolha independente da dinâmica do universo, ou seja, o
que é comumente conhecido como livre-arbítrio, em uma “superlativa acepção metafísica”
constitui-se em uma autocontradição. O indivíduo como responsável último por suas ações é
um homem causa de si mesmo, causa única e suficiente de todo seu agir. Assemelha-se, como
nos lembra Nietzsche, ao barão de Münchhausen, que tenta livrar-se do pântano puxando os
próprios cabelos (NIETZSCHE, 2005a, p. 25-26 [§21]). Essa compreensão da conduta humana
não partilha do sentimento de unidade que é exalado por Dioniso, nem considera a dinâmica
essencial das forças do vir-a-ser, por isso ela não é trágica.
O canto trágico, entoado pelos acompanhantes de Dioniso, ou seja, a sabedoria
dionisíaca colocada em cena na tragédia, é um conclame à fidelidade terrena. Aquele que
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
173
atende a esse chamado e ousa buscar em si uma continuação do mundo, não se coloca em uma
posição desprendida, mas integra-se voluntariamente às necessidades e contingências da
existência. Ele encontra em suas entranhas pulsões terrestres, em seu íntimo ele vê devir e
vida. O resultado da harmonia entre as vísceras desse homem e os impulsos terrestres é um
poderoso sentimento de liberdade. No §213 de Além do bem e do mal Nietzsche discorre sobre
isso utilizando como paradigma a criação artística. Segundo ele, ao deixar de criar
arbitrariamente, mas fazê-lo acatando as forças terrestres, surge no artista, em plena
intensidade, a sensação de liberdade.
Os artistas talvez tenham um faro mais sutil nesse ponto: eles, que sabem
muito bem que justamente quando nada mais realizam de “arbitrário”, e sim
tudo necessário, atinge o apogeu sua sensação de liberdade, sutileza e pleno
poder, de colocar, dispor e modelar criativamente — em suma, que só então
necessidade e “livre-arbítrio” se tornam unidos neles (NIETZSCHE, 2005a, p.
108).
Do mesmo modo que a tragédia só é possível a partir da união dos impulsos apolíneo e
dionisíaco, a liberdade humana é entendida por Nietzsche como o resultado da união
voluntária do homem ao mundo. A desmesura dionisíaca e a medida apolínea se
complementam e se limitam na tragédia: nela, a sabedoria dionisíaca ganha forma, aparência,
se transforma em drama, graças a Apolo; já o apolíneo louvor ao indivíduo, transfigura-se na
afirmação do todo, na destruição do indivíduo, “na fé de que apenas o que está isolado é
censurável”, graças a Dioniso. Outrossim, o homem experimenta sua liberdade, tornando-se
complemento ao mundo e sendo limitado por ele. Mas ainda sim uma liberdade, mesmo que
trágica.
Apesar de paradoxal, essa união de impulsos distintos, onde cada um deles limita o
outro, mas também complementa, proporciona uma criação nova, uma liberdade outra. Esta,
não é nem o livre-arbítrio solipsista de Münchhausen, nem uma ausência absoluta de escolha
em um determinismo extremo. Mas sim, uma atitude de integração do homem ao cosmos, em
que se tem entre os resultados, a sensação de liberdade, o sentimento de poder. Ambos são
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
174
ressonâncias da harmonia entre o homem e o mundo, são símbolos da fecundidade dessa
união, resultados de uma experiência trágica.
Que nos rituais dionisíacos esse fato é expresso a partir de um pathos religioso, não
implica a necessidade da religião para a vivência dessa unidade. O que Nietzsche faz não é
doutrinamento religioso, mas sim a construção de uma filosofia a partir da transposição do
dionisíaco em um pathos filosófico, tendo a sabedoria trágica como fundamento.
Conclusão
Portanto, o aprendiz da sabedoria trágica de Dioniso, aquele que aprende a organizar
seus ímpetos integrando-os na totalidade do cosmos, é capaz de dizer “ego fatum”, pois não há
mais que ver oposição entre a liberdade humana e o destino do universo, ao contrário, faz-se
um amálgama entre eles. Entretanto, vale aventar que o indivíduo se redime no todo, o que
confere ao mundo dos assuntos humanos uma fragilidade intrínseca devido ao caráter trágico
da existência. Por isso, no desenrolar da vida humana, a fortuna e a desventura dependem de
uma relação contingente e frágil entre o homem e o mundo, onde mesmo o sábio não é capaz
de se livrar das infortunas provocadas por suas ações, pois não há areté capaz de controlar
aquilo que escapa ao humano e que garanta a fortuna ao seu possuidor (Cf. NUSSBAUM, 2009,
cap. 1, passim). Lembremo-nos de Édipo.
Em que medida encontrei com isso o conceito de “trágico”, o conhecimento
final sobre o que é a psicologia da tragédia [...]: “O dizer-sim à vida, até mesmo
em seus problemas mais estranhos e mais duros, a vontade de vida, alegrandose no sacrifício de seus tipos mais superiores à sua própria inexauribilidade —
foi isso que denominei dionisíaco, foi isso que entendi como ponte para a
psicologia do poeta trágico. [...] para [...] ser ele mesmo o eterno prazer do vira-ser — esse prazer que encerra em si até mesmo o prazer pelo
aniquilamento...”. Nesse sentido, tenho o direito de entender-me como o
primeiro filósofo trágico [...]. Antes de mim não há essa transposição do
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
175
dionisíaco em um páthos filosófico: falta a sabedoria trágica (NIETZSCHE, 2000,
p. 47).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARRENECHEA, Miguel Angel de. Nietzsche e a Liberdade. 2ª ed. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008.
MACHADO, Roberto. Nietzsche e a Representação do Dionisíaco. In:______. O nascimento do
trágico: de Schiller a Nietzsche. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006. p. 202-246.
NIETZSCHE, Friedrich. A Gaia Ciência. Trad. Paulo C. de Souza. São Paulo: Companhia das Letras,
2001.
______. Além do bem e do mal. Trad. Paulo C. de Souza. São Paulo: Companhia das Letras
[Bolso], 2005a.
______. A Visão Dionisíaca do Mundo. São Paulo: Martins Fontes, 2005b.
______. Crepúsculo dos Ídolos. Trad. Paulo C. de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
______. Fragmentos finais. Trad. Flávio R. Kothe. Brasília: Editora Universidade de Brasília,
2002.
______. Fragmentos do espólio: primavera de 1884 a outono de 1885. Trad. Flávio R. Kothe.
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2008.
______. Obras incompletas. Col. Os Pensadores. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho, seleção
de Gérard Lebrun. São Paulo: Nova Cultural, 2000.
______. O Nascimento da Tragédia. Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Companhia das Letras
[Bolso], 2007.
NUSSBAUM, Martha C. Fortuna e Ética. In:______. A Fragilidade da Bondade: Fortuna e ética na
tragédia e na filosofia grega. Trad. Ana A. Cotrim. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes,
2009. p. 1-18.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
176
VERNAN, Jean-Pierre. Aspectos da pessoa na religião grega. In: VERNAN, Jean-Pierre; VIDALNAQUET, P. Mito e pensamento entre os gregos. Trad. Haiganuch Sarian. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1990.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
177
Descartes e Hobbes: A questão da subjetividade como ponto de encruzilhada
Edgard Vinícius Cacho Zanette*
RESUMO
Em Descartes, a ligação entre res cogitans e ser sujeito é complexa. A referência a res cogitans
como significando os termos “sujet” ou “subiectum” não é tão clara como muitas vezes a
tradição afirma que seja. A fórmula que se tornou clássica: ser consciente de algo é ser sujeito
de algo, apesar de condizente com a metafísica cartesiana, ao buscarmos ligar os termos
“sujet” ou “subiectum” a esse significado, permanece complexa. Assim, as nossas esperanças
em afirmações textuais cartesianas, tais como: minha filosofia é uma filosofia do sujeito ou da
subjetividade, são frustradas e a questão permanece envolta em dificuldades. Considerando
essas peculiaridades, faz-se necessário um mapeamento da noção cartesiana de subjetividade
em suas várias significações possíveis. Um dos textos mais importantes acerca desta noção são
as próprias críticas de Hobbes a Descartes, nas quais aparecem várias acusações sobre o uso
que Descartes fez do termo pensamento, que se referiria a muitas coisas sem separar o ato de
pensar do sujeito a partir do qual o ato emerge. Para Hobbes todos os filósofos, exceto
Descartes, distinguem o sujeito de suas faculdades e atos. A questão é determinar o porquê,
para Descartes, desta equivalência entre a coisa mesma (res cogitans) e os seus diversos atos
reflexivos, de modo que o sujeito dos atos e seus próprios atos possuam uma relação
representacional sem que ocorra, contudo, uma dissolução ou um descolcamento do próprio
sujeito do pensar. Tendo em vista estes problemas concernentes à metafísica cartesiana, este
trabalho propõe mostrar que as críticas que Hobbes apresenta nas Terceiras Objeções e
Respostas à noção cartesiana de pensamento, antes que tematizar tão somente o próprio
cogito, na verdade, também problematiza várias significações fundamentais à noção cartesiana
de subjetividade para além das Meditações.
PALAVRAS-CHAVE: Descartes, Hobbes, Subjetividade.
*
Doutorando em Filosofia na Unicamp. Bolsista Capes. E-mail: [email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
178
Introdução e desenvolvimento1
Nas Terceiras Objeções feitas por Hobbes aparecem várias acusações sobre o uso que
Descartes fez do termo pensamento, que se referiria a muitas coisas sem separar o ato de
pensar do sujeito a partir do qual o ato emerge.
Para M. Descartes são o mesmo a coisa inteligente e a intelecção, que é seu
ato; ao menos diz que a coisa que entende e o entendimento, que é uma
potência ou faculdade de uma coisa inteligente são o mesmo. E, todavia, todos
os filósofos distinguem o sujeito de suas faculdades e atos, isto é, de suas
propriedades ou essências, porque uma coisa é a coisa mesma que é e outra
coisa é o que é sua essência. Pode, pois, suceder que uma coisa que pensa seja
o sujeito do espírito, da razão ou do entendimento, e, portanto, seja algo
corporal, o qual se nega aqui sem prova alguma. E isto é, todavia, o
fundamento da conclusão que parece querer afirmar M. Descartes. (AT IX-1, p.
134; 1945, p. 182 – grifo nosso)2.
Assim, segundo Hobbes, todos os filósofos distinguem o sujeito de suas faculdades e
atos, mas o senhor Descartes não. Dizendo de outro modo, utilizando as próprias palavras de
Hobbes, para a tradição a coisa mesma que é, não é o mesmo que sua essência, mas para
Descartes ocorre o contrário. Por quê?
As acusações feitas por Hobbes são sagazes, colocando em xeque a capacidade que o
pensamento tem, separado do corpo, de se acessar ao mesmo tempo em que acessa seus
pensamentos ou representações; além de que seria tolerável, para Hobbes, que uma coisa que
pensa seja o sujeito do espírito, da razão ou do entendimento. Seria problemática, entretanto, a
noção de que o sujeito das faculdades e o sujeito de seus atos são a coisa mesma que sua
1
Uma primeira versão deste artigo faz parte do terceiro capítulo de nossa dissertação de Mestrado, que foi
defendida sob o título: “Ceticismo e Subjetividade em Descartes”. Por isso aqui apresentaremos as linhas gerais de
nossa pesquisa acerca da crítica de Hobbes à noção cartesiana de subjetividade. Desse modo, como é natural,
algumas discussões mais técnicas e densas acerca deste tema, assim como todos os passos da nossa
argumentação, não constarão no presente artigo. Para quem se interessar sobre o tema, a dissertação estará
disponível em breve no portal de periódicos da Capes (http://www.periodicos.capes.gov.br).
2
Conforme a praxe, ao longo do texto, apresentaremos as citações das obras de Descartes da seguinte forma:
Primeiramente citamos o volume e as páginas correspondentes à edição standard das obras completas de
Descartes francês-latim, de Charles Adam e Paul Tannery (AT). Após a citação da edição (AT) seguir-se-á a
referência à obra de Descartes da edição traduzida, sem que mencionemos, por economia, o nome do autor.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
179
essência. Até aqui, tão interessantes quanto essas indagações de Hobbes, é o fato de que a
acusação é explicativa à própria proposta cartesiana. Porém, como não poderia ser diferente
diante de um embate entre filósofos desse nível, logo em seguida Hobbes introduz muito mais
que explicações, mas também uma grande dose de ironia aliada a uma crítica voraz. Vejamos:
É muito certo que o conhecimento desta proposição: Eu existo, depende desta
outra: Eu penso, como ele muito bem nos tem ensinado; mas, de onde procede
o conhecimento desta: Eu penso? Seguramente de que não podemos conceber
nenhum ato sem seu sujeito, como o pensamento sem uma coisa que pensa, a
ciência sem uma coisa que sabe, o passeio sem uma coisa que passeia. (AT IX-1,
p. 134; 1945, p. 182 – grifo nosso).
Na passagem acima, Hobbes identifica a excessiva valoração, ou mesmo o excessivo peso
filosófico da noção de sujeito para a sustentação do sistema cartesiano. Ora, o que Hobbes
exige é tão somente esclarecimentos sobre os mesmos conceitos tão caros a Descartes.
Segundo Hobbes, se não podemos conceber nenhum ato sem seu sujeito, disto resulta que o
sujeito desses atos ocuparia um papel privilegiado tal que, em todas as afirmações de um certo
gênero, seguir-se-ia uma resposta consequente e necessária. Vejamos: 1) há um pensamento,
por conseguinte: não há pensamento sem uma coisa que pensa; 2) há ciência, por conseguinte:
não há ciência sem uma coisa que sabe; 3) há o passeio, por conseguinte: não há passeio sem
uma coisa que passeia. Como se percebe facilmente, ainda que seja legítima a crítica de
Hobbes, o filósofo inglês não perderá a oportunidade de deixar clara a sua intenção verdadeira:
ele está misturando teses cartesianas, e, ao fim da sua objeção segunda, concluirá: para
Descartes uma coisa que pensa é material.
Daqui parece seguir-se que uma coisa que pensa é algo corpóreo, pois os
sujeitos de todos os atos parecem ser entendidos a partir de uma razão
corporal, ou material, como ele o mostrou com o exemplo da cera a qual é
sempre é concebida como a mesma coisa, isto é, como a mesma matéria
sujeita a todo gênero de mudanças, ainda que se alterem a sua cor, a sua
dureza, sua figura e todos os seus demais atos. […] Portanto, se o conhecimento
da proposição: Eu existo, depende do conhecimento desta outra: Eu penso, e o
desta depende de que não podemos separar o pensamento de uma matéria
que pensa, parece que devemos inferir daqui que uma coisa que pensa é
material, melhor que imaterial. (AT IX-1, p. 134; 1945, p. 183 – grifo nosso).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
180
Se Hobbes é astucioso e procurou levar Descartes a admitir teses que o deixariam em
aporia. Por exemplo, pela descoberta de que o pedaço de cera permaneceria a toda a sorte de
mudanças, tais como a figura, o odor, etc., a cera, como procura mostrar Hobbes, é o sujeito de
todos os atos referentes a coisas corporais e intelectuais. Por conseguinte, a res extensa é o
sujeito suporte no qual o próprio pensamento reside, conclui Hobbes. Desse modo, se o ataque
materialista de Hobbes procura misturar teses cartesianas visando desqualificá-las, por outro
lado, são essas provocações que levarão Descartes a explicitar diretamente uma tese que
aparenta ser tipicamente cartesiana e que, talvez, expresse o significado mesmo do que é ser
sujeito ou subjetividade em Descartes, a saber: não podemos conceber nenhum ato sem seu
sujeito. No entanto, a questão da subjetividade não se resume a esta trivial significação, e
também não se resume a remontarmos à origem do significado do termo sujeito (para os
gregos Hypokeimenon, para os latinos, Subjectum)3. Sendo assim, devemos compreender que
esta discussão se refere a um outro estatuto acerca desta noção. Vejamos:
Onde eu tenho dito: “isto é, um espírito, uma alma, um entendimento, uma
razão, etc.” não tenho entendido por tais nomes as faculdades somente, senão
as coisas dotadas da faculdade de pensar, como se dá a entender com os
nomes primeiros, e às vezes com os dois últimos; o qual tenho explicado tantas
vezes, e em termos tão claros, que não creio possa dar lugar a dúvida. Não há
relação nem conveniência entre o passeio e o pensamento, porque o passeio
se entende sempre como uma ação, e o pensamento se toma às vezes como
ação, às vezes como faculdade, e às vezes também como a coisa em que esta
faculdade reside. (AT IX-1, p. 135; 1945, p. 183).
A passagem citada acima mostra importantes distinções conceituais, pois, como explica
Descartes, o pensamento é tomado sob vários sentidos, mas nem por isso ele teria uma falsa
unidade de significação e uma dependência ontológica da existência da matéria. Ao contrário,
como dirá Descartes, o pensamento é sujeito por ter uma verdadeira e justificada unidade de
significação, pois o pensamento (res cogitans) possui uma unidade, a do eu do cogito, e esta
unidade é o que sustenta todo e qualquer ato consciente, por si mesma e em separado do
corpo. A partir desta noção cartesiana, fica pontuada a diferença entre ambas as posições. É
3
Como já afirmamos, em nossa dissertação de mestrado, principalmente no terceiro capítulo, discutimos em
profundidade estes problemas.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
181
claro que Hobbes aceita que há um sujeito do pensar assim como Descartes. Na verdade o que
o filósofo inglês não aceita, como é evidente, é que este sujeito do pensar seja imaterial e
mesmo independente da matéria. Vejamos alguns aspectos da resposta de Descartes a Hobbes
e em que a mesma resultará. Na seguinte passagem, que é muito importante à questão do
sujeito ou da subjetividade, o uso desse termo ganha força e é justificado o sentido que lhe
atribuímos tradicionalmente. Diz Descartes:
Diz ele [Hobbes] depois muito acertadamente que “não podemos conceber
nenhum ato sem sujeito, como pensamento sem uma coisa que pensa, porque
a coisa que pensa tem que ser algo”; mas sem razão alguma e contra a boa
lógica, e até contra a maneira habitual de falar, que ele acrescenta que “daqui
parece inferir-se que uma coisa que pensa é algo corpóreo”; pois os sujeitos de
todos os atos se consideram sempre como substâncias, (ou se o quiser como
matérias, a saber: matérias metafísicas), mas não por isso se hão de considerar
como corpos. (AT IX-1, p. 136; 1945, p. 185 - interpolação nossa e grifo nosso).
Nessa passagem Descartes concorda com Hobbes aceitando a definição proposta pelo
filósofo inglês, quando diz que “[...] não podemos conceber nenhum ato sem sujeito, como o
pensamento sem uma coisa que pensa”. Assim, só existe ato porque há um sujeito. Por
exemplo, só podemos conceber algum pensamento porque há uma coisa que pensa. O
problema, como vimos, não é a definição primeira, mas a seguinte conclusão de Hobbes, que,
ao ser rechaçada por Descartes, faz emergir um conceito fundamental à noção de sujeito ou
subjetividade, a noção de matéria metafísica. Diz Descartes: “[...] ele acrescenta que daqui
parece inferir-se que uma coisa que pensa é algo corpóreo”. O acréscimo de Hobbes, na
verdade, é uma armadilha muito bem desarmada por Descartes. Se o homem é uma unidade
entre duas substâncias (res cogitans e res extensa) e todo ato pressupõe o sujeito do mesmo
ato, como uma espécie de sujeito de atribuição, pergunta Hobbes: por que uma coisa corpórea,
que isoladamente é uma substância tanto quanto a res cogitans, é incapaz de ser o sujeito dos
atos do pensamento? A resposta de Hobbes seria: os sujeitos de todos os atos se consideram
sempre como substâncias, e como no âmbito da finitude o que existe é tão somente substância
material, por isso devemos necessariamente considerar que a substância na qual reside o
pensamento é em uma substância material. Já uma possível resposta de Descartes é
claramente antagônica àquela anterior: os sujeitos de todos os atos se consideram sempre
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
182
como substâncias (ou se o quiser como matérias, a saber: matérias metafísicas) mas não por
isso todos os sujeitos, matérias metafísicas, se hão de considerar como corpos. Para Descartes
cada uma das matérias metafísicas é sujeito em um âmbito particular e determinado. O eu do
cogito é o sujeito dos atos de pensar. Sendo assim, a compreensão do eu do cogito como
sujeito possui um estatuto ontológico privilegiado, em razão de que só existe atos significativos
no âmbito da finitude porque há um sujeito primeiro que o pensa, ou mesmo porque há um
sujeito a quem o ato é denunciado e torna-se significativo a esse sujeito primeiro. Essa primeira
instância da subjetividade mostra que o eu do cogito, nesse seu sentido metafísico, é
transparente a si porque ele mesmo é a condição de sua própria significação, como também da
significação de todos os demais entes que lhe aparecem como seus objetos de pensamento.
Sobre essa noção, para Descartes, este sujeito metafísico é totalmente desprendido e
independente da corporeidade, visto que atua como suporte de todo ato consciente, de toda
ação do pensamento. A res extensa é o sujeito de tudo o que implica a extensão local e a res
infinita é tanto o sujeito da criação e também atua como o suporte metafísico que possibilita as
coisas finitas permanecerem no tempo (o que não aconteceria sem esta intervenção contínua,
visto que Descartes defende a tese de que o tempo é descontínuo).
Conclusão
Na discussão entre Hobbes e Descartes constatamos uma divergência inconciliável entre
dois modos de compreender o processo reflexivo e autorreflexivo do cogito. Hobbes defende
que a coisa que pensa (res cogitans), os atos de pensar, e a significação destes atos, não podem
pertencer a um mesmo sujeito que aglutine todas estas significações. Para Hobbes, se o cogito
não pertence a um sujeito material, a filosofia da subjetividade cartesiana teria
necessariamente caído em um grave círculo, na medida em que o ato de pensar e o sujeito que
pensa são um e o mesmo. Descartes simplesmente rejeitou a acusação de Hobbes ao reafirmar
a característica do eu do cogito em ser transparente a si, pois, no ato mesmo de representar as
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
183
demais coisas como seus objetos de pensamento, representa a si mesmo. Neste caso, mesmo o
eu tendo estas características representacionais a partir da distinção real, por outro lado,
Descartes considera que há um sujeito que reconcilia a separação metafísica entre res extensa
e res cogitans. Este sujeito é resultado de uma unidade de composição, é o “homem completo
e inteiro”, descoberto na Sexta Meditação, após a prova real da distinção entre a alma e o
corpo4 e a prova da existência dos corpos serem
definitivamente realizadas 5. O que
defendemos no presente trabalho é que a separação entre res extensa e res cogitans não
permanece problemática como defende Hobbes, pois o sujeito humano, que realiza o último
nível da investigação filosófica, coabita duas naturezas distintas, isto é, a própria separação
entre o eu do cogito como sujeito do pensar e a res extensa, o sujeito de tudo o que implica a
extensão local, é reconduzida à construção de uma quarta figura da subjetividade, figura esta
que é demarcada pelas Meditações, mas que prescinde das Cartas, dos Princípios da Filosofia,
e, sobretudo, das Paixões da Alma, para ser suficientemente compreendida. Falar sobre toda a
teoria cartesiana da subjetividade requer a explicitação dos três sujeitos (matérias metafísicas),
e também explicar a composição de uma nova figura da subjetividade que emerge da união
entre res cogitans e res extensa. O homem concreto é um ser completo e inteiro, resultante de
todo o processo meditativo, processo este a partir do qual se abre um novo campo de
investigação referente às paixões humanas, nas quais o sujeito que sente não é um puro
espírito, mas um homem que padece com o corpo. Em resumo, Hobbes não partilha da mesma
noção de subjetividade que Descartes, e seus ataques acabam sendo extrínsecos ao que
defende o sistema cartesiano. Por outro lado, como Descartes não aceita que toda substância
4
“[…] todas as coisas que concebo clara e distintamente podem ser produzidas por Deus tais como as concebo,
basta que possa conceber clara e distintamente uma coisa sem uma outra para estar certo de que uma é distinta
da outra, já que podem ser postas separadamente; ao menos pela onipotência de Deus; e não importa por que
potência se faça essa separação, para que seja obrigado a julgá-las diferentes” (AT IX-1, p. 62; 1979, p. 134).
5
A prova da existência dos corpos está inserida no interior dos §19 e §20 da Sexta Meditação. Existem várias
interpretações sobre a prova da existência dos corpos e não está em nosso escopo discuti-las. Em linhas gerais, a
prova parte da ideia de que há uma faculdade passiva. Há certas ideias que denunciam a sensação de passividade e
de receptividade. Como essa faculdade não pode existir em mim, pois até agora sou somente uma coisa que
essa faculdade? Após uma detalhada investigação, conclui-se que há uma inclinação natural e incorrigível a crer
que são os corpos que enviam tais ideias. Essa inclinação natural não pode ser falsa, considerando que Deus não é
enganador e é o criador de toda a natureza. Se as ideias sensíveis não fossem enviadas pelas coisas corpóreas,
Deus teria que ser enganador, o que é impossível, logo, a causa das ideias sensíveis são os corpos e eles existem.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
184
no âmbito da finitude seja material, tese defendida pelo radical materialismo hobesiano, as
críticas de Hobbes servem mais para ajustar detalhes das teses que já são defendidas por
Descartes que possibilitar alguma forma de mudança significativa nas teses fundamentais
defendidas pelo filósofo francês. Assim, para Descartes, as três matérias metafísicas operando
como sujeitos, a descoberta da natureza do cogito como sujeito transparente a si, e o homem
completo e inteiro como a quarta figura que completa o quadro da teoria cartesiana da
subjetividade, são conquistas do processo meditativo que responde razoavelmente às
acusações de Hobbes.
Referências bibliográficas
DESCARTES, R. Œuvres. Paris: Vrin, 1996. 11 vol. Publiées par Charles Adam et Paul Tannery,
1973-8.
_________. Discurso do método; Meditações; Objeções e respostas; As paixões da alma; Cartas.
2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979. (Coleção Os Pensadores).
_________. Obras filosóficas: objeciones e los princípios de la filosofia. Introdução: Étienne
Gilson. Versão espanhola: Manuel de La Revilla. Buenos Aires: Editorial El Ateneu, 1945.
FORLIN, Enéias. A teoria cartesiana da verdade. São Paulo: Associação Editorial Humanitas; Ijuí:
Editora Unijuí/ Fapesp, 2005 (Coleção Filosofia; 14).
_________. O papel da dúvida metafísica no processo de constituição do cogito. São Paulo:
Associação Editorial Humanitas, 2004.
GUENANCIA, P. L'intelligence du sensible: essai sur le dualisme cartésien. França: Éditions
Gallimard, 1998.
GUEROULT, Martial. Descartes selon l´ordre des raisons. Paris: Aubier, 1968, 2 vol.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
185
ONG-VAN-KUNG K. (Org.). Descartes et la question du sujet. Paris: Presses Universitaires de
France, 1999.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
186
Michel Foucault e o Modernismo Literário
Fabiano Barboza Viana*
RESUMO
Para além da discussão sobre os limites da modernidade (circunscrita de diferentes modos nos
textos de juventude e nos últimos trabalhos), interessa-nos a importância atribuída por Michel
Foucault, sobretudo na década de 1960, à produção dita “literária”, do final do século XIX à
primeira metade do século XX “no que tange uma experiência inumana da literatura” como
atualidade. Neste momento, as referências à literatura contemporânea serão recorrentes,
resguardando um espaço específico no campo do saber para a reflexão sobre as obras de
autores como Mallarmé, Blanchot, Proust, Bataille, “os novos romancistas”, entre outros. Para
Foucault, obras como as de Raymond Roussel ofereceriam uma alternativa à crise do
conhecimento, esse fundado num discurso dialético, humanista e fenomenológico. Com efeito,
a literatura colocaria a nu um espaço próprio de desdobramento, onde as representações do
pensamento ocidental seriam levadas ao paroxismo: experiência da morte, do pensamento
impensável, da repetição da linguagem, da finitude. Para tratar das origens dessas questões,
trataremos do problema do “ser da linguagem”, tal como desenvolvido em obras como História
da Loucura e As Palavras e as Coisas, de forma a demonstrar como esse problema aparece em
algumas escritas da modernidade.
PALAVRAS-CHAVE: Literatura, Linguagem, Experiência.
Literatura e Linguagem
As reflexões sobre a literatura ocuparam lugar privilegiado na obra de Michel Foucault
na década de 1960. Em Les mots et les choses será investigada a literatura da modernidade, tal
*
Aluno do Programa de Mestrado em Filosofia da USP. Bolsista SEESP. E-mail: [email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
187
como aparece no final do século XVIII. Nesse contexto, a literatura será espaço de investigação
da cisão fundamental entre “subjetividade” e o “ser linguagem”.
Do ponto de vista de uma “experiência limite” do pensamento, a literatura representa
um espaço alheio aos métodos de análise tradicionais na filosofia e nas ciências humanas, como
a fenomenologia, a hermenêutica e o estruturalismo. Isto porque, o ser da literatura,
compreendido como linguagem, escaparia das abstrações e abordagens científicas dos
métodos em questão, tão logo abre um espaço autônomo. Neste sentido, em as Palavras e as
Coisas, e em outros “ditos e escritos” dos anos 1960, a literatura se configura como espaço
alternativo a um modo de produção discursivo e analítico dos saberes instituídos. Isto ocorreria
devido ao reaparecimento da linguagem semelhante ao que se dava na episteme renascentista.
Façamos em linhas gerais o percurso de Foucault.
Experiência Trágica, Representação e Reaparecimento da Linguagem
Para compreender o sentido de literatura desenvolvido por Foucault, é importante
situar a noção de “experiência trágica do mundo”, conforme se dá na episteme renascentista.
Nessa ordem cognitiva do mundo, a linguagem aparece:
(...) em seu ser bruto e primitivo, sob a forma simples, material, de uma
escritura, de um estigma sobre as coisas, de uma marca repartida pelo mundo
e que forma parte de suas mais inapagáveis figuras 1.
Com a noção de “signatura” a racionalidade renascentista manifesta seu fundamento
por meio das noções de mimesis, de semelhança, de analogia e de simpatia. Nos interessa,
neste momento, as duas noções intermediárias. Como lembra Foucault: “Até o fim do século
1
FOUCAULT, M. Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humanires. Paris : Gallimard, 1986. 57 p.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
188
XVI, a semelhança desempenhou um papel decisivo no saber da cultura ocidental” 2. Estabelecer
o sentido de algo era encontrar suas relações de semelhança (a título de exemplo, poderíamos
pensar na proporção áurea enquanto signo aritmético de uma constante natural, e na leitura
alegórica das sagradas escrituras). Por sua vez, a relação entre linguagem e mundo era tomada
sob a forma da analogia, e não da representação como ocorrerá na episteme clássica. Como
funcionaria, entretanto, a semelhança e a analogia? Justamente a noção de “signatura”
operava as analogias. Na “assinatura”, a linguagem é compreendida como uma marca, um
estigma, um sinal escrito. Cada objeto do mundo carregaria essa assinatura do Criador. O
mundo, compreendido como “texto”, porta os estigmas, os quais, o “comentário” (pensemos
na prática da exegese cristã) interpreta-os e os converte em signos das coisas. Há, assim, um
movimento de mão-dupla do macrocosmo para o microcosmo, fundamentado no pensamento
analógico, da participação do universal em todas as coisas.
A linguagem, como verbo
originário, asseguraria essa unidade do mundo feita por correspondências.
Todavia, esse espaço da linguagem será radicalmente alterado na época clássica,
segundo a formação histórica foucaultiana. De um movimento circular e infinito da assinatura
para o cosmos, do texto para o comentário, a linguagem será condenada a um espaço de
clausura. O funcionamento da linguagem ficará restrito ao campo da representação. “As
palavras e as coisas vão separar-se”3, e o sentido se configurará por meio da reduplicação da
própria representação, ao invés da semelhança. A obra de Cervantes marcará essa mudança de
paradigma:
Dom Quixote é a primeira das obras modernas porque vemos aí a razão cruel
das identidades e das diferenças zombar incessantemente dos signos e das
similitudes, porque a linguagem rompe seu velho parentesco com as coisas
para entrar nesta soberania solitária de onde ela só reaparecerá, em seu ser
abrupto, como literatura; porque a semelhança entra em uma idade que é
para ela a idade da desrazão e da imaginação4.
2
Idem, 32 p.
Idem, 58 p.
4
Idem, p.63.
3
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
189
Deste modo, o problema da linguagem será reduzido às relações entre significante e
significado num “domínio de representação”, ou seja, a constituição da unidade do signo
lingüístico e, apenas numa abordagem formal, a possibilidade de uma referência ao mundo (a
semiótica estruturalista pode ser vista como um desdobramento tardio dos problemas aqui
colocados). Percebe-se, de saída, uma tendência a colocar entre parênteses o mundo, já que a
episteme clássica é marcada pelo exame da produção de significado dentro do discurso.
Com a linguagem submetida à ordem das representações, seu estatuto será reduzido à
categoria de expressão do pensamento autodeterminante. Rompe-se com o pensamento
analógico, no qual o mundo era tratado como texto infinito, dado o caráter inesgotável do
comentário. Ora, será nas ruínas desse “ser vivo da linguagem”, existente na episteme
renascentista, que ela retornará no final do século XVIII. O espaço privilegiado dessa
reincidência da linguagem será a literatura, tão logo possa ser compreendida como lugar de
origem do próprio vir-a-ser da linguagem. Escapando à redução da representação, do
funcionamento do discurso, das correlações fechadas do significante e do significado, a
literatura moderna (diferente do Renascimento que ainda tinha o verbum criador como ideia
reguladora) consubstancia esse movimento ilimitado da linguagem. Como afirma Foucault:
A partir do século XIX, a literatura restabelece a linguagem em seu ser, mas
não ainda como apareceria no final do Renascimento. Porque, agora, não há
mais uma palavra primeira absolutamente inicial pela qual se encontrava
fundado e limitado o movimento infinito do discurso. De agora em diante a
linguagem vai crescer sem ponto de partida, sem fim e sem promessa. O
percurso desse espaço vão e fundamental é o que traça a cada dia o texto de
literatura”.5
Um dos tópicos fundamentais de Foucault para compreender essa viragem da
linguagem é a noção de ausência de obra. Se a desrazão era condição de possibilidade duma
experiência trágica do mundo, na modernidade a escrita da loucura torna-se a condição de
possibilidade da experiência literária de vanguarda. Se “sob a consciência crítica da loucura e de
suas formas filosóficas ou científicas, morais ou médicas, uma surda consciência trágica nunca
5
Idem, 59 p.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
190
cessou de velar”6, teremos agora o que Foucault chamará de experiência limite no espaço da
literatura:
Era necessário que esse novo modo de ser da literatura fosse desvelado em
obras como as de Artaud ou de Roussel, e por homens como esses. Em Artaud,
a linguagem, rechaçada como discurso e retomado na violência plástica do
golpe, é reenviada ao grito, ao corpo torturado, à materialidade do
pensamento, à carne. Em Roussel, a linguagem [a língua], reduzida a pó por um
acaso sistematicamente manejado, relata indefinidamente a repetição da
morte e o enigma das origens desdobradas. E, como se essa prova das formas
da finitude na linguagem não pudesse ser suportada ou como se ela fosse
insuficiente (talvez sua própria insuficiência era insuportável), foi dentro da
loucura que ela se manifestou. A figura da finitude se dá assim na linguagem
(como o que se desvela nela), mas também antes que ela, mais aqui, nesse
região informe, muda, insignificante onde a linguagem pode liberar-se. E é
nesse espaço, assim posto a descoberto, que a literatura – com o surrealismo
primeiro (mas sob uma forma travestida), depois, cada vez mais puramente
com Kafka, com Bataille, com Blanchot – se dá como experiência: como
experiência da morte (e no elemento da morte), do pensamento impensável (e
em sua presença inacessível), da repetição (da inocência originária, sempre aí,
no ponto mais próximo à linguagem e mais afastado dela), como experiência
da finitude (capturada na abertura e na exigência dessa finitude)”7.
No caso de Antonin Artaud, citado pelo filósofo, podemos pensar nas glossolalias, o
“falar em línguas”, marcado pelo uso convulsivo de fonemas não semantizados. Como lembra
Octávio Paz, no ensaio Leitura e Contemplação, publicado no livro Convergências, esse tipo de
expressão de “estados alterados de consciência” é primitivo, presente em rituais e doutrinas
místicas. Ao deslocar as palavras do domínio da representação, atingindo estágios para além do
uso significativo da linguagem, Artaud encenaria justamente o gesto de apropriação da
linguagem arcaica, presente na experiência trágica do mundo. Do mesmo modo, “a violência
plástica do golpe”, recupera a densidade do corpo e a materialidade do mundo esvaecida na
episteme clássica. Já com Raymond Roussel, teremos a literatura como desvio da língua, como
propõem Roland Barthes, e, portanto, como forma de subversão sistemática das orações
6
7
Idem, 47 p.
Idem 395 p.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
191
correntes na língua francesa. Trata-se das operações produzidas pelos procédés de Roussel8.
Linguagem retroalimentada, dobra de si, aponta justamente para uma ausência, um vazio para
além de seu movimento reflexivo. Daí a linguagem literária como forma de figuração da
finitude: linguagem manifestada na sua espessura de modo a deslocar a nova e já moribunda
invenção da modernidade – o homem.
Fragmentação da linguagem e Reaparecimento da Linguagem: Considerações Finais
De modo geral a literatura será um setor privilegiado da crítica ao racionalismo clássico
e a ordem das representações. Assume um pensamento de extração nietzschiniana ao deslocar
uma “dialética da história”, fundada no conflito da razão e do seu ser outro, para reivindicar na
modernidade, a permanência das estruturas da experiência trágica do mundo. Nessa
implicação de razão e desrazão, Michel Foucault irá incorporar a sua experiência filosófica um
conjunto de ideias pertencentes a certo modernismo literário simbolizado por Maurice
Blanchot e sua noção de “pensamento do fora”, Georges Bataille e a noção de “transgressão”,
Pierre Klossowski e a noção de “simulacro”, entre outros. Com esses autores, Foucault faz a
hipótese de formas de experiência nas quais a categoria de sujeito perderia seu status de
categoria originária. Modalidade na qual a linguagem novamente disseminada abriria um novo
horizonte de expectativas. Daí a importância atribuída a autores como o já mencionado
Raymond Roussel, por liberar a linguagem (na própria espessura) da clausura dos signos e da
consciência intencional da fenomenologia:
8
Segundo Focault: “Roussel utilizou sucessivamente dois procedimentos. Um consiste em tomar uma frase, ou um
elemento de frase qualquer, depois repeti-la, idênticas, salvo ligeiro contratempo que estabelece entre as duas
formulações uma distância onde a história inteira deve se precipitar. O outro consiste em tomar, de acordo com o
acaso em que ele se oferece, um fragmento de texto e depois, por uma série de repetições transformadoras, dele
extrair uma série de motivos absolutamente diferentes, heterogêneos entre si, e sem ligação semântica ou
sintática: o jogo consiste então em traçar uma história que passa por todas as palavras dessa forma obtidas”.
FOUCAULT, M. “Sete Proposições sobre o Sétimo Anjo”. p. 307.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
192
A linguagem já dita, a linguagem como já estando lá, determina o que se pode
dizer depois, independentemente, ou dentro de um quadro linguistico geral. É
precisamente isso o que me interessa. E o jogo de Roussel, dando somente em
algumas de suas obras a possibilidade de encontrar o já dito, e construindo
com essa linguagem inventada, de acordo com as regras dele, um certo
número de coisas, mas com a condição que haja sempre referência ao já dito. 9
A subversão do discurso, compreendido como enunciados efetivos que subsistem na
tessitura das formações discursivas atuais, seria uma das entradas de leitura na obra de
Roussel. Esse partiria do já pronunciado, das frases “absolutamente cotidianas ouvidas ao
acaso”10, não com a intenção de produzir uma representação verossimilhante em seus
romances e peças teatrais, mas de subvertê-las e transformá-las a ponto de construir figurações
extraordinárias. Sob as imagens do texto configurado, persistiria um outro texto abandonado
na forma de ruína, retorcido, cuja natureza permaneceria na forma de incógnita. Para além dos
procedimentos adotados, e explicitado pelo autor em obra publicada postumamente 11, a
linguagem enquanto materialidade fundante escaparia das possibilidades de positivação.
Na impossibilidade de uma apreensão conceitual dessa zona indeterminada, indicada
pelo nome “linguagem”, o que a escrita de Roussel faz é mostrar o seu funcionamento, desde
sua aparição mediante “máquinas feita de palavras”, até as ruínas de uma matriz de linguagem
extinta. A partir dessa presença de uma ausência fundamental, amplifica-se a virtualidade do
vazio a contrapelo de um espaçamento vertiginoso e repetitivo de uma linguagem intransitiva.
Em termos foucaultianos, a experiência limite estaria exatamente na transgressão dos modelos
convencionais das frases, no autotelismo de uma linguagem dessubjetivada e na negação de
um centro ou fundamento que ordenasse a priori as possibilidades de representação.
9
FOUCAULT, M. “Arqueologia de uma Paixão”. p. 404. In : Ditos e Escritos III. Org. MOTTA, B. M. Trad. Inês Autran
Dourado Barbosa. 2ºed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
10
11
FOUCAULT, M. “Arqueologia de uma Paixão”. p. 404.
Ver “Como escrevi alguns de meus livros” de Raymond Roussel.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
193
BIBLIOGRAFIA
FOUCAULT, M. Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humanires. Paris :
Gallimard, 1986
FOUCAULT, M. Raymond Roussel.Trad. Manoel B. Motta e Vera Lúcia A. Ribeiro. Rio de Janeiro,
Forense Universitária, 1999.
FOUCAULT, M. A ordem do discurso. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. 11. ed. São Paulo,
Edições Loyola, 2004.
FOUCAULT, M. Ditos e Escritos III. Org. MOTTA, B. M. Trad. Inês Autran Dourado Barbosa. 2ºed.
Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2006.
PAZ, Octávio. Convergencias, Editora Seix Barral, coleção Biblioteca Breve, Barcelona, 1991.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
194
A reflexão sobre Deus na discussão dialética do De ordine de Agostinho de
Hipona
Fabrício Klain Cristofoletti*
RESUMO
No diálogo De ordine (Da ordem) de Agostinho de Hipona, os interlocutores não procuram
somente compreender a complexa ordem universal, mas também, o quanto for possível, o seu
princípio único. Dada a tese de Licêncio no livro I, de que é Deus quem ‘governa tudo com
ordem’ (cuncta ordine administrare), cabe a Agostinho, como interlocutor dialético, examinar
cuidadosamente tal afirmação. Notam-se no livro II quatro principais questionamentos que
servem para verificar essa tese. Primeiramente, deve-se decidir se Deus ‘governa a si próprio
com a ordem’ (se ordine agat) ou se todas as coisas são governadas com a ordem ‘com exceção
de si próprio’ (praeter eum). Em segundo lugar, passa-se a examinar se os ‘bens’ (bona) que
estão ‘junto a Deus’ (apud Deum) estão na ordem ou não. Em terceiro lugar, indaga-se, pelos
exemplos do céu, do sábio e do ignorante, se o que está em movimento está ‘com Deus’ (cum
Deo), isto é, se está na ordem governada por Deus. E, em quarto lugar, discute-se se a
‘ignorância’ (stultitia) está ou não na ordem. Como resultado, Agostinho utiliza tais discussões
para mostrar que tudo está na ordem, mas não o próprio Deus; que tudo o que está ‘junto a
Deus’, portanto, está fora da ordem; que tudo o que foi e é criado está na ordem, ‘com Deus’,
inclusive o que é móvel e sensível; que as coisas ‘que podem ser pensadas’ (quae possunt
intellegi) estão na ordem, como o ignorante; e que não está na ordem tudo o que é impensável,
como a ignorância, que nada é.
PALAVRAS-CHAVE: Deus; ordem; nada; De ordine.
Como o próprio título da obra indica, no De ordine os interlocutores procuram
compreender a complexa ordem universal, mas isso implica, por sua vez, algum entendimento
do que seja o seu princípio organizador. Porém, é somente no parágrafo 14 do primeiro livro
*
Aluno do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade de São Paulo. Bolsista CAPES. E-mail:
[email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
195
que é mencionada a relação entre a ordem e Deus. Licêncio, questionado sobre a existência de
uma ordem universal, entende-a como um efeito da atividade de Deus: “Quem negaria, ó
grande Deus, que governas tudo com ordem?” 1 Licêncio, porém, logo encaminha sua reflexão
para o assunto da ‘adivinhação’ (diuinatio). Ainda que esse tema possa trazer consequências
para a discussão, Agostinho o entende como um desvio da questão sobre a relação entre a
ordem e Deus, ou seja, sobre a hipótese de ‘algo sem causa’ (aliquid sine causa; ord. I vi 15).
Agostinho, então, decide expor, para incitar o apetite filosófico de Licêncio, o sério problema da
relação entre a ordem e o mal: “Mas, agora, responda-me não se ocorre algo sem causa, pois já
vejo que não queres responder, mas se essa ordem por ti sustentada parece ser um bem ou um
mal.”2 Desse modo, a investigação sobre a relação específica entre Deus e a ordem é adiada.
Mas depois, no parágrafo 20, Agostinho reconhece que Licêncio, devido a sua ‘religião’
(religio), o cristianismo da ecclesia catholica, havia dito ‘boas coisas’ (bona) acerca da ordem,
inclusive do seu caráter divino. Com efeito, Agostinho retomará a questão da relação entre a
ordem e Deus, mas só depois de refletir sobre a possibilidade de ordem nos casos da salmodia
de Licêncio em lugar aparentemente inadequado, da preferência de Licêncio pela filosofia em
detrimento da poesia, e da briga de galos (ord. I viii 21-26). É na sequência dessas análises,
então, que Agostinho admite, dessa vez explicitamente, a associação entre Deus e a ordem
universal:
Escuteis, se quiséreis, mas vos esforçais para querer, porque nada mais sucinto
nem mais verdadeiro me parece poder ser dito em louvor da ordem. A ordem
é aquela coisa que, se a temos na vida, nos conduz a Deus, e que, se não a
temos na vida, não alcançaremos a Deus. Mas nós já supomos e esperamos
alcançá-lo, a menos que eu não me engane sobre vosso ânimo.3
1
De ordine, I v 14. “Quis neget, Deus magne, inquit, te cuncta ordine administrare?” (SANT’AGOSTINO. L’ordine. In:
IDEM. Dialoghi/1. Roma: Città Nuova, 1970, p. 262). Todas as traduções em português são nossas.
2
ord. I vi 15. “Sed responde nunc, non utrum fiat aliquid sine causa (nam id iam uideo te nolle respondere) sed ordo
iste susceptus tuus bonumne quidquam an malum tibi esse uideatur.” (SANT’AGOSTINO, 1970, p. 264).
3
ord. I ix 27. “Accipite, si uultis, imo facite ut uelitis, quo neque quidquam de huius laude breuius neque ut mihi
uidetur uerius dici potest. Ordo est quem si tenuerimus in uita, perducet ad Deum, et quem nisi tenuerimus in uita,
non perueniemus ad Deum. Peruenturos autem nos iam, nisi me animus de uobis fallit, praesumimus et speramus.”
(SANT’AGOSTINO, 1970, p. 276).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
196
Mas essa associação agostiniana entre a ordem e Deus, como se nota, sustenta-se numa
suposição e esperança (praesumere; sperare). Consciente disso, Agostinho prefere, então,
iniciar o diálogo com Licêncio sem tal premissa, pois lhe pedirá uma ‘definição’ (definitio) de
ordem (ord. I x 28). O esforço, assim, se concentra na dialética, a qual talvez possa elucidar a
questão com a firmeza da necessidade.4
O curioso, porém, é que a resposta de Licêncio justamente relaciona a ordem a Deus: ‘a
ordem é aquilo pelo qual são governadas todas as coisas que Deus criou’ (ordo est per quem
aguntur omnia quae Deus constituit). Tal definição, é claro, revela novamente o caráter
religioso de Licêncio. Contudo, não se pode duvidar que a preocupação imediata dos
interlocutores seja a verificação dialética da definição, como será visto.
Agostinho, na sequência, faz a seguinte pergunta: “O quê? Não te parece que o próprio
Deus esteja colocado na ordem?”5 Licêncio lhe responde que isso ‘parece correto’ (prorsus
uidetur). Por conseguinte, é patente a justeza da réplica que Trigécio lhe endereçará: “Portanto,
Deus está colocado, disse Trigécio.” 6 De fato, se for assumido que Deus está colocado na
ordem, tal passividade se revelará contraditória com a sua onipotência de criador universal.
Licêncio, porém, alude a um motivo religioso contundente, o fato de Cristo, sendo Deus, ter
sido colocado no mundo:
O quê? Negas que Cristo seja Deus, o qual vem até nós na ordem e diz que foi
enviado pelo Pai? Se, portanto, Deus nos enviou Cristo na ordem, e se não
4
“Portanto, essa questão deve ser tratada e resolvida com muita diligência entre nós. […] Mas agora, como
prometi, na medida em que a situação me permite, torno-me adversário de Licêncio, o qual quase já terá
concluído toda a sua causa se puder cavar uma trincheira de defesa com estabilidade e firmeza.” (ord. I ix 27).
“Diligentissime igitur inter nos ista quaestio uersari debet atque dissolui. […] Sed nunc, ut promiseram, Licentio,
quantum res patitur, aduersabor, qui totam causam iam pene confecit, si possit eam defensionis muro stabiliter
firmeque uallare.” (SANT’AGOSTINO, 1970, p. 276, 278). No procedimento dialético, conforme se deduz da
descrição agostiniana da dialética no Contra Academicos (III xiii 29), deve-se mostrar o que cada proposição
(propositio), e principalmente cada ‘antecedente’ (antecedens), ‘traz necessariamente’ (trahere necessario), isto é,
o que se segue’ (id quod annexum est).
5
ord. I x 29. “Quid ipse Deus, inquam, non tibi uidetur agi ordine?” (SANT’AGOSTINO, 1970, p. 278).
6
ord. I x 29. “Ergo agitur Deus, ait Trygetius.” (SANT’AGOSTINO, p. 278).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
197
negamos que Cristo é Deus, Deus não só coloca tudo na ordem, mas também é
colocado na ordem.7
A discussão entre Licêncio e Trigécio, no entanto, transforma-se numa infantil
competição, a qual Agostinho reprovará:
Trigécio, hesitante, disse: ‘Não sei como aceitar isso. Pois quando dizemos o
nome ‘Deus’, quase não vem à mente Cristo, mas o Pai. Mas quando dizemos o
nome ‘Filho de Deus’, ele vem à mente.’ ‘Belo’, disse Licêncio. ‘Negaremos,
portanto, que o Filho de Deus é Deus?’ O outro, embora lhe parecesse
perigoso responder, todavia concentrou-se e disse: ‘Também ele é Deus,
contudo, chamamos de Deus propriamente o Pai’. Eu lhe disse: ‘Detenha-te,
pois o Filho não é chamado impropriamente de Deus’. E ele, movido pela
religião, não queria que suas palavras fossem transcritas, enquanto Licêncio
insistia para que fossem mantidas, costume claramente pueril, ou melhor,
adulto – ó maldade! – como se, na verdade, entre nós se tratasse de glória.
Quando censurei sua disposição de espírito com graves palavras, ele corou, e
com sua perturbação percebi que Trigécio ria e se alegrava.8
Agostinho, por conseguinte, decide suspender a discussão sobre a relação entre a
ordem e Deus, a qual só voltará no parágrafo 2 do segundo livro.
No segundo livro, nota-se primeiramente o artifício de Agostinho na retomada, como
novo ponto de partida, da primeira definição de Licêncio (cf. nota 1): “Pois acho que lembro
que tu [, Licêncio,] disseste que a ordem é aquilo pelo qual Deus governa tudo” 9. Desse modo,
Agostinho pode questionar se Deus ‘governa a si próprio na ordem’ (se ordine agat) ou se todas
7
ord. I x 29. “Quid enim, inquit, Christum Deum negas, qui et ordine ad nos uenit, et a Patre Deo missum esse se
dicit? Si igitur Deus Christum ordine ad nos misit et Deum Christum esse non negamus, non solum agit omnia, sed
agitur ordine etiam Deus.” (SANT’AGOSTINO, 1970, p. 278).
8
ord. I x 29. “Hic Trygetius addubitans: Nescio, inquit, quomodo istuc accipiam. Deum enim quando nominamus,
non quasi mentibus ipse Christus occurrit, sed Pater. Ille autem tunc occurrit, quando Dei Filium nominamus. Bellam
rem facis, inquit Licentius. Negabimus ergo Dei Filium Deum esse? Hic ille, cum ei respondere periculosum
uideretur, tamen se coegit atque ait: Et hic quidem Deus est, sed tamen proprie Patrem Deum dicimus. Cui ego:
Cohibe te potius, inquam; non enim Filius improprie Deus dicitur. At ille religione commotus, cum etiam uerba sua
scripta esse nollet, urgebat / Licentius ut manerent, puerorum scilicet more uel potius hominum, proh nefas! pene
omnium, quasi uero gloriandi causa inter nos illud ageretur. Cuius motum animi cum obiurgarem grauioribus
uerbis, erubuit: qua eius perturbatione animaduerti ridentem laetantemque Trygetium.” (SANT’AGOSTINO, 1970, p.
278, 280).
9
ord. II i 2. “Nam memi/nisse me arbitror te ordinem esse dixisse per quem Deus ageret omnia.” (SANT’AGOSTINO,
1970, p. 288).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
198
as coisas são governadas na ordem ‘com exceção de si próprio’ (praeter eum), pergunta que
não poderia ser feita a seu aluno se fosse admitida a segunda definição de ordem, pela qual são
as coisas criadas por Deus que estão na ordem (cf. ord. I x 28).
Em resposta, Licêncio julga que Deus não está na ordem, pois ‘onde tudo é bom não há
ordem’ (ubi omnia bona sunt ordo non est). Ademais, Deus ‘é suma igualdade, a qual não
precisa de ordem’ (est summa aequalitas, quae ordinem nihil desiderat). Trata-se de uma tese
que Agostinho, por sua adesão à base da filosofia platônica, aprovaria. 10 No prólogo do próprio
De ordine, dedicatória a Zenóbio, Agostinho compara o universo a um mosaico, e Deus ao
artista (ord. I i 2), o que já indica uma separação entre Deus e o que está na ordem, o universo.
De qualquer modo, a resposta de Licêncio, de que as coisas boas não estão na ordem, contraria
a sua própria e primeira definição de ordem. Conforme indaga Agostinho, como seria possível
sustentar que todas as coisas são governadas na ordem, se as coisas boas não estão na ordem?
“Acaso todas as coisas boas parecem ser um nada?” (Numquidnam… omnia bona nihil…
uidentur esse?). Ora, como são coisas as coisas boas, elas deveriam, conforme a primeira
definição, entrar na ordem universal. Licêncio, então, percebe que é preciso especificar que o
que há na ordem são ‘simultaneamente as coisas boas e más’ (simul bona et mala): ‘Há
também coisas más, pelas quais ocorre que a ordem inclua também as coisas boas’ (sunt…
etiam mala, per quae factum est ut et bona ordo concludat). Desse modo, todas as coisas em
simultaneidade, as quais Deus governa, são governadas na ordem’ (ut omnia simul, quae Deus
administrat, ordine administrentur). Seja como for, Agostinho prefere indagar, para aperfeiçoar
aquela definição de ordem, sobre o que está ou não ‘com Deus’ (cum Deo), expressão que
considera sinônima de ‘na ordem’, cujo significado, portanto, difere de ‘junto a Deus’ (apud
Deum). Com os exemplos do céu, do sábio e do ignorante, Agostinho procurará, portanto,
aproximar-se da segunda definição de ordem, pela qual são as coisas criadas por Deus que
estão na ordem.
10
No Contra Academicos (III xx 43), Agostinho declara: “Também aspiro ao que deve ser perseguido pela razão, de
modo que desejo impacientemente apreender o que seja verdadeiro, não só crendo, mas também
compreendendo, e confio que descobrirei entre os platônicos o que não repugne aos nossos sacramentos.” “Quod
autem subtilissima ratione persequendum est – ita enim iam sum affectus, ut quid sit uerum non credendo solum
sed etiam intellegendo apprehendere impatienter desiderem – apud Platonicos me interim, quod sacris nostris non
repugnet, reperturum esse confido.” (AVGVSTINVS. De Academicis libri tres. Turnhout: Brepols, 1959, p. 61 (Corpus
Christianorum, Series Latina, XXIX, pt. II 2).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
199
No parágrafo 3, Licêncio declara que as coisas movidas não estão ‘com Deus’. Agostinho
argumenta, porém, que o que não está ‘com Deus’ está ‘sem Deus’ (sine Deo), o que deixa
Licêncio ‘perplexo’ (cunctabundus). Este, então, prefere declarar que ‘nada está sem Deus’ (sine
Deo nihil sit), mas sem suspender sua afirmação anterior. Desse modo, Agostinho, para
salientar a gravidade daquela afirmação de que as coisas em movimento não estão ‘com Deus’,
propõe a análise de outro exemplo, a saber, o céu, o qual era comumente considerado algo
tanto divino quanto em movimento.
Para Licêncio, não é a parte móvel do céu que ‘é Deus ou está com Deus’ (quod uero aut
Deus est ut cum Deo), mas aquela parte não é movida (aliquid quod non mouetur). Essa
afirmação, porém, não é examinada por Agostinho, já que ele preferirá analisar o exemplolimite, o ‘sábio’ (sapiens), que é mais perfeito que o céu.
Como se sabe, o sábio é capaz de movimento, mas também é perfeito e bom. Ademais,
cabe lembrar que o sábio, além de executar o movimento corporal, executa um movimento
espiritual, a saber, quando percebe, rememora ou conhece. Contudo, para Licêncio, não está
com Deus aquilo que o sábio conhece pelos sentidos corporais (quidquid sensu isto corporis
nouit non est cum Deo), mas aquilo que conhece com o espírito (sed illud quod animo percipit;
ord. II ii 5). Ora, esse parecer gera novamente o mesmo problema anterior, pois se poderia
perguntar se existe no sábio algo ‘sem Deus’. E Agostinho, de fato, argumentará no parágrafo 6,
após ter esmiuçado as relações entre sensação, conhecimento, intelecto e espírito, que a
sensação e o corpo presentes no sábio não podem estar sem Deus. Se apenas o conhecimento
intelectivo do sábio estivesse com Deus, a sensação e o corpo seriam apenas ilusões. No
entanto, negar a existência verdadeira de tais coisas seria próprio ‘de um louco’ (dementis; ord.
II ii 6).
Licêncio, então, percebe o problema de sua tese quanto à relação entre o sábio e Deus,
e passa a sustentar que estão com Deus as partes do espírito do sábio (sensação e memória),
mas só quando ‘submetidas’ (subiecta) ao intelecto ‘purificado’ (mundus), ‘aquela única parte
que convém ser chamada de sábia’ (quam solam sapientem nominari decet). E nesse ponto,
quanto ao modo como a alma do sábio figura na ordem estabelecida por Deus, Agostinho
parece concordar com Licêncio, embora certamente não pressuponha, como faz Licêncio, que
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
200
apenas o sábio esteja com Deus, mas não o ignorante. Agostinho relata sua ‘admiração’
(admiratio) ao escutar a argumentação de Licêncio, e lembra que
uma vez havia dito
brevemente a mesma coisa com ele a ouvi-lo (recordatus sum idipsum aliquando me breuiter
illo audiente dixisse; ord. II ii 7). Assim, parece haver um consenso mínimo nesse ponto, a saber,
que o espírito inteiro do sábio está com Deus segundo uma ‘lei’ (lex) ou ordem específica, de
modo que as partes inferiores da alma estejam submetidas ao intelecto purificado. De qualquer
modo, ainda resta explicar como o corpo do sábio não pode estar ‘sem Deus’, assim como o
ignorante.
Na sequência, porém, é examinado dialeticamente apenas o caso da ignorância em si
mesma (stultitia; ord. II iii 8). Se parece que o sábio ‘não pode fugir da ignorância’ (nec
stultitiam effugure potest), ‘a não ser que a tenha conhecido’ (nisi intellectam), ‘essa praga
também está com Deus, o que é ímpio dizer’ (erit etiam, quod dictu nefas est, pestis illa cum
Deo).
O momento da colocação do problema coincide com a chegada de Alípio, que é
convidado a entrar na discussão. Para ele, o sábio não só escapa à ignorância, mas é sábio por
não possuir nem conhecer a ignorância. Assim, a ignorância não está com Deus, pois ela não
pode sequer estar entre as coisas que o sábio conhece:
[…] antes que alguém evite a ignorância, não se deve dar a ele o nome de
sábio. Também foi dito que as coisas que são conhecidas pelo sábio estão com
Deus. Portanto, quando alguém, precisamente para evitar a ignorância,
conhece a própria ignorância, ainda não é sábio. Quando, porém, ele o for, a
ignorância não deve ser enumerada entre aquelas coisas que ele conhece. Por
isso, já que aquelas coisas que o sábio conhece estão reunidas com Deus, a
ignorância é corretamente separada de Deus.11
11
ord. II iii 8. “[…] antequam stultitiam quisque uitet sapientis eum nomine non esse censendum. Et dictum est a
sapiente intellecta esse cum Deo. Cum igitur euitandae stultitiae / gratia eamdem stultitiam quisque intellegit,
nondum est sapiens. Cum autem fuerit, non inter ea quae ille intellegit stultitia numeranda est. Quamobrem
quoniam ea coniuncta sunt Deo, quae iam sapiens intellegit, recte a Deo stultitia secernitur.” (SANT’AGOSTINO,
1970, p. 300).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
201
Assim, negando uma daquelas premissas (a de que o sábio não pode fugir da
ignorância), procedimento típico da dialética, que de fato é um método negativo, Alípio
pretende resolver a contradição. E Agostinho, ainda que aponte a dificuldade da questão, acata
a tese de Alípio, mas a torna mais radical. A ignorância será entendida como ‘destruição para a
mente’ (menti pernicies), e como o que ‘não pode ser conhecido’ (intellegi non posse):
Embora muito me agite o que pensa Alípio, a saber, como alguém possa
ensinar o que é algo que não conhece, e quanta destruição leva à mente o que
ele não vê com a mente (já que, atentando especialmente a isso que tu
disseste, é mais verdadeiro dizer que esse pensamento é de teu conhecimento
por meio dos livros dos doutos), considerando, porém, o próprio sentido
corporal […], tendo a dizer que ninguém pode ver as trevas. Por isso, se
conhecer é para a mente o que ver é para o sentido [corporal], e se é justo que
alguém com olhos abertos, saudáveis e puros não possa ver as trevas, não é
absurdo dizer que a ignorância não pode ser conhecida, pois com nada
diferente denominamos as trevas da mente.12
Assim, a ignorância não está com Deus porque não é um conhecimento que se encontra
na mente, já que é apenas a sua negação (destruição, aniquilação, treva). A ignorância, pois,
nada é. É essa a conclusão que se deve aceitar uma vez assumida aquela segunda definição de
ordem e admitidas algumas premissas acima mencionadas.
A relação específica entre Deus e o mal ainda será investigada dialeticamente pelos
interlocutores (ord. II vii 21-3), segundo a mesma noção de ordem divina, mas a discussão, ela
própria desordenada, não chega a nenhuma conclusão. Agostinho, por conseguinte, prefere
terminar o livro com um longo discurso sobre a importância do aprendizado, da dialética, e das
demais disciplinas liberais. De qualquer modo, pela disputa dialética foi possível alcançar alguns
conhecimentos relativos a Deus. Primeiramente, tudo está na ordem, mas não o próprio Deus.
12
ord. II iii 10. “Quamuis enim me multum moueat, quod sentiat Alypius, quomodo recte possit quisque docere
qualis sit res quam non intellegit quantamque menti afferat perniciem quod mente non uidet (nam id utique
attendens, quod tu dixisti dicere est ueritus, cum ei sit ista etiam de doctorum libris nota sententia) tamen sensum
ipsum considerans corporis […] adducor ut dicam neminem posse uidere tenebras. Quamobrem, si menti hoc est
intellegere, quod sensui uidere, et licet quisque oculis apertis sanis purisque sit, uidere tamen tenebras non potest,
non absurde dicitur intellegi non posse stultitiam: nam nullas alias mentis tenebras nominamus.” (SANT’AGOSTINO,
1970, p. 302).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
202
Em segundo lugar, tudo o que está ‘junto a Deus’ (apud Deum) também está fora da ordem,
mas tudo o que foi e é criado está ‘com Deus’ (cum Deo), na ordem, inclusive o que é móvel e
sensível. E, por último, tudo o que não pode ser conhecido não está ‘com Deus’, assim como a
própria ignorância, que nada é.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AVGVSTINVS (SANCTVS AVRELIVS AVGVSTINVS). De Academicis libri
Brepols, 1959 (Corpus Christianorum, Series Latina, XXIX, pt. II
tres. Turnhout:
2).
SANT’AGOSTINO. L’ordine. In: IDEM. Dialoghi/1. Roma: Città Nuova, 1970.
SANTO AGOSTINHO. Contra os académicos: diálogo em três livros. Coimbra: Atlântida, 1957.
Tradução e prefácio de Vieira de Almeida.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
203
A questão da antropologia entre o empírico e o transcendental: Foucault sobre
Kant
Fillipa Silveira*
RESUMO
Este trabalho tem o propósito geral de expor a questão da antropologia tal como ela se
apresenta para Foucault no texto de introdução à sua tradução da Antropologia do ponto de
vista pragmático de Kant. O objetivo aqui é o de precisar uma questão que aparecerá de
maneira mais desenvolvida em As palavras e as coisas, e que congrega o grande impasse
subjacente a toda antropologia: que o conhecimento em torno do homem o considere, ao
mesmo tempo, como ser de natureza (condicionado empiricamente e marcado pela finitude), e
como ser de liberdade (de linguagem e possibilidade). O conhecimento em torno do Homem o
teria dotado de um suposto privilégio metafísico (a alma) pelo fato de ele não se encaixar
inteiramente e unicamente como elemento da natureza (Physis). Para escapar à psicologia
tanto racional como empírica, Kant trabalha com as implicações “pragmáticas” do conceito de
“sentido interno” (Gemüt), que Foucault examinará detidamente. O exame parece nos revelar
dois desdobramentos principais: 1 - que a investigação da antropologia kantiana revela mais
sobre o contexto do nascimento de um saber do “normal por excelência”, que regulará as
práticas de assujeitamento vinculadas a ideias de saúde/ sanidade e, 2 – que o saber sobre o
Homem revela também os limites e dificuldades epistemológicos do próprio sujeito do
conhecimento e sua dissolução no que Foucault chamará de um saber de “nós mesmos”.
PALAVRAS-CHAVE: antropologia; empírico; transcendental; Homem; sujeito; pragmática.
A primeira dificuldade na abordagem do tema da antropologia no pensamento de
Foucault é bastante patente: qualquer uma que tenha se aproximado de sua obra observa não
só um profundo ceticismo como um posicionamento extremamente crítico ante o discurso e a
filosofia sobre o Homem. Identificada como, ao mesmo tempo, funesta conseqüência e motor
*
Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar. Bolsista CAPES. E-mail:
[email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
204
infundado do desenvolvimento das chamadas ciências humanas, o Homem é a invenção do
saber moderno, fadada ao desaparecimento iminente. Tal é o quadro que nos é apresentado,
sobretudo no capítulo IX de As palavras e as coisas1, em que se anunciam a inexistência do
Homem antes do final do século XVIII e as condições de seu nascimento no contexto da volta da
representação sobre si mesma e o encontro dela com seus limites.
O problema em torno da pergunta pelo Homem – que aqui anexaremos à investigação
mais geral sobre o problema da antropologia – é que ele surge como uma inexorável via de
fundamentação, de enraizamento do saber naquele que é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto
deste saber. Em outras palavras: o conhecimento acerca do homem não se quer um saber
qualquer, mas o saber dos saberes – a verdade da verdade – pois que ele é este ser que
supostamente pode se desligar da natureza e alçar, do ponto de vista da linguagem, o âmbito
transcendental, as condições de possibilidade de todo e qualquer saber:
Sem dúvida, não é possível conferir valor transcendental aos conteúdos
empíricos nem deslocá-los para o lado de uma subjetividade constituinte, sem
dar lugar, ao menos silenciosamente, a uma antropologia, isto é, a um modo
de pensamento em que os limites de direito do conhecimento (e,
conseqüentemente de todo saber empírico) são ao mesmo tempo as formas
concretas da existência, tais como elas se dão precisamente nesse mesmo
saber empírico” (FOUCAULT [1966], 2002, p.342).
Antropologia e subjetividade parecem formar um bloco conceitual em que está dado de
antemão o problema da fundamentação do saber. Leia-si aqui fundamentação como a verdade
garantida pelo caráter transcendental daquilo que no homem não é natureza. Isto quer dizer, e
aqui temos uma primeira hipótese geral deste trabalho, que haveria, em Foucault, uma
denúncia ao sujeito do conhecimento fundacionista que nasce e se robustece com a filosofia
transcendental kantiana e tem como decorrências o Homem e as ciências humanas. É
investigando o que é o Homem que Foucault aborda a temática do sujeito como lugar da
identidade e do fundamento. E é na abordagem das ciências humanas, sobretudo a psicologia,
que este Homem passa a ser compreendido como um modelo. A antropologia deste modelo se
1
Cf. M. Foucault, As palavras e as coisas, [1966] 2002, pp. 417-474.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
205
desdobraria numa espécie de “ciência do normal por excelência” (Foucault, 2008, p. 73) que
assujeita e objetiva, do ponto de vista dos saberes, os indivíduos singulares desde a
modernidade.
É dessa maneira que, e aqui temos uma segunda hipótese geral deste trabalho, para
além do que explicitamente se configura na chamada fase genealógica do pensamento de
nosso autor, haveria, ainda no âmbito da arqueologia um exame do que chamaríamos aqui de
um “poder epistemológico”, ocupado em denunciar o momento a partir do qual nos teríamos
tornado “sujeitos/ Homens-a-ser”.
O objetivo aqui é o de extrair a questão da antropologia das primeiras 40 páginas da
tese complementar à tese de doutorado de Foucault, publicada tardiamente sob o título:
Introdução à Antropologia. Nela, temos uma detalhada e crítica exposição da Antropologia de
um ponto de vista pragmático de Kant, no qual estão presentes, ainda que de maneira
incipiente – e aqui nasce a terceira hipótese geral deste trabalho – os elementos que
constituirão o problema antropológico em As palavras e as coisas.
1. As relações antropológico-críticas
Apesar do título, o texto de Foucault ultrapassa os propósitos de uma mera introdução
ao texto. Nosso autor tem uma tese:
Da Crítica à Antropologia haveria uma relação de finalidade obscura e
obstinada. Mas é possível também que a Antropologia tenha sido modificada
em seus elementos maiores à medida que se desenvolvia a tentativa crítica: a
arqueologia do texto, se ela fosse possível, não permitiria ver o homem que a
precedeu? Quer dizer, a Crítica, a seu caráter próprio de « propedêutica » à
filosofia, adicionaria um papel constitutivo no nascimento e no devir de formas
concretas da existência humana. Haveria uma certa verdade crítica do homem,
filha da crítica das condições de verdade” (FOUCAULT, 2008, p.12-13).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
206
Foucault examina muito detalhadamente o contexto e as condições da redação do texto
que, segundo ele, teria se construído e modificado bastante antes da sua apresentação e
publicação como texto final em 1798. Antropologia e filosofia crítica (principalmente o projeto
da Crítica da razão pura) teriam mais relações entre si que nos mostram as datas de publicação
– a Antropologia estaria se gestando desde 1771 (FOUCAULT, 2008, p.12). Haveria no seu
intento não a resposta à última das quatro questões elencadas na Lógica2, mas uma
constituição pragmática do homem como cidadão do mundo. Pragmática aqui significando uma
espécie de ligação entre poder (können) e dever (sollen) a partir dos quais o homem, enquanto
cidadão, faz algo do próprio mundo e de si mesmo.
Em suma, poderíamos sintetizar três questões de fundo que estão na base da tese de
nosso autor tais quais abordadas na primeira metade do texto. A primeira é a de que a
Antropologia se engendraria num contexto de pesquisas em que Kant está voltado para
questões de ordem fisiológica, dietética e psicológica da constituição do ser humano 3. Daí o
texto apresentar um forte conteúdo moral e moralizante, presente em prescrições para a
manutenção da saúde, e na análise das degenerescências da alma quando o homem se
encontra fora de seu elemento e de sua sanidade.
O texto volta-se aqui para a necessidade da manutenção e do prolongamento da “boa
vida” humana, da busca pelo distanciamento em relação à doença 4, cujo princípio repousaria
no bom uso de sua liberdade (FOUCAULT, 2008, p. 28). A relação entre filosofia e medicina
formariam um conjunto onde:
2
De um ponto de vista weltbürgerlicher (como “cidadão do mundo”), o campo da filosofia se desdobra em quatro
questões: 1) O que posso saber? ; 2) O que devo fazer? ; 3) O que posso esperar? ; 4) O que é o homem. À primeira
pergunta, responderia a Metafísica, à segunda, a Moral, à terceira a Religião, à quarta, a Antropologia. Em suma,
se poderia fazer decorrer todas as outras da última, pois que todas se relacionam com ela. Cf. I. Kant. Logik, 1923,
p. 25.
3
Foucault cita e comenta várias passagens da correspondência de Kant com o médico alemão Cristoph Hufeland.
Os desdobramentos desses diálogos estariam presentes de maneira igualmente determinante no Conflito de
faculdades de Kant. Cf. Introduction à l’anthropologie, 2008, pp .27-31.
4
O capítulo final de História da loucura da idade clássica, intitulado O círculo antropológico parte basicamente
destas suposições: “Mas a verdade humana que descobre a loucura é a imediata contradição daquilo que é a
verdade moral e social do homem. O momento inicial de todo tratamento será portanto a repressão dessa
verdade inadmissível, a abolição do mal que ali impera [...]” (FOUCAULT, [1961] 1978, p. 565).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
207
Ordenamento medical e preceito filosófico se encaixam espontaneamente na
lógica de sua natureza: em uma palavra, uma filosofia moral e prática é uma
“Univerzalmedizin” na medida em que, sem servir a tudo nem por tudo, ela
não deve faltar em nenhuma prescrição. (FOUCAULT, 2008, p.29).
Haveria, assim, nesta tese da imbricação entre Crítica prática e antropologia, a
construção do Homem como o espaço mesmo do transcendental; e de um saber sobre ele que
se expressa aqui no seio de uma “fisiologia moral”. Na Antropologia de um ponto de vista
pragmático, “o conhecimento sobre o homem se encontra num ponto de cruzamento da
determinação de um privilégio metafísico, que é a alma, e do domínio de uma técnica que é a
medicina” (FOUCAULT, 2008, p. 72).
A segunda questão de fundo explorada por Foucault no exame das interdependências
entre antropologia e Crítica repousa nas relações entre o indivíduo e o Estado. Também nelas,
prevalece um conteúdo moral atrelada à pertença do Homem ao mundo jurídico, à vida
pública, mundana e empírica. A Antropologia manteria, assim, estreitas relações com uma
metafísica do Direito, questão discutida por Kant em correspondências com o filólogo alemão
Christian Schütz. As objeções de Schütz a Kant tocam:
O coração mesmo da preocupação antropológica, que é um certo ponto de
convergência e de divergência do direito e da moral. A Antropologia é
pragmática nesse sentido em que ela não considera o homem como
pertencendo à cidade moral dos espíritos (ela seria dita prática), nem à
sociedade civil dos sujeitos de direito (ela seria assim jurídica); ela o considera
como “cidadão do mundo”, quer dizer, como pertencendo ao domínio do
universal concreto, no qual o sujeito de direito, determinado pelas regras
jurídicas e submetido a elas é, ao mesmo tempo, uma pessoa humana que
porta, em sua liberdade, a lei moral universal”. (FOUCAULT, 2008, p. 26).
O que faz ressaltar assim o caráter pragmático da Antropologia é que ela remete o
homem a este universal concreto, que traduzirei aqui, com reservas, pelo difícil termo de uma
“materialidade transcendental”. O Homem torna-se o paradoxal efeito universal de sua própria
condição empírica particular, e isto na qualidade de membro político e jurídico de uma
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
208
sociedade. O Homem de Kant na Antropologia é um “cidadão do mundo” (weltbürger), e nisto
reside seu caráter pragmático (FOUCAULT, 2008, p. 27).
O elemento a tornar esta condição humana possível na Antropologia é a liberdade. Aqui
se apresenta todo o problema de toda e qualquer antropologia, pois que o homem é, com
efeito, ser de liberdade (freihandelndes Wesen), mas é, igualmente, um ser de natureza
(Naturwesen), o que o configura, ao mesmo tempo, como sujeito e objeto do saber sobre si
mesmo. A articulação de uma análise do homo natura sobre uma definição do homem como
sujeito de liberdade (FOUCAULT, 2008, p. 31) teria dotado a Antropologia de um duplo caráter:
empírico e transcendental. E nisto precisamente residiria seu maior problema
Como sujeito de uma dietética, o Homem modelo de normalidade na antropologia
kantiana tem o corpo inserido na construção de um saber sobre seu caráter de “ser de
natureza”. O saber sobre este corpo e sua dietética não é, entretanto, local e contingente, mas
se quer propedêutico e universal, desenvolvendo-se no seio de uma “didática antropológica”, o
que na Antropologia de um ponto de vista pragmático se define pela “maneira de conhecer
tanto o interior quando o exterior do homem”. (KANT, [1781] 2001, p. 25).
De outro lado, sendo também membro de um corpo jurídico, o homem é cidadão do
mundo e, ao mesmo tempo, legislador de si mesmo, ou seja, um ser de liberdade e de
possibilidade. Medicina, moral e Direito se unem aqui na constituição de um ser supostamente
conhecido e objetivado de fora pra dentro, mas também de dentro para fora, na medida em
que ele é capaz de arbítrio e da transformação de si mesmo. Como é possível, porém, este
encontro, quer dizer, qual seria o lugar, no Homem, dessas sínteses?
2. O caráter pragmático do sentido interno (Gemüt)
Uma terceira grande questão de fundo da tese de Foucault repousa sobre a análise do
sentido interno e retoma as relações antropológico-críticas no que elas têm de mais
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
209
epistemológico. A Antropologia, de acordo com Foucault, teria o propósito, ainda que não
explícito, de sanar as dificuldades da síntese do múltiplo, de apontar uma direção para a
solução do problema da validade universal da representação e das relações necessárias entre
entendimento e sensibilidade.
De acordo com Foucault, Kant sustenta que a representação, apesar de não “devida” ao
objeto tem, na relação com ele, as condições de partilha de sentido e comunicação com o
outro. Para que isto seja possível, é preciso que o sujeito, para além de receptáculo passivo das
determinações empíricas, seja capaz de determinar a si mesmo a partir das representações
oriundas da sensibilidade. A Antropologia teria como propósito, ainda que de modo implícito,
lançar luz sobre a aporia da síntese entre o sujeito enquanto ser de liberdade referido às
possibilidades transcendentais de seu conhecimento, e como ser de natureza, preso às
determinações empíricas de sua existência.
Como é possível, entretanto, que o conhecimento do sentido interno – passividade e
forma pura do tempo na Crítica da Razão Pura, gerador de um mero conhecimento fenomenal
de si mesmo – possa ter aqui o caráter de síntese do conhecimento do homem como cidadão
do mundo? É que o conceito do qual a Antropologia pretende extrair seu caráter pragmático
não é a alma do homem, mas precisamente seu sentido interno. Compreendido como
apercepção empírica, o Gemüt tem, na Antropologia um caráter pragmático, quer dizer, para
além de puro e para além de empírico.
Voltando-se ao que há de interior no homem, o saber corre o perigo da recorrência à
psicologia, tanto de cunho empírico como racional. A Crítica da razão pura, mais
especificamente a dialética transcendental, expunha já as dificuldades do saber sobre o interior
do homem enquanto um saber do eu penso puro. Se, por outro lado, este conhecimento fosse
dotado de elementos empíricos da percepção do sujeito sobre si mesmo, deixaria de ser
racional (KANT, [1781] 2001, A 342). Ocorre que a Antropologia se pretende um saber outro
que qualquer uma destas psicologias. Rejeita-as tanto do ponto de vista formal – que ignora a
distinção entre o caráter puro da consciência de si (apercepção) e a consciência conteudal de si
mesmo (Gemüt) – como do ponto de vista empírico, que toma a alma e questões relativas à
manutenção de sua identidade e substância como interrogação (FOUCAULT, 2008, p. 36).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
210
De que maneira, porém, teria o sentido interno ganhado aqui este sentido
universalizável, transcendental, se ele remete, desde a Crítica da razão Pura, ao caráter
meramente empírico do conhecimento de si? É no espírito (Geist) que vai se encontrar o que
Kant denomina o “princípio vivificador” do Gemüt. O espírito dá vida ao Gemüt através de
Idéias:
Esta é, então, a função do Geist: não organizar o Gemüt de maneira a fazer
dele um ser vivente, ou o análogo da vida orgânica, ou ainda a vida do
Absoluto ele mesmo: mas lhe vivificar, fazer nascer na passividade do Gemüt,
que é aquela da determinação empírica, o movimento formigante das idéias
[...] Assim, o Gemüt não é simplesmente “o que ele é”, mas o que ele “faz de si
mesmo” (FOUCAULT, 2008, p. 39).
Vivificado pelo espírito, o sentido interno deixa de ser mera passividade e passa a ser
mobilizado por ideias que o constituem de um caráter pragmático: o da possibilidade de se
fazer a si mesmo, no “maior uso empírico possível de sua razão” (KANT [1781] 2001 A677; B
705). O sentido interno se desdobraria numa “dialética desdialetizada”, pois que é dotado do
caráter ativo da produção de ideias, mas voltado também para o domínio da experiência
(FOUCAULT, 2008, p.39).
O espírito seria a liberdade e a totalidade que transcende o Gemüt. (FOUCAULT, 2008,
p.40). Aqui estaria fundada a legitimidade da antropologia de cunho pragmático:
O espírito está na raiz da possibilidade do saber. E, por isso mesmo,
indissociavelmente presente e ausente das figuras do conhecimento: ele é este
recuo, esta “reserva visível” e invisível na distância inacessível da qual o
conhecer toma lugar e possibilidade. Seu ser é de não estar lá, desenhando,
nisso mesmo, o lugar da verdade” 5. (FOUCAULT, 2008, p. 40-41).
5
O ser deste “não estar lá” aparece mais tarde como o não-ser do homem no eterno recuo da origem na parte VI
do capítulo IX de As palavras e as coisas. Por se encontrar a meio caminho entre a determinação das positividades
do saber empírico e o reconhecer-se no a priori do saber sobre ele mesmo, o Homem se torna o lugar de uma
eterna origem recuada, ocupando esse espaço da verdade inteiramente infundada de si mesmo Cf. M. Foucault, As
palavras e as coisas, [1966] 2002, PP. 417-474)
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
211
No cerne desta questão estariam as dificuldades do engendramento do homem como
certeza moderna. Pelo fato de poder determinar a si mesmo e de fazer uso (Gebrauch) do
mundo e de si mesmo é que o homem é um ser de liberdade: “Nós tocamos o essencial: o
homem, na Antropologia, não é nem homo natura nem sujeito puro de liberdade: ele é tomado
nas sínteses já operadas de sua ligação com o mundo” (FOUCAULT, 2008, p. 34).
Como se explica esta relação entre a função do Gemüt no sujeito, a antropologia e o
fundamento? É que precisamente ali onde o saber for capaz de unir num só discurso o lastro
desmistificador da experiência e a universalidade do entendimento, o saber alcançaria
supostamente seu grau máximo de verdade – a resposta à pergunta “o que é o homem?”
englobando todos os outros problemas da filosofia.
Uma suposição ainda a ser examinada com o devido cuidado nos abriria uma vereda na
interpretação do percurso de Foucault. A crítica à propedêutica antropológica estaria, de um
lado, na base de sua arqueologia das práticas de assujeitamento da medicina, da psiquiatria e
da psicologia (o homem, o louco, que ocupa o não lugar da verdade, o disparate entre razão e
desrazão). De outro, na genealogia das práticas de saber/ poder no Direito, e na gestão dos
ilegalismos, pautadas no modelo de homem weltbürger, ator livre de seu próprio destino que
encontra, no sentido interno, a síntese entre sua liberdade universal e sua pertença jurídicoestatal empírica.
Do ponto de vista estritamente epistemológico, a antropologia revela igualmente os
limites e dificuldades do próprio sujeito do conhecimento transcendental como síntese da
possibilidade do conhecimento humano sobre si mesmo. No sentido de uma contraantropologia foucauldiana, poderíamos afirmar o horizonte de uma “antropologia do
desconhecimento”:
Porque é duplo empírico-transcendental, o homem é também o lugar do
desconhecimento – deste desconhecimento que expõe sempre seu
pensamento a ser transbordado por seu ser próprio e que lhe permite, ao
mesmo tempo, se interpelar a partir do que lhe escapa. É essa a razão pela
qual a reflexão transcendental, sob sua forma moderna, não mais encontra o
ponto de sua necessidade, como em Kant, na existência de uma ciência da
natureza (à qual se opõem o debate perpétuo e a incerteza dos filósofos), mas
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
212
na existência muda, prestes porém a falar e como que toda atravessada
secretamente por um discurso virtual, desse não-conhecido a partir do qual o
homem é incessantemente chamado ao conhecimento de si” (FOUCAULT,
[1966], 202, p. 445)
É sempre difícil a tentativa da enunciação de uma hipótese de interpretação do texto de
um autor envolvendo períodos distintos de seu pensamento. Mas a maneira como aqui foi
apresentada a análise foucauldiana da Antropologia de Kant enseja, ainda que apenas a título
indicativo, uma ligação possível com o que chamaríamos aqui de uma contra-antropologia. O
conteúdo positivo do ethos filosófico de uma filosofia crítica de nós mesmos – nós mesmos
homens, mas também nós mesmos loucos, amorais, sexualmente impróprios, criminosos,
anormais – se vê:
Não mais na busca das estruturas formais que têm valor universal, mas como
investigação histórica através dos acontecimentos que nos levaram a nos
constituir, a nos reconhecermos como sujeitos disso que fazemos, pensamos e
dizemos. Nesse sentido, essa crítica não é transcendental, e não tem por fim
tornar possível uma metafísica: ela é genealógica na sua finalidade e
arqueológica no seu método. Arqueológica – e não transcendental – nesse
sentido em que ela não procurará extrair as estruturas universais de todo
conhecimento ou de toda ação moral possível, mas sim tratar os discursos que
articulam isso que pensamos, dizemos e fazemos como tantos acontecimentos
históricos. E essa crítica será genealógica nesse sentido em que ela não
deduzirá da forma disso que nós somos, o que nos é impossível de fazer ou de
conhecer, mas ela extrairá da contingência que nos fez ser o que nós somos, a
possibilidade de não mais ser, fazer ou pensar o que nós somos, fazemos ou
pensamos”. (FOUCAULT [1984] 2001, p. 1393).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
FOUCAULT, M; KANT, I. Anthropologie d’um point de vue pragmatique & Introduction à
l’anthropologie. Paris, J. Vrin, 2008.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
213
FOUCAULT, Michel. [1966] As palavras e as coisas. Trad. Salma Muchail. São Paulo: Martins
Fontes, 2002.
_________________. Qu’est-ce que les lumières? [1984] In: Dits et écrits II (1976-1988). Paris,
Gallimard, 2001.
_________________. [1961] História da loucura na Idade Clássica. Trad. José T. Coelho Netto.
São Paulo: Perspectiva, 1978.
KANT, Immanuel. [1781]. Crítica da razão pura. Trad. Manuela P. dos Santos. Lisboa: Calouste
Gulbenkian, 2001
______________. [1800] Logik. In: Gesammelte Schriften. Bd. IX. Berlin und Leipzig, W. de
Grunter, 1923.
______________. [1798] Antropologia de um ponto de vista pragmático. Trad. C. Martins. São
Paulo: Iluminuras, 2006.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
214
A Ética Samurai e a construção de uma Nação: a apresentação da Ética Oriental
Moderna na obra de Inazo Nitobe
Gabriel Pinto Nunes*
RESUMO
Este texto tratará brevemente sobre o surgimento de uma ideologia baseada em uma releitura
de um antigo código de conduta dos samurais – conhecido como bushidô, que serviu de base
para a criação de uma utopia de nacionalista nipônica decorrente da construção de uma
identidade nacional. A primeira versão do bushidô a chegar ao ocidente surgiu durante o
Período Meiji (1868-1912) pelas mãos de Inazo Nitobe (1862-1933) por meio da obra Bushido –
The Soul of Japan (1900), na qual associava valores cristãos com a cultura japonesa com o
intuito de viabilizar a aproximação cultural entre ocidental e Japão, além de fornecer uma
identidade nos moldes dos padrões europeus. O processo pelo qual o Japão passou é similar ao
que os povos europeus passaram para construir a ideia de tradição. A linha de raciocínio
traçada por Nitobe, mesmo não ficando muito clara na obra, é sustentada pela vertente do
confucionismo Oyômei com traços do Zen Budismo e do xintoísmo estatal. Também conta com
interpolações do pensamento ocidental, como o evolucionismo social de Herbert Spencer,
desempenhando o papel de garantia da evolução da espécie por meio da vida regrada por um
ideal ético, o idealismo romântico de Carlyle, o qual forneceu a base para a construção do herói
nacional corporificado pelo samurai, e o conservadorismo histórico de Burke, tendo em vista
que a obra de Nitobe se assemelha a obra Reflexões sobre a Revolução em França.
PALAVRAS-CHAVE: bushidô; confucionismo; ideologia; Japão.
*
Aluno do Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa da Universidade de São Paulo.
Bolsista CAPES. E-mail: [email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
215
Introdução
O processo descrito na obra de A Invenção de Tradições (2008) de Hobsbawm no qual a
tradição assume o papel de motor na construção da identidade entre os membros de uma
sociedade ou grupo humano não é um privilégio dos povos europeus na virada do século XIX
para o XX. Após o fim da política isolacionista (Sakoku) que perdurou por aproximadamente
duzentos anos no Japão e o estabelecimento do contato com as nações do mundo inteiro,
percebeu-se a necessidade de mudanças para evitar que o país viesse a se tornar uma colônia
ou protetorado de alguma nação europeia. A mobilização política foi seguida pelo esforço de
intelectuais para conceber um modelo que pudesse ser instituído no Japão a fim de concretizar
a posição política do país na região. Entre os intelectuais mais atuantes nesta época dentro do
Japão, podemos destacar Inazo Nitobe (1862-1933) que se preocupou em apresentar ao
ocidente os valores japoneses com o intuito de fomentar o estabelecimento de relações
comerciais e culturais entre o Japão e as nações ocidentais.
Se externamente a preocupação de Nitobe era estabelecer vínculos com outros povos,
internamente sua preocupação era incentivar a assimilação da cultura ocidental pelos
japoneses, ao mesmo tempo em que construía uma imagem ideal do japonês. Tal idealização
do cidadão seria apresentada formalmente ao público estrangeiro e ainda seria aproveitada
para estabelecer a unicidade nacional entre todos os povos do arquipélago. Podemos
considerá-lo como um dos primeiros intelectuais a pensar uma identidade como uma
amálgama do pensamento ocidental e oriental para o Japão moderno.
Segundo Reitan (2010) em sua obra Making a Moral Society, nos é mostrado que após o
contato com os europeus na abertura dos portos, uma parte dos intelectuais tomavam aquilo
que até então era entendido como ser japonês – os costumes, vestimentas e inclusive a língua,
como algo bárbaro sendo necessário assimilar o mundo ocidental por entendê-lo como mais
desenvolvido como civilização. Não tardou para que surgissem movimentos contrários que
buscavam dentro da própria cultura japonesa elementos que mostrasse o erro dos que
afirmavam serem os ocidentais mais evoluídos que os japoneses.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
216
Nesta briga de intelectuais do começo do século XX Nitobe se situava em uma posição
delicada, tendo em vista que tentava unir o melhor dos dois mundos para criar uma identidade
japonesa autêntica, que sempre esteve lá, mesmo que não fosse vista pela maioria. Notamos
em seus textos que evitava a disputa de poder de superioridade entre a cultura japonesa e
ocidental, optando por um discurso conciliatório que mostrava as similaridades dos povos. Seu
tom somente se modificou ao fazer a defesa da religião, pois como havia se convertido ao
cristianismo ainda na juventude, entendia que ela era a verdadeira religião para todos os povos
do mundo, rebaixando as demais religiões dos japoneses a um segundo plano.
Inazo Nitobe e seu tempo
Inazo Nitobe nasceu em 1862 na província de Mutsu, atual prefeitura de Iwate ao norte
de Honshu no Japão e faleceu em 1933 em Banff, Canadá. Era o terceiro filho de um samurai
que servia ao clã Nambu e desde cedo teve contato com a cultura e a arte dos guerreiros
japoneses. Aos 5 anos de idade, após o falecimento de seu pai, mudou para Tóquio para viver
com o tio e foi matriculado em uma escola mantida pelo governo com professores estrangeiros.
O modelo educacional adotado nesta escola fazia parte do esforço de modernização do país
pelo Governo Meiji, o qual contratava especialistas estrangeiros para lecionarem em escolas e
faculdades com o intuito de inserir rapidamente a ciência ocidental dentro do arquipélago. A
presença de tantos estrangeiros no país possibilitou a proliferação de novas ideias em uma
sociedade acostumada apenas com o pensamento confucionista, além de novas religiões em
um cenário dominado por crenças budistas e xintoístas. O Período Meiji (1868-1912) foi
caracterizado como uma época de transição no Japão, no qual há o abandono do sistema feudal
de produção para a adoção do sistema capitalista liberal. Porém, mudanças tão radicais do
ponto de vista econômico, em um curto espaço de tempo, contrasta com a quase imutabilidade
do sistema político e social do Japão. Mesmo com a volta do poder político às mãos do
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
217
Imperador e com o fim da classe dos samurais, notamos que a Restauração Meiji possuía forte
caráter conservador.
Por causa do contato precoce com os estrangeiros, Nitobe se converteu ao cristianismo
e desenvolveu uma atração pela cultura ocidental, tornando-o grande leitor de obras
ocidentais. Na adolescência estudou economia, mas nunca abandonou seus estudos sobre o
pensamento ocidental. Era comum na época que o governo japonês enviasse jovens para
estudarem em renomadas universidades nos Estados Unidos e Europa como meio de acelerar a
inserção do conhecimento científico ocidental e diminuir a dependência da mão-de-obra
especializada e estrangeira no arquipélago, mas Nitobe por não conseguir o financiamento
governamental acumulou recursos próprios para viajar e estudar no exterior, estabelecendo
contato com personalidades tanto do campo científico quanto político.
Após retornar de suas viagens de estudo, Nitobe se incorporou a máquina estatal
japonesa, ocupando diversos cargos tanto na administração pública como no mundo
acadêmico. Na década de 1920 foi representante do Japão na Liga das Nações e posteriormente
foi nomeado senador na Câmara Alta do Parlamento Japonês.
A Ética Samurai
Ao nos referirmos à ética oriental, mais especificamente a japonesa no período Meiji, e
ocidental devemos ter em mente um divisão necessária para podermos entender as diferenças
entre as escolas de pensamento sem cairmos nos mesmos erros que outros pensadores tiveram
quando se depararam com as novas escolas orientais. Nishi Amane (1829-1897) percebeu essa
diferença entre o modo de pensar a ética dos ocidentais e dos japoneses. Ao pensamento
ocidental, a conhecida filosofia, chamou de Tetsugaku e ao segundo de Rinrigaku. O Tetsugaku
era a filosofia do modo entendido pelos ocidentais, nascida com os gregos e estudada nas
universidades européias, na qual a razão é posta como instrumento para a busca da verdade. Já
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
218
o Rinrigaku é a ética assumida na sua forma japonesa, a qual não podemos generalizar com as
demais éticas ou sistemas éticos dos povos asiáticos. Pelo olhar ocidental o Rinrigaku estaria
mais próximo a um código de conduta previamente estabelecido que a conceitos surgidos do
costume dos povos.
The academic discipline of ethics (rinrigaku) emerged from within na
epistemology, already authoritative by the early Meiji period, which contested
Chu His Cunfucianism and aligned itself with “Western knowledge” and
“science”. Rinrigaku scholars of the early 1880s claimed to speak from an
objective and value-neutral position, a position from which to inquire into and
apprehend “the good”. Their methodologies and ethical theories, however,
were invariably rooted in culturally and historically specific epistemological
presuppositions, that is, in their own perspectival presuppositions about
knowledge, knowing, and truth. Indeed, the possibility of “Value-free
objectivity” was itself one such presupposition. (REITAN, 2010, p. 23)
O Tetsugaku, ou a filosofia ocidental, entrou no Japão com os imigrantes que
confrontavam o sistema de pensamento usado pelos japoneses com as suas “filosofias”, as
quais buscavam a confirmação científica e metodológica das verdades, algo comum ao
pensamento ocidental que desde os gregos optou pela verdade científica, a qual pode ser
provada seja por experimentos ou racionalmente. Já o Rinrigaku, a ética como os japoneses
começaram a denominar no Período Meiji para diferenciar das novas éticas ocidentais, tinha
lastros com o confucionismo e não havia a preocupação explícita, como a versão ocidental, pela
busca da verdade por uma ciência metodológica. Neste ponto o conhecimento desta ética se
assimila aos pré-socráticos, os quais ainda utilizavam um pouco de mitologia para explicar
aquilo pelo que se indagavam racionalmente. Porém, quando Nishi cunhou os termos
Tetsugaku e Rinrigaku já havia influência do pensamento ocidental em sua proposta, ou seja, tal
diferenciação entre as éticas é fruto do pensamento ocidental que invadia o Japão. O termo
gaku em japonês se refere ao estudo, desta forma a ética japonesa seria o estudo (gaku) dos
princípios, ou razão, (ri) da ética (rin) e poderia ser enquadrada dentro do Tetsugaku.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
219
The epistemology of rinrigaku was not new in the 1880s. although the writings
of Nishi Amane (1829-1897), a student of philosophy with a particular interest
in the thought of Comte and J. S. Mill, provided a detailed statement of this
epistemology’s key features during the first decade of Meiji, it is possible to
locate its antecedent traces in the thought of eighteenth – and perhaps even
late seventeenth-century intellectuals. Indeed, a good deal of scholarship
exists on the intellectual labor during the Tokugawa period (1600-1868) that
enabled the revolution called the Meiji Ishin. A central feature of this
revolution was the move away from Neo-Confucianism and other modes of
thought toward new (often and problematically called “Western”) ways of
apprehending the world. One way to approach this transition is through the
shifting meanings of terms central to both periods and epistemologies. Ri
(principle), for example, a concept central to Confucian metaphysics, was
reconfigured to signify “reason”, “laws of nature”, and even “science”.
(REITAN, 2010, p.23)
O confucionismo era a base do pensamento japonês, por isso que o Rinrigaku possui
elementos e concepções proveniente desta escola de pensamento. O ocidente possui certo
preconceito quanto classificar o confucionismo como uma escola de pensamento ou como
doutrina filosófica, devido alguns pensadores a generalizarem como religião ou como forma de
pensamento surgida a partir da religião. Porém, o confucionismo é o nome dado as vertentes
que surgiram das obras de Confúcio (551-479 a.C.) e seu seguidor Mêncio (372-289 a.C.) e não
possuem nenhuma relação com qualquer religião. Ao longo dos anos surgiram diversas
interpretações das obras destes autores e sobre elas se formalizou o pensamento racional dos
chineses e de diversos povos da Ásia influenciados por esta forma de pensar. A grande
diferença do confucionismo para a filosofia ocidental está que a primeira possui maior enfoque
na ética, enquanto que a segunda foca no cientificismo racional.
It fell to the lot of Confucius (b.c.551 to B.C. 479), at the end of the Shu
dynasty, to elucidate and epitomize this great scheme of synthetic labour,
worthy of study by every modern sociologist. He devotes himself to the
realisation of a religion of ethics, the consecration of Man to Man. To him,
Humanity is God, the harmony of life his ultimate. Leaving the Indian soul to
soar and mingle with its own infinitude of the sky; leaving empiric Europe to
investigate the secrets of Earth and matter, and Christians and Semites to be
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
220
wafted in mid-air through a Paradise of terrestrial dreams—leaving all these,
Confucianism must always continue to hold great minds by the spell of its
broad intellectual generalisations, and its infinite compassion for the common
people. (OKAKURA, 1905 p.27)
Das diversas vertentes do confucionismo presentes no Japão podemos destacar duas:
(1) Sorai, difundida por Ogyû Sorai (1666-1728) e baseada nos ensinamentos de Chu Hsi ou Zhu
Xi (1130-1200) e a (2) Ôyômei difundida por Motoori Norinaga (1730-1801) a partir do
confucionismo Wang Yang Ming (1472-1529). Dentro do confucionismo surge uma concepção
que será muito aproveitada durante o Período Meiji, no qual entende que o homem atingiria a
sua plenitude se seguisse uma vida harmoniosa baseada na ética. A presença da ética no
pensamento confucionista nos revela uma preocupação com a vida em sociedade, ou seja,
parte do principio de que o homem é por excelência um ser social que se completa no convívio
com os outros.
A vertente Ôyômei, mais recente e que teve maior influência em pensadores do Meiji
como corrente de pensamento, afirmava que o conhecimento era intuitivo e inato aos homens.
Na construção artificial feita modernamente sobre o samurai, esta vertente possibilitou o
reforço do caráter virtuoso dos homens os quais nasciam conhecendo a diferença entre o bem
e o mal, ou seja, o agir virtuoso não seria algo adquirido pelo hábito. O argumento usado como
fundamento para a crítica aos que agissem imoralmente fazia contraste com os samurais que
tendo conhecimento moral eram obrigados a exercerem atitudes corretas na sociedade, assim
a moral se baseava na garantia incondicional de que todos sempre procurariam agir
corretamente.
Quando nos referimos à ética dos samurais no período Tokugawa (1603-1868) devemos
ter em mente os preceitos familiares que cada clã possuía e impunha aos seus membros. Tais
preceitos, chamados de kakun, tinham em sua estrutura básica conceitos do confucionismo que
eram completados com valores budistas ou xintoístas, dependendo particularmente de cada
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
221
clã. Segundo Navarro (2008) o bushidô poderia ser tomado como um kakun1, isto é, preceitos
familiares que deveriam ser seguidos por todos que fizessem parte do clã ou família. Com o
passar dos anos esses preceitos foram tomados como códigos de condutas que deveriam ser
seguidos por todos os membros do grupo, principalmente pela parte armada, no caso os
samurais. Este código não era escrito e sua transmissão era exclusivamente oral, ou seja, era
passado ao discípulo pelo mestre para garantir que o domínio na interpretação que o discípulo
viesse a ter .
Com o passar dos anos e com a degradação da classe dos guerreiros e da própria
sociedade japonesa, a qual mostrava desgastes pelos longos anos do feudalismo (SONODA,
1990), os códigos de condutas estavam em desuso, tendo em vista que boa parte dos samurais
estavam em situação de miserabilidade em um país com excesso de mão-de-obra especializada
nas artes bélicas, mas com deficiência de inclusão destes em um mercado de trabalho
incipiente. Com as mudanças sociais e políticas que ocorreram com a Restauração Meiji – Meiji
Ishin, a classe dos guerreiros japoneses foi abolida com a alegação de ser ultrapassada e
incompatível com os novos tempos no qual o Japão adentrava, mas todos os novos excluídos
receberam uma pensão do governo até o final da Segunda Guerra Mundial. Um dos motivos da
extinção dos samurais da sociedade japonesa se deve à tentativa de eliminação do poder
políticos deles, tendo em vista que até o início da Restauração Meiji o Japão era governado pelo
Xogum, ou seja, era a classe militar que detinha todo o poder político.
Nitobe ao trabalhar o bushidô, uma releitura do código de conduta dos samurais,
buscava um elemento que pudesse ser genérico em toda a sociedade japonesa, ou seja,
buscava um ideal universal aos povos que compunham a nova nação japonesa com o intuito de
desenvolver uma identidade nacional que viabilizasse a colocação do Japão diante as nações
estrangeiras, em especial as ocidentais, de modo a evitar a fragilidade política e econômica
1
O uso do kakun é expressada por Navarro:
“El Bushidô al comienzo fue un código de transmisión oral y más tarde sus valores e instituciones se recogieron por
escrito. En un principio eran códigos secretos (kakun) de los diferentes clanes o familias samuráis, y
posteriormente – en la Época de Edo- se comenzaron a recopilar y difundir en obras como Hagakure (titulado en
español como “libro secreto del samurai”) de Yamamoto Tsunemono (1659-1719) y Bushidô Shoshintsu (titulado
en español como “código del samurái”) de Taira Shigezuke (1639-1730), entre otras.” (NAVARRO, 2008, pp. 243).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
222
para que não viesse a se tornar uma colônia estrangeira. Das diversas identidades dos povos
japoneses, Nitobe construiu uma idealizada na qual colocava o samurai como um herói nacional
idealizado, um modelo a ser seguido por todos os cidadãos. Ele buscou em um passado
mitológico os elementos para construir uma tradição que respaldasse a sua proposição
conservadora de identidade nacional.
A principal obra de Nitobe é Bushidô – The Soul of Japan (1900), obra escrita em língua
inglesa enquanto ainda vivia nos Estados Unidos, concebida como resposta a conversa que teve
com o jurista belga Laveleye sobre o ensino da moral no Japão sem o uso da religião. Nela
encontramos a exposição sobre o bushidô no Japão nos tempos modernos, a sua função e
papel dentro da sociedade segundo a visão do autor.
About ten years ago, while spending a few days under the hospitable roof of
the distinguished Belgian jurist, the lamented M. de Laveleye, our conversation
turned, during one of our rambles, to the subject of religion. "Do you mean to
say," asked the venerable professor, "that you have no religious instruction in
your schools?" On my replying in the negative he suddenly halted in
astonishment, and in a voice which I shall not easily forget, he repeated "No
religion! How do you impart moral education?" The question stunned me at
the time. I could give no ready answer, for the moral precepts I learned in my
childhood days, were not given in schools; and not until I began to analyze the
different elements that formed my notions of right and wrong, did I find that it
was Bushido that breathed them into my nostrils.
The direct inception of this little book is due to the frequent queries put by my
wife as to the reasons why such and such ideas and customs prevail in Japan.
In my attempts to give satisfactory replies to M. de Laveleye and to my wife, I
found that without understanding Feudalism and Bushido, the moral ideas of
present Japan are a sealed volume. (NITOBE, 1972a, p.7)
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
223
A versão do bushidô de Nitobe se difundiu no ocidente principalmente pela presença da
imagem do samurai, servindo de modelo a uma identidade artificial voltada à unificação de
todos os povos do arquipélago nipônico. Recebeu algumas críticas ao longo dos anos a qual
podemos destacar o filólogo Basil Hall Chamberlain (1850-1935) o qual acusava Nitobe de
inventar o termo bushidô, pois se tratava de um termo que não existia na literatura japonesa
do Período Tokugawa e anterior. Evidentemente que a crítica do filólogo não levou em
consideração a intensão original do autor nem o contexto social e histórico em que se
encontravam. A obra de Nitobe é uma exteriorização do movimento intelectual que procurou
inventar a tradição japonesa para concretizar a busca da identidade que afirmou o indivíduo
perante um mundo anterior ao próprio, no qual é obrigatória a autoafirmação perante os
outros para que não seja oprimido por aqueles que já haviam se constituído como sociedade
anteriormente.
Na exposição do bushidô percebemos a aproximação com o idealismo romântico de
Carlyle, pois neste processo de identificação do samurai como um ser iluminado, um homem
superior que tem como objetivo atingir a plenitude de caráter ao mesmo tempo em que
ilumina todas as boas almas2, é comum ao movimento romântico alemão.
Bushido, then, is the code of moral principles which the knights were required
or instructed to observe. It is not a written code; at best it consists of a few
maxims handed down from mouth to mouth or coming from the pen of some
well-known warrior or savant. More frequently it is a code unuttered and
unwritten, possessing all the more the powerful sanction of veritable deed,
and of a law written on the fleshly tables of the heart. It was founded not on
the creation of one brain, however able, or on the life of a single personage,
however renowned. It was an organic growth of decades and centuries of
military career. (NITOBE, 1972a, p.25)
2
“Um homem superior é sempre fonte de viva luz, junto da qual é bom e aprazável estar. Luz que ainda nos
ilumina, depois de ter espancado as trevas do mundo; não é mera lâmpada em que arde o fogo de indústria, mas
luminária natural brilhando por graça do céu; fonte de luz, como disse, refulgente de original esclarecimento, de
humanidade e de nobreza heroica; - fonte de cuja radiação todas as almas se iluminam e aquecem pelo que junto
dela se sentem bem.” (CARLYLE, 2002, pp.15-16).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
224
Não podemos deixar de lado as referências à obra Reflexões sobre a Revolução em
França de Edmund Burke, que inspirou o autor em vários momentos e por haver a defesa do
continuísmo da classe aristocrática japonesa por meio da hereditariedade. Encontramos na
obra de maneira velada a existência da desigualdade entre os homens causada pela existência
de uma estrutura social hierarquizada seria o meio de garantir a continuidade da propriedade.
Este é um ponto de fragilidade do pensamento de Nitobe, pois nos anos posteriores à
publicação da obra Bushido – The Soul of Japan, principalmente enquanto representante
japonês na Liga das Nações sempre pregou a cooperação internacional entre os povos e a
igualdade dos direitos civis entre homens e mulheres, todavia a defesa destes ideais
“revolucionários” ou burgueses não se deve a sua formação política, mas a sua conversão ao
cristianismo dos Quaker, pois como notamos em alguns trechos da obra, havia a preocupação
com questões aristocráticas principalmente referente à propriedade.
“O poder de perpetuar nossa propriedade em nossas famílias é um de seus
elementos mais valiosos e interessantes, que tende, sobretudo, à perpetuação
da própria sociedade.” (BURKE, 1982, pp.83)
A ética dos samurais pela visão de Nitobe não seria apenas a defesa do historicismo
conservador, sendo a sociedade algo imutável e cristalizado no tempo. Nesta abordagem do
bushidô encontramos a influência do evolucionismo social de Herbert Spencer que atuará de
duas maneiras dentro da obra: (1) as virtudes cultivadas pelos samurais deveriam ser
entendidas como indício do contínuo processo de evolução social inclusive dentro da sociedade
industrializada e, (2) o caráter conservador era fruto direto deste processo de evolução,
afastando qualquer interpretação de que a ética, como proposta pelo autor, poderia assumir
aspectos negativos.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
225
Conclusão
A versão do bushidô de Nitobe foi redigida a priori para o público ocidental. As
interpolações cristãs e referências ocidentais facilitaram o processo de divulgação dos valores
japoneses, favorecendo indiretamente o estabelecimento do contato entre Japão e os países
ocidentais que culminariam com acordos econômicos e políticos. Também foi responsável pela
construção idealizada do samurai e do cidadão japonês, a qual ainda tem influência na versão
hodierna do indivíduo japonês. O samurai é reinterpretado como o herói nacional, aquele que
servirá de modelo às gerações futuras, guiando-os em um caminho de rigor moral rumo ao
estado mais elevado da condição humana e da vida em sociedade.
Podemos resumir o desfecho do bushidô de Nitobe no mundo como uma ideologia
construída artificialmente, marcada por traços de historicismo conservador e nacionalismo
romântico os quais foram utilizados para fomentar a criação de uma identidade nacional,
possibilitando o surgimento de uma nação forte. Infelizmente, notamos haver um
descolamento desta concepção de bushidô do mundo real resultando em um conceito abstrato
que dificilmente foi utilizado pelos samurais japoneses durante a era feudal.
Referências bibliográficas
BENESCH, Oleg. Bushido: The Creation Of A Martial Ethic In Late Meiji Japan. Tese de
doutorado. Vancouver: Universidade da Columbia Britânica, 2011.
BURKE, Edmund. Reflexões sobre a Revolução em França. Brasília: Editora Universidade de
Brasília, 1982.
CARLYLE, Thomas. Os Heróis. Lisboa: Guimarães Editores, 2002.
HOBSBAWM, Eric. RANGER, Terence. A Invenção das Tradições. São Paulo: Paz e Terra, 2008.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
226
JANSEN, Marius Berthus. The Making of Modern Japan. Cambridge: Harvard University Press,
2000.
MONCERI, Flavia. Il Problema dell’unicità Giapponese – Nitobe Inazô e Okakura Kakuzô. Pisa:
Edizioni Ets, 2000.
MOORE, Charles A (Org.). Filosofia: Oriente e Ocidente. São Paulo: Editora Cultrix: Editora da
Universidade de São Paulo, 1978.
NAVARRO, Maria Teresa Rodríguez. MUÑOZ, Rafael Serrano. “La influencia del Bushidô en La
Constituición Japonesa de 1889 y en El Edicto Imperial de La Educación de 1890.” In: Nuevas
Perspectivas de Investigación sobre Asia Pacifico, Granada: Editorial Universidad de Granada, n.
2, 2008, pp.239-253.
NITOBE, Inazo. The Works of Inazo Nitobe. Volume 1 (Bushido: The Soul of Japan, Thoughts and
Essays). Tóquio, University of Tokyo Press, 1972a.
_____. The Works of Inazo Nitobe. Volume 2 (The Japanese Nation, Intercourse Between The
United States and Japan). Tóquio, University of Tokyo Press, 1972b.
OKAKURA, Kakuzo. The Ideals Of The East With Special Reference Of The Art Of Japan. Londres:
Ballantyne, Hanson & Co., 1905.
_____. The Awakening of Japan. Nova Iorque: The Century Co., 1904.
REITAN, Richard M., Making a Moral Society – Ethics and the State in Meiji Japan. Honolulu:
University of Hawai’i Press, 2010.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
227
A Instituição na filosofia do Merleau-Ponty
Gautier Maes*
RESUMO
A historiografia sobre Merleau-Ponty não entende muito bem a distância entre o primeiro e o
segundo Merleau-Ponty. Mesmo um especialista como Renaud Barbaras, por exemplo, dentro
a obra De l’Être du Phénomène (O Ser do Fenômeno), percebe a separação entre dois
momentos mas não vê o ponto de mudança entre a Fenomenologia da Percepção e O Visível e
Invisível. Como se Merleau-Ponty, o filósofo das relações fizesse duas filosofias sem nenhuma
ligação. Nosso objetivo é demonstrar que a fenomenologia de Merleau-Ponty é uma pesquisa
que nunca acaba e que não tem ruptura. Para nós, a aula acerca da instituição é a ponte entre
dois Merleau-Ponty. Vamos tentar demonstrar a importância desse texto pouco conhecido,
buscando um melhor entendimento dentro da filosofia de Merleau-Ponty e pretendemos
mostrar como esta aula pode nos ajudar. Trata-se de uma nova concepção da temporalidade e
da subjetividade dentro das relações com o mundo.
PALAVRAS-CHAVE: Instituição, subjetividade, temporalidade e fenomenologia.
Introdução:
Estamos em 1954. Merleau-Ponty leciona há dois anos no Collège de France e se propõe
a fazer uma aula com o título a Instituição. No mesmo ano ele prepara outra aula, dessa vez
sobre a passividade. Daquele ano é talvez uma das mais importantes para entender a filosofia
do fenomenólogo francês. O formato que ele usa para apresentar o texto aparece mais tarde
como o símbolo da filosofia de Merleau-Ponty: aberta e em desenvolvimento perpétuo. De
fato, o texto foi escrito em pequenos papéis e a versão publicada vem de um aluno chamado
*
Mestrando do Erasmus Mundus Europhilosophie. Bolsa Erasmus Mundus. E-mail: [email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
228
Dominique Darmaillacq, por isso o estado do texto ja é um pouco específico. Isso provoca um
problema de leitura: podemos ler o texto como um texto de Merleau-Ponty? Parece evidente
que sim, visto que se trata de um texto extraído de uma aula ministrada por ele. Por se tratar
de um texto extraído de uma aula, ou seja, oral, pode sim ser considerado um texto muito
importante na filosofia de Merleau-Ponty. Mas por que esse texto é tão importante afinal? Por
duas razões: primeiro porque o texto faz uma ponte entre a primeira e a ultima filosofia do
autor. E o segundo ponto importante é que a noção de instituição concentra toda a filosofia do
pensador francês. Quase todos os temas importantes estão presentes no referido texto: a
natureza e a vida, as obras em pintura, o conhecimento, a cultura e a história. Pretendemos
aqui mostrar, a partir de diferentes pistas de leitura a real importância do texto para o
entendimento da fenomenologia de Merleau-Ponty.
I-A origem do conceito de instituição:
1)
Contra o idealismo e o realismo sociopolítico:
Como todo conceito, o conceito de instituição aparece contra outro conceito. Nesse
caso a instituição emerge contra o conceito de constituição ou de consciência constituinte e
contra o conceito clássico de instituição também. Merleau-Ponty abre a aula dele assim:
A vida pessoal considerada como vida de uma consciência, quer dizer uma
presença ao todo (...). É assim? Somos essa presença imediata ao todo frente
às possibilidades que são todas iguais – todas impossíveis? Toda essa análise
assume uma redução primordial da nossa vida ao “pensamento de...” viver. 1
1
Merleau-Ponty, L’Institution La Passivité Notes de cours au Collège de France (1954-1955), Belin (2003), p.33 A
tradução é nossa.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
229
Assim Merleau-Ponty mostra bem o campo a partir do qual podemos localizar a noção
de instituição. A consciência não é capaz de explicar toda a vida, a vida em geral. Ela é uma
negação do outro, da trascendência. O idealismo europeu faz da consciência um todo separado
do mundo, e de onde a subjetividade e o restante do mundo podem se entender. O que é
estranho aqui é que o filósofo francês usa o tema da vida. Não se trata de um tema ate tão
usado por Merleau-Ponty. Mas como sabemos, a vida, depois da leitura da Krisis do Husserl vai
ocupar um espaço maior na filosofia do autor. Dois anos depois ele faz uma aula famosa sobre
a natureza e o conceito da vida, que se tornaria mais tarde a mais importante para ele. O que o
idealismo não pode fazer é entender a vida como uma coisa exterior da consciência. MerleauPonty é um pensador da excedência e das relações. Se a relação é única, como a consciência
por um idealismo, não existe uma relação na verdade nesse caso, não existe semelhança entre
as coisas relacionadas. A instituição tenta abrir a consciência com o que a excede. Se a noção de
instituição pensa contra a constituição, ela não pode ser entendida também como o conceito
clássico de instituição. Tradicionalmente, a instituição passa por um conjunto de regras que
permite um acordo entre os homens. Depois do acordo, a instituição pode aparecer como um
fato histórico sem razão. Para Merleau-Ponty a instituição é o oposto dos contratos passados
entre os homens, por isso ele é contra o realismo sociopolítico. Em outras palavras, a instituição
é contra o idealismo e o realismo sociopolitico. Outro filósofo ajuda Merleau-Ponty a pensar o
conceito de instituição: Husserl.
2)
Husserl e a stiftung:
A instituição vem da noção huserliana de Stiftung. O problema para Husserl, na obra a
Krisis, é reunir o empírico e o transcendental. Para conseguir fazer isso, ele tenta pensar a
genêsis do senso. A stiftung é uma verdade omnitemporal, que quer dizer uma verdade que
ganha o universal a partir do empírico. A verdade vem do mundo, se faz dentro do mundo, no
mesmo tempo, se é verdade, é verdade para o tempo finito, não infinito; ele é determinado,
limitado, uma verdade momentânea, vale ate ser negada. Merleau-Ponty vê isso aparecer a
partir de três momentos na filosofia de Husserl. Em primeiro lugar ele pensa a partir da noção
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
230
de wesenschau, que pode ser entendida como intuição das idéias, das essências e que é uma
forma de pegar as essências a partir da experiência. Num segundo tempo, Husserl vai mais
fundo na noção de wesenschau quando ele faz a proposição de uma psicologia eidética. O
problema da psicologia tradicional é pensar a consciência ou em geral todo o material dela,
como um objeto sem perguntar o que é a consciência, o que é o sentimento. Para Husserl, a
psicologia deveria pegar uma metodologia dentro da filosofia? Quero dizer, a partir de um
trabalho sobre as noções de instituição. Husserl não quer que a psicologia acabe, quer apenas
que ela tire do empírico as noções e essências pra chegar numa verdade mais profunda. Se a
psicologia não fizer isso, vai ter uma atitude natural e aceitar os conceitos como objetos sem
problema. Num terceiro tempo, Husserl questiona a respeito de uma possível ampliação das
relaçãoes entre filosofia e psicologia, mas para Merleau-Ponty, ele não consegue; é uma das
razões para que Merleau-Ponty, mesmo parecendo bem perto de Husserl esteja, na verdade,
muito distante do alemão. Pra ele, não existe uma diferença de natureza entre ciênçia e
filosofia, existe apenas uma diferença de graus. Husserl ainda vai contribuir muito para ajudar a
entender a emergência do conceito de stiftung, é o peso da imaginação. A fenomenologia não
parte de fatos reais, mas de fatos imaginários. É a imaginacão que permite chegar até a
psicologia eidética, e é aqui que se faz a distinção com relação à psicologia clássica. Mas é
também exatamente esse o ponto onde Merleau-Ponty não concorda com o Husserl. Para o
francês, a ligação do stiftung com as ciências esta errada. Não existe diferença entre ciência
eidética e o empirico como Husserl acredita. Na verdade, os fatos e as idéias fazem um
quiasma, a visão das essências e os fatos estão sempre relacionados e não tem nada que
anteceda como o Husserl gostaria. É impossível definir qual é o oriundo de qual na relaçao
existente entre o fato ou a idéia, eles mantêm relações entre si e um não pode sobreviver sem
o outro. No fim, é um debate inconsistente entre o idealismo e o empírico. Mesmo MerleauPonty não concordando com Husserl, ele reconhece um fato importante na obra do autor
alemão: o que o Husserl viu como um paralelismo entre ciência e filosofia, quer dizer aqui entre
psicologia e outras ciências e a fenomenologia eidética. Existe uma correspondência entre os
fatos das ciências e o que a fenomenologia ajuda a descobrir. Isso é pra Merleau-Ponty, o ponto
em que Husserl ajuda no pensamento, mas ele não vai adiante suficiente e fica do lado do
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
231
idealismo. Agora, queremos mostrar qual definição Merleau-Ponty da para a noção de
instituição e dentro de quais campos essa noção pode ser utilizada.
II-Definição e campos da instituição:
1)
Novos tipos de relações:
É bem difícil conseguir dar uma definição justa ao conceito de instituição, como
podemos ver agora é, talvez como sempre em Merleau-Ponty, um conceito que ajuda a pensar
em vários fenômenos. Como ja disse anteriormente, o texto se inicia indo contra a filosofia da
constituição, se refere a um sujeito de onde tudo acontece. A nova forma de pensar que
Merleau-Ponty propõe aqui quer nos remeter a novas relações com o mundo, o outro e o fazer.
*a relação com o mundo:
A relação com o mundo não pode ser entendida a partir do idealismo e do empirismo,
mas precisa ser entendida como uma perspectiva que abre numa excêdencia. Não tem um
projeto stricto sensu porque o viver no mundo é muito mais que um projeto da conciência.
Aqui Merleau-Ponty é contra Sartre para quem tudo é projeção, mas uma projeção que mostra
o poder completo da conciência sobre o desejo, a liberdade. Para Merleau-Ponty, a vida é uma
interrelação entre um projeto, mas com coisas que você não pode decidir. Na filosofia de
Sartre, a liberdade é tão pura, tão possível que ela fica quase separada do mundo e da situação
(mesmo Sartre sendo situacionista também). Merleau-Ponty faz da situação no mundo, o
elemento que determina a relação do sujeito com ele. Mas ele explica bem que a idéia dele não
é um determinismo. Existe uma situação com a qual o sujeito dialoga, ele pode surpassar ou
não a situação no mundo mesmo ficando num determinismo, ele se encontra num diálogo com
o mundo. O fato de não responder ja é uma resposta. Merleau-Ponty conclui disso que o sujeito
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
232
é um sujeito instituído e instituinte, e não um sujeito constituinte. Ele fica numa situação que é
o início do movimento dele.
*a relação com o outro:
A relação com o outro também deve ser entendida de uma outra maneira. Não é
possível uma constituição do outro pela conciência. O outro não pode me negar e eu não posso
nega-lo também. Aqui, mesmo não citando seu nome de forma explicita, é Hegel que o autor
frances está criticando. Pra ele, na obra Fénoménologia do Espirito, a relação com o outro é
uma relação de constituição ou de se constituir: essa é a lição da dialética do mestre e o
escravo. Existe sempre uma relação assimetrica entre duas conciências e Merleau-Ponty
defende a tese de que, ao contrário, a relação com o outro é uma relação de instituição
comum. Há uma espécie de projeção de reciprocidade que parte dele para dentro de mim e de
mim para dentro dele a partir dos objetos culturais, nesse caso uma relação
instituído/instituinte e, assim a relação com o outro é sempre uma relação com o mundo. Tem
um campo da intersubjetividade que é a origem dos dois sujeitos. Nesse caso, se a relação com
o outro é sempre uma relação com o mundo a partir dos objetos culturais, essa relação é a
origem de um novo conceito do fazer.
*a relação o fazer:
O fazer visto pelos olhos da instituição, se pensa a partir do paradigma da percepção. Ele
faz parte do mesmo mundo que também faz parte a percepção, quer dizer que se trata do
corpo perceptivo (os gestos, as palavras...) que vê as lacunas do mundo e que tenta agir a partir
delas. O fazer é sempre um futuro sem saber como esse futuro vai se traduzir, trata-se de uma
indeterminação, uma pesquisa como gosta de escrever Merleau-Ponty a partir da leitura dele
do Proust. O fazer é também uma instituição, ele é a relação indeterminada com o objeto,
ninguém pode dizer com certeza qual será o resultado. Ele também é uma coisa simbólica e
real, essa distinção não precisa existir pra se entender o fazer. Afinal, para entender a
instituição, mesmo agora Merleau-Ponty fazendo a separação, é necessário trabalhar com tudo
junto, o sujeito, o mundo, o outro e o fazer. Somente se pegamos tudo, poderemos entender
bem a instituição. Ela mostra a conjunção, a circunstância necessária entre aquelas coisas que
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
233
são tradicionalmente separadas. Porém, é verdade que existe um sujeito visto como “campo da
presença”, um mundo, um outro e um fazer. Então o problema é saber como a instituição
permite pensar a conjunção daqueles fenômenos? Merleau-Ponty responde que é o tempo.
*o tempo:
“O tempo é mesmo o modelo da instituição: passividade-atividade, ele continua, porque
ele foi instituído assim, ele segue, ele não pode acabar (parar), ele é total porque partiu, ele é
um campo.”2
O tempo da instituição é diferente da concepção dum tempo que vai do passado até o
futuro sem obstáculo algum. O passado fica sempre com o status de presença, posso ver meu
passado como um tipo específico de objeto e dialogar com ele. Não é um objeto maior que eu e
que me determina, mas também não é um objeto que eu posso conhecer perfeitamente e que
me abre o futuro como o idealismo acha. Novamente e como para as outras renovações, o
tempo é uma interrelação do passado com o presente que abre-se num futuro indeterminado.
A instituição pode ser entendida como uma pesquisa sem fim, interações de campos num
tempo que nunca acaba. Assim, a instituição é um movimento perpétuo como dentro da
tradição de Heráclito e também uma cristalização que da um material. A instituição não é sem
fundamento, tem uma construção que se faz a partir do movimento e é essa construção que
poderia ser seu fundamento. O fundamento nunca é cristalizado para sempre, mas também
não existe num passado perpétuo, eterno. O fundamento se faz e faz novamente, a verdade se
constrói para desaparecer e surgir de novo. Vamos tentar agora definir a instituição, ver os
campos dela por Merleau-Ponty antes de mostrar como ela pode ajudar a pensar um novo tipo
de verdade.
2)
Os campos da instituição:
Merleau-Ponty faz da instituição o que ele vem a fazer cinco anos depois com a carne,
quer dizer um quase elemento como o sol, o ar... Nossa tese é que a instituição é o ponto de
2
Ibid., p.36
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
234
mudança entre o primeiro Merleau-Ponty da Fenomenologia da Percepção e o último MerleauPonty do Visível e Invível. É como se Merleau-Ponty fizesse uma lista de todos os temas
anteriores e colocados junto, dentro do conceito da instituição antes de elaborar a última
filosofia dele: a ontologia indireta. O francês divide a instituição em uma instituição pessoal e
interpessoal primeiro e depois em uma instituição historica. A primeira ja é eficiente na vida. Os
animais não estão em uma direfença de natureza com relação ao homem, e sim numa
diferença de graus. O animal ja tem uma história com uma situação determinada pela vida e
uma construção pessoal. Merleau-Ponty elabora essa tese, a partir do trabalho de Raymond
Ruyer que escreve um texto que se chama As Conceipçãoes Novas do Instincto. Ele mostra
como o instinto não é algo perfeito que já está lá quando o animal nasce, e sim que aceita
relações, elaborações, educação, etc. Essa é a parte pré-historica da instituição que é a mesma
entre o animal e o homen. Para o homen, Merleau-Ponty acha que essa instituição pode se
fazer a partir de uma nova leitura de Freud e da psicanálise em geral. Ele mostra que existem
eras na vida, mas que cada era nunca é fechada, elas se abrem numa pesquisa. Depois disso,
ele defende a idéia de que a instituição pessoal se abre a partir do nascimento de um
sentimento, a partir de uma leitura de Proust. É o sentimento por alguém que abre a conciência
de si e que inicia uma pesquisa de si. Ele pega o exemplo de Swann pra mostrar como o
sentimento abre uma pesquisa sem fim pra tentar se fazer entender. Os dois últimos campos da
instituição são a obra e o saber. Aqui Merleau-Ponty vai mais longe e mostra que a obra ou o
saber são duas modalidades de pesquisa que abrem um novo campo do ser. A obra é sempre
uma pesquisa de um autor que abre a subjetividade dele com o mundo. Não pretendemos
descrever muito aqui a obra, mas podemos ver o Doute de Cézanne ou A Prosa do Mundo pra
entender o que quer dizer Merleau-Ponty. Pra melhor entender a instituição do saber,
podemos ler a Krisis de Husserl, mas ja falei um pouco disso. Em outras palavras, o saber se
constrói a partir da história e a verdade se faz pouco a pouco dentro das relações com o
passado. Ninguém pode saber como a verdade vai se revelar, mas ninguém pode dizer também
que a verdade é última. A verdade é uma relação, o ser evolui com o tempo, mas isso não quer
dizer que a verdade anterior é errada, a verdade do momento se pensa a partir da verdade
anterior. Para terminar, ele fala da instituição historica, que é a instituição no senso comum.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
235
Mas aqui ele não concorda com a definição clássica da instituição. A instituição não é um corpo
morto que representa um acordo passado como dentro das teorias do contrato social, é algo
vivo que fica em desenvolvimento. Para Merleau-Ponty, existem duas características da
instituição histórica: ela é universalista e particularista. Universalista porquê ela abre um novo
campo histórico e particularista porque ela sempre se acha última e se torna em si.
Conclusão:
Infelizmente não podemos tratar aqui mais profundamente o trabalho de MerleauPonty sobre a instituição. Queremos terminar com uma citação do fenomenologo francês que
ajuda a entender bem a instituição. Ele escreve:
Então entendamos aqui para instituição daqueles eventos de uma experiencia
que dão dimenções duráveis, a partir das quais toda uma seria de outras
experiencias teriam senso, formarão uma suíte imaginável ou uma história, ou ainda os eventos que deixam em mim um senso, não como título de
sobrevivência e de resíduo, mais como uma chamada a uma suíte, exigência de
um futuro.3
Referências bibliográficas
MERLEAU-PONTY, Maurice:
L’Institution-La Passivité (Cours au Collège de France), Belin, 2003.
3
Ibid., p.124
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
236
La Phénoménologie de la Perception, Tel Gallimard, 2005.
La Prose du Monde, Tel Gallimard, 2004.
BARBARAS, Renaud:
Le Tournant de l’Expérience, Vrin, 1998.
L’Être du Phénomène, Millon, 1991.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich : La Phénoménologie de l’Esprit, Folio Essais, 2004.
HUSSERL, Edmund : La Crise des Sciences Européennes et la Phénoménologie Transcendantale,
Tel Gallimard, 1984.
RUYER, Raymond : Les Conceptions Nouvelles de l’Instinct, Les Temps Modernes, novembre
1953.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
237
Obras de arte múltiplas, obras de arte singulares e a hipótese do objeto físico
Jean Rodrigues Siqueira *
RESUMO
A ideia de que as obras de arte são meros objetos físicos – posição chamada por Wollheim de
“hipótese do objeto físico” – enfrenta grandes dificuldades teóricas quando se considera a
natureza de gêneros artísticos como a literatura, a música, o teatro, a fotografia, o cinema, e
outros mais – gêneros cujos produtos são obras múltiplas. No entanto, gêneros como a pintura
e a escultura a entalhe – cujos produtos são obras singulares - parecem, em um primeiro
momento, livres de inconvenientes desse tipo. Com relação às primeiras, elas dificilmente
podem ser identificadas com objetos físicos uma vez que não há nenhum objeto em particular
que possa ser tomado como sendo a obra. As obras de arte singulares, por sua vez, apesar de
comumente serem tidas como simples objetos físicos, também parecem possuir um estatuto
ontológico bem mais complexo quando examinadas com mais cuidado. Na medida em que há
uma divergência de propriedades entre as obras de arte singulares e sua contraparte material,
e também há entre a obra e o respectivo objeto diferenças envolvendo suas condições de
identidade e permanência temporal, sua identificação revela-se igualmente difícil de ser
admitida.
PALAVRAS-CHAVE: hipótese do objeto físico, obras de arte múltiplas, obras de arte singulares.
I
Obras de arte pertencentes a gêneros como a pintura e a escultura a entalhe 1 podem
ser identificadas com os materiais que as constituem? A obra “A floresta”, de Germaine Richier,
*
Aluno da Universidade Camilo Castelo Branco (UNICASTELO). E-mail: [email protected].
É importante distinguir entre as esculturas feitas a entalhe e as esculturas feitas a partir de moldes; apenas as
primeiras podem ser consideradas obras de arte singulares.
1
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
238
uma escultura entalhada em bronze atualmente presente no acervo do MAC-USP, pode ser
reduzida ao pedaço de bronze para o qual apontaríamos ao falar inequivocamente da obra “A
floresta”? Seria a pintura “Retirantes”, de Cândido Portinari, exatamente o mesmo objeto que
as diversas camadas de tinta a óleo distribuídas sobre uma certa tela pendurada em uma das
paredes do MASP?
As questões que acabam de ser levantadas dizem respeito àquele que é considerado o
problema fundamental da ontologia da arte, a saber, o problema de determinar que tipo de
entidade são os objetos artísticos. Em particular, essas questões colocam em discussão uma
possível e frequente resposta a esse problema, a qual se baseia justamente na suposição de
que todas as obras de arte são objetos físicos – suposição batizada pelo filósofo da arte Richard
Wollheim (1994) como “hipótese do objeto físico”.
Essa concepção, embora em consonância com a visão do senso comum, goza, no
entanto, de pouco prestígio entre os filósofos da arte, principalmente porque obras
características de gêneros artísticos como a literatura, a música, o cinema ou a fotografia, por
exemplo, ao serem passíveis de múltiplas ocorrências, dificilmente podem ser identificadas com
elas, sob pena de assim violar preceitos básicos da física clássica (como o de que um mesmo
objeto físico não pode existir simultaneamente em lugares diferentes do espaço). Contudo,
alguns autores ainda insistem – como parece ser o caso do próprio Wolheim – que obras
singulares como as pinturas ou as esculturas a entalhe podem ser compreendidas como meras
coisas materiais – e é precisamente essa concepção que será aqui examinada em maior detalhe
e contestada. Mas antes de explorarmos a tese de que entre as obras de arte singulares e sua
contraparte material há uma relação de identidade, consideraremos primeiramente as
objeções dirigidas contra sua versão mais forte, que é aquela que afirma que todas as obras de
arte, tanto singulares como múltiplas, são identificáveis com algum objeto físico. Ao mesmo
tempo, teremos ocasião também para esclarecer melhor a distinção entre o que até aqui foi
chamado de obras de arte singulares e obras de arte múltiplas.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
239
II
Recentemente tive vontade de reler a novela “O túnel”, do escritor argentino Ernesto
Sábato. Com essa intenção dirigi-me à estante de casa onde estava o texto que queria ler –
mais precisamente uma tradução dele para o português – e após algumas horas manuseando
um livro de menos de 100 páginas satisfiz meu desejo. Mas enquanto eu lia “O túnel”, isto é,
enquanto segurava em minhas mãos um objeto material ao qual recorri quando quis ter acesso
à novela de Sábato, incontáveis outras edições, traduzidas para os mais variados idiomas,
continham a mesma obra. Assim, se naqueles momentos de leitura alguém tivesse me
perguntado onde estava a obra “O túnel” e eu dissesse que ela estava em minhas mãos, algo
muito estranho estaria ocorrendo: como a referida obra poderia estar nas minhas mãos e, ao
mesmo tempo, em inúmeros outros lugares mundo afora? Certamente havia um livro – um
objeto físico - em minhas mãos; mas a obra de arte, embora manifesta naquela sucessão de
palavras impressas em várias folhas de papel encadernadas, aparentemente existia para muito
além delas.
Estranheza similar ocorreu enquanto escrevia este texto e em meu aparelho de som
tocava o clássico “Child in time” do Deep Purple – a versão ao vivo do álbum “Made in Japan”:
se a obra “Child in time” era aquela sequência de fenômenos sonoros que ouvi, o que pensar de
todas suas regravações, das apresentações ao vivo não gravadas, da versão em estúdio que
está no álbum “In rock”, além das possíveis ocorrências simultâneas das cópias dessa mesma
faixa em diversos lugares do mundo nesse instante?
O que acontece é que tanto “O túnel” como “Child in time” são obras de arte múltiplas,
isto é, obras que podem estar simultaneamente presentes em lugares diferentes, seja como
coisas ou como eventos. Identificar uma obra de arte múltipla com um certo objeto material ou
evento é, como vimos pelos exemplos acima, no mínimo problemático, justamente porque não
parece possível indicar um certo exemplar (um único exemplar) da obra como sendo a obra.
Desse modo, a versão de “O túnel” que tenho em casa é apenas isso, uma versão, um exemplar
de uma obra de arte que se apresenta de maneira múltipla; o exemplar é um objeto físico, mas
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
240
a obra, ainda que possa depender do meio material para se manifestar, não é o mesmo que ele.
A fim de reforçar esse ponto, vamos supor que eu cometesse o absurdo de destruir – queimar,
digamos – o meu exemplar: isso de modo algum implicaria a destruição da obra, mas apenas de
uma de suas múltiplas manifestações. De modo semelhante, se eu perdesse minha cópia de “O
túnel”, isso não significaria que a obra como tal estaria perdida; portanto a obra não poderia
ser identificada com a minha cópia (material) da mesma. Outro raciocínio igualmente simples
também poder ser aplicado para mostrar que uma obra de arte múltipla não se reduz a sua
contraparte material: uma obra musical como a canção “Child in time” não pode ser
identificada com uma de suas ocorrências físicas, já que uma pessoa poderia perfeitamente
adorar essa música e não gostar de alguma de suas versões; ela poderia, por exemplo, não
apreciar a versão ao vivo presente no álbum “Made in Japan”, ou ainda detestar a versão que
se encontra no álbum “Nobody’s perfect”. Não é incomum, inclusive, um crítico musical – ou
um crítico de teatro – tecer comentários negativos referente a uma certa apresentação,
montagem ou interpretação de um certo espetáculo que ele próprio aprecie; isso, de modo
algum, quer dizer que sua crítica está sendo dirigida à obra como tal.
É claro que alguém ainda poderia insistir em defender a identidade das obras de arte
múltiplas com algum objeto material, alegando, por exemplo, que as obras não são as cópias,
mas sim um objeto original, ou seja, um manuscrito no caso das obras literárias, e uma
partitura no caso das obras musicais. Mas essa estratégia também padece de dificuldades
semelhantes ao caso das cópias que vimos acima: também os manuscritos poderiam ser
destruídos ou perdidos sem que as obras fossem destruídas ou perdidas (o mesmo valendo
para as partituras). Em tese, inclusive, se o original e todas as cópias de uma obra poderiam ser
destruídos, ainda assim seria possível que a obra em questão existisse na memória das pessoas
ou no interior de alguma tradição cultural estritamente oral – uma poesia ou canção popular,
por exemplo, seria um caso bastante simples dessa possibilidade; mas nada impediria a
memorização e reprodução de um romance como “Finnegan’s Wake”, de James Joyce, de uma
longa suíte de rock progressivo ou mesmo de uma sinfonia de música erudita. Além disso,
especificamente no caso das obras de arte musicais (obras de música erudita), a idéia de que
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
241
elas são, em última instância, um objeto não sonoro (uma partitura) é, no mínimo, contra
intuitiva.
Em virtude da existência de argumentos como os que acabam de ser arrolados, a
hipótese do objeto físico, quando pensada em relação às obras de arte múltiplas, parece
realmente insustentável – e assim ela tem sido entendida pela imensa maioria dos estetas e
filósofos da arte contemporâneos. Entretanto, as obras de arte que são singulares, ou seja, as
obras que não podem existir simultaneamente em diversos lugares do espaço, que podem ser
apontadas de modo específico quando queremos indicar onde a obra se encontra, tais obras
inicialmente parecem identificáveis com algum objeto material. Se alguém quisesse saber onde
está a “Mona Lisa” de Leonardo Da Vinci, por exemplo, bastaria indicar-lhe o Museu do Louvre:
seria lá, e apenas lá, que hoje poderíamos encontrar essa famosa pintura. Poderíamos, é claro,
abrir um livro sobre pintura, quiçá um volume das célebres edições da Taschen, e mostrar uma
foto da “Mona Lisa” e dizer “Veja aqui a ‘Mona Lisa’”. Mas obviamente teríamos ali apenas uma
fotografia (que, enquanto gênero artístico, constitui-se de obras de arte múltiplas) e não a tela
pintada por Leonardo Da Vinci há vários séculos atrás. Essa tela encontra-se em um museu
específico, e se ela fosse transferida para outro museu, teríamos que considerar que não
apenas a tela teria sido movida, mas a própria “Mona Lisa” (se, por outro lado, eu desse meu
exemplar de “O túnel” a algum amigo, isso não significaria que a obra “O túnel” foi movida). E
se alguém destruísse a “Mona Lisa”? Seria possível a obra continuar existindo, como no caso
das obras múltiplas que vimos há pouco? Diferentemente das obras literárias ou musicais, a
oralidade não seria suficiente para manifestar novamente a obra; até seria possível apresentar
uma descrição pormenorizada das características técnicas, formais e simbólicas da pintura, mas
isso seria insuficiente para resgatá-la inteiramente. Mesmo se algum pintor voltasse a
reproduzi-la em uma tela, seria improvável que ele obtivesse uma cópia perfeita; além disso,
seria impossível ele fazer uso dos mesmos materiais que constituíam a obra (já alguém que
soubesse de cor o texto de “Finnegan’s Wake” precisaria apenas escrever novamente aquela
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
242
sequência de palavras que a constituía para resgatá-la2; ou simplesmente narrá-la para
alguém).
Essas observações parecem, então, indicar que o caso das obras de arte singulares pode
garantir, ao menos parcialmente, a veracidade da “hipótese do objeto físico”. Contudo, a seguir
passaremos a examinar uma série de argumentos que colocam em xeque também a ideia de
que entre as obras de arte singulares e seu meio material existe uma relação de identidade.
III
As objeções mais comuns à “hipótese do objeto físico” no que diz respeito às obras de
arte singulares baseia-se em um apelo à chamada lei de Leibniz, também conhecida como
princípio da indiscernibilidade dos idênticos. Segundo esse princípio, se uma entidade a é
idêntica a uma entidade b, então a e b têm exatamente as mesmas propriedades; se essas
entidades apresentam ao menos uma propriedade diferente uma da outra, então essas
entidades são diferentes. Assim, aqueles que – como é o meu caso –rejeitam a tese de que as
obras de arte singulares identificam-se com sua contraparte material, argumentam que os
objetos artísticos apresentam propriedades que não podem ser encontrados nos objetos físicos
utilizados pelos artistas na criação de seus trabalhos. Obras de arte, por exemplo, apresentam
diversas propriedades representacionais e muitas vezes também propriedades expressivas, algo
que, aparentemente, não acontece com meros objetos físicos3. Uma tela, isto é, um mero
objeto físico, não representa nada além dela mesma; já um padrão de tintas azulado disposto
em sua parte superior pode estar lá representando o céu. Mesmo em uma pintura não realista
2
Um desafio interessante a essa concepção encontra-se no conto “Pierre Menard, autor de Quixote”, de Jorge Luis
Borges, em que o personagem Pierre Menard reescreve o “Dom Quixote” de Cervantes palavra a palavra e então
surge a discussão a respeito do estatuto ontológico desse “novo” texto. Borges, ou pelo menos seu texto, sugere
que se trata de uma obra completamente diferente. O referido conto faz parte do livro de contos intitulado por
Borges de “Ficções”.
3
Cabe destacar que as propriedades representacionais e expressivas das obras de arte são propriedades essenciais
ou necessárias desses objetos. Assim, a tentativa de contornar essa objeção fazendo delas algo meramente
contextual ou relacional tende a falhar.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
243
como, por exemplo, as mais conhecidas obras de Pollock, Rohtko ou Malevich, os padrões de
cores e formas, na medida em que são dotados de significado, possuem algum conteúdo
representacional. Poderíamos até imaginar uma pintura que nada mais fosse do que uma tela
em branco exposta em uma galeria por algum artista minimalista; mesmo assim, essa tela
hipotética estaria representando algo, comportaria um significado e, portanto, seria diferente
de uma tela visualmente idêntica a ela e à venda em alguma loja especializada. O mármore,
como tal não possui expressividade, mas um rosto humano nele esculpido pode exprimir
sofrimento ou felicidade. Pela lei de Leibniz, se a obra apresenta propriedades
representacionais e sua contraparte material não, então as duas coisas não apresentam
exatamente as mesmas propriedades; logo, são distintas. Da mesma maneira, críticos de arte
descrevem as obras de arte como “vivas”, “em movimento”, “melancólicas”, etc., quando os
objetos físicos correspondentes não possuem nenhuma dessas propriedades. A tela em que
podemos encontrar a obra “O casal Arnolfini” é bidimensional, mas a obra do pintor flamenco
Van Eyck apresenta uma inigualável dimensão de profundidade e tridimensionalidade.
Além dessas propriedades expressivas e representacionais, que geralmente não se
encontram nos objetos físicos, há outra gama de propriedades das obras de arte que estão
ligadas ao impacto da obra no seio de um determinado contexto da história da arte ou a um
determinado contexto social. Também essas propriedades pertencem exclusivamente à obra,
mas não à sua contraparte material. “A fonte” de Marcel Duchamp, por exemplo, é uma obra
irreverente, transgressora, inovadora, desafiadora, etc., sendo que nenhuma dessas
propriedades poderia ser atribuída ao mero objeto material utilizado pelo escultor francês na
criação de seu famoso ready-made. Mais uma vez, portanto, teríamos uma violação da lei de
Leibniz.
Outro caso em que teríamos uma violação dessa lei seria ao destacar a distinção – já
aludida na última nota de rodapé – entre propriedades essenciais ou necessárias e
propriedades não essenciais ou contingentes que um objeto pode ter. Também nesse caso
encontraríamos uma discrepância entre as propriedades de uma obra de arte e as propriedades
de sua contraparte material. Qualquer escultura a entalhe ou pintura é, necessariamente, um
artefato, isto é, um objeto trabalhado, manipulado, alterado e, assim, criado, por um artista -
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
244
ou pelo menos escolhido por um artista (como ocorre com os ready-mades de Duchamp). Um
bloco de mármore, um tronco de madeira ou qualquer outro material comumente empregado
na criação de uma escultura, por outro lado, não podem ser considerados como artefatos.
Assim, mais uma vez, as obras de arte possuiriam propriedades que os objetos materiais que
habitualmente supõe-se serem o mesmo que elas não apresentariam.
Outra objeção no mesmo sentido consiste em destacar o fato de que as condições de
identidade que individuam os objetos físicos são diferentes daquelas que individuam as obras
de artes e que, em virtude dessas condições serem distintas, um objeto não poderia ser
identificado com o outro. Uma escultura entalhada em argila, por exemplo, poderia sofrer uma
restauração e ainda assim consideraríamos tratar-se da mesma obra; no entanto, não
poderíamos afirmar o mesmo com relação à sua contraparte material, dado que sua
constituição física teria sido significativamente alterada. Analogamente, se essa escultura fosse
derretida, a obra seria destruída, mas sua constituição material – aquela quantidade específica
de argila – permaneceria a mesma. Desse modo, uma vez que a obra de arte (a escultura
entalhada em argila) e sua contraparte material (uma certa quantidade de argila) apresentam
condições de identidade distintas, a obra não poderia ser identificada ao objeto físico: o que
torna a obra uma objeto artístico não é o mesmo que torna o objeto físico um objeto físico.
Mas, além dessa diferença a respeito das condições de identidade dentre a obra e o
objeto físico, também é possível apontar diferenças com relação às condições de persistência
ou duração existente entre ambos. E, sendo as condições de duração também distintas, não há
como afirmar a identidade entre as obras e os objetos físicos. Tomemos, mais uma vez, o
exemplo da obra de Duchamp, “A fonte”. Antes de Duchamp se apropriar de uma certa peça de
cerâmica comumente comercializada em casas de objetos para construção e decoração e
transfigurá-la em arte – como diria Arthur Danto (2005) – essa peça nada mais era do que um
objeto comum; portanto, nesse caso, a origem temporal do objeto físico seria bastante
diferente da origem temporal da obra de arte correspondente4.
4
Uma análise baste aprofundada da disparidade de condições de persistência/duração entre as obras de arte e
seus respectivos objetos físicos é desenvolvida nos trabalhos de Lucien Krukowski (1891, 1988).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
245
Em virtude das razões apresentadas, a concepção segundo a qual as obras de arte
singulares são idênticas a meros objetos materiais, assim como sua versão mais forte (que inclui
também as obras de arte múltiplas), parece insustentável. Isso, contudo, não nos conduz à
negação da existência de uma íntima relação entre as obras de arte e sua contraparte material.
O que é preciso determinar é, portanto, qual relação – já que não a de identidade – existe entre
uma coisa e a outra.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
DANTO, Arthur. A transfiguração do lugar-comum. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
HANFLING, Oswald. “The ontology of art” in HANFLING, Oswald (ed.). Philosophical aesthetics –
an introduction. Cambridge/Oxford: Blackwell, 1992, pp. 75-110.
KRUKOWSKI, Lucien. “Artworks that end and objects that endure” in The Journal os aesthetics
and art criticism, 40, 2, 1981, pp. 187-197.
__________________. “The embodiement and duration of artworks” in The Journal os
aesthetics and art criticism, 46, 3, 1988, pp. 389-297.
LAMARQUE, Peter. Work and object – Explorations in the metaphysics of art. Oxford: Oxford
University Press, 2010.
WOLLHEIM, Richard. A arte e seus objetos. São Paulo: Martins Fontes, 1994.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
246
Silêncio e linguagem em Merleau-Ponty
Jeovane Camargo*
RESUMO
Merleau-Ponty tem sido alvo de inúmeras críticas ao longo dos séculos XX e XXI, as quais se
devem principalmente ao modo obscuro pelo qual ele indicou, em sua Fenomenologia da
percepção, que a linguagem em palavras deriva do gesto corporal. A dificuldade reside,
rigorosamente, em saber como de um âmbito silencioso, definido por Merleau-Ponty como o
mundo sensível oferecido pela relação entre corpo e mundo, pode se originar a linguagem.
Segundo os termos próprios à Fenomenologia da percepção, a questão é saber como do
movimento do corpo anônimo, em que a criança ainda não fala, pode surgir a fala. De que
maneira o movimento silencioso do corpo pode originar a fala? Como do silêncio pode nascer a
palavra? Como a criança que ainda não fala passa à linguagem?
I.
No prefácio à Fenomenologia da percepção, Merleau-Ponty mostra que a redução
fenomenológica não é um movimento de recuo em direção a uma “consciência transcendental
diante da qual o mundo se desdobra em uma transparência absoluta” (PhP, 7) 1 — como ela
ainda era apresentada em sua época. Esta atitude implica esquecer a experiência do mundo
pela “significação mundo”, pois, nela, a experiência é dada por uma atividade sintética do
sujeito, sem a qual “não haveria absolutamente nada”. Trata-se de mostrar que o sujeito só
*
Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar. Bolsista CNPq. E-mail:
[email protected].
1
As obras de Merleau-Ponty citadas ao longo do texto serão abreviadas da seguinte forma: La prose du monde
(PM); Le primat de la perception (PrP); Le visible et l’invisible (VI); L’institution - la passivité (IP); L’oeil et l’esprit
(OE); Phénoménologie de la perception (PhP); Signes (S). E a obra de Carlos A. R. de Moura citada no texto será
abreviada da seguinte forma: Racionalidade e crise (RC). A paginação indicada é a das traduções brasileiras.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
247
apreende uma coisa como existente se primeiro ele se percebe como “existente no ato de
apreendê-la” (PhP, 4), de modo que a consciência, definida como a absoluta certeza de mim
para mim, é condição de possibilidade da experiência. Dessa forma, o mundo é pensamento de
ver, representação, o sujeito é absoluto, transparente e constituidor de sua experiência, e a
intersubjetividade impossível, pois, se se trata de uma consciência absoluta, não pode haver
outra consciência, posto que esta não é constituída por aquela. O “Eu constrói a totalidade do
ser e sua própria presença no mundo, que se define pela ‘posse de si’ e que só encontra no
exterior o que ele ali colocou” (PhP, 499). Ele não é finito senão que “espectador imparcial”, não
este eu “existente”, mas “um eu mais mim mesmo do que eu”(PhP, 481), de maneira que diante
dele outrem e eu somos objetos. O sujeito absoluto pode colocar outros eus, enquanto estes
são objetos, autômatos sem interior, mas não pode haver outra consciência constituinte. A essa
idéia de redução fenomenológica, Merleau-Ponty opõe sua interpretação da redução
husserliana. Em Husserl, segundo Merleau-Ponty, há uma primeira redução que vai ao
Lebenswelt e uma segunda que leva ao transcendental, onde ela encontra a subjetividade e
assim supera as ambigüidades do vivido. A essas duas reduções, Merleau-Ponty opõe a idéia de
uma única redução que, ao ir ao mundo-da-vida, encontra essência e existência, empírico e
transcendental segundo uma relação em que eles aparecem como dois momentos de um
mesmo fenômeno. Segundo Merleau-Ponty, Husserl diz que toda redução, “ao mesmo tempo
em que é transcendental, é necessariamente eidética” (PhP, 11). Ao mesmo tempo em que é
reflexiva, indo ao mundo-da-vida, ao irrefletido para compreendê-lo, quer encontrar “a essência
da percepção, a essência da consciência” (PhP, 1). Ora, na perspectiva merleau-pontiana,
essência não significa um conceito ou uma idéia acabados, mas a maneira de ser que, sendo ela
a da percepção ou a da consciência, deve “trazer consigo todas as relações vivas da experiência”
(PhP, 12). A redução não é a reconstrução de uma série de sínteses que buscam a gênese de um
resultado já dado, como se a sensação do vermelho fosse “a manifestação de um certo
vermelho sentido, este a manifestação de uma superfície vermelha, esta como a manifestação
de um papelão vermelho, e este enfim como a manifestação ou perfil de uma coisa vermelha,
um livro” (PhP, 7). Essa atitude, do cientista e da filosofia clássica, tem o mundo como acabado
à sua frente e busca os processos de associação e de síntese que o constituem. A redução
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
248
fenomenológica, ao contrário, suspende nossa familiaridade com o mundo, ela não o tem como
pronto de uma vez por todas, porque descobre por baixo da atitude natural uma experiência
primordial que funda nossa experiência objetiva. É por meio da suspensão de nossos hábitos
que a redução espera nos levar “até as raízes, aquém da humanidade constituída” e nos revelar
“o fundo de natureza inumana sobre o qual o homem se instala” (OE, 132). Mas o que se
encontra nesse fundo? Não os processos físico-químicos pelos quais a fisiologia quer explicar o
corpo e sua relação com o mundo, não os atos de consciência pelos quais a psicologia entende
conhecer isto a que se chama “Eu”, nenhum processo causal e nenhuma interioridade. Mas a
experiência perceptiva. Suspender nossa familiaridade é admirar-se com um mundo que
sempre está “ali antes de qualquer análise que eu possa fazer dele” (PhP, 5). Ele não é,
portanto, a experiência constituída pelas “efusões” humanas, inteiramente pronto, mundoobjeto, mas uma “novidade absoluta” (OE, 132). O retorno ao percebido, a reabilitação dos
sentidos visam a uma experiência primeira que funda o mundo familiar, demasiado familiar, em
que nos instalamos. E se não se deve instalar-se de imediato em uma consciência absoluta,
posto que ela se esquece de uma experiência primordial, então é preciso descrever os passos
que conduzem a esta “’presunção’ da razão” (PhP, 98). A redução tem em vistas descrever, nos
dar um relato da constituição das coisas para nós, ela visa a “essa gênese secreta e febril das
coisas em nosso corpo” (OE, 21). As essências são reintegradas à facticidade porque não se trata
de buscar as condições subjetivas do mundo, mas de mostrar a autonomia do sensível, seu
“arranjo” próprio, pelo qual o sujeito não o organiza completamente mas assume uma
perspectiva em face desta totalidade, o mundo, campo de horizontes: campo perceptivo ou
campo de presença. Ao se suspender a atitude natural, resta uma experiência do corpo e do
mundo não tematizada, e é neste solo fenomenal que se instala a descrição e onde se encontra
uma maneira de ser primordial que permite ultrapassar a dicotomia sujeito-objeto e as
explicações unilaterais da fisiologia e da psicologia.
Entretanto, somente a descrição do mundo-da-vida é insuficiente, pois embora se diga
que a experiência do corpo próprio, que as ambigüidades do campo fenomenal fundam o
mundo objetivo, elas não se mostram ainda como fundamento sólido, não passando de
descrições psicológicas, de “uma camada de experiências pré-lógicas ou mágicas”. É preciso que
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
249
o relato do campo antepredicativo revele um modo de ser mais original: o tempo. É ele que dá
estatuto filosófico às descrições, pois sua investigação conduz a um “Logos mais fundamental
do que o do pensamento objetivo” (PhP, 489). As contradições relatadas nas duas primeiras
partes são outro modo de dizer a temporalidade. E a atitude natural é a objetivação dessa
mesma temporalidade. Mas por que se parte do mundo já constituído, natural, em direção à
experiência do corpo próprio, e por que a descrição deste antecede a da esfera transcendental?
Como o arqueólogo, o fenomenólogo precisa escavar a terra para encontrar os passos que
conduzem a ela. Portanto, é preciso partir do mundo objetivo para encontrar, por baixo dele, “a
experiência perceptiva sepultada sob seus próprios resultados” (PhP, 99). E assim como a
descrição da experiência primeira ganha sentido por relação ao mundo constituído, o
transcendental encontra sentido por relação ao vivido, numa relação de fundação recíproca,
circular, já que não há essências separadas da existência. Essa fundação mútua entre
transcendental e empírico revela que as condições de possibilidade não estão encerradas no
sujeito, como um conjunto de operações constitutivas pelas quais um mundo sem opacidade se
expõe, mas que a “subjetividade transcendental é uma subjetividade revelada” (PhP, 485), de
forma que é “a experiência que mostra as condições de possibilidade do sujeito meditante”,
pois a experiência primordial é o “verdadeiro transcendental” (PhP, 489). Desse modo, quando
Merleau-Ponty relata a maneira de ser da percepção e mostra a relação alma/corpo como
“transcendência imanente” — não há relação exterior entre as partes, uma está envolvida pela
outra e, no entanto, vai para além dela: a alma transcende o corpo, pois pode escolher entre
isto e aquilo, e é imanente a ele, posto que só pode decidir no âmbito das possibilidades dele; e
o corpo, por sua vez, transcende a alma, pois possui intencionalidade própria, e é imanente a
ela, visto que é sempre reintegrado pelas decisões deliberadas —, é a noção de temporalidade
que está por trás de sua descrição. O tempo não é uma série de instantes que escoa do passado
em direção ao presente e ao futuro, como se cada momento fosse a conseqüência do
antecedente. Esse tempo é pensado como uma “sucessão de agoras” (PhP, 552), de forma que
não se vê como esses “agoras” podem suceder-se. Como na metáfora do rio, essa noção sempre
pressupõe um testemunho que, da margem, vê passarem e se dirigirem ao mar as madeiras
jogadas anteriormente na nascente. Na série de instantes, não há passagem de um momento
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
250
ao outro, pois ali não há visão. É sempre do presente que retomo meu passado e vejo meu
futuro pulular no horizonte de minha vida, pois meu nascimento instaurou um campo de
presença. O passado e o futuro são os horizontes de minha presente visão. Eles não se
confundem com ela, mas não lhe são estranhos: eles são “quase-presentes”. Segundo a
retenção e protensão, posso retomar meu passado próximo, e através dele o distante, e lançarme ao porvir. O tempo, portanto, não é o escoar do passado em direção ao futuro, mas do
futuro para o passado. Ele é o “’porvir-que-vai-para-o-passado-vindo-para-o-presente’” (PhP,
563). Cada momento transcende e é imanente aos outros momentos: o passado transcende o
presente, pois não pode ser completamente compreendido por ele, e é imanente ao presente,
posto que não é desconhecido por este. Do mesmo modo, a percepção se faz num campo de
horizontes: minha perspectiva atual se faz num fundo perceptivo que vai para além dela, pois
ele possui outras perspectivas possíveis. Os momentos do tempo não são “agoras” porque não
há somente sucessão de um para o outro, mas mudança, ao mesmo tempo em que
permanência, na passagem do futuro ao presente e deste ao passado, como mostra o gráfico
apresentado por Merleau-Ponty no capítulo “A temporalidade”. O ponto B tem A’ como seu
passado próximo e C* como seu futuro próximo. A’ e C* são seu campo de presença, os
horizontes da visão que parte de B. Para que haja passagem de A a B, é preciso que A se
transforme em A’, que ele não seja mais presente efetivo, mas não deixe de ser um horizonte —
o que impossibilitaria a passagem temporal. É preciso que ele continue ali como uma “quasepresença”. Assim, há mudança e permanência, “mudança na permanência”, “identidade na
diferença”, o que identificamos acima como “transcendência imanente”. É o presente que lança
seu olhar sobre o passado e vê a aproximação do futuro. Mas essa visão não é uma “síntese de
identificação”, um terceiro termo que ligaria os momentos do tempo. Se há uma síntese, ela é
de “transição”, na qual as dimensões do tempo se anunciam umas às outras, não como “uma
multiplicidade de fenômenos ligados, mas um só fenômeno de escoamento” (PhP, 562). Em B, A
tem uma sobrevida como A’, e C* já está anunciado, pois o futuro se apresenta como passado
por vir, e o passado se mostra como futuro que veio ao presente e passou. Cada momento vem
a ser pela retomada dos outros e porque era anunciado por eles. Do mesmo modo, na
percepção uma perspectiva não está fechada sobre si mesma, mas nela já se insinuam as outras
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
251
perspectivas possíveis. A visão atual de um objeto se faz sobre um fundo perceptivo no qual
estão presentes os horizontes que o movimento do olhar tornará atuais.
No entanto, esse critério de inteligibilidade pelo qual Merleau-Ponty compreende nossa
experiência se mostra problemático tanto na interpretação de alguns de seus comentadores
como na do próprio Merleau-Ponty. Os momentos do tempo se anunciam como outra coisa que
eles mesmos porque no “âmago do tempo existe um olhar ou, como diz Heidegger, um
Augenblick, alguém por quem a palavra como possa ter um sentido” (PhP, 565). É a
subjetividade que efetua a passagem de uma dimensão à outra, não por uma síntese exterior,
pensando-as, mas realizando-se temporalmente, não como “intencionalidade de ato”, mas
“intencionalidade operante”. “É preciso compreender o tempo como sujeito e o sujeito como
tempo” (PhP, 566). Na perspectiva de Barbaras e Moura, a visão que se lança aos horizontes, o
presente com seu campo de retenções e protensões é a região do não-ser. O passado e o futuro
só existem, só se passa de um campo perceptivo a outro porque a “subjetividade vem romper a
plenitude do ser em si, desenhar ali uma perspectiva, ali introduzir o não-ser” (PhP, 564). Se a
subjetividade é retirada, resta um em si, um “agora”. E o passado e o futuro estão em demasia
neste presente que não passa, de modo que é o não-ser que possibilita o aparecimento do
“alhures, do outrora e do amanhã” (PhP, 552). Se a passagem do tempo não é realizada por um
terceiro termo, por uma síntese exterior, e se ele é um “olhar”, então ele coincide com a
consciência, e é também saber de si. O não-ser é a consciência, “o para si, a revelação de si a si,
não é senão o vazio no qual o tempo se faz” (PhP, 577). Mas como ser e não-ser se relacionam?
É possível uma mistura entre ambos? Na Fenomenologia da percepção, Merleau-Ponty
pretende dissolver as dicotomias clássicas ao mostrar o corpo próprio como a região em que
alma e corpo se unificam, não havendo predomínio de um sobre o outro. O corpo fenomenal é
movimento autônomo, é ele o sujeito da experiência, por isso compreendido como “corpo
cognoscente” e não como um autômato comandado pela alma. Esse “pólo intencional” tem
consciência de si porque se faz temporalmente: a “fusão entre a alma e o corpo (...) é tornada
ao mesmo tempo possível e precária pela estrutura temporal de nossa experiência” (PhP, 125).
No entanto, segundo Moura (RC, 314), se o corpo tem consciência de si, e se esta é não-ser,
“’negativo’ encarregado de fazer aparecer o ‘positivo’” (RC, 317), então o corpo continuaria a
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
252
ser comandado, por trás de seus atos haveria um interior de onde se pilota o navio, e não se
saberia então como a consciência se liga ao corpo, autocrítica que iria se tecendo nos textos
posteriores à Fenomenologia da percepção e que culminaria nas notas de O visível e o invisível.
Embora Merleau-Ponty mostre a noção de “consciência ingênua” — certa apreensão
escorregadia de si, mas que ainda não se sabe ponto de vista — como uma “generalidade”
afogada nos próprios atos, como “um si que se toca antes dos atos particulares nos quais ele
perde contato consigo mesmo” (PhP, 479), e tente por meio dela fazer a ligação entre existência
anônima e existência pessoal, entre organismo e consciência, ele ainda se situaria no prejuízo
clássico que separa sujeito e objeto, pois a noção de consciência ingênua continuaria a trazer o
dualismo para o interior de seu pensamento. Desse modo, não haveria mistura entre alma e
corpo, mas justaposição, posto que é “impossível a união ou a mistura entre o que é e o que
não é” (RC, 315). E seria nesse sentido que os ajustes do filósofo consigo mesmo, nos textos
posteriores, poderiam ser compreendidos. Na nota sobre o “Cogito tácito”, Merleau-Ponty
observa que na Fenomenologia da percepção há o prejuízo de uma “autoconsciência a que a
palavra consciência se reportaria” (VI, 168). Tratar-se-ia de uma positividade a que os atos, as
palavras se reenviam. Enfim, de uma “interioridade” por trás do corpo. E então as dicotomias
que se tentava ultrapassar recairiam como uma sombra que nunca deixou de pairar sobre os
textos dos anos 40. Com a justaposição de ser e não-ser estaria vigorando ainda a separação
entre interior e exterior, concepção que o autor tentava refutar.
Seria essa separação que permitiria o aparecimento de uma “subjetividade inalienável”,
um si testemunho de toda comunicação: “se deve haver consciência, se algo deve aparecer a
alguém, é necessário que atrás de todos os nossos pensamentos particulares se escave um
reduto de não-ser, um Si” (PhP, 536). Todo engajamento, toda comunicação, os outros são
ultrapassados por este si, pois é sempre ele que os vive. Embora eu seja ultrapassado “de todos
os lados por meus próprios atos (...), todavia sou aquele por quem eles são vividos” (PhP, 480).
Por mais que se tente mostrar como o outro aparece em nossa experiência por meio do
comportamento, da consciência ingênua, essa tentativa sempre esbarra em uma subjetividade
em relação à qual o “alter Ego segue todas as variações do Ego” (PhP, 477) — mesmo na
experiência anônima, outrem só pode ser anônimo. Entretanto, isso não impede que outrem
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
253
apareça, pois assim como só falamos de reflexão e irrefletido porque temos a experiência deles,
falamos do outro porque ele se mostra em nossa experiência. As dificuldades da percepção de
outrem não desaparecem mesmo quando se parte do comportamento, pois a “generalidade do
corpo não nos (faz) compreender como o Eu indeclinável pode alienar-se em benefício de
outrem, já que ela é exatamente compensada por esta outra generalidade de minha
subjetividade inalienável” (PhP, 480). Não se trata de uma consciência constituinte que anima
outrem, — pois ela já se apreende em situação, em um campo intersubjetivo —, mas de uma
consciência que, ao mesmo tempo em que é ultrapassada pelo mundo, é sempre ela que o vive.
Daí que as coisas sejam definidas como “em-si-para-nós”.
Ora, a noção de expressão, com a qual o autor pretendia unir alma e corpo, estaria
instalada nessa mesma separação entre interior e exterior, humano e inumano. Ao tratar do
cogito, o autor faz ver que a linguagem supõe um testemunho, justamente o “cogito tácito”, ou
consciência ingênua, sem o qual ela não se saberia: “a linguagem pressupõe uma consciência da
linguagem, um silêncio da consciência que envolve o mundo falante e em que em primeiro
lugar as palavras recebem configuração e sentido” (PhP, 541). A tentativa de Merleau-Ponty é a
de mostrar como não há um sistema de significações guardadas num céu inteligível e que
seriam traduzidas na fala — é com esta e não com conceitos que primeiramente encontramos
um universo lingüístico —, pois é o arranjo da frase expressivo por ele mesmo, de modo que o
sentido nasce na expressão e não antes desta. “A ‘concepção’ não pode preceder a ‘execução’”
(OE, 134). A significação nasce no momento em que se tenta produzir o novo. Por isso o autor
distingue entre “fala falante” e “fala falada”. Esta se faz pelas idéias, pelos conceitos que
formam o mundo cultural em que nos situamos. Nela, não criamos, mas repetimos o que já foi
adquirido em um momento anterior da cultura. É esta fala adquirida que nos dá a ilusão de que
há um sistema de significações do qual a fala seria a tradução, pois podemos lembrar-nos
desses pensamentos e expressá-los. De forma que “são os pensamentos já constituídos e já
expressos dos quais podemos lembrar-nos silenciosamente” o fator que nos engana e nos dá “a
ilusão de uma vida interior” (PhP, 249). De outro lado, o novo aparece na fala falante, em que o
silêncio é rompido e deixa nascer uma idéia. Mas esse pensamento original não vem do nada,
ele surge na reorganização da fala constituída. De maneira que o silêncio por trás da linguagem,
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
254
a “intenção significativa” se realiza através das significações já disponíveis, as quais são o
resultado de falas originais anteriores. No entanto, o que seria esse silêncio no âmbito da
Fenomenologia da percepção? Segundo Barbaras e Moura, o silêncio é a região do não-ser, e
este é um reduto subjetivo, uma interioridade. E a consciência se torna produtora, uma
espontaneidade que faz nascer o novo. Enfim, uma “interioridade” encarregada de realizar a
significação. Dessa forma, está ainda vigente o dualismo obstinadamente combatido por
Merleau-Ponty. E se vê então que a redução não podia ir verdadeiramente ao irrefletido, pois
ela é o relato da “vida irrefletida da consciência” (PhP, 13), de maneira que ela ainda se situa no
campo da significação. De outro lado, o mundo não pode ter sentido próprio, pois ele é a região
do em si, rompida com o aparecimento de um olhar e só tendo sentido para essa visão. E a fala
falante, por sua vez, não é o jorrar de um original ainda desconhecido, mas a expressão de uma
vida interior. Portanto, as significações já são conhecidas antes da expressão. Segundo Moura,
isso acontece porque Merleau-Ponty está muito próximo da ontologia de Sartre, por isso ele
ainda opõe ser e não-ser: “A Fenomenologia da percepção tomava seu ponto de partida em
uma ‘ontologia’ que, de antemão, comprometia seu objetivo expresso. Preso aos marcos
conceituais de Sartre, Merleau-Ponty compreendia ali a ‘existência’ ou a ‘consciência’ como um
‘não-ser’ que se opunha à ‘plenitude do ser’” (MOURA, RC, 314). E Barbaras, por sua vez,
entende que é devido ao vocabulário utilizado por Merleau-Ponty que se deve o fato de a
Fenomenologia da percepção ainda reproduzir o dualismo clássico: “A Fenomenologia da
percepção é marcada por uma defasagem entre, de um lado, as intenções anunciadas, assim
como as descrições às quais elas dão lugar e, de outro lado, o vocabulário ao qual essas
descrições se encontram presas. Tudo se passa como se a experiência perceptiva fosse
abordada através de categorias que a interditam de revelar sua significação verdadeira”
(BARBARAS, Le tournant de l’expérience, 183).
No entanto, se, por um lado, Moura e Barbaras entendem os termos “não-ser”, “falha”,
“fissura” e cogito tácito como se eles fossem um reduto subjetivo, por outro, Ferraz nos alerta
que o ponto fundamental da Fenomenologia da percepção é a idéia de que a experiência se
origina por meio de um pacto entre corpo e mundo. Segundo Ferraz, tal “descrição da atividade
perceptiva implica que o mundo não é algo alheio à subjetividade e sim um campo de eventos
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
255
cujos padrões de organização são esposados harmonicamente pelos poderes do corpo. Tal
harmonia é fundada, segundo a Fenomenologia da Percepção, em um pacto ou contrato
estabelecido naturalmente entre corpo e mundo” (FERRAZ, 2009, p. 32). Dessa maneira,
compreendemos porque Merleau-Ponty insiste na idéia de que é pelo nascimento do corpo no
mundo que a experiência se inaugura. O escoamento temporal precisa de um ponto de partida,
o nascimento do corpo no mundo, o pacto, para que ele tenha um primeiro ponto a ser
retomado na série das Abschattungen. Segundo Merleau-Ponty, sou “uma única temporalidade
que se explicita a partir de seu nascimento e o confirma em cada presente” (PhP, 546), o que
quer dizer que nosso “nascimento (...) funda simultaneamente nossa atividade ou nossa
individualidade, e nossa passividade ou nossa generalidade (...)” (PhP, 573), que nosso
nascimento funda a temporalidade. E o nascimento se dá por meio de um pacto entre corpo e
mundo:
E, como todavia ele [o espaço] não pode ser orientado "em si", é preciso que
minha primeira percepção e meu primeiro poder sobre o mundo me apareçam
como a execução de um pacto mais antigo concluído entre X e o mundo em geral,
que minha história seja a seqüência de uma pré-história da qual ela utiliza os
resultados adquiridos, minha existência pessoal seja a retomada de uma tradição
pré-pessoal. (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 342; grifos nossos.)
É por um pacto mais antigo, quando um corpo entre em relação com um mundo em geral que
se inicia a experiência. Segundo Merleau-Ponty, esse é um fato último, não remissível a nenhum
outro princípio explicativo. Ele é enfim o ponto de partida da descrição fenomenológica. A partir
do pacto (PhP, 229, 337, 342, 416, 478) originário, estabelece-se, segundo os termos de
Merleau-Ponty, o comércio (PhP, 305, 383, 458, 541, 591), a sincronização (PhP, 314), a
comunhão (PhP, 429), a comunicação ou o acasalamento (PhP, 20, 342, 429, 430) entre corpo e
mundo. Dessa maneira, poderíamos interpretar os termos “não-ser”, “fissura”, “falha” e cogito
tácito como a perspectiva que o corpo assume em face das coisas. O tempo, diz Merleau-Ponty,
não é uma sucessão real que eu me limitaria a registrar, mas ele “nasce de minha relação com
as coisas” (PhP, 551) Estas seriam excessivamente plenas, faltando-lhes certa dimensão de
ausência, certa “possibilidade de não-ser”, a qual é oferecida pela perspectiva finita que o corpo
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
256
assume em face delas. Daí que o corpo seja definido como uma “potência de apreensão” (PhP,
353), já que ele não possui uma perspectiva absoluta de seus objetos senão que no próprio
ponto de vista que ele assume já se anunciam outras perspectivas possíveis. Ele é, portanto,
uma potência de perceber, de maneira que seu ponto de vista é uma “falha”, uma “zona de
vazio”, uma “abertura sempre recriada na plenitude do ser” (PhP, 267). Por isso Merleau-Ponty
pode enunciar que passado e futuro só existem quando uma “subjetividade vem romper a
plenitude do ser em si, desenhar ali uma perspectiva, ali introduzir um não-ser”, justamente
porque passado e futuro “brotam quando eu me estendo em direção a eles” (PhP, 560), isto é,
quando meu corpo se dirige ao mundo e não porque uma subjetividade desce no corpo, como
supõem Barbaras e Moura. O não esquecimento de que, em Merleau-Ponty, a experiência se
realiza por meio de um pacto originário entre corpo e mundo, traz-nos uma nova maneira de
entender o pensamento merleau-pontiano. O cogito tácito não precisa ser mais compreendido
como uma subjetividade, distinguindo-se assim cogito tácito e corpo, como faz Moura (RC, 313),
mas ele pode justamente ser compreendido como movimento do corpo anônimo. De maneira
que se o ajuste de O visível e o invisível se dirigia a uma autoconsciência por trás da linguagem,
é justo que a compreendamos como os movimentos silenciosos, antepredicativos do corpo
próprio.
E se, agora, a linguagem é um problema na Fenomenologia da percepção, é porque ela
ainda aparece como tradução, não como a expressão de uma consciência que já sabe tudo, mas
como a tradução do texto de experiência oferecido pelo movimento intencional do corpo
anônimo. Se, por um lado, na Fundierung Merleau-Ponty coloca a linguagem como um dos
termos fundantes, por outro, ele também apresenta a idéia de que a linguagem surge como um
gesto a partir do movimento anônimo do corpo, isto é, a partir do cogito tácito, de uma
consciência silenciosa mais originária. Nesse sentido, Merleau-Ponty apresenta três níveis da
experiência, os quais se ligam segundo a idéia de que o primeiro (expressividade sensível) funda
o segundo (expressão verbal) e também o terceiro (significação conceitual).
Meu corpo é o lugar, ou antes a própria atualidade do fenômeno de expressão
(Ausdruck), nele a experiência visual e a experiência auditiva, por exemplo, são
pregnantes uma da outra, e seu valor expressivo funda a unidade antepredicativa
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
257
do mundo percebido e, através dela, a expressão verbal (Darstellung) e a
significação intelectual (Bedeutung). (MERLEAU-PONTY, 2006, 315; grifo nosso.)
E mais:
É verdade que não se falaria de nada se só se devesse falar das experiências com
as quais se coincide, já que a fala já é uma separação. Mais ainda, não existe
experiência sem fala, o puro vivido não está nem mesmo na vida falante do
homem. Mas o sentido primeiro da fala está todavia nesse texto de experiência que
ela tenta proferir. (MERLEAU-PONTY, 2006, 452; grifo nosso.)
Em Merleau-Ponty, o movimento do corpo anônimo — o “texto de experiência”, o sentido
autóctone do mundo — é o momento original e fundador de nossa experiência, o que quer
dizer que há um movimento silencioso da consciência que a fala então tenta expressar. Há uma
“essência emocional” (PhP, 254) um “silêncio primordial” (PhP, 250) da relação corpo e mundo
que a fala está encarregada de expressar. Há uma enformação de corpo e mundo na emoção
(PhP, 257), de maneira que as palavras são extraídas (PhP, 254) desse comércio primeiro. A
linguagem não reapareceria aqui, como também pergunta Ferraz 2 em sua tese, mais uma vez
como tradução? A suposição do pacto originário como o começo perceptivo da experiência
recolocaria a idéia de uma esfera já plena de sentido (o mundo sensível anônimo) em relação à
qual a linguagem seria tradução. E a crítica de O visível e o invisível seria dirigida então a esse
movimento silencioso do corpo. Por isso Merleau-Ponty buscaria falar nos textos intermediários
que a linguagem é tão originária quanto a percepção, isto é, que a linguagem enforma o mundo
tanto quanto nosso aparelho perceptivo motor. Na Fenomenologia da percepção, ao contrário,
há uma experiência silenciosa do corpo que funda a linguagem. Portanto, há uma experiência
primeira originada tão somente pela relação entre os esquemas corporais e o mundo; é só
depois, por extração, que a fala aparece.
Nesse sentido, o ajuste que O visível e o invisível endereça à Fenomenologia da percepção
não se deveria à tentativa de Merleau-Ponty de ultrapassar a dicotomia interior/exterior, como
supunham Barbaras e Moura, mas a superar o descompasso entre percepção e linguagem
2
FERRAZ, Fenomenologia e ontologia em Merleau-Ponty, p. 57, 59.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
258
presente nos textos dos anos 40. Isso é bastante explícito quando notamos que a idéia do pacto
originário continua operando tanto em Un inédit de M. Merleau-Ponty (1962) como em O visível
e o invisível. O problema a ser superado não é exatamente o de uma “interioridade”, mas o da
articulação entre percepção e linguagem.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MERLEAU-PONTY. Fenomenologia da percepção. Trad.: Carlos Alberto Ribeiro de Moura. São
Paulo: Martins Fontes, 1999.
_____. O visível e o invisível. Trad.: José Arthur Gianotti e Armando Mora de Oliveira. São Paulo:
Perspectiva, 2000.
_____. “Un inédit de M. Merleau-Ponty”. In: Revue de métaphysique et morale, nº 4, 1962.
BARBARAS, Renaud. De l’être du phénomène. Grenoble: Millon,1991.
_____. Le tournant de l’expérience. Paris: VRIN, 1998.
FERRAZ, Marcos S. A. Fenomenologia e ontologia em Merleau-Ponty. São Paulo: Papirus, 2009.
MOURA, C. A. R. Crítica da razão na fenomenologia. São Paulo: EDUSP & Nova Stella, 1989.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
259
Subsídios para uma apreciação do fundamentalismo e do terrorismo a partir da
filosofia de Friedrich Nietzsche
João Paulo Simões Vilas Bôas*
RESUMO
Este trabalho tem por objetivo apresentar as linhas gerais de uma hipótese interpretativa sobre
o fundamentalismo e o terrorismo que se desenvolve a partir do diagnóstico realizado por
Friedrich Nietzsche acerca do fenômeno de gradual perda de força e de posterior
esfacelamento dos principais valores que sustentam e justificam as instituições e a visão de
mundo ocidentais — ao qual o filósofo alemão denomina “niilismo europeu”. Buscaremos aqui
mostrar como é possível entender a emergência desta nefasta associação hodierna entre
fundamentalismos e terrorismos como uma dentre as possíveis formas de reação psicológica ao
fenômeno do niilismo.
PALAVRAS-CHAVE: Fundamentalismo; Niilismo; Terrorismo, Política.
I
Os eventos ocorridos em 11 de setembro de 2001 marcaram de maneira irreversível o
panorama geopolítico de todo o mundo no início do século XXI e suas conseqüências políticas,
militares, sociais e culturais seguramente continuarão sendo sentidas pelos próximos anos.
Embora ainda recentes, tais acontecimentos não deixaram de ser objeto de investigação
filosófica, sendo que, ao lado de obras de diversos pensadores de destaque do nosso tempo,1 o
*
Aluno do Programa de Pós-graduação em Filosofia da Unicamp. E-mail: [email protected].
As conseqüências dos eventos de 11 de setembro alcançaram tamanha importância a ponto de unir, em uma
mesma publicação, representantes de linhas de pensamento tão divergentes como Jürgen Habermas e Jacques
Derrida. Cf. BORRADORI, Giovanna. Filosofia em tempo de terror. Diálogos com Habermas e Derrida. Trad. Roberto
Muggiati. Rio de Janeiro, Jorge Zahar: 2004 e também o texto, assinado por ambos os pensadores, publicado em
31 de Maio de 2003 no jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, intitulado Nach dem Krieg: Die Wiedergeburt
Europas. Além disso, também merecem destaque os trabalhos de Peter Sloterdijk: (SLOTERDIJK, Peter. Luftbeben.
An den Wurzeln des Terrors, Suhrkamp, Frankfurt am Main: 2002) e Slavoj Žižek (ŽIŽEK, Slavoj. Bem-vindo ao
1
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
260
número de trabalhos sobre este tema só tem crescido, o que julgamos ser um forte indicativo
de que ainda haveria aqui muito a ser investigado. Diante disso, perguntamo-nos em que
medida a filosofia de Nietzsche — em particular o panorama inaugurado por suas reflexões
sobre o niilismo — poderia contribuir para enriquecer a compreensão e a avaliação destes
acontecimentos.
A partir da multiplicidade de sentidos com que Nietzsche emprega o termo niilismo 2,
pretendemos investigar a possibilidade de se compreender tanto as manifestações de violência
suicida que se justificam numa visão de mundo fundamentalista como também a recente
configuração política da democracia liberal dos EUA — inaugurada com a invenção da guerra ao
terror em resposta aos eventos de 11 de setembro — enquanto diferentes formas de reação ao
aprofundamento da crise de valores pela qual passa o Ocidente.
Ao escrever sobre o niilismo, Nietzsche quer dizer que a nossa época é um período
marcado por uma crise profunda, na qual os valores e as instituições que até então embasavam
o pensamento e a organização da sociedade decaem em um processo lento, porém inexorável,
o qual traz como última conseqüência o questionamento acerca do próprio sentido da
existência. Em uma palavra: “Niilismo: falta o objetivo; falta a resposta ao ‘por quê?’ que
significa niilismo? — que os valores mais altos se desvalorizam” 3.
Apesar de o termo niilismo ser empregado com diferentes sentidos ao longo dos seus
escritos, todos eles estão relacionados com a desvalorização dos valores, o que mostra que este
fenômeno está diretamente ligado com a moral, mais especificamente, com uma moral: a
moral cristã, a qual é entendida por ele como uma interpretação da realidade que desvaloriza a
existência em prol de uma outra vida no além.
Segundo Nietzsche, esta interpretação moral da existência, que apresentou uma
explicação verdadeira para os fenômenos e uma justificativa para o sofrimento do homem,
surgiu com Sócrates na antiguidade grega dos séculos IV e V a.C. e se disseminou pelo Ocidente
deserto do Real!: cinco ensaios sobre o 11 de Setembro e datas relacionadas. Trad. Paulo Cezar Castanheira. São
Paulo: Boitempo Editorial, 2003. Coleção estado de sítio).
2
Cf. ARALDI, “Para uma caracterização do niilismo na obra tardia de Nietzsche”, p. 75-94.
3
Fragmento póstumo KSA 12, 9[35]. p.350 (outono de 1887).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
261
com a apropriação que o cristianismo realizou do pensamento socrático-platônico. O filósofo
alemão localiza a causa do profundo enraizamento desta visão de mundo na cultura européia
na medida em que ela, ao invés de se considerar simplesmente como uma moral humana “ao
lado da qual, antes da qual, depois da qual muitas outras, (...), são ou deveriam ser possíveis”4,
buscou antes assegurar sua hegemonia como a única moral por meio da desqualificação e da
absoluta negação de tudo aquilo que se diferenciasse dela.
Característica fundamental da modernidade ocidental contra a qual Nietzsche direciona
seu discurso crítico, esta “rejeição instintiva de toda prática outra, de todo tipo de perspectiva
outra de valor e utilidade” 5, à qual o pensador denomina de “instinto judaico”, 6 foi inicialmente
um procedimento de autopreservação empregado pelo cristianismo para sobreviver e se
afirmar perante o judaísmo. Contudo, como o passar do tempo, o acirramento deste “ódio
contra o discordar”, desta “vontade de perseguir”7 e eliminar tudo aquilo que não podia ser
justificado ou estivesse de acordo com a visão de mundo cristã — cujo exemplo emblemático
pode ser apontado na Inquisição — acabou por garantir que o cristianismo se consolidasse
como o ponto de vista moral hegemônico no Ocidente, a tal ponto que a moral cristã foi tida
como a moral durante praticamente dois mil anos.8
Ao longo da história do Ocidente, esta visão de mundo não apenas assegurou uma
garantia de segurança, um consolo para o sofrimento e uma explicação verdadeira acerca dos
fenômenos com os quais o homem se deparava, como também serviu para fundamentar e
legitimar a política, o direito e a própria filosofia, constituindo a pedra basilar sobre a qual a
compreensão de mundo e as instituições ocidentais se assentaram.
Nietzsche diagnostica não só uma dependência, mas também uma gradual degeneração
desta valoração do mundo que culminará na sua total desvalorização, isto é, na incapacidade
em continuar servindo como fundamento de uma explicação verdadeira e definitiva dos
fenômenos da natureza. O processo segundo o qual isso ocorreria é o de autossupressão.
4
NIETZSCHE, F Para além de Bem e Mal, 202.
NIETZSCHE, F. O Anticristo, 44.
6
Cf. AC, §27 e §44.
7
AC, §21
8
Sobre a importância do “instinto judaico” na caracterização nietzscheana da modernidade político-moral
ocidental, Cf. VIESENTEINER, A Grande Política em Nietzsche, p. 33-43.
5
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
262
Segundo Nietzsche, quando a exigência de buscar a verdade — a qual já estava presente no
pensamento socrático-platônico — é gradualmente elevada ao seu nível mais extremo, a
conseqüência é a contestação da própria explicação metafísico-cristã da existência.
Nesse sentido, ao contrário do que se possa pensar, a morte de Deus não é um evento
repentino, mas antes é o necessário ponto de culminância do percurso da moral no Ocidente.
No breve capítulo Crepúsculo dos Ídolos intitulado “Como o “mundo verdadeiro” finalmente
tornou-se fábula”, Nietzsche mostra que a derrocada dos valores cristãos se deu na forma de
um processo gradual de perda de força — no qual a hipótese moral cristã, inicialmente tida
como uma explicação necessária e suficiente para o mundo e para o homem, vai aos poucos
perdendo terreno e importância na medida em que o desenvolvimento da filosofia e o
surgimento da ciência vão gradualmente relegando ao mundo verdadeiro uma posição cada vez
mais distante da realidade, cada vez mais inatingível até que ele finalmente passa a ser “uma
idéia tornada desnecessária, logo, uma idéia refutada”9 — o que culmina no reconhecimento
de que aquilo que antes se pensava verdadeiro, eterno e indelével nunca passou de uma
invenção.
Vale ressaltar, contudo, que a maioria dos homens não vivencia o niilismo em toda a sua
amplitude e, mesmo depois da morte de Deus, continua ainda acreditando na sua “sombra”, 10
vivendo numa condição que o filósofo denomina “niilismo incompleto”,11 sendo que esta
expressão é empregada para caracterizar a condição psicológica na qual, mesmo depois que “a
fé em Deus e uma ordenação moral essencial não pode mais ser mantida” 12, o homem ainda
resiste em abandonar o “velho hábito” 13 de fiar sua existência a alguma instância externa
justificadora que dê sentido à sua existência e busca algum outro substituto para ocupar este
espaço que agora se encontra vazio.
Um exemplo que ilustra bem a condição desses ateus contemporâneos, que
substituíram sem grandes problemas o fundamento divino por alguma forma de verdade, pode
9
NIETZSCHE, F. Crepúsculo dos Ídolos, Como o “mundo verdadeiro” finalmente tornou-se fábula, 5.
GC, 108.
11
Fragmento póstumo KSA 12, 10[42] p. 476 (outono de 1887).
12
Fragmento póstumo KSA 12, 5[71] p. 211 (10 de julho de 1887).
13
Fragmento póstumo KSA 12, 9 [43] p. 355-357 (outono de 1887).
10
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
263
ser apreciado quando se atenta para o gritante contraste apresentado no conhecido aforismo
125 d’A Gaia Ciência, entre, de um lado, a indiferença e o escárnio das pessoas no mercado e,
de outro, a agonia e o desespero do homem que anuncia a morte de Deus. A despeito de não
mais acreditarem em Deus, a massa de ouvintes prossegue tranquilamente anestesiada e
absorta em suas vidas pusilânimes de pequenas preocupações e “pequenos prazeres” 14 sem se
dar conta da profundidade das implicações deste evento.
Nesse sentido, Nietzsche entende que a crença no Estado, na ciência ou mesmo na razão
enquanto instâncias capazes de oferecerem uma resposta definitiva para os dramas do destino
da alma e/ou de garantirem a felicidade e a realização humanas, nada mais seria que a crença
na bem-aventurança religiosa despojada da roupagem eclesiástica, ou seja, apenas uma
tentativa de alimentar a esperança em alguma verdade superior de validade universal que viria
a redimir a humanidade.
II
Embora os fundamentalistas islâmicos e o governo dos EUA aparentemente estejam
situados em pólos opostos, acreditamos, pelo contrário, que, no fundo, ambos estão do mesmo
lado. Com isso queremos dizer que tanto a emergência de modalidades radicais de
fundamentalismos como a estratégia político-militar da guerra ao terror poderiam ser
compreendidas como diferentes formas de realização de um mesmo esforço, a saber, a
tentativa de preservar, a qualquer custo, a crença em alguma instância superior que seria capaz
de garantir segurança e significado para a existência, com vistas a evitar a terrível experiência
do vazio de sentido.
Em primeiro lugar, as variadas modalidades de fundamentalismos surgidas no início do
século XX15 se apresentam, do ponto de vista psicológico, como doutrinas bastante sedutoras
em meio a uma cultura que sofre com o gradual solapamento de suas bases porque, ao
14
NIETZSCHE, Assim falou Zaratustra, Prólogo, 5.
Conforme mostra Christoph Türcke, a palavra fundamentalismo originou-se no início do século XX em referência
ao título “The Fundamentals” de uma coleção de escritos religiosos criada por Lyman Stewart, um protestante
ortodoxo dos EUA, em 1910. Cf. TÜRCKE, Op. cit, p. 15s.
15
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
264
contrário de simplesmente afirmarem um novo paradigma de verdade laico em substituição
aos valores oriundos de uma visão de mundo religiosa que sucumbiu, elas reconhecem
abertamente a existência de um processo de dissolução dos valores ao mesmo tempo em que
buscam reafirmar a validade das crenças religiosas, pregando um retorno aos fundamentos, os
quais são entendidos como o repositório da verdade que precisa ser preservado da corrupção.
A diferença está em que, ao invés de remeterem a causa da corrosão dos valores a uma
característica que seria inerente à interpretação moral socrático-platônico-cristã do mundo —
como fez Nietzsche —, as doutrinas fundamentalistas argumentam que esta corrupção poderia
ser gerada tanto por uma má-interpretação e/ou por uma má-conduta de igrejas que perderam
a pureza originária como pelo processo de secularização da sociedade, que afastou os homens
do fundamento divino.
Como um complemento indispensável desta explicação, eles ainda oferecem uma
personificação precisa da causa desta degeneração na figura do “Outro”, o qual,
independentemente da forma assumida — seja o próprio demônio ou a sociedade secular e
científica do Ocidente — restitui o antigo esquematismo do instinto judaico que encontra o
sentido da própria afirmação a partir da negação do diferente.
Da mesma forma que o judaísmo e o cristianismo, no início da era cristã, operaram um
contínuo processo de desqualificação e posterior destruição de tudo aquilo que se apresentava
como diferente, o qual tinha em vista garantir a supremacia de suas respectivas visões de
mundo, também os fundamentalismos recentes têm necessidade da existência de um “Outro”
ao qual possam reportar suas mazelas (inclusive a principal delas: a falência dos valores) e em
cujo combate se dá sua autoafirmação.
Como todos nós pudemos testemunhar, esta hostilidade contra o “Outro” encontra sua
forma mais extrema em atos de violência suicida direcionados contra as sociedades ocidentais,
entendidas como a origem do mal, os quais são rotulados nos discursos políticos oficiais,
difundidos em larga escala pela mídia, como terrorismos. Entretanto, uma importante ressalva
se faz necessária neste momento, pois, ao rotularmos como terroristas apenas os atos de
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
265
violência perpetrados por grupos minoritários e radicais inspirados em doutrinas
fundamentalistas, estamos adotando:
(...) um ponto de vista excessivamente unilateral, que considera apenas a
presença atual de grupos e segmentos políticos responsáveis pela prática de
ações terroristas, mas deixa de lado o fenômeno não menos importante do
terrorismo de Estado, que não pode deixar de ser levado em consideração. Nas
condições proporcionadas pelo quadro atual das relações internacionais, uma
dessas modalidades não se diferencia essencialmente da outra.16
O fato de o terrorismo também se fazer presente em atos de violência estatal que têm
em vista atingir determinados objetivos sociais, políticos ou militares também não poderia ser
entendido como um indicativo de que a recente configuração política da democracia liberal dos
EUA também poderia ser explicada sob o ponto de vista de uma tentativa de reação ao
niilismo? Com vistas a investigar esta questão, consideremos a apreciação que Nietzsche faz
das práticas políticas de seu tempo.
A expressão “grande política”, que surge inicialmente em 1878, pode ser encontrada em
vários escritos do pensador alemão. Em aproximadamente metade das vezes, ela foi
empregada no sentido de uma crítica irônica às práticas políticas vigentes na Europa do final do
século XIX, em particular na Alemanha recentemente unificada, que tinha como características
principais o militarismo, o nacionalismo e o achatamento das diferenças internas em prol da
garantia da supremacia sobre outros povos.
Tal política foi veementemente criticada por Nietzsche que, longe de entendê-la como
grande, afirmou, ao contrário, que ela é justamente a responsável pelo estreitamento e
apequenamento do gosto e do espírito do povo alemão.17 Para ele, a “grande política” revela-
16
GIACOIA, Oswaldo. “Terrorismo e fundamentalismo: faces do niilismo” In: PASSETI, Edson; OLIVEIRA, Salete
(Org.). Terrorismos. São Paulo: EDUC, 2006, p. 81-93. Aqui, p. 81.
17
ABM, §241.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
266
se como uma “pequena política” 18 justamente porque impede o desenvolvimento das
potencialidades culturais de um povo, o que, para o filósofo alemão seria “o principal”. 19
Para Nietzsche, a pequena política se estrutura sobre duas características principais, a
saber: em primeiro lugar o cultivo de um fervor nacionalista ou o apelo a um chauvinismo racial
ou religioso,20 que tem por objetivo estabelecer e consolidar uma diferenciação entre “Nós” e
os “Outros”, cujo exemplo claro o filósofo pôde testemunhar na Alemanha recém-unificada que
se ocupava de supervalorizar o nacional e apontar as armas para o estrangeiro. A ele, soma-se
também uma ideologia gregária, a qual afirma que a existência humana só realizaria
plenamente seu sentido a partir do momento em que consiga integrar-se num todo maior21 —
que, no contexto da Alemanha de Nietzsche, seria simbolizado pela grandeza e glória do Reich
— e que, com isso, oferece suporte aos processos de massificação indispensáveis à efetivação
deste tipo de política.
Ora, se tanto a política de paz armada levada a cabo pela Alemanha no início do século
XX, como também o fervor dos discursos fanáticos de Hitler conclamando os alemães à
construção do “Reich de mil anos” podem claramente ser apontados como exemplos
indiscutíveis daquilo que Nietzsche denomina de pequena política, que dizer da recente guerra
ao terror liderada pelos EUA?
Considerando-se que os EUA galgaram o status de potência econômica e militar ao final
da segunda guerra mundial por meio do combate contra um Inimigo (as potências do Eixo) e
que igualmente só vieram a consolidar sua hegemonia no Ocidente por meio de uma guerra de
morte contra o comunismo, somos tentados a afirmar que a recente invenção da guerra ao
terror apenas reproduz, na dimensão política, a mesma lógica do instinto judaico, buscando
satisfazer a necessidade da existência do “Outro” enquanto elemento indispensável à própria
afirmação.
18
ABM, §208.
Cf. Crepúsculo dos Ídolos, O que falta aos alemães, 4.
20
Cf., por exemplo, ABM, §241; ABM, §254; CI, o que falta aos alemães, §3 e o fragmento póstumo KSA 12, 7[47] p.
310 (final de 1886/ primavera de 1887).
21
Cf. NIETZSCHE, Aurora, §189 e também o fragmento póstumo KSA 13, 19[1] p. 539 (setembro de 1888).
19
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
267
A diferença entre a presente guerra ao terror e a relação dos judeus com os gentios ou
então a relação dos EUA com os países do antigo bloco socialista é que a figura do Inimigo, que
antes podia ser precisamente apontada, foi agora tornada invisível, onipresente e ao mesmo
tempo separada qualitativamente do restante da humanidade. Se, no passado, o “Outro” era
identificado num Estado ou num determinado regime político e econômico, hoje em dia
assistimos ao emprego generalizado do termo “terror” — o qual foi “gradualmente elevado ao
equivalente universal oculto de todos os males sociais” 22 — como estratégia política, social e
jurídica que opera uma total desqualificação do inimigo, o que traz como consequência o fato
de que os terroristas de hoje, assim como os judeus na Alemanha nazista, deixam de pertencer
ao âmbito jurídico do restante da humanidade e, portanto, não podem mais ser defendidos por
nenhuma lei.
E quê poderia satisfazer melhor a contínua necessidade de um inimigo — característica
fundamental da pequena política — do que um conjunto de organizações invisíveis geridas por
criminosos que não são abarcados por nenhuma lei e que não podem ser destruídos por meio
de uma guerra convencional?
Em meio a uma sociedade que se fragmenta cada vez mais e cujas instituições tornamse cada vez menos confiáveis, a instauração do medo permanente contra um Inimigo invisível e
onipresente torna-se uma estratégia política fundamental para que se possa revalidar aquele
velho discurso da primazia do “interesse nacional” sobre os interesses particulares e também a
velha dicotomia do “Nós” contra “Eles”.
Acreditamos que, em se tratando da guerra ao terror levada a cabo pelos EUA, não se
trata de proteger o american way of life contra a ameaça de algum grupo de maometanos
fanáticos, mas antes de protegê-lo contra aquilo que poderia de fato vir a destruí-lo: a
dissolução dos fantasmas criados em substituição ao fundamento divino, quais sejam, o
consumismo, a crença no welfare state e na democracia liberal.
22
ŽIŽEK, Slavoj. Op. cit. p. 67. Citado por FERRAZ Maria C. Franco. “Terrorismo: “nós”, o “inimigo” e o “outro”. In:
PASSETI, Edson; OLIVEIRA, Salete (Org.). Terrorismos. São Paulo: EDUC, 2006, p. 37-55. Aqui, p. 38.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
268
Diante do que foi visto, não se poderia então considerar que ambas as formas de
violência — tanto os ataques suicidas perpetrados por fundamentalistas islâmicos como
também o terrorismo de Estado direcionado contra as alegadas fontes dos ataques terroristas
ao World Trade Center — seriam motivadas pela mesma aspiração, a saber, a vontade do
niilista incompleto que precisa e quer continuar agarrado, custe o que custar, a uma instância
superior que lhe conceda sentido para a vida e justifique seu sofrimento?
A despeito de Nietzsche não haver teorizado diretamente sobre o fundamentalismo
nem tampouco sobre o terrorismo, acreditamos que a perspectiva inaugurada pelas suas
reflexões sobre o niilismo e a grande política constitui-se num panorama interpretativo
extremamente valioso e que em muito pode contribuir para uma melhor consideração sobre
esta terrível associação hodierna entre fundamentalismos e terrorismos.
BIBLIOGRAFIA
ARALDI, Clademir. Niilismo, Criação, Aniquilamento. Nietzsche e a filosofia dos extremos. São
Paulo: Discurso editorial; Ijuí, RS: Ed. Unijuí, 2004. (Coleção Sendas e Veredas).
FERRAZ, Maria C. Franco. “Terrorismo: “nós”, o “inimigo” e o “outro”. In: PASSETI, Edson;
OLIVEIRA, Salete (Org.). Terrorismos. São Paulo: EDUC, 2006, p. 37-55.
GIACOIA, Oswaldo. “Terrorismo e fundamentalismo: faces do niilismo” In: PASSETI, Edson;
OLIVEIRA, Salete (Org.). Terrorismos. São Paulo: EDUC, 2006, p. 81-93.
GIACOIA, Oswaldo. Nietzsche como psicólogo. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2004.
KUHN, Elisabeth. “Nietzsches Quelle des Nihilismus-Begriffs”. In: Nietzsche-Studien.
Internationales Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung. Berlim, Walter de Gruyter: 1984, p. 253278. Vol 13.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
269
KUHN, Elisabeth. Friedrich Nietzsches Philosophie des europäischen Nihilismus. Berlim: Walter
de Gruyter, 1992. (Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung, vol 25).
MUNIR, Muhammad. “Suicide attacks and Islamic law”. In: International Review of the Red
Cross. Vol. 90, N° 869 (Março de 2008), p. 71-89. Disponível em
http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/review-869-p71/$File/irrc-869_Munir.pdf
NIETZSCHE, F. Kritische Studienausgabe (KSA). Org. Giorgio Colli e Mazzino Montinari. Berlin;
New York: Walter de Gruyter, 1980. 15 Vol.
OTTMANN, Henning (Hrsg.) Nietzsche-Handbuch: Leben, Werk, Wirkung. Stuttgart; Weimar:
Metzler, 2000.
OTTMANN, Henning. Philosophie und Politik bei Nietzsche. Berlin: Walter de Gruyter, 1999.
PELBART, Peter Pál. “Niilismo e terrorismo: ensaio sobre a vida besta” In: PASSETI, Edson;
OLIVEIRA, Salete (Org.). Terrorismos. São Paulo: EDUC, 2006, p. 57-80.
TÜRCKE, Christoph. Fundamentalismus — maskierter Nihilismus. Springe: zu Klampen Verlag,
2003.
TURGUÊNIEV, Ivan. Pais e Filhos. Trad. Rubens Figueiredo. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.
VIESENTEINER, Jorge L. A Grande Política em Nietzsche. São Paulo: Annablume, 2006.
VOLPI, Franco. O Niilismo. São Paulo: Loyola, 1999.
ŽIŽEK, Slavoj. Bem-vindo ao deserto do Real!: cinco ensaios sobre o 11 de Setembro e datas
relacionadas. Trad. Paulo Cezar Castanheira. São Paulo: Boitempo, 2003.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
270
A alma em Voltaire
Julio Cezar Lazzari Junior*
RESUMO
O presente trabalho pretende tratar da questão da alma em Voltaire, importante filósofo do
século XVIII. Este resumo sobre a alma na visão do filósofo se refere a um capítulo da
dissertação cujo tema é “A religião racionalista de Voltaire”. Antes de adentrar propriamente
na questão da alma em Voltaire, apresentaremos dois pontos de vista antagônicos sobre o
assunto, o dualismo da substância e a visão materialista. O objetivo é situarmos Voltaire dentro
dos debates que existiam em sua época, demonstrando os pontos de vista mais importantes
sobre a questão. Para isso, usaremos os exemplos de René Descartes, para a visão dualista, e de
Jean Meslier e de Denis Diderot, para a visão materialista. A seguir, veremos como Voltaire
problematiza e critica a visão dualista, na seguinte ordem: 1. Rejeitando a concepção das ideias
inatas. Aqui Voltaire bebe na fonte de Locke para criticar a visão de que o homem tem ideias
inatas e rejeita também a tradição platônica sobre a questão; 2. Criticando a ideia da
manutenção dos cinco sentidos e da identidade após a morte biológica. O filósofo critica e
ironiza a posição que defende que há uma substância espiritual que se mantém após o corpo se
desfazer; 3. Destacando a suposta falta de evidências físicas sobre a autonomia da alma em
relação ao corpo, demonstrando que são os elementos materiais que governam as ações
humanas. Ao final, demonstraremos como Voltaire, apesar de suas críticas à visão dualista,
suspende o juízo sobre a questão em suas obras do final de sua vida, até mesmo
problematizando argumentos que ele mesmo tinha defendido.
PALAVRAS-CHAVE: Alma, materialismo, dualismo.
*
Aluno do Mestrado em Filosofia da Universidade São Judas Tadeu. E-mail: [email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
271
Introdução
A questão sobre a existência da alma e sua provável sobrevivência após a morte é uma
das mais importantes da história da filosofia e não deixa de aparecer nas obras de Voltaire, um
dos pensadores mais relevantes e influentes do século XVIII. Neste trabalho, usaremos as
seguintes obras do nosso filósofo para tratar da questão: Cartas inglesas (1733), Tratado de
metafísica (1736), Dicionário filosófico (1764), O filósofo ignorante (1766) e o conto A história
de Jenni (1775). Estas obras são suficientes para entendermos os principais argumentos de
Voltaire contra a existência de uma alma espiritual, os problemas desta concepção, bem como
a inquietação do filósofo com o assunto. Enquanto das quatro primeiras extrairemos os textos
em que o filósofo problematiza a existência de uma substância espiritual, da última buscaremos
citações onde o autor de Cândido suspende o seu juízo sobre o assunto.
Para compreendermos melhor as ideias de Voltaire dentro do seu contexto histórico,
apresentamos, de modo bastante introdutório, dois pontos de vista contrários sobre a questão
da existência da alma em relevantes filósofos do período: o dualismo da substância e o
materialismo. Para a primeira concepção, citamos algumas referências de René Descartes,
filósofo do século XVII, mas bastante citado no século XVIII, em duas obras: As paixões da alma
e Meditações metafísicas. Do lado dualista, trabalharemos com Jean Meslier, padre ateu que
teve uma obra divulgada por Voltaire, com as devidas alterações, que viveu nos séculos XVII e
XVIII. O texto trabalhado será Memória: Excertos. Citaremos também, representando
igualmente a tradição materialista do século XVIII, Denis Diderot, também um dos mais
importantes pensadores do período. Usaremos as seguintes obras: Diálogo entre D'Alembert e
Diderot e O sonho de D'Alembert.
Assim, com estas obras teremos condições de analisar, ainda que, pelo espaço deste
trabalho, de maneira sumária, como Voltaire debate a questão da existência da alma, como a
problematiza e como o assunto esteve presente em praticamente toda a sua vida.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
272
Descartes, Jean Meslier e Diderot
Para entendermos como estava o debate sobre a alma na filosofia da época de Voltaire,
buscaremos colocar dois pontos de vista diferentes: o dualismo da substância e o materialismo.
René Descartes representa bem a primeira ideia, sendo bastante combatido pelos filósofos do
século XVIII, e Jean Meslier e Diderot representam bem a segunda, já que Meslier exerceu
influência sobre Voltaire e Diderot é um dos filósofos materialistas mais importantes do
período.
Vejamos uma citação de Descartes:
As percepções que relacionamos somente com a alma são aquelas cujos
efeitos sentimos como estando na própria alma, e das quais habitualmente
não conhecemos uma causa próxima à qual possamos atribuí-las. Tais são os
sentimentos de alegria, de cólera e outros semelhantes, que às vezes são
excitados em nós pelos objetos que movem nossos nervos e às vezes também
por outras causas. (DESCARTES, 1998, p. 45).
Talvez este raciocínio seja semelhante ao seguinte exemplo que nos ajuda a entender
melhor o filósofo: Sinto que meu estômago digere, portanto, digerir é algo que deve ser
atribuído ao corpo, que detém o estômago, o qual, por sua vez, é material. Por outro lado, não
sinto um órgão que se relacione à minha tristeza, portanto, a tristeza tem relação com a alma.
Percebo que a dor é causada, por exemplo, por um objeto que se choca com o meu corpo. Veja
que é perfeitamente natural conceber a dor tendo relação somente com o corpo, sem a
necessidade de uma substância espiritual para explicá-la. Já a alegria não pode ser explicada da
mesma forma, pois ela não é material, não tem extensão, não está em parte alguma do meu
corpo, por isso não pode ser explicada materialmente. Aquilo que acontece e que não
conseguimos buscar uma causa física, tem relação com a alma.
Descartes também entendia que o espírito nos transmitia informações mais seguras do
que os sentidos, como se fosse superior a eles. Eis a citação que demonstra esta afirmação: “...
conhecemos os corpos apenas pela faculdade de entender que está em nós, e não pela
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
273
imaginação nem pelos sentidos, e que não os conhecemos pelo fato de os vermos, ou de os
tocarmos, mas somente pelo fato de os concebermos pelo pensamento...” (DESCARTES, 2000,
pp. 54-55). Eis uma frase que causaria grande rejeição no século XVIII por parte dos filósofos
empiristas. Para Descartes, é o pensamento, que seria um atributo do espírito, que faz o
homem conhecer a matéria, isto é, outro corpo. Ele afirma que, ao ver homens de uma janela,
pelos olhos (empirismo) só enxergava chapéus, devido à distância, e só sabia que eram
homens, não homens fictícios, pela capacidade de julgar no espírito, não pelos olhos (Cf.
DESCARTES, 2000, p. 52). Talvez um filósofo empirista responderia a Descartes que, antes dele
julgar que eram homens de verdade, seus sentidos lhe deram experiências semelhantes, como,
por exemplo, ver um objeto diminuir de tamanho conforme ele se distanciava do mesmo. E, por
este mesmo sentido, a visão, ele tinha visto que lá embaixo, quando estava próximo a elas,
andavam pessoas e, associando isto à experiência anterior de já ter visto, inúmeras vezes,
objetos distantes “diminuírem” de tamanho conforme se distancia deles, soube, quando estava
distante, que aqueles chapéus que ele contemplava lá do alto de sua janela não eram homens
fictícios, mas homens de verdade. Provavelmente porque ele nunca tinha visto homens fictícios
andarem na rua. Talvez por isso este argumento, que provaria que o espírito é mais digno de
confiança na produção do conhecimento do que os sentidos, não impressionaria os
materialistas do século XVIII.
Jean Meslier, por outro lado, foi um padre que viveu nos séculos XVII e XVIII, cujos
escritos, divulgados após sua morte, revelaram que o sacerdote católico não só era
materialista, como também ateu (Cf. SOUZA, 1983, p. 46). Voltaire teve contato com a obra de
Meslier, mas a divulgou apenas o que lhe interessava, omitindo que o padre era materialista,
ateu e comunista (Cf. PIVA, 2006, p. 112).
Os males da vida, a injustiça, o sofrimento humano foram alguns dos motivos para que
Meslier negasse a existência e bondade de um Ser supremo (Cf. MESLIER, 2003, p. 76). O nosso
padre também atacou as injustiças sociais, defendendo um certo tipo de comunismo (Cf.
MESLIER, 2003, p. 67), chegando mesmo a ver no modelo bíblico da Igreja primitiva um modelo
importante (Cf. PIVA, 2006, p. 232). E quanto ao materialismo, Meslier usou o paralelo
homem/animal, bastante empregado no século XVIII, com o intuito de negar a existência da
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
274
alma humana (Cf. MESLIER, 2003, p. 92). Ou seja, o padre busca demonstrar que os animais
têm os mesmos órgãos e sentimentos que os homens e não haveria fundamento em atribuir
essas características a uma alma no homem e negá-la nos animais. Voltaire também utilizou
este argumento, como veremos a seguir. Quanto à natureza, Meslier, embora reconheça sua
beleza e perfeição, negou que ela aponte para a existência de Deus (Cf. MESLIER, 2003, p. 99).
Diderot, também materialista, defendeu que não há necessidade de se crer numa
substância espiritual para explicar certas funções do corpo humano. Todo o processo de
formação do ser vivo, bem como seu desenvolvimento, envolveria apenas processos materiais
(Cf. DIDEROT, 1985a, p. 87). Mesmo uma simples ave teria sentimentos e seu processo de
nascimento, crescimento e desenvolvimento também seria explicado materialmente (Cf.
DIDEROT, 1985a, p. 89). Atribuir à existência de uma substância espiritual o que pode ser
explicado materialmente seria negar o que é lógico (Cf. DIDEROT, 1985a, p. 90). Tanto homens
como animais e aves são feitos da mesma substância, matéria, e a diferença entre eles não está
em uma alma espiritual, mas na forma como estão organizados (Cf. DIDEROT, 1985a, p. 90).
Com sua visão materialista Diderot chegou até mesmo a antecipar certos aspectos da teoria da
evolução, defendendo a ideia de que os nossos órgãos são formados segundo a necessidade e
que o nosso corpo pode sofrer mudanças conforme executamos e repetimos determinados
movimentos (Cf. DIDEROT, 1985b, p. 102). Até mesmo as espécies animais como estados
absolutos e imutáveis foram questionados pelo filósofo, considerando que o homem não sabe
o que os animais eram e não sabe o que eles podem se tornar (Cf. DIDEROT, 1985a, p. 87).
A questão da alma em Voltaire
As discussões sobre a alma em Voltaire passam sempre por problematizações que o
filósofo coloca à idéia do dualismo da substância, sempre criando dificuldades para a
concepção de que o homem é possuidor de uma parte espiritual.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
275
Um dos argumentos do autor de Cândido é sobre como se daria a manutenção dos
sentidos do homem após a morte. Na visão dualista, o homem morre, mas continua a existir, já
que sua substância espiritual seria imortal. Voltaire se pergunta como a alma ouvirá sem
orelhas, cheirará sem nariz, apalpará sem mãos (VOLTAIRE, 1978c, p. 91), ou seja, como
continuará a sentir sem os sentidos. Se as ideias viriam pelos sentidos, como a alma continuará
a ter ideias depois da morte, sem possuir os sentidos que existem no corpo? (Cf. VOLTAIRE,
1978b, p. 74). Para o filósofo, “a razão humana é tão incapaz de demonstrar por si mesma a
imortalidade da alma, que a religião viu-se forçada a revelá-la para nós.” (VOLTAIRE, 1978a, p.
22).
Voltaire também questiona a suposta autonomia que a alma teria em relação ao corpo.
O filósofo diz o seguinte:
Chegados aqui, dizei-me de boa fé: essa força, essa capacidade de sentir e de
pensar, é a mesma que vos faz digerir e andar? Confessais que não, porque a
vossa inteligência pode cansar-se e ordenar ao estômago: Digere!, que ele
nada fará se estiver doente; é em vão que o vosso ser imaterial mandaria aos
pés que caminhassem, porque não darão um passo se sofrerem de gota.
(VOLTAIRE, 1978c, p. 90).
Essa capacidade, citada no texto acima, seria uma alma responsável pelo pensamento, a
qual também controlaria toda a vida humana, todas as funções biológicas. Voltaire acha tal
ideia frágil, partindo do princípio de que, se um membro do corpo estiver doente e não
funcionar enquanto não estiver são, onde apareceria tal alma supostamente autônoma que
coordena o corpo físico? Como o corpo teria uma alma independente se não consegue andar
com uma perna quebrada? Como haveria uma substância imaterial e superior ao corpo se ela
não consegue fazer com que uma pessoa tenha vida se o seu coração não estiver batendo?
Outro argumento de Voltaire contra a dualidade substancial da natureza humana é
aquele que busca provar a unidade do corpo, mesmo nas funções materiais mais comuns, como
comer, e a capacidade aparentemente menos material, a de pensar. Assim ele se expressa em
O filósofo ignorante:
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
276
Vi uma diferença tão grande entre os pensamentos e a alimentação (sendo
que sem esta eu nunca pensaria) que acreditei haver em mim uma substância
que raciocinava e uma outra que digeria. Entretanto, buscando sempre provar
a mim mesmo que não sou dois, senti grosseiramente que sou um só.
(VOLTAIRE, 1978d, p. 300).
Podemos entender que, partindo do princípio de que sem alimento eu não penso, pois
sem comer eu morrerei e o meu corpo não conseguirá funcionar direito com fome, e assim não
poderei pensar, como então haveria uma alma espiritual por trás de tudo isso? Se a alma é
responsável pelo pensamento, então por que seria necessário o alimento, algo material, para
algo espiritual, a alma, produzir os seus efeitos, no caso, o pensamento? Analisando a
conseqüência do raciocínio de Voltaire, se o homem tivesse uma alma espiritual, o cérebro
deveria produzir pensamentos mesmo se o homem estivesse doente, sem comer, sem beber ou
até se lhe cortassem a cabeça.
O filósofo também utiliza o argumento do paralelo entre o homem e o animal para
demonstrar que o primeiro não é privilegiado em relação ao segundo como possuidor de uma
substância espiritual. A mesma causa que age nos homens age nos animais, ou seja, há um
princípio vital comum entre ambos, que seria, nas palavras do filósofo, “um atributo dado por
Deus à matéria.” (VOLTAIRE, 1978b, p. 73). Os animais possuem nervos como os homens e seria
uma grande tolice negar que eles têm sentimentos (Cf. VOLTAIRE, 1978c, p. 97). No dizer de
Maria das Graças de Souza, “a partir desta observação, existem duas possibilidades coerentes:
ou atribuímos também aos animais uma alma ou a recusamos ao homem”. (SOUZA, 1983, p.
22). O filósofo preferiu a segunda opção.
Embora Voltaire tenha utilizado argumentos contra a existência de uma substância
espiritual dentro do homem, ao final de sua vida ele suspendeu o juízo sobre a questão. Desde
as Cartas inglesas, de 1733, até O filósofo ignorante, de 1766, vimos o filósofo problematizando
a ideia da existência de uma alma espiritual, mas em seu conto A história de Jenni, de 1775, três
anos antes de sua morte, o autor de Cândido recuou um pouco. Neste conto, o personagem
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
277
que representa um sábio trabalha com a possibilidade de Deus punir o homem após a morte
(Cf. VOLTAIRE, 2005, p. 673), demonstrando que é mesmo impossível provar que a alma não
pode sobreviver à morte se Deus assim o quiser (Cf. VOLTAIRE, 2005, p. 674).
Conclusão
Voltaire rejeitou, como vimos, a visão dualista, bem representada por René Descartes, e
usou argumentos materialistas de sua época, como os de Jean Meslier e de Denis Diderot. Ao
longo de sua vida o filósofo buscou problematizar a idéia do dualismo da substância, sempre
impondo dificuldades a quem assim enxergava a natureza humana. O fato de o tema aparecer
em um número razoável de obras de Voltaire, escritas com um bom intervalo de tempo,
demonstra que a questão o inquietava bastante. Todavia, ao findar de sua vida, o autor de
Cândido teve uma mudança de postura, não defendendo abertamente a imortalidade da alma,
mas abrindo a possibilidade para a sua sobrevivência após a morte.
Bibliografia
DESCARTES, René. As paixões da alma. Trad. Rosemary Costerek Abílio. 1. ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1998
______. Meditações metafísicas. Trad. Maria Ermantina Galvão. 1. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2000
DIDEROT, Denis. Diálogo entre D'Alembert e Diderot. Trad. J. Guinsburg. In: Os pensadores. 2.
ed. São Paulo: Abril Cultural, 1985a, pp. 83-92
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
278
______. O sonho de D'Alembert. Trad. J. Guinsburg. In: Os pensadores. 2. ed. São Paulo: Abril
Cultural, 1985b, pp. 93-121
MESLIER, Jean. Memória: Excertos. Trad. Luis Leitão. Lisboa: Edições Antígona, 2003
PIVA, Paulo Jonas de Lima. Ateísmo e revolta: os manuscritos do padre Jean Meslier. São Paulo:
Alameda, 2006
SOUZA, Maria das Graças de. Voltaire e o materialismo do século XVIII. 1983. Dissertação
(Mestrado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São
Paulo
VOLTAIRE. Cartas inglesas. Trad. Marilena de Souza Chauí, Bruno da Ponte e João Lopes Alves.
In: Os pensadores. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978a, p. 1-57
______. Tratado de metafísica. Trad. Marilena de Souza Chauí, Bruno da Ponte e João Lopes
Alves. In: Os pensadores. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978b, p. 59-83
______. Dicionário filosófico. Trad. Marilena de Souza Chauí, Bruno da Ponte e João Lopes
Alves. In: Os pensadores. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978c, p. 85-295
______. O filósofo ignorante. Trad. Marilena de Souza Chauí, Bruno da Ponte e João Lopes
Alves. In: Os pensadores. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978d, p. 297-328
______. História de Jenni ou o ateu e o sábio. Trad. Mário Quintana. In: Contos e novelas. São
Paulo: Globo, 2005, p. 625-678
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
279
O modelo reticulado e as estratégias de pesquisa: sobre o papel dos valores
cognitivos na atividade científica e a perspectiva de uma epistemologia
engajada
Kelly Ichitani Koide*
RESUMO
Pretendo apresentar uma análise comparativa entre dois modelos de atividade científica, no
que concerne à sua dinâmica para atingir os fins desta atividade. O modelo reticulado, proposto
por Larry Laudan (Science and values, 1984), oferece uma interpretação da ciência como sendo
um domínio apenas de valores cognitivos. Hugh Lacey, por outro lado, propõe um modelo
baseado em estratégias de pesquisa (Valores e atividade científica, 1998), no qual a
investigação de fenômenos que possuam significância nas vidas humanas é considerada
juntamente com os interesses cognitivos das pesquisas. Nesta análise, veremos que ambos os
modelos admitem a adoção de uma pluralidade de métodos para realizar as metas cognitivas
da ciência, articulando métodos ou estratégias e metas. Pretendo também propor uma
articulação entre ambos os modelos, a fim de compreender as inter-relações entre os
diferentes momentos das práticas científicas, a saber, a adoção de uma estratégia, a avaliação
de teorias, as aplicações das teorias e os objetivos. Veremos que esta articulação nos permitirá
uma análise do papel dos valores cognitivos e não-cognitivos. Por um lado, veremos o papel dos
valores cognitivos na avaliação e na aceitação das teorias, sendo este um momento em que
apenas este tipo de valor possui um papel legítimo. No momento em que as teorias são
avaliadas em termos de sua aceitabilidade cognitiva, não deve haver nenhuma interferência de
fatores sociais, a fim de garantir a imparcialidade das teorias. Por outro lado, os valores sociais
e éticos devem ser considerados no momento da escolha das estratégias de pesquisa e das
aplicações das teorias corretamente aceitas, na medida em que também fazem parte da
axiologia da ciência. Deste modo, será possível considerarmos a possibilidade de uma
epistemologia engajada, já que as responsabilidades éticas e sociais dos cientistas devem ser
consideradas juntamente com os interesses da sociedade, a fim de transformá-la.
PALAVRAS-CHAVE: valores cognitivos, valores sociais, estratégias de pesquisa, legitimidade,
objetivos da ciência.
*
Doutoranda na Universidade de São Paulo. E-mail: [email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
280
O modelo de Hugh Lacey, baseado na noção de estratégias de pesquisa (Lacey, 1998,
2005 [1999], 2010), permite uma análise do papel dos valores sociais e éticos adotados nas
pesquisas científicas, que se manifestam no momento da adoção de uma estratégia e na
aplicação de teorias. A partir de uma articulação entre este modelo e o reticulado, de Larry
Laudan, pretendemos analisar em que medida os valores não-cognitivos podem contribuir para
a racionalidade da ciência. A avaliação de riscos materiais e sociais de determinadas aplicações
(Lacey, 2008; Molina, 2008) é uma ocasião em que os valores sociais podem contribuir para o
empreendimento de mais investigações empíricas. Isso porque as aplicações de teorias na vida
social prática deveriam envolver a adoção do princípio de precaução (Lacey, 2006b),
considerando o adiamento de implementações tecnocientíficas e avaliando a sua legitimidade –
e não apenas a sua eficácia. Ademais, a idéia de um desenvolvimento ou progresso da ciência
que proporcione uma distribuição mais equitativa da ciência e, desta maneira, manifeste o
valor da neutralidade aplicada em maior grau (Lacey, 1998; 2010), é importante em três
aspectos. Primeiramente, porque o progresso não é neutro, pois é sempre na direção de alguns
valores cognitivos e não-cognitivos, e não todos. A fim de que mais valores cognitivos sejam
manifestados nas investigações científicas, diferentes estratégias devem ser desenvolvidas, de
modo a gerar um maior entendimento dos fenômenos. Em segundo lugar, uma pluralidade de
estratégias também é necessária para que mais valores sociais sejam satisfeitos nas aplicações
das teorias bem confirmadas. Por fim, os valores sociais são importantes em um debate acerca
da legitimidade dos produtos teóricos da ciência.
Em minha dissertação de mestrado (Koide, 2011), realizei uma comparação entre a
dinâmica interna dos modelos de atividade científica de Lacey e de Laudan, notadamente no
que tange à avaliação do progresso. Enquanto o modelo reticulado avalia o progresso em
direção à realização de metas cognitivas da ciência (Laudan, 1984; 1987), o modelo de Lacey
concebe o progresso em direção de metas cognitivas e sociais (Lacey, 1998; 2006a; 2010). Além
disso, o modelo de Lacey abrange outros momentos da atividade científica além daqueles do
modelo reticulado. De acordo com este autor, os cientistas possuem ou adotam perspectivas
de valores cognitivos e sociais, que são refletidos no momento da adoção de uma estratégia de
pesquisa. Estes valores também possuem um papel na aplicação dos conhecimentos científicos,
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
281
já que é preciso avaliar a significância da aplicação de teorias, isto é, quantas perspectivas de
valor uma aplicação satisfaz. Apesar das diferenças entre estes modelos, o modelo reticulado
de Laudan pode ser entendido como um momento ou uma parte de um modelo mais amplo, a
saber, o modelo proposto por Lacey. Ademais, a dinâmica interna de ambos os modelos pode
ser compreendida em termos semelhantes, mais especificamente, como uma reticulação. Em
Science and values (Laudan, 1984), Laudan apresenta seu modelo, no qual os níveis teórico,
metodológico e axiológico ajustam-se contínua e mutuamente, sendo reticulado na medida em
que um ajuste em um dos níveis do modelo implica em uma modificação no outro. Entendido a
partir de uma dinâmica interna reticulada, o progresso, no modelo de Lacey, se mostra análogo
ao modelo reticulado. Isto pode ser afirmado na medida em que se trata de um progresso local,
e não em direção a todas as metas possíveis. Afinal, o progresso, no modelo de Lacey, não é
neutro; ele sempre satisfaz a algumas perspectivas de valor, tanto cognitivas quanto sociais – e
não a todas.
Laudan admite que os valores sociais e éticos possuem algum papel na atividade
científica (Laudan, 2004), embora não especifique de que maneira estes valores poderiam
interagir nesta atividade. A despeito das alegações de Laudan de que não pode haver um
debate racional acerca de valores não-cognitivos e de que estes valores não contribuem de
nenhuma maneira para tornar a ciência mais racional, o modelo desenvolvido por Lacey
permite questionar estas afirmações. Afinal, a adoção de estratégias de pesquisa envolve uma
interação dialética tanto com valores cognitivos quanto com valores não-cognitivos, refletindo
os interesses intelectuais e sociais dos cientistas em investigar certas possibilidades dos
fenômenos (Lacey, 1998; 2005 [1999]; 2008a; 2010). Além disso, as aplicações de teorias
corretamente aceitas são feitas em vista da satisfação de determinados valores sociais e
interesses, em detrimento de outros. Portanto, as aplicações das teorias não são neutras, e o
próprio objeto da investigação não pode ser considerado neutro, já que as diferentes
estratégias investigam apenas certos aspectos destes objetos e encapsulam apenas algumas de
suas possibilidades.
Contudo, Lacey preserva o momento de avaliação de teorias como um âmbito restrito
aos valores cognitivos, conforme as teses do valor da imparcialidade (Lacey, 2005 [1999], p.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
282
230) deixam claro. Afinal, a intenção deste autor não é defender a idéia de uma ciência na qual
as teorias sejam totalmente constituídas pelas relações sociais dos cientistas e das instituições
de pesquisa. Na verdade, Lacey elabora um modelo que permite
examinar criticamente a interação entre os fatores cognitivos e sociais na
atividade científica e, particularmente, tornar-se atento aos mecanismos por
meio dos quais os fatores sociais possam veladamente (e impropriamente)
misturar-se a fatores cognitivos na execução de juízos teóricos (Lacey, 1998, p.
139).
Deste modo, as teorias são apenas parcialmente constituídas por interações sociais
(Lacey, 2008a), dado que há um primeiro processo de seleção efetuado pelas estratégias, que
refletem valores sociais. As teorias corretamente aceitas não são, portanto, dependentes do
contexto em que são aceitas, já que elas são avaliadas apenas à luz de valores cognitivos – e
neste sentido o modelo de Lacey se assemelha ao modelo reticulado. Todavia, ao identificar
papéis legítimos para valores não-cognitivos na adoção de uma estratégia e nas aplicações de
produtos teóricos, constatamos que Lacey mostra a possibilidade de uma análise da atividade
científica em que há um debate racional acerca de quais são ou devem ser as metas nãocognitivas desta atividade. Afinal, não se trata de meras escolhas arbitrárias ou convenções,
mas dos valores sociais que os cientistas acreditam ser constitutivos de uma “boa” sociedade
(Lacey, 2003). De acordo com Lacey, é possível realizar ações que promovam uma aproximação
destes fins, de modo que a adoção de valores sociais, da maneira concebida por Lacey, nada
tem de arbitrária ou irracional, como pensa Laudan sobre esta questão. Ademais, uma análise
da legitimidade das aplicações evidencia que os valores não-cognitivos podem contribuir para
tornar a ciência mais racional. Ora, em debates acerca da legitimidade de aplicações dos
produtos teóricos da ciência, há a exigência de um engajamento em mais pesquisa empírica, a
fim de obter uma melhor sustentação das alegações de legitimidade e da ausência de
alternativas nas aplicações, de modo que as avaliações à luz de valores não-cognitivos poderão
sustentar ou desestabilizar estratégias que refletem certas perspectivas de valor cognitivo e
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
283
social. Assim, vemos que a exigência destes debates na ciência salienta o caráter engajado da
epistemologia de Lacey, ao qual Oliveira (2000) se refere. Trata-se, a nosso ver, de manter uma
perspectiva de transformação da sociedade, a partir da atividade científica, através da adoção
de valores éticos e sociais que contribuam para um desenvolvimento autêntico da sociedade 1,
tal que as aplicações das teorias contribuam para o florescimento humano. Uma vez que uma
análise das contribuições para o florescimento humano depende dos contextos sociais,
históricos e ecológicos, também se faz necessário um exame da significância das aplicações na
vida humana. Portanto, segundo o autor, a significância, isto é, a aplicabilidade de uma teoria
nas vidas e experiências humanas, também faz parte de um debate racional na ciência, pois
certas aplicações eficazes nem sempre constituem a melhor alternativa em contextos
específicos.
Os modelos de atividade científica de Laudan e de Lacey nos permitem tecer
interessantes comparações acerca da dinâmica interna dos modelos para explicar o progresso
nesta atividade. No modelo reticulado, o progresso é sempre relativo a um certo conjunto de
valores cognitivos. Isso porque os conjuntos de valores adotados pelos cientistas variaram ao
longo da história da ciência, de modo que o progresso, neste modelo, deve ser sempre
analisado em termos comparativos, em relação a outros reticulados. Laudan ressalta também
que existe uma diferença entre racionalidade e confiabilidade metodológica (Laudan, 1987, p.
23). A primeira diz respeito às metas cognitivas adotadas pelos cientistas em um determinado
momento e às decisões metodológicas por eles empreendidas para selecionar teorias que
manifestem estes valores. Entendida desta maneira, a racionalidade restringe-se a uma
estrutura reticulada específica, na qual os cientistas promovem alguns valores cognitivos. Este
tipo de análise permite evitar avaliações anacrônicas da racionalidade dos cientistas, na medida
em que os valores cognitivos de um determinado grupo de cientistas podem não ser os
mesmos de outros grupos, e isto não implica em uma atitude irracional em nenhum deles. Com
relação à confiabilidade metodológica, trata-se de uma análise diacrônica dos métodos. Deste
modo, ainda que as práticas de certos cientistas sejam racionais, no sentido de que elas
1
Lacey distingue dois tipos de desenvolvimento vinculados à ciência: o desenvolvimento modernizador e o
desenvolvimento autêntico, que detalharemos mais adiante.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
284
permitem promover o progresso em relação às suas metas cognitivas, essas práticas podem
resultar em teorias e métodos menos confiáveis do que aqueles de uma comunidade científica
atual. Assim, os métodos, para Laudan, podem ser compreendidos como imperativos
hipotéticos, pois, por um lado, devem realizar os valores cognitivos na seleção de teorias que
manifestem estes valores e, por outro, devem mostrar-se empiricamente capazes de promover
um progresso cognitivo. E, caso os métodos não se mostrem adequados para este fim, devem
ser substituídos ou ajustados.
O modelo de Lacey também pode ser entendido em termos de uma dinâmica interna
reticulada (Koide, 2011), semelhante àquela do modelo de Laudan. As estratégias de pesquisa,
como vimos, possuem interações dialéticas com valores cognitivos e sociais, de modo que as
possibilidades dos fenômenos são encapsuladas nas teorias construídas e consolidadas sob
essas estratégias. Logo, a realização de certos valores está diretamente vinculada às
estratégias, na medida em que “teorias construídas por intermédio de diferentes estratégias
são incompatíveis porque as suas respectivas estratégias também são incompatíveis. A
incomensurabilidade decorre de práticas incompatíveis” (Lacey, 1998, p. 25). Além disso, de
acordo com o modelo de Lacey, as teorias, em muitos casos, resultam em aplicações na vida
social prática, e estas aplicações devem encontrar uma justificação nos valores sociais.
Simultaneamente, as aplicações têm significância para certas perspectivas de valores nãocognitivos, de modo que aquelas exibem a possibilidade de realização destes valores. Ora, se as
aplicações não realizarem os valores não-cognitivos almejados, isto constitui uma razão para
substituir a estratégia adotada – o que, a nosso ver, pode ser entendido como uma dinâmica
reticulada.
Analisaremos, por ora, a idéia de que o progresso não é neutro em relação às metas
não-cognitivas – o que não pode ser feito a partir do modelo reticulado. Lacey identifica dois
tipos de progresso ou desenvolvimento possíveis nas práticas científicas, que consistem na
transformação de uma condição social presente. O primeiro deles é o “desenvolvimento
modernizador” (Lacey, 1998, p. 149-50; 2005 [1999], p. 183), que envolve mudanças no atual
estado
de
desenvolvimento
tecnológico
dos
povos
empobrecidos.
Este
tipo
de
desenvolvimento visa à transformação destas sociedades através do “crescimento econômico,
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
285
industrialização, transferência de tecnologia moderna, integração à economia capitalista
mundial etc.” (Lacey, 1998, p. 150). Portanto, o desenvolvimento modernizador considera os
povos empobrecidos como “subdesenvolvidos”, sendo necessário a eles um desenvolvimento
econômico e tecnológico, a fim de aproximarem-se do nível de desenvolvimento dos países
industriais avançados. O outro tipo de desenvolvimento é o “autêntico”, que almeja mudanças
nas causas do subdesenvolvimento, visando à transformação das condições de opressão e
dependência, a fim de modificar as “várias dimensões de sofrimento vividas pelos pobres”
(Lacey, 1998, p. 150). A transformação buscada neste tipo de desenvolvimento é uma tentativa
de
integrar o crescimento econômico com a reconquista pelos pobres de sua
capacidade humana de agir e com a libertação de suas capacidades de exercer
responsabilidades na determinação das condições que estruturam suas vidas
(Lacey, 1998, p. 150).
Lacey afirma que cada um dos tipos de desenvolvimento envolve compromissos com
valores sociais distintos. Enquanto o desenvolvimento modernizador tem compromissos com
valores do neoliberalismo, do progresso tecnológico, e de capital e mercado (Lacey, 1998, p. 32;
2008b, p. 322), o desenvolvimento autêntico procura promover “valores tais como a
cooperação, a participação ampla, o compromisso com os direitos sociais e econômicos (bem
como direitos civis e políticos), a autoconfiança e o respeito pela natureza” (Lacey, 1998, p.
150). Se o objetivo da ciência for o desenvolvimento modernizador, as estratégias
descontextualizadoras são as mais adequadas para a realização deste fim. O autor afirma que
este tipo de estratégia proporciona um entendimento extensivo, pois procura “os princípios, as
estruturas, processos e leis subjacentes aos fenômenos, princípios com a mais ampla gama de
aplicabilidade ao longo de espaços experimentais, tecnológicos e naturais. [...] Ele almeja ser
um entendimento independente de contexto” (Lacey, 1998, p. 144). No entanto, caso o
objetivo seja o desenvolvimento autêntico, são necessárias estratégias que permitam
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
286
investigações em função de variáveis sociais e humanas, contextualizando as práticas científicas
e sociais. Este tipo de estratégia permite obter um entendimento completo, o qual
procura entender os fenômenos em todas as suas dimensões, aspectos,
concretude e particularidade. Ele leva em conta igualmente 1) as
possibilidades materiais dos espaços e as caracterizações humanas e sociais
das condições de contorno; 2) as consequências humanas, sociais e ecológicas
dos processos dentro dos espaços; e 3) as possibilidades humanas e sociais que
podem estar escondidas neles (Lacey, 1998, p. 144).
Portanto, o progresso, nos dois tipos de desenvolvimento, é em relação a objetivos
divergentes, que não podem ser realizados sob os mesmos tipos de estratégia. É neste sentido
que Lacey afirma que “o progresso não é neutro” (Lacey, 2005 [1999], p. 75), e que “‘progresso’
é um termo impregnado de valor” (Lacey, 1998, p. 13).
Em conclusão, a idéia de progresso na ciência, tanto no modelo reticulado de Laudan
quanto no modelo de Lacey, deve significar um progresso na direção de metas cognitivas, que
pode ser avaliado através do grau de manifestação de valores cognitivos. Para garantir a
manifestação de diferentes conjuntos de valores cognitivos, é necessário, segundo Laudan,
adotar diferentes métodos que, por sua vez, selecionarão diferentes tipos de teorias, que
poderão modificar os valores cognitivos, e assim sucessivamente. Lacey, de maneira
semelhante, sustenta que diferentes estratégias podem promover a manifestação de valores
cognitivos em alto grau. Porém, a diferença principal entre os dois modelos reside em que, no
modelo de Lacey, o objetivo da atividade científica inclui, além de valores cognitivos, valores
sociais, éticos e ecológicos, que devem ser promovidos. A realização destes valores, na ciência,
deve ser avaliada através da significância das teorias aceitas, em termos de sua relevância para
a vida e a experiência humanas. A significância, de acordo com Lacey, só pode ser avaliada à luz
de valores sociais. Além disso, os interesses, refletidos nas múltiplas perspectivas de valor nãocognitivos, só podem ser realizados se houver uma pluralidade de estratégias, a fim de
promover uma maior manifestação da neutralidade aplicada. Afinal, como mencionado, o
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
287
progresso não é neutro; ele satisfaz algumas perspectivas de valor em detrimento de outras, e
não pode realizar simultaneamente todos os valores, tanto cognitivos quanto não-cognitivos.
Apesar de Laudan não incluir os valores sociais em sua análise, este autor também acredita que
diversos métodos são capazes de selecionar diferentes teorias que manifestem valores
cognitivos. Por conseguinte, existem muitas maneiras de promover as metas (cognitivas) da
ciência. Deste modo, a idéia de progresso não-neutro e a possibilidade de admitir diferentes
métodos e valores, respectivamente de Lacey e de Laudan, parecem, num certo sentido,
complementares. Isso pode ser afirmado na medida em que as aspirações da ciência, sendo
elas cognitivas ou sociais, só podem ser realizadas se a investigação científica for conduzida
através de diversos métodos, metas e estratégias. Ademais, a noção de imperativos hipotéticos,
presente no modelo reticulado, também parece estar presente no modelo de Lacey. Afinal,
existem diferentes estratégias de pesquisa possíveis para a realização dos mesmos fins
cognitivos, da mesma maneira que, no modelo reticulado, existem diferentes métodos para
alcançar um mesmo conjunto de valores cognitivos. Caso seja constatado que a estratégia ou o
método em questão não estão promovendo os objetivos desejados, há uma razão empírica
para ajustá-los ou substituí-los. Os modelos também podem ser entendidos como
complementares no sentido da reticulação. O modelo proposto por Laudan possui, como foi
visto, uma dinâmica interna de ajuste mútuo e contínuo entre os três níveis. O modelo
desenvolvido por Lacey também parece apresentar, de acordo com nossa interpretação, uma
dinâmica reticulada, já que (a) as estratégias interagem com os valores cognitivos e nãocognitivos; (b) o âmbito das teorias admissíveis é restrito pelas estratégias, evidenciando as
prioridades não-cognitivas das pesquisas; e, por fim, (c) as aplicações são justificadas por
valores cognitivos e não-cognitivos, de modo que os resultados dessas aplicações fornecerão
justificativa para manter ou substituir as estratégias vigentes. Entretanto, se entendermos o
modelo de Lacey em termos de reticulação, e o modelo de Laudan como um momento do
primeiro, então a análise de Lacey da atividade científica permite uma análise mais abrangente
e mais detalhada para avaliar o progresso nesta atividade, não se restringindo ao progresso
cognitivo.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
288
Referências bibliográficas
KOIDE, K. O papel dos valores cognitivos e não-cognitivos na atividade científica: o modelo
reticulado de Larry Laudan e as estratégias de pesquisa de Hugh Lacey (dissertação de
mestrado apresentada ao Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo). São Paulo,
2011.
LACEY, H. Valores e atividade científica. São Paulo: Discurso Editorial, 1998.
_____. Existe uma distinção relevante entre valores cognitivos e sociais?. Scientiae studia, 1, 2,
p. 121-49, 2003.
_____. Is Science Value Free? Values and scientific understanding. London/New York:
Routledge, 2005 [1999].
_____. A controvérsia sobre os transgênicos: questões científicas e éticas. Aparecida: Idéias &
Letras, 2006a.
_____. O Princípio de precaução e a autonomia da ciência. Scientia Studia 4, 3, p. 373–92,
2006b.
_____. Aspectos cognitivos e sociais das práticas científicas. Scientiae studia, 6, 1, p. 83-96,
2008a.
_____. Ciência, respeito à natureza e bem-estar humano. Scientiae studia, 6, 3, p. 297-327,
2008b.
_____. Valores e atividade científica 2. São Paulo: Associação Filosófica Scientiae Studia/Editora
34, 2010.
LAUDAN, L. Science and values: the aims of science and their role in scientific debate.
Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1984.
_____. Progress or rationality? The prospects for normative naturalism. American philosophical
quarterly, 24, 1, p. 19-31, 1987.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
289
_____. The epistemic, the cognitive and the social. In: MACHAMER, P. & WOLTERS, G. (Ed.).
Science, values and objectivity. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2004. p. 14-23.
MOLINA, F. T. Time is money: optimización, identidad y cultura laboral en la sociedad deseada.
Scientiae studia, 6, 3, p. 389-408, 2008.
OLIVEIRA, M. B. de. A epistemologia engajada de Hugh Lacey II. Manuscrito, 23, 1, p. 185-203,
2000.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
290
O Niilismo da vontade de poder: maquinação e desertificação da terra
Luís Thiago Freire Dantas*
RESUMO
A interpretação de Heidegger acerca dos pensadores apresenta uma ruptura com o modo
recorrente de compreender um específico pensador. Isto se deve em grande parte, porque
Heidegger parte da distinção entre a história (Gesichte) e o historiológico (Histörie). Com isso, o
presente texto procura pensar como a compreensão de Heidegger sobre a vontade de poder
em Nietzsche corresponde a um momento essencial na história do ocidente porque constata o
niilismo enquanto propulsor da crise do fundamento, já que averigua que os valores normativos
estão em decadência. Contudo, procurando afastar de qualquer tipo de interpretação
historiológica, pois, a partir dessa interpretação que Heidegger torna-se a mostra que o niilismo
se configura como fenômeno interno da lógica do Ocidente por sempre procurar a
fundamentação do ente no seu ser. Assim, ao conceito vontade de poder nietzschiano
Heidegger o relaciona como pertencente ao âmbito metafísico sendo incapaz de pensar a
essência do niilismo, e sim o intensifica, já que, na procura da conservação-elevação do próprio
poder através dos entes, modifica-se a concepção de verdade, não mais a certeza do
representar, mas o asseguramento factível do ente pelo cálculo incondicionado da vontade que
Heidegger denomina como Maquinação. Esse termo tem correspondência direta com a
concepção heideggeriana da vontade de poder de Nietzsche, já que na sua predominância a
“era da ausência de sentido” é promovida, ou seja, o âmbito projetivo é fechado ao homem e
como conseqüência ocorre a desertificação da terra, que corresponde ao soterramento do ente
para com todas as possibilidades frente ao ser. Porque, de acordo com Heidegger, a essência do
niilismo corresponde ao abandono do ser diante do ente.
PALAVRAS-CHAVE: niilismo, vontade de poder, Heidegger, Nietzsche, maquinação.
*
Pós-graduando em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Bolsista REUNI. E-mail:
[email protected]..
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
291
O Ocidente na reflexão empreendida por Heidegger se estabelece num dos modos
concernente à distinção entre a História (Gesichte) e a historiologia (Histörie). O primeiro termo
indica os acontecimentos que determinam uma época, enquanto o segundo são os fatos
passados colhidos à mercê do conhecimento presente. Essa distinção se torna crucial porque,
como Heidegger (1996, p.11) escreve na preleção sobre Heráclito, “uma coisa é produzir
historiologicamente uma imagem do passado para o respectivo presente, outra é pensar
historicamente, isto é, experimentar o que foi essencialmente (das Gewesen) como o porvir
(das Künftige) que já está essencializando. Todos os renascimentos historiológicos do passado
não passam de más fachadas para equívocos históricos”.
Todavia, Heidegger adverte que a nossa época é dominada pela historiologia,
impedindo o acontecimento da essência da História, pois impele ao caráter não epocal do
pensamento acerca do ser. Contudo, na medida em que há uma tentativa no pensamento
heideggeriano para superar este estatuto historiológico, o qual não se aplica apenas numa
substituição, mas que a História deve ser tomada pelo pensamento no caráter da historicidade
que se perfaz ao modo daquilo que acontece na nossa época. Contudo, Heidegger explica que
perduramos num tempo em que o ser mesmo já não é mais lembrado, a metafísica caminha
para seu acabamento e o ente se constitui cada vez mais no abandono para com o ser. Com
isso, Heidegger procura propiciar ao pensamento a experiência para com o ser através da
análise dos pensadores, que na compreensão do filósofo foram cruciais para formação do
Ocidente, por exemplo, Heráclito, Parmênides, Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, Nietzsche.
Mas, é notório a “violenta” interpretação que Heidegger realiza acerca dos pensadores
“essenciais” do ocidente, já que procura se afastar do modo habitual e frequente de um
pensador ser interpretado para trazer à tona o que ainda não foi dito, por exemplo, Nietzsche é
pensado como o último pensador metafísico “uma vez que retorna o início do pensamento
grego, assumindo esse início a sua maneira e assim fecha o anel formando o curso do
questionamento sobre o ente como tal na totalidade” (HEIDEGGER, 2007b, p. 362).
Sendo que a compreensão de Heidegger acerca da filosofia nietzschiana perpassa
invariavelmente pela confrontação que Nietzsche realiza acerca do niilismo, já que o estabelece
como crise dos valores no pensamento ocidental. Ainda mais, para Heidegger, o ocidente é
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
292
determinado pelo pensar metafísico por procurar instituir o ente no seu ser, ou seja, provoca o
esquecimento da diferença que há entre o ser e qualquer ente. Dessa forma, a interpretação
heideggeriana do acabamento da metafísica parte do que vem a ser as doutrinas nietzschianas:
vontade de poder e eterno retorno, onde, como Heidegger escreve, o ser se torna uma mera
palavra vazia e sem qualquer referência aos entes. Por isso, a partir do modo como Heidegger
concebe a relação da vontade de poder para com o eterno retorno como variantes explícitos de
que o niilismo não é um fenômeno concernente apenas a nossa contemporaneidade, e sim se
instaura na lógica do ocidente, tomaremos de início explicitar como esses conceitos
nietzschianos comparecem na interpretação realizada por Heidegger, contudo não para
apresentar o pensamento de Nietzsche em sua profundidade, mas como essa interpretação
intensifica a compreensão heideggeriana do fenômeno do niilismo.
II
Heidegger explica que devemos tomar o título “vontade de poder” não de maneira
óbvia, sem maiores explicações, e sim pensá-lo como uma posição metafísica, não somente em
uma de suas fases, mas no interior da essência da metafísica. A partir daí, alcançaremos o
sentido primordial do pensamento nietzschiano sobre o problema do “ser”, o ente na
totalidade, diante do que Heidegger denomina como a metafísica da vontade de poder. Com
isso, ao identificarmos que a vontade de poder exerce uma conformação de domínio situado no
próprio querer, pois o próprio Nietzsche escreve no Assim falou Zaratustra (1999, p.147-148)
que “onde encontrei o vivente, aí encontrei vontade de poder; e mesmo na vontade de servo
encontrei a vontade de ser senhor”, comparece justamente esse querer-ser-senhor consistindo
numa rede de comando que se dispõe claramente nas possibilidades da atuação ativa. Pois, não
ocorre uma supressão do servo, já que este ainda está inserido no próprio querer, mas ele vem
a ser o comandante no momento em que segue essa disposição ao fim de obedecer a si mesmo
através do caráter de comando.
Tanto mais porque, como explica Heidegger, o comandar condiz a uma auto-superação
e não somente um ditar ordens a outros; o que indica a dificuldade maior do comandar do que
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
293
o obedecer; assim, quando o comandante se torna incapaz de obedecer a si mesmo, sua
própria vontade de poder, nesse momento ele já precisa de alguém para comandá-lo. Essa
dificuldade ao que comanda é mais visível pelo fato da vontade sempre aspirar a mais, não
porque esteja ausente, faltando algo que a subsiste, ao contrário, ela aspira mais poder porque
ela já o tem. Por isso, no título “vontade de poder” torna cada vez mais visível que a vontade
quer a si mesma, enquanto comando, na requisição daquilo querido por ela. Assim Heidegger
explica que vontade e poder não tem uma coligação somente na junção vontade de poder, mas
esse título constitui a essência do poder, assinalando a incondicionalidade da vontade que quer
a si mesma enquanto mera vontade. De tal modo, a vontade de poder não pode ser
contraposta a, por exemplo, uma “vontade de nada”, pois o próprio Nietzsche já advertiu que a
vontade prefere querer o nada a nada querer e Heidegger (2003, p. 497) ainda acrescenta, “O
‘nada querer’ não significa de modo algum querer como meta a ausência de tudo o que é real.
Ao contrário, ele visa sim justamente querer o que é real, mas este sempre e em toda a parte
como um nada, e a partir deste querer, a nadificação”.
A partir desse prevalecimento da vontade de poder perante todo o real, Heidegger
acentua para o fato de que a sua essência é o traço fundamental de tudo o que é real no
pensamento de Nietzsche. E na tentativa de ultrapassar o respectivo estágio através da
dominação de si mesmo, esse estágio já tem de estar assegurado e fixado, pois é no
asseguramento do respectivo estágio de poder que se assegura a condição necessária para
elevar poder dentro de um instaurar que visa primordialmente à condição do querer-paraalém-de-si-mesma. Entretanto, se a vontade almeja sempre o dominar de si mesma não
permanecendo imóvel a nenhum estágio, então ela retorna a si enquanto a mesma e como se
dirige ao ente na totalidade, a sua essência se configura através da “vontade de poder” e a sua
existência se refere ao “eterno retorno do mesmo”. Assim, se apresenta nessa condição o que
para Heidegger são as duas expressões fundamentais da metafísica nietzschiana: vontade de
poder e eterno retorno.
Além do que, a interpretação acerca do eterno retorno parte da disposição que pensa
o ente na totalidade de tal modo que os termos desse modo de apreender o ente como aquilo
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
294
que é, configura num elemento fundamental do acabamento da metafísica que Heidegger
(2007d, p. 4) explica do seguinte modo:
O ‘retorno’ pensa a transformação do que vem a ser em algo permanente para
o asseguramento do devir do que vem a ser na duração de seu devir. O ‘eterno’
pensa a transformação dessa constância em algo permanente no sentido da
circulação que volta a si e segue em direção a si. No entanto, o devir não é o
progressivamente outro do múltiplo que se altera infinitamente. O que vem a
ser é o próprio mesmo, isto é, o um e o mesmo (o idêntico) na respectiva
diversidade do outro.
Inclusive porque, na interpretação de Heidegger, o eterno retorno do mesmo é o
modo de o inconstante se tornar presente enquanto tal, com o intuito de que nesse presentarse proporcione a mais elevada dotação de constância visando unicamente determinar a
incessante possibilidade do potencializar-se. A partir daí percebemos mais claramente porque a
“vontade de poder” designa aquilo que o ente é na sua constituição e o “eterno retorno do
mesmo” indica o modo como o ente, dotado dessa constituição, é. Porém, Heidegger (2007a, p.
218) ainda esclarece que, “Porquanto o eterno retorno do mesmo distingue o ente na
totalidade, ele é um caráter fundamental do ser que se mostra como co-pertinente com a
vontade de poder; e isso apesar de o ‘eterno retorno’ denominar um ‘devir’”.
Todavia, com o início da metafísica ocidental compreendendo o ser no sentido
da constância do presentar-se, quer dizer, no se fazer presente, já no seu acabamento
comparece como o mesmo que retorna àquilo que sempre uma vez mais precisa trazer dotação
de constância, ou seja, o eterno retorno se torna a maior dotação de constância àquilo
desprovido de consistência. Isso significa, de acordo com Heidegger, que para Nietzsche o
conceito de ser permanece ainda preso as noções metafísicas como o consistente, firme,
solidificado e rígido contraposto ao devir, enquanto que o ser nesse estágio da metafísica
pertence ao cerne da vontade de poder, que assegura sua consistência a partir de um dotar de
constância, que procura unicamente ultrapassar-se, ou seja, vir a ser. Por isso, Nietzsche em
uma das suas anotações afirma que a mais alta vontade de poder é justamente imputar sobre o
devir o caráter de ser e isso está totalmente em correspondência com os traços fundamentais
da filosofia nietzschiana, já que “Ser e devir só se inserem aparentemente em uma contradição
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
295
porque o caráter de devir da vontade de poder é, em sua essência mais íntima, eterno retorno
do mesmo, e, com isso, a constante dotação de consistência ao que é desprovido de
consistência” (HEIDEGGER, 2007d, p. 218).
III
Entretanto, se no acabamento da metafísica há um superar daquela distinção entre o
mundo “verdadeiro” e o mundo “aparente” a partir de uma inversão, a qual procura
transformar o mais baixo, o sensível, como ponto mais alto da hierarquia, contudo após a
supressão do mundo supra-sensível qualquer dicotomia que venha ter o caráter de avaliar a
partir de um ideal perde totalmente o sentido, porque apenas o “mundo do devir” é que se
torna a fonte de todo o valor. Porém, Heidegger atenta que apesar deste afastamento em
relação ao pensamento da tradição, a diferença pertencente ao “o que é” e “o fato de ser”
ainda continua impensada, sendo que nessa relação “o fato de ser” não concorda ao “o que é”
em momentos que lhe convém, e sim que sempre está junto por acontecer igualmente no
pensar valorativo. Desse modo, a partir da coesão do “fato de ser” com o “o que é”, Heidegger
denota que a vontade de poder e o eterno retorno não precisam mais se compertencer como
algo que venha a determinar o ser, e sim necessitam agora que venham dizer o mesmo, o qual,
em termos metafísicos, o eterno retorno deve remontar ao fim da história, na medida em que
não há metas ou fins, e a vontade de poder concerne ao modo do caráter fundamental da
entidade do ente no âmbito da consumação da modernidade.
Além do que, a consumação da modernidade se encaminha, de acordo com Heidegger,
na história da metafísica que para Nietzsche condiz à questão dos valores, acarretando numa
tentativa de transvaloração dos valores. Por isso, pensar essa história a partir de Nietzsche
concerne a compreender que o pensamento valorativo pressupõe, mesmo que tacitamente,
toda a metafísica até aqui. Do mesmo modo, toda a metafísica que precede o modo de pensar
o “ser” como vontade de poder também pertence a essa vontade que impõe, cria valores,
regulando o pensamento valorativo. Porém, se ao lermos a filosofia de Nietzsche e tratarmos
essa compreensão da história de maneira branda, como se estivesse ao meio de tantas outras,
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
296
apenas acumulamos conhecimento e então adentraremos num estudo historiológico do
pensador, fato proeminente entre os séculos XIX e XX, onde Heidegger (2007b, p.81) observa
que,
a historiologia erudita representou a história da filosofia, ora no campo de
visão da filosofia kantiana ou da filosofia hegeliana, ora no campo de visão da
Idade Média, e certamente, com maior freqüência ainda, em um campo de
visão que, por meio de uma mistura das doutrinas filosóficas mais diversas, dá
a impressão ilusória de uma amplitude e de uma validade universal, por meio
das quais desaparecem todos os mistérios da história do pensamento.
Desse modo, não é porque, na interpretação heideggeriana, Nietzsche interpreta a
história da metafísica a partir da vontade de poder, que devemos analisar de forma
historiológica como se o filósofo colocasse “visões” próprias nas doutrinas dos pensadores
anteriores. Mas sim que, a essência da história é tomada agora pela vontade de poder, pois se
abriu um novo horizonte interpretativo pelo qual a “metafísica da vontade de poder” institui
um mundo que se posiciona como um transvalorar de toda a metafísica, e somente a partir
desse acontecimento histórico é que se abre a possibilidade do estudo historiológico e não o
contrário. Já que, como Heidegger ressalta, a tentativa de imputar a interpretação nietzschiana
da história, a partir da vontade de poder como transfiguração da imagem da história, mesmo
sendo estranho indicar aos pensadores anteriores tal modo de interpretar o ente na totalidade,
requer um pensamento meditativo, por que
mesmo se precisarmos admitir que a interpretação nietzschiana da história
não coincida com aquilo que a metafísica mais antiga ensina, essa admissão
carece antes de qualquer coisa de uma fundamentação que vai além da
comprovação meramente historiológica da diferença entre a metafísica de
Nietzsche e a metafísica mais antiga (HEIDEGGER, 2007b, p.84).
Por isso, na procura de comprovarmos a estranheza que o pensamento valorativo
possui à metafísica da tradição, nos depararemos com o fato de que sua origem é mais
profunda e não será um estudo historiológico que revelará com propriedade o horizonte aberto
pela filosofia nietzschiana, e sim como Heidegger afirma, precisamos olhar o pensamento de
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
297
outrora a partir do campo de visão do nosso pensamento. A partir dessas considerações de
Heidegger acerca do modo como Nietzsche compreende a história da metafísica, explicita-se a
própria maneira pela qual Heidegger interpreta os pensadores, ou seja, procura-se distanciar de
qualquer tipo de historiologia, pois não pretende realizar uma hierarquia comparativa entre as
doutrinas de modo a satisfazer o pensamento atual. Mas procura atentar a maneira pela qual
essas doutrinas acontecem no mundo e esses acontecimentos se apropriam dos entes,
permitindo a configuração de uma época.
Desse modo, Heidegger escreve que nosso tempo é o da indigência, a qual pode ser
sintetizada na sentença nietzschiana: “Deus está morto”. Visto que, apresenta um fenômeno
não pertencente apenas a nossa época, e sim que se situa no interior da articulação
investigativa do ocidente: o Niilismo. Esta constatação de acordo com Heidegger (2009, p.85)
nos leva a retomar o pensamento acerca da história, porque, “se o niilismo europeu não é
apenas um movimento histórico, se ele é o movimento fundamental da nossa história, então a
interpretação do niilismo e a tomada de posição em relação a ele dependem do modo como e
do lugar a partir do qual a historicidade do ser-aí humano é determinada”.
Contudo, devemos lembrar que para Heidegger a filosofia de Nietzsche não é a
superação do niilismo, mas sua adoção mais extrema, com isso, Heidegger compreende que
Nietzsche permanece no interior das reflexões acerca do ser ou do ente, ou da verdade no
modo da fixação da vontade de poder para uma conservação, porque sendo a verdade uma
condição da conservação de poder, ela se torna um valor distanciando das outras
interpretações como o desvelamento do ente, adequação de um conhecimento com um objeto
e até da certeza asseguradora do representado. Entretanto, porque procura fixar de maneira
diversa aquilo que é para além do movimento e deveniente, a “mais elevada vontade de
poder”, enquanto dotação de consistência ao devir, ela seria uma falsificação, ou seja, no
pensamento nietzschiano a verdade torna-se um erro. Um determinando “tipo de erro”, pois
detém o caráter de que apenas é demarcada como tal desde que seja pensada a essência da
verdade concomitante com a essência do ser: a vontade de poder. Isso porque o eterno retorno
do mesmo diz como o ente é na totalidade, isto é, não possui nenhum valor ou meta além dos
entes, configurando no que Heidegger (2007 d, p.15) indica como a era da “ausência de sentido
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
298
consumada”, a qual “insiste em sua própria essência de maneira mais ruidosa e violenta
possível. Ela busca se salvar de maneira irrefletida em seu ‘além-mundo’ mais próprio e assumir
a derradeira confirmação do predomínio da metafísica na figura do abandono do ser em
relação ao ente”.
IV
Sendo que essa ausência de sentido consumada está em correspondência ao que
Heidegger interpreta como a consumação de todas as possibilidades metafísicas, provocando
um cerceamento no âmbito projetivo do homem ao ser. Além do que, a consideração sobre a
verdade do ente é despojada de qualquer tentativa de pensar a essência da verdade. Pois,
como salienta Heidegger, a mudança da adaequatio para certeza e deste para o asseguramento
do ente em sua factibilidade passível de ser constituída, instaura o predomínio da entidade
como maleabilidade. “A entidade como maleabilidade permanece sob o predomínio do ser que
se entregou à constituição de si mesmo pelo cálculo e à factibilidade do ente que lhe é próprio
por meio do planejamento e do arranjo incondicionado” (HEIDEGGER, 2007d, p.13).
Sendo que através desse domínio do planejamento e arranjo incondicionado é que se
perfaz o ímpeto da maquinação. Este termo significa a factibilidade do ente, numa procura que
tudo seja feito de tal forma que aumente o seu grau de eficiência, para que assim, as crises
sejam suplantadas no próprio interior da maquinação. Pois, a maquinação atua impedindo
qualquer “fundamentação” de projetos que estão além do seu poder, fornecendo à ausência de
sentido “metas” maquinacionais, que procuram erigir novos valores para a “vida”. Já que esta
vida agora repercute em si a mobilização total enquanto a organização da ausência
incondicionada de sentido a partir da vontade de poder e para a mesma. Desse modo,
Heidegger escreve que o objeto não é mais representado em sua objetidade (Gegenstand), mas
que se dispõe como dispositivo (Bestand) aplicado ao modo de empresa estabelecendo as
“visões de mundo” que buscam somente a ampliação do poder, porque como Heidegger
atenta:
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
299
Essas visões de mundo impelem toda a calculabilidade do representar e
produzir ao extremo porque emergem, segundo a sua essência, de uma autoinstauração colocada sobre si mesmo, do homem no ente e no domínio
incondicionado do homem sobre todos os meios de poder sobre a face da
Terra e sobre a própria Terra (HEIDEGGER, 199, p. 18).
Com isso, a maquinação provoca de forma velada, porém atuante, o que Heidegger
denomina como desertificação da terra. Desertificação aqui diverge de destruição, a qual, de
acordo com Heidegger, procura apenas eliminar aquilo que até então cresceu e foi construído,
enquanto que a desertificação é o constante impedimento do começo, ou seja, apenas algo
pode vir a acontecer se estiver presente no cerne do controle e do funcionamento aos entes.
Tanto que no interior da maquinação as crises são suplantadas, a partir de um desenraizamento
total de tudo sempre na medida de um empenho de “política cultural” que procura instaurar
vivências quais seriam a finalidade da desertificação. Por isso, Heidegger (1999, p.18) indica
que,
A desertificação da Terra pode caminhar junto tanto com a obtenção de um
elevado padrão de vida para o homem como a organização de um estado
uniforme de felicidade de todos os homens. A desertificação pode ser o
mesmo com ambos e, do modo mais sinistro, transitar por toda parte,
precisamente porque ela se oculta.
Porque se a desertificação impede todo o começo através do erigir das “vivências” nas
quais o ente é elevado ao maior grau da hierarquia deixando-o solto à maquinação, então esse
ocultamento provoca a própria ausência da história, visto que os entes não requisitam nada
mais do que uma vontade imersa num querer proveniente de uma finalidade que reside
simplesmente no nada anulador, desconhecendo o saber de sua própria e completa nulidade.
Desse modo, a desertificação da terra começa como processo voluntário, que não é e nem
pode ser descoberto em sua essência, apenas nos deixa a constatação de que “se o ente
soterra e desenraiza toda e qualquer possibilidade de início do ser e, assim, continua impelindo
para frente o ente, conduzindo, porém, a uma desertificação que não destrói, mas sufoca o
inicial no erigir e no ordenar” (HEIDEGGER, 2007c, pg. 363).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
300
Ademais, diante da desertificação da terra, a historiologia comparece como única
possibilidade essencial referente à história, acarretando no historicismo que Heidegger depõe
em transformar a história num mero cômputo do passado em vista do presente e nesse
caminho o homem a cada vez tem sua essência aproximada ao historiológico e não do histórico.
Visto que, com o domínio da historiologia através da consumação do homem moderno (a
subjetividade), o animal rationale agora se transforma em animal historicum, essa
transformação está em curso pelo fato de que “o animal historiológico não visa, por exemplo,
ao animal que se torna ‘historiológico’ e que pertence ao passado, mas ao animal que a tudo
pro-duz, para o qual o ser do ente desponta na produtibilidade e se oculta ao mesmo tempo
em seu caráter maquinacional” (HEIDEGGER, 2009, p. 156).
V
Porém, como podemos superar ao estatuto historiológico? Heidegger escreve que o
pensar meditativo precisa ser retomado atentando à diferença entre o ser e qualquer ente
para, por conseguinte, a história se afastar do círculo da objetivação característica da
historiologia, pois esta depreendida de sua produção representacional reaparece na decisão
entre ser e ente de forma a colocar em jogo a essência da época. E por mais que o termo
“decisão” esteja atualmente desgastado, para Heidegger, ele remonta à cisão mais intrínseca e
à distância mais extrema entre o ente na totalidade e o ser. De tal forma que, “A decisão mais
elevada que pode ser tomada e que se transforma respectivamente é aquela entre o
predomínio do ente e dominação do ser. Por isso, quando quer e como quer que o ente na
totalidade seja propriamente pensado, o pensamento já reside aí na esfera dos perigos
inerentes a essa decisão” (HEIDEGGER, 2007b, p. 371).
Assim, o pensamento se aproxima do que “aconteceu” numa determinada época,
lembrando que esse acontecer para Heidegger (2007b, p. 374) significa:
O que a história suporta e impõe, o que dissolve as contingências e fornece de
antemão às resoluções o seu campo de jogo, isso que, no interior do ente
representado objetiva e situacionalmente, no fundo é o que é. Nós nunca
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
301
experimentamos o que aconteceu por meio de constatações históricas em
relação ao que “se deu”. Tal como essa expressão nos dá bem a entender, o
que “se deu” é aquilo que passa por nós no primeiro plano e no pano de fundo
dos palcos públicos das ocorrências e das opiniões emergentes quanto a essas
ocorrências. O que acontece nunca pode ser conhecido historiologicamente; só
pode ser conhecido pelo pensamento em meio à concepção do que a
metafísica que determina previamente a época trouxe ao pensamento e à
palavra.
Portanto, na medida em que Heidegger intitula os pensadores como aqueles que
“fundam” um mundo histórico a partir da abertura do ser. Heidegger comparece na nossa
história não como pensador que procura pôr um novo fundamento ao nosso pensar, mas
aquele que prepara o pensamento à transição ao outro início, no qual a essência da história
comparece a favor do ser-aí, não como um elemento apreendido pelo ser-aí, mas por
manifestar um compartilhamento nas decisões históricas, pelas quais, o que foi essencialmente
é repetido pelo porvir, conjugando desse modo na possibilidade de ultrapassarmos o niilismo
da factibilidade maquinacional.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
HEIDEGGER, Martin. A Metafísica de Nietzsche. In: Nietzsche vol. II. Trad. Marcos Antônio
Casanova. Ed. Forense Universitária. 2007a: Rio de Janeiro.
___________. A Palavra de Nietzsche: “Deus está morto”. Trad. Marcos Antônio Casanova.
Revista Natureza Humana. Vol. 5(2): 471-526. jul-dez. 2003: São Paulo.
__________. A Superação da Metafísica. In: Ensaios e Conferências. Trad. Emmanuel Carneiro
Leão. Ed. Vozes, 2005: Rio de janeiro.
___________. A Vontade de Poder como Conhecimento. In: Nietzsche vol. I. Trad. Marcos
Antônio Casanova. Ed. Forense Universitária. 2007b: Rio de Janeiro.
___________. Esboços para a história do ser enquanto metafísica. In: Nietzsche vol. II. Trad.
Marcos Antônio Casanova. Ed. Forense Universitária. 2007c: Rio de Janeiro.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
302
___________. Heráclito. Trad. Márcia de Sá Cavalcanti. Ed. Relume Dumará. 1999: Rio de
Janeiro.
__________.Meditação. Trad. Marcos Antônio Casanova. Ed. Vozes. 2009: Rio de Janeiro.
__________. O Eterno Retorno do mesmo e a Vontade de Poder. In: Nietzsche vol. II. Trad.
Marcos Antônio Casanova. Ed. Forense Universitária. 2007 d: Rio de Janeiro.
_________. Was Heisst Denken. Ed. Reclam. 1999: Stuttgart
NIETZSCHE. Friedrich. Also Sprach Zarathustra. KSA in 15 Band. Ed. Verlag. 1999: München.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
303
O conceito de história em Rousseau
Luiz Henrique Monzani*
RESUMO
Pretende-se analisar o conceito de história em Rousseau, particularmente no Segundo Discurso.
Como se sabe, o filósofo opera uma separação entre história factual (real) e história hipotética
(usada, principalmente, no Primeiro Discurso). Segundo Rousseau, a pesquisa que ele
empreende no Segundo Discurso visa à busca da natureza das coisas ao invés da origem
verdadeira delas. Desse modo, nosso intuito é analisar como esses termos se articulam nessa
obra e qual a relação entre história e civilização para o genebrino.
PALAVRAS-CHAVE: Rousseau, história, natureza, origem.
Nosso objetivo no presente trabalho é entender a separação feita por Rousseau entre
história factual, real, e história hipotética. A primeira, como se sabe, é o núcleo ao redor do
qual o Primeiro Discurso é construído, enquanto que, no outro, da história hipotética, Rousseau
diz com todas as palavras que devemos “começar por descartar todos os fatos, pois eles não
tocam a questão” (ROUSSEAU, 1999: 52). Por que isso?
Vejamos o restante daquela frase de Rousseau para compreender melhor o que ele
entende por essa separação: “Não se deve considerar as pesquisas, em que se pode entrar
neste assunto, como verdades históricas, mas somente como raciocínios hipotéticos e
condicionais, mais apropriados a esclarecer a natureza das coisas do que a mostrar a verdadeira
origem (das mesmas)” (IBID: 52-53). A divisão em história factual e hipotética ganha aqui um
novo desenho, pois agora o genebrino aponta qual o objeto que buscará ao longo de seu
Discurso, isto é, a natureza das coisas. A oposição, aqui, é feita com a verdadeira origem. Mas o
*
Mestrando em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Bolsista FAPESP. E-mail:
[email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
304
que significa cada um desses termos? Voltemos ao prefácio para entender melhor essa
questão.
Essa parte do texto é aberta com a afirmação que o “mais útil e o menos avançado de
todos os conhecimentos humanos me parece ser aquele do homem, e ouso dizer que a única
inscrição do templo de Delfos continha um preceito mais importante e mais difícil que todos os
grossos livros dos moralistas” (IBID: 43). A inscrição délfica refere-se aqui a possibilidade de
apreensão do homem através de seus próprios meios, através do uso da faculdade que o
homem tem de conhecer, para conhecer a si mesmo. Somente a partir do momento em que
nos conhecemos é que teremos acesso à verdade, isto é, ao que é o homem. Os moralistas,
entretanto, nunca deixaram de usar a razão para tentar compreender o homem e seu devir.
Novamente, nessa frase, podemos enxergar um embate entre duas posições contrárias: como
conhecer o homem, através de si mesmo ou através dos moralistas? Ou, ainda, qual o
problema que Rousseau enxerga nesses moralistas?
Para conseguir responder sobre a natureza do homem e da desigualdade humana, é
necessário antes “conhecer o próprio homem”, dado que a desigualdade supõe já a existência
dele. Para se perguntar sobre a origem dela, desigualdade, seria então necessário remontar até
a origem dos homens e ver toda sua história para encontrar o momento em que ela surge, ou,
em uma alternativa contrária, supor apenas que seja essa a vontade divina. Assim, a primeira
coisa a ser feita é também o primeiro obstáculo que o genebrino encontrará: a necessidade de
remontar as origens. Diz Rousseau:
E como o homem chegará ao ponto de ver-se tal como o formou a natureza,
através de todas as mudanças produzidas na sua constituição original pela
sucessão do tempo e das coisas, e separar o que pertence à sua própria
essência daquilo que as circunstâncias e seus progressos acrescentaram a seu
estado primitivo ou nele mudaram? (ROUSSEAU: 1999, 43).
De modo mais simples, pode-se ver que a pergunta de Rousseau visa não confundir o
homem contemporâneo com o homem da origem, pois isso implica [somente] uma
transposição do homem para um local isolado de tudo e de todos. Caso proceda-se através do
modo descrito na citação, todo o desenvolvimento da história humana será vista já com seu fim
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
305
em mente, restando apenas ao pesquisador elencar a cadeia de fatos de modo a tornar
cristalino o momento presente. A história, ao invés de uma pesquisa sobre as causas, tornar-seia apenas um relato. O princípio colocado, bem como a explicação sobre a natureza humana,
obviamente, poderão variar em cada autor, na dependência do que se deseja provar, 1 mas o
problema, para Rousseau, resta o mesmo, pois a questão é resolvida antes mesmo de ser
colocada:
Os filósofos que examinaram os fundamentos da sociedade sentiram todos a
necessidade de voltar até o estado de natureza, mas nenhum deles chegou até
lá. Uns não hesitaram em supor, no homem, nesse estado, a noção do justo e
do injusto, sem preocuparem-se com mostrar que ele deveria ter essa noção,
nem que ela lhe fosse útil. Outros, falaram do direito natural, que cada um
tem, de conservar o que lhe pertence, sem explicar o que entendiam por
pertencer. Outros dando inicialmente ao mais forte autoridade sobre o mais
fraco, logo fizeram nascer o Governo, sem se lembrarem do tempo que deveria
decorrer antes que pudesse existir entre os homens o sentido das palavras
autoridades e governo. Enfim, todos, falando incessantemente de necessidade,
avidez, opressão, desejo e orgulho, transportaram para o estado de natureza
ideias que tinham adquirido em sociedade; falavam do homem selvagem e
descreviam o homem civil (IBID: 52).
Os moralistas2 enxergaram a necessidade de retornar ao estado de natureza para
provar a necessidade do estado civil, mas nada fizeram além de privar o homem da sociedade.
Assim, não conseguiram enxergar nada além do que desejavam e descreviam somente o
homem civil, com todas as suas necessidades, medos e, principalmente, sua razão. O que o
genebrino se coloca é a própria possibilidade do homem chegar a certas ideias abstratas, como
esse homem pôde pensar que o juntar-se em uma sociedade civil seria melhor para sua própria
conservação. A partir de qual momento ele percebe que sua situação pode ser um estado de
guerra de todos contra todos e que a solução é o estado civil? A partir do momento que um
pensador coloca-se como função explicar a sociedade, ele se coloca somente aquilo que é
1
Grosso modo, para Hobbes, o estado de natureza será o “estado de guerra de todos contra todos”, mas como
todos os homens desejam a paz, o contrato é fundado. Em Locke, o estado de natureza não é um estado de guerra,
pelo contrário, mas, para salvaguardar os bens próprios, o homem decide fundar o contrato.
2
Aqui,deveríamos investigar quem poderiam ser esses moralistas, que Rousseau não fala senão de modo geral.
Apesar de podermos arriscar algumas conjecturas, o exame dessa questão iria nos desviar demasiadamente de
nossa investigação principal e, por isso, não iremos tratar dela aqui.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
306
necessário para fazê-la surgir, forjando nada mais que uma quimera. O problema pode ainda
ser radicalizado: como se pode afirmar que realmente existiu um estado anterior diferente?
Rousseau exclui totalmente a possibilidade da existência factual desse estado, pois
nada pode garanti-lo. Em termos anacrônicos, pode-se dizer que o estado de natureza não
pode ser comprovado, pois não é possível experiência alguma dele, e Rousseau afasta as
possíveis comprovações tanto a partir de uma explicação teológica como de uma secular:
não chegou mesmo a surgir, no espírito da maioria dos nossos, a dúvida
quanto a ter existido o estado de natureza, conquanto seja evidente, pela
leitura dos livros sagrados, que, tendo o primeiro homem recebido
imediatamente de Deus as luzes e os preceitos, não se encontrava nem mesmo
ele nesse estado e que, acrescentando aos escritos de Moisés a fé que lhe deve
todo filósofo cristão, é preciso negar que, mesmo antes do dilúvio, os homens
jamais se tenham encontrado no estado puro de natureza (IBID).
Portanto, Rousseau legitima assim a exclusão de ‘todos os fatos’, pois se não existe e
nunca existiu nenhum estado de natureza, os fatos tornam-se igualmente inexistentes. Se esse
estado nunca existiu, qual o motivo então para Rousseau ainda querer investigá-lo? Voltamos,
assim, ao início do que é dito no prefácio, ou seja, de como obter o ‘mais útil e o menos
avançado de todos os conhecimentos humanos’. De certo modo, instala-se um parodoxo: para
entender o homem atual, precisa-se supor um homem que viveu em um estado “que não
existe, que talvez nunca tenha existido, que provavelmente jamais existirá” (IBID: 44).
Ora, como afirmamos ao início do trabalho, Rousseau não busca conhecer a verdadeira
origem e sim a natureza das coisas, pois não se trata mais, como tentaram os jusnaturalistas, de
uma investigação científica (no sentido pelo qual a entendemos hoje), mas sim de um trabalho
teórico que visa iluminar o que é o homem, e assim a inscrição do templo de Delfos torna-se o
único método de exegese para isso: apenas o próprio homem pode explicá-lo, e para tanto
deve, em primeiro lugar, “separar o que há de original e de artificial na natureza atual do
homem” (IBID), pois somente assim pode-se “alcançar noções exatas para bem julgar de nosso
estado presente” (IBID: 45). Como vimos anteriormente, fazer a simples transposição do
homem tal qual ele é encontrado agora para um estado anterior nada mais é que uma fantasia
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
307
criada para se chegar a um fim pré-determinado, e de nada serve para explicar como realmente
foi possível o estado presente.
Assim, o método que Rousseau escolhe para seu Discurso será o do ‘raciocínio
hipotético’. Ele propicia ao filósofo a possibilidade de um pensamento livre de preconceitos,
pois o conjunto de dados do qual se parte é a exclusão de tudo aquilo que o homem pode ter
adquirido durante sua evolução. Somente com a supressão de tudo que forma o homem como
o conhecemos é que, paradoxalmente, o conhecimento de sua natureza é possibilitado, posto
que o próprio pensamento, faculdade mais nobre, não pode ser senão posterior a esse estado.
O homem é
Como a estátua de Glauco, que o tempo, o mar e as intempéries tinham
desfigurado de tal modo que se assemelhava mais a um animal feroz do que a
um deus, a alma humana, alterada no seio da sociedade por milhares de
causas sempre renovadas, pela aquisição de uma multidão de conhecimentos
e de erros, pelas mudanças que se dão na constituição dos corpos e pelo
choque de tornar-se quase irreconhecível e, em lugar de um ser agindo sempre
por princípios certos e invariáveis, em lugar dessa simplicidade celeste e
majestosa com a qual seu autor a tinha marcado, não se encontra senão o
contraste disforme entre a paixão que crê raciocinar e o entendimento
delirante (IBID: 43. Grifo nosso).
Dentro da natureza, o homem está sujeito a todas as mudanças e a todas as leis da
natureza, como qualquer objeto. Então, porque imaginar que seria diferente com o homem o
que acontece com uma estátua, que ao longo dos anos perde totalmente sua forma, sua cor, e
já não é mais quase reconhecível? Do mesmo modo, não é possível assumir uma postura em
que o homem já possua qualquer pensamento, pois isso seria assumir que o homem saiu das
mãos da natureza exatamente como ele é agora, e nada pode garantir a veracidade disso.
Qualquer teoria que parta desse princípio tem como ponto de partida a imutabilidade do
homem ao longo de toda sua história, fato facilmente contestado.
Antes de entender como foi possível ao homem fundar o pacto, é preciso
compreender, em primeiro lugar, como pôde ser o homem em um suposto estado natural, em
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
308
seguida inquirir quais modificações ocorreram em sua natureza e, principalmente e por fim,
quais as causas dessas modificações.
O que Rousseau entende por causas, para não recorrermos a nenhum fragmento,
pode ser observado na nota c, acerca de como deve ser o homem natural, se ele é bípede ou
um quadrúpede, qual sua formação física natural. O problema é exposto da seguinte maneira:
As mudanças que podem produzir na conformação do homem o prolongado
hábito de andar sobre dois pés, as relações que ainda se observam entre os
braços e as pernas anteriores dos quadrúpedes e a indução feita sobre o seu
modo de andar fizeram com que nascessem dúvidas acerca da posição que nos
deveria ser mais natural (IBID: 120).
Ao assumir como método uma história hipotética, cabe ao genebrino extirpar tudo o
que o homem possui na atualidade, para encontrá-lo tal como a natureza pode havê-lo feito.
Assim, o primeiro passo de Rousseau é definir a formação física desse homem, e para isso é
preciso definir se ele já se locomovia como nós ou se esta foi apenas outra modificação
adquirida ao longo dos tempos, pois atualmente presenciamos que as crianças, em primeiro
lugar, engatinham, e somente mais tarde aprenderão a andar sobre dois pés. Rousseau cita
exemplos históricos, retirados de livros de viagens e dos relatos de Condillac, que afirmam que
essa mudança ocorre através do exemplo dos pais.
3
Mas essa é uma razão extremamente
particular, que não possui a força de uma prova que demonstra a necessidade desse fato, pois
o ponto forte dessa tese depende da premissa que andar de outro modo “levaria a nos
privarmos do uso das mãos” (IBID: 121), tese facilmente rebatida pelo exemplo dos macacos
“que mostram poderem as mãos ser muito bem empregadas dos dois modos” (IBID), isto é,
tanto para locomoção como para outras tarefas, e que pode provar somente que “o homem
pode dar a seus membros uma destinação mais cômoda do que a natureza e não que a
natureza destinou o homem a andar de um modo diferente do que lhe ensina”. Assim, a
explicação do andar ereto do homem, pelo exemplo de reiteradas experiências, prova, no
3
ROUSSEAU: 1999, 120-1.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
309
limite, que o homem possui uma capacidade de adaptação, mas nenhuma necessidade de que
a natureza o tenha feito desse modo.
Ora, é por isso que Rousseau acrescentará: “Há, porém, parece-me, razões muito
melhores a apresentar para afirmar que o homem é um bípede” (IBID). Para comprovar que o
homem é naturalmente bípede, o genebrino recorre a um exame biológico da constituição
humana:
As principais são: o modo pelo qual a cabeça do homem se acha ligada ao
corpo, pois, em lugar de dirigir seu olhar horizontalmente, como o fazem todos
os outros animais e como ele próprio tem ao andar de pé, ficaria ele, andando
com quatro pés, com os olhos diretamente fixados na terra, situação pouco
favorável para a conservação do indivíduo; o fato de lhe faltar a cauda, de que
não precisa andando com dois pés, mas que é útil aos quadrúpedes, não
faltando a nenhum destes; estar o seio da mulher muito bem situado para um
bípede, que carrega o filho nos braços, e tão mal para um quadrúpede, que
nenhum o tem colocado dessa maneira (IBID: 121).
A lista de causas enumerada por Rousseau é muito maior do que essa, mas o ponto já
se torna claro. A observação da composição do corpo humano é a prova suficiente da
necessidade do homem ser bípede, pois todo o conjunto só poderá ser harmonioso (e
funcional) na posição ereta. Assim sendo, Rousseau descarta aquela explicação anterior, pois a
prova baseada no “exemplo das crianças, tomado numa época em que as forças naturais ainda
não se desenvolveram nem os membros ainda se fortaleceram, nada conclui absolutamente”
(IBID: 122). Portanto, a história para Rousseau deve suprimir esse tipo de história baseada no
exemplo e no particular como prova e coloca no lugar a busca de causas gerais, que deem
conta da natureza, que expliquem através de um princípio presente em todos os animais
(instinto de conservação, por ex.), a necessidade dessa constituição. Essas são as “razões muito
melhores” invocadas pelo genebrino, pois nada se pode objetar desse raciocínio hipotético bem
fundamentado. É permitido a Rousseau, portanto, no início da primeira parte do seu Discurso,
supor que o homem era constituído fisicamente com quatro membros e bípede tal como ele o
é agora, e dispensar, por um lado, sua história factual (“sua organização através de seus
desenvolvimentos sucessivos”) e por outro, os juízos de especialistas, pois “a anatomia
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
310
comparada progrediu muito pouco até hoje, as observações dos naturalistas ainda são muito
incertas para que se possa, sobre tais fundamentos, estabelecer a base de um raciocínio sólido”
(IBID: 57). Assim, encontra-se o que é história para Rousseau, e pode-se categoricamente
descartar “os fatos particulares que pouco peso têm ainda contra a prática universal de todos
os homens e até das nações que, não dispondo de nenhuma comunicação com as outras, nada
puderam imitar delas” (IBID: 122).
Para ser possível uma construção alternativa à rousseauísta, não basta apenas
construir uma história em que o desenvolvimento sucessivo do homem pode chegar a sua
forma final de bípede; não é a isso que o genebrino se propõe; pelo contrário, a hipótese
precisa ser racionalmente validada, seus princípios necessitam possuir uma validade lógica, isto
é, não se trata de um mero edifício de conceitos elaborados através da imaginação de cada um,
mas sim da busca de uma possibilidade de fundamentação racional para uma hipótese que está
em jogo. Assim, não foi suficiente para Rousseau apenas “descartar os fatos”, mas demonstrar
como é possível pensar o estado de natureza sem depender de nenhum fato randômico. Como
resume o filósofo:
Primeiro, mesmo que se fizesse ver que ele poderia ter anteriormente
conformação diversa da que conhecemos e nesse ínterim transformar-se por
fim naquilo que é, não seria o bastante para concluir que tal se teria passado
dessa maneira, porquanto, após ter mostrado a possibilidade dessas
mudanças, seria preciso ainda, antes de admiti-las, mostrar pelo menos sua
verossimilhança (IBID).
Assim, Rousseau não está em busca da “verdadeira origem”, e a exigência mínima para
seu trabalho – como o dos outros – é de um pensamento que seja verossímil. A partir disso,
pode-se esperar uma explicação satisfatória da “natureza das coisas”.
Para finalizar, tomando por base o que vimos expondo até o momento, a
respeito da necessidade da história hipotética, pode-se entender uma peculiar afirmação de
Rousseau:
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
311
O que há de mais cruel ainda é que, todos os progressos da espécie humana a
distanciam incessantemente de seu estado primitivo; quanto mais
acumulamos novos conhecimentos, tanto mais afastamos os meios de adquirir
o mais importante (conhecimento) de todos: é que, em certo sentido, à força
de estudar o homem, tornamo-nos incapazes de conhecê-lo (IBID: 43-4).
A sociedade é, assim, o maior empecilho na obtenção do conhecimento sobre o
homem. Quanto mais agregamos conhecimentos, quanto mais o supérfluo torna-se necessário,
mais problemático é entender o homem, dado que os obstáculos se multiplicam e torna-se
mais difícil enxergar algo de verdadeiro, tal como o ocorrido com a estátua de Glauco. O
problema inerente à sociedade é ela própria, que amalgama o homem dentro dela, e nele cria
necessidades, desejos, comodidades, luxos, que a custo pode-se discernir nessa fusão o que é
homem e o que é produto.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ROUSSEAU, J-J. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. In:
Coleção Os Pensadores. Trad: Lourdes Santos Machado. São Paulo: Abril Cultural, 1999.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
312
Os Träume eines Geistersehes e a Kritik der reinen Vernunft: as ilusões na
Dialética transcendental
Marcio Tadeu Girotti*
RESUMO
A investigação tem por objetivo mostrar que a obra Träume eines Geistersehers (1766)
apresenta os argumentos acerca da ilusão e dos limites do conhecimento, que serão
desenvolvidos na Kritik der reinen Vernunft na Seção da ‘Dialética Transcendental’. As ilusões
dos ‘visionários’ apresentadas nos Träume mostram que quimeras são abarcadas por meio do
espaço e tempo que devem abarcar somente objetos sensíveis; na Dialética Transcendental, a
Faculdade do Entendimento busca, de modo natural, ampliar seu conhecimento para além da
experiência possível, fazendo isso com a utilização das categorias que são aplicadas a
fenômenos, transportando-as para objetos que transcendem seu uso empírico: ocorre a ilusão
do entendimento. No mesmo sentido, a razão, na busca pelo incondicionado e pela unidade
dos conceitos puros do entendimento, também cai em ilusão ao pretender ultrapassar os
limites da experiência possível, atingindo o mundo suprassensível e constituindo ideias
transcendentais, as quais eram tratadas pelo racionalismo dogmático sem uma prova in
concreto, o que leva Kant a engendrar a origem das ilusões no contexto das três ciências que
possuem ilusões dialéticas, a saber: Psicologia (Paralogismos da razão pura); Cosmologia
(Antinomias da razão pura) e Teologia (Ideal da razão pura). No contexto dos Träume, que
configura a metafísica como “ciência dos limites da razão”, Kant busca aproximar as provas
metafísicas às ilusões do visionário Swedenborg, que acredita transpor o que vê no mundo
imaginário do suprassensível para o mundo visível (sensível). Com isso, Kant aponta que a
‘salvação’ da metafísica dogmática, que se encontra em embaraço e o confusão, está nas
provas de Swedenborg, o único que pode ver e trazer informações do mundo que transcende
os limites do conhecimento humano. Nesse sentido, mostraremos a aproximação que existe
entre os Träume e a Kritik (Dialética Transcendental) no contexto da ilusão de conhecer o
mundo suprassensível, considerando que a Dialética Transcendental é uma ampliação dos
Träume.
PALAVRAS-CHAVE: metafísica, visionários, ilusão, limites do conhecimento.
*
Pós-graduando pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). Bolsista CAPES. E-mail: [email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
313
Introdução
As ilusões dos ‘visionários’ apresentadas na obra Sonhos de um visionário explicados
por sonhos da metafísica mostram que quimeras são abarcadas por meio do espaço e tempo
(formas puras da intuição sensível) que devem abarcar somente objetos sensíveis. Na Crítica da
razão pura, na Seção da Dialética Transcendental, a Faculdade do Entendimento busca, de
modo natural, ampliar seu conhecimento para além da experiência possível, fazendo isso com a
utilização das categorias que são aplicadas a fenômenos, transportando-as para objetos que
transcendem seu uso empírico: ocorre a ilusão do entendimento. No mesmo sentido, a razão,
na busca pelo incondicionado e pela unidade dos conceitos puros do entendimento, também é
levada à ilusão ao pretender ultrapassar os limites da experiência possível, atingindo o mundo
suprassensível e constituindo ideias transcendentais, as quais eram apreendidas pela metafísica
tradicional (dogmática) sem uma prova in concreto, o que leva Kant a engendrar a origem das
ilusões no contexto das três ciências que possuem ilusões dialéticas, a saber: Psicologia
(Paralogismos da razão pura); Cosmologia (Antinomias da razão pura) e Teologia (Ideal da razão
pura).
No contexto dos Sonhos, que configura a metafísica como “ciência dos limites da
razão”, Kant busca aproximar as provas metafísicas às ilusões do visionário Swedenborg, que
acredita transpor o que vê no mundo imaginário do suprassensível para o mundo visível
(sensível). Com isso, Kant aponta que a ‘salvação’ da metafísica dogmática, que se encontra em
embaraço e confusão, está nas provas de Swedenborg, o único que pode ver e trazer
informações do mundo que transcende os limites do conhecimento humano.
Ilusão e limites do conhecimento nos Sonhos de um visionário
É interessante notar que nos Sonhos de um visionário Kant aponta para a questão que
se encontra no início do Prefácio à primeira edição da Crítica da razão pura (1781), no que diz
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
314
respeito “aos problemas naturais da razão que ela mesma não consegue resolver, mas que lhe
é algo natural e inevitável” (KrV, A VII); nos Sonhos ele diz: “Quantas coisas há, pois, que eu não
compreendo!” (TG, AA 02: 369).
Com efeito, Kant promove uma crítica àquilo que ele chama de metafísica dogmática,
uma crítica ao ‘abuso’ da razão, que engendra a validade dos conceitos racionais e de seus
princípios sem demonstração e validade in concreto, a qual comprova suas teses in abstrato,
caminhando em um mundo suprassensível onde o sujeito não conhece nada e insiste em
afirmar que seu conhecimento racional é digno de certeza e regrado como princípio de todo o
conhecimento.
Nesse sentido, a corrente racionalista permanece sem o estabelecimento dos limites
do uso da razão, sem um fundamento concreto de teses, uma corrente que utiliza, segundo
Kant, um “palavrório metódico” para convencer os eruditos e o senso comum acerca de suas
teses. Ele constata uma razão que extrapola os limites da experiência sensível engendrando
uma argumentação que desemboca na afirmação de Kant, nos Sonhos, onde afirma que a
metafísica é equivalente aos sonhos dos visionários, chegando a compará-la às viagens dos
fantasistas e suas histórias jocosas.
Assim, a metafísica tradicional é criticada por Kant, mas vale lembrar que ele é um
racionalista que engendra uma crítica à razão a fim de determinar seus limites e fundamentar
suas teses. Segundo Kant, as provas racionalistas e suas investigações permanecem em acordo,
mesmo que elas não se encontrem em perfeita situação de prova que convença.
O palavrório metódico das universidades é muitas vezes tão-só um acordo em
desviar de uma questão de difícil solução através de palavras ambíguas,
porque dificilmente se ouve nas academias o cômodo e o mais das vezes
razoável “eu não sei”. (TG, AA 02: 319, grifo nosso).
Tal “palavrório metódico”, o qual aparece nos Sonhos, volta a fazer parte das
argumentações de Kant na Dialética Transcendental, quando ele argumenta sobre o campo das
ideias puras que se encontram fora do âmbito da experiência sensível. Nesse contexto, com
relação ao entendimento comum, o douto pode sofismar porque permanece no campo de
puras ideias ou admite sua ignorância no campo da experiência, já que para ele é difícil admitir
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
315
princípios e conceitos que não tenham validade objetiva, o que para o entendimento comum é
rotineiro. O Entendimento comum não pede provas claras, acredita no que pode crer, acredita
no que é mais comum, enquanto a razão transcendental é impopular. No entanto, o
“empirismo” da razão não é popular e pode ir além dos limites da escola e até pode ganhar
algum prestígio da massa.
Mas tal é precisamente a motivação do entendimento comum. Este, com
efeito, encontra-se numa posição em que nem o mais douto pode tirar
qualquer vantagem sobre ele. Se compreende pouco ou nada disso, nem por
isso alguém pode vangloriar-se de compreender muito mais; e, conquanto não
possa falar sobre isso em termos de escola como outros, pode contudo
sofismar infinitamente mais, porque se move em torno de puras ideias sobre
as quais se é o mais eloquente precisamente porque não se sabe nada delas;
sobre a investigação da natureza, ao invés, teria que emudecer totalmente e
confessar sua ignorância. (KrV, B 501).
Com a constatação de que o Entendimento comum acredita no que se ouve falar
sempre e de que os racionalistas utilizam um conhecimento que transcende o mundo da
representação, mas não prova, de fato, suas asserções, Kant começa a engendrar uma
investigação que coloque as barreiras do conhecimento. A metafísica que se encontra nos
Sonhos é uma metafísica como limites da razão, que leva Kant a pensar nos limites e nas ilusões
causadas ao ultrapassar a barreira do sensível (o cognoscível), o que nos leva a afirmar que os
Sonhos adiantam os argumentos da Dialética Transcendental acerca dos limites e ilusão do
entendimento e da razão.
Seguindo Pons (1982, p. 44), os Sonhos estabelecem os limites da razão em direção à
crítica ao idealismo e a “Dialética Transcendental não é senão uma ampliação dos Träume
[Sonhos]”. A aproximação dos Sonhos da Dialética, acerca dos limites do conhecimento, pode
ser assim configurada: na Dialética a pressuposição da existência da coisa em si é posta como
limite para o conhecimento do entendimento, que busca ampliar seu conhecimento acima dos
limites da experiência, ao passo que a razão pressupõe a unidade de todo o conhecimento com
vistas à Ideia, que não possui dedução transcendental, já que ela não possui representante
sensível. Tal limite já é proposto nos Sonhos se levarmos em consideração o argumento acerca
da existência do conceito de ‘espírito’, que posso pressupor que existe, mas não posso provar
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
316
sua existência; do mesmo modo, há uma coisa em si que existe, mas não posso conhecer. Nesse
sentido, as ‘quimeras’ dos Sonhos conduzem à imposição de limites e os limites na Dialética
estão na caracterização da coisa em si, pois, ela existe, mas não se encontra entre os objetos
possíveis de serem conhecidos, mas ao menos podem ser pensados.
O conceito de limite nos Sonhos encontra-se em, pelo menos, três situações: 1)
conceito psicológico pensado na ordem dos sonhos da sensação (fronteira entre o interior e o
exterior da representação); 2) conceito crítico, que limita o campo do saber, a limitação do
campo do saber da razão, sentido que pode ser relacionado ao transcendental; 3) limite
comum às duas regiões; função limitante do objeto no sonho de vigília e no conhecimento.
Têm-se, portanto, que os sonhos da sensação estão relacionados a Quimeras, ao passo que os
sonhos da razão se relacionam à ideia e à ilusão. Os sonhos de vigília, como objeto limitante,
colocam limites ao conhecimento como aquilo que é possível de existir com aquilo que é
impossível de ser conhecido. Ou seja, isso leva a crer que a distinção entre fenômenos e coisa
em si, na Crítica, já poderia ter seus germes nos Sonhos, à medida que, aqui, Kant fala dos
visionários que conseguem transpor o que observam no mundo invisível (suprassensível) para o
campo do mundo visível (sensível), isto é, há objetos que se encontram fora do nosso campo de
apreensão, que podem existir, mas não podem ser conhecidos. Tal como o fenômeno que
aparece e a coisa em si que é pensada ao mesmo tempo em que o Entendimento aplica as
categorias ao múltiplo sensível apreendido pela intuição pura (espaço e tempo).
Segundo David-Ménard, o conceito de limite nos Sonhos, na figura do visionário
Swedenborg, diz respeito às divagações da razão que se aproximam de delírios, ao passo que,
em comparação com a Dialética, “não há lógica da aparência dialética” em 1766, mas “há um
parentesco perturbador entre os sonhos da razão e os sonhos da sensação”.
O conceito positivo de limite como restrição de um uso aberrante do
pensamento é descoberto graças à reflexão sobre Swedenborg. O que o
‘conhecimento da natureza sensível’ é encarregado de limitar, em 1766, são as
divagações da razão, que tanto se assemelham ao delírio de Swedenborg; e
não o que Kant chamará, em 1781, de errância dialética da razão. Dito de outro
modo, em 1766, não há lógica da aparência dialética; há um parentesco
perturbador entre os sonhos da razão e os sonhos da sensação. (DAVIDMÉNARD, 1996, p. 106, grifo do autor).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
317
No entanto, a autora concorda que:
[...] o pensamento louco de Swedenborg, que inaugura a problemática crítica
do limite [...] encena um questionamento da metafísica por um delírio e
conclui, dessa experiência, a necessidade de reformar a filosofia em uma
filosofia crítica. (1996, p. 159).
O encontro com o Swedenborg proporciona a Kant o pensamento acerca dos limites
do conhecimento humano, os limites da razão. Uma razão sem limites cria e se ilude ao
pretender alcançar o inteligível e não podendo explicar, de fato, aquilo que é objeto de sua
especulação, acaba caindo em erro. Sabe-se que o conhecimento sensível possui seus limites,
pois, há critérios em que a experiência se baseia para proporcionar conhecimento. Por
exemplo: não se ultrapassa o que é possível ter acesso somente pelos sentidos. Ao contrário, os
metafísicos, através da razão sem limites, ultrapassam todo o tipo de barreiras e saltam ao
mundo do somente pensável e acreditam dar conta de explicar a existência de entidades não
captadas de modo sensível. Nesse contexto, Kant engendra a possibilidade de impor limites à
razão, configurando até que ponto ela pode chegar, além de determinar seus conhecimentos:
Quando essa investigação, no entanto, resulta em filosofia que julga sobre o
seu próprio procedimento e conhece não só os objetos, mas ainda sua relação
com o entendimento do homem, então os limites são estreitados e são
colocados os marcos que nunca mais deixarão a pesquisa extrapolar sua esfera
própria. (TG, AA 02: 369).
E continua:
Ademais, a razão humana não é suficientemente alada para que pudesse
compartilhar nuvens tão elevadas, que subtraem a nossos olhos os segredos
do outro mundo, e aos curiosos que dele pedem informação com tanta
insistência pode-se dar a notícia simplista, mas muito natural, que o mais
sensato é decerto ter paciência até chegar lá. (TG, AA 02: 373, grifo do autor).
A razão, que não tem asas, não pode transpor os limites do conhecimento sensível,
mas é muito natural que ela peça informações do outro mundo pela própria curiosidade e
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
318
também pela fraqueza do entendimento, que não procura se limitar ao sensível. Com isso,
considerando o papel da experiência nos Sonhos, pode-se dizer que ela tem como função
possibilitar a observação daqueles seres suprassensíveis que são trazidos ao campo da
sensibilidade. Os visionários acreditam ver aquilo que observam no outro mundo e transportam
essas quimeras dando-lhes formas estruturais configuradas no espaço e tempo. Ou seja,
quando eles falam de seres que estão além da sensibilidade, os mesmos são postos no espaço e
são pensados através do tempo. Assim, as estruturas espaço-temporal que são utilizadas para
abarcar objetos sensíveis são também utilizadas para abarcar objetos que transcendem a
sensibilidade, causando as ilusões e a não distinção daquilo que é real com aquilo que é irreal
(quimeras).
Nos Sonhos, Kant afirma que a razão não pode transpor os limites do sensível para
atingir o mundo do suprassensível, mas é natural que de lá ela peça informações. Assim, podese aproximar essa afirmação com o argumento da Dialética Transcendental, ponto em que Kant
ressalta a curiosidade do entendimento em buscar conhecer além do mundo sensível dotado
de suas categorias que devem ser aplicadas ao conhecimento do sensível. O desejo do
entendimento em ampliar seus conhecimentos para além do campo da experiência, o coloca
em contato com ‘fantasmagorias’ que culmina na ilusão transcendental. Ao mesmo tempo, a
razão na busca pela determinação das coisas em si mesmas também ‘cai’ em ilusão, mas,
segundo Kant, uma ilusão sadia, inevitável e natural (KrV, B 354).
Os limites do conhecimento e o ‘contágio’ do sensível com o inteligível
Entre a aproximação dos Sonhos com a Dialética, encontra-se a Dissertação de 1770,
onde Kant retoma alguns argumentos outrora pensados nos Sonhos, e que irão aparecer
novamente na Dialética, mas com outra ‘roupagem’. Na Seção V, da Dissertação de 1770,
encontra-se o contexto em que se insere a ‘Doutrina do Método’ da Crítica e esta seção
também se configura no contexto das ilusões do entendimento (o que faz referência à Dialética
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
319
Transcendental), quando mistura “conceitos” da sensibilidade (espaço e tempo) com questões
metafísicas. Isto é, o entendimento busca abarcar seres em si mesmos com as “metáforas” de
espaço e tempo, causando ilusões, como ocorre nos Sonhos.
A respeito do método, vale notar a aproximação que pode ser estabelecida com os
Sonhos e a Dialética Transcendental, uma vez que no §24 Kant fala dos limites do conhecimento
e o contágio entre o sensível e o inteligível, tal como as ilusões na Dialética e as quimeras e
fantasias nos Sonhos.
Todo o método da metafísica, no que diz respeito às coisas sensitivas e às
intelectuais, reduz-se principalmente a este preceito: deve evitar-se
cuidadosamente que os princípios próprios do conhecimento sensitivo
ultrapassem os seus limites e afetem os conhecimentos intelectuais. (MSI, AA
02: 411, grifo do autor).
Como se vê, o método da metafísica está em evitar o contágio do sensível com o
intelectual, ou seja: 1) a metafísica é a ciência dos limites da razão (Sonhos); 2) deve-se evitar a
ilusão, na busca pelo conhecimento do mundo que transcende o conhecimento sensível (ilusão
natural – Dialética). Aqui, Kant mostra o erro em extrapolar a condição sensível do
conhecimento, mostra que se fala do suprassensível como semelhante ao sensível, tal como
exposto nos Sonhos juntamente com a crítica à metafísica que busca conhecer o outro mundo
sem meios que comprovem sua investigação. Vale ressaltar que a passagem dos Sonhos para a
Dissertação de 1770 mostra a mudança no plano da argumentação, mas não uma alteração da
problemática, ou seja, na última os erros da metafísica, apontados na primeira, passam a ser
desenvolvidos dentro do âmbito da teoria do intelecto.
Conforme Torretti, na Dissertação de 1770 Kant afirma o que antes esboçou nos
Sonhos: o estabelecimento dos limites do conhecimento humano, o não contágio do sensível
com o inteligível e a impossibilidade de estender o conhecimento para além da sensibilidade.
Mas Kant, segundo o autor, postula a possibilidade de, ao menos, “conhecer cientificamente o
suprassensível”.
Contudo, não deixa de ser surpreendente que quatro anos depois de esboçar
nos Sonhos uma limitação do conhecimento humano, que a Crítica levará até
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
320
suas últimas consequências, Kant aparece sustentando que o homem, se adota
as devidas precauções, pode conhecer cientificamente o suprassensível.
(TORRETTI, 1980, p. 216, grifo do autor).
Tendo em vista a questão do limite do conhecimento junto com os argumentos que se
aproximam entre as três obras citadas, é preciso estender a problemática do limite à
problemática da ilusão. Antes, é preciso compreender que o papel da ilusão nos Sonhos estava
ligado aos delírios dos fantasistas, com a caracterização de uma ilusão ótica, uma vez que os
visionários acreditavam ver aquilo que eles imaginavam. Ao passo que, na Dialética
Transcendental, trata-se de uma lógica da ilusão, uma ilusão transcendental, em que o
Entendimento se ilude ao pretender ampliar seu conhecimento além dos limites da experiência
possível, enquanto a razão na busca do incondicionado e da unidade máxima de todo o
conhecimento é elevada à ilusão (natural e inevitável).
O Focus imaginarius e a ilusão: ótica e transcendental
Voltando aos Sonhos, Kant argumenta sobre os doentes que por algum distúrbio
mental conseguem transpor imagens criadas por eles mesmos para fora do ponto focal do
cérebro, onde deveria ser projetada a imagem daquilo que se pode apreender e conhecer. Ou
seja, tal doente projeta imagens fora do chamado Focus imaginarius, caindo em ilusão e
criando quimeras. No entanto, a ilusão por ele criada é uma ilusão dos sentidos, uma vez que
ele cria imagens que acredita, depois, observá-las no campo de visão. Esses doentes, por
prolongarem as linhas diretrizes que partem do objeto até o ponto focal no cérebro que projeta
a imagem, mas por distúrbio do cérebro as linhas se cruzam fora dele, acreditam que a imagem
projetada é verdadeira. As possíveis imagens projetadas fora do Focus imaginarius podem ser
distinguidas das imagens reais (de objetos sensíveis), desde que seja projetada por um ‘sujeito
sensato’ que represente a imagem do objeto como uma sensação clara, sendo esta oposta a
uma possível sensação de um objeto criado por algum distúrbio do cérebro (TG, AA 02: 346-7).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
321
Segundo Lebrun, o que antes fora abordado nos Sonhos, no que diz respeito aos
distúrbios mentais, reaparecem na Crítica:
É impressionante reencontrar na Dialética Transcendental, sob forma de
metáforas, as explicações óticas dos Träume [Sonhos]: ao invés de situar em
meu cérebro o ponto focal onde se cruzam os raios, eu o projeto fora de mim,
e os fantasmas tornam-se objetos; acontecimentos corporais são
metamoforseados em coisas representadas. (2001, p. 64).
De acordo com a citação, deve-se considerar que a ‘metáfora’ que aparece tanto nos
Sonhos quanto na Dialética Transcendental, como explicação ótica, está calcada no Focus
imaginários: quando cruzo os raios que provém do objeto fora do ponto focal em meu cérebro,
projetando-os fora de mim e ali os fantasmas aparecem como coisas representáveis.
A aproximação da ilusão ótica dos Sonhos na metáfora do Focus imaginarius,
reaparece na Dialética Transcendental em, pelo menos, dois momentos: primeiro, as ideias
transcendentais possuem uso regulativo, elas dirigem o entendimento à máxima unidade de
seus conceitos (regras), como linhas diretrizes visando um ponto de confluência (Focus
imaginárius). A ilusão está nas linhas traçadas a partir do objeto que se encontram além da
experiência possível; mas, a ilusão será necessária quando se quiser ir além dos objetos da
experiência possível, para exercitar o entendimento buscando a máxima ampliação possível
(KrV, B 672-673). Vê-se que há uma ilusão quando se amplia o conhecimento do entendimento
além da experiência possível por meio de suas categorias, bem como a razão na busca da
unidade absoluta do conhecimento confluindo a unidade sob uma ideia. Aqui, a ilusão não é um
erro, ela é natural, ou mesmo necessária, ela está no contexto da exigência da razão na busca
do incondicionado, que a eleva para além da experiência ultrapassando os limites do
conhecimento. Segundo, no uso hipotético da razão (onde o universal é problemático), onde
são dados vários particulares e tendo todos como resultado da regra obtêm-se a unidade da
regra; tal uso visa a unidade sistemática do entendimento – uso regulativo (KrV, B 674-675): há
um ‘norte’ para ter como ponto final a busca pela unidade do conhecimento (Focus
Imaginarius).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
322
No mesmo sentido, M. Grier (2001, p. 37) afirma que a ilusão ótica nos Sonhos tem
relação com a ilusão metafísica presente na Dialética Transcendental, considerando que o
Focus imaginarius é uma espécie de erro psicológico. Com isso, numa possível aproximação
daquilo que se entende por Focus imaginarius, nos Sonhos, pode-se dizer que na Dialética
Transcendental a Ideia equivaleria a uma espécie de Focus imaginarius.
Com isso, “são colocados os marcos, os quais jamais deixaram a investigação exceder
sua própria esfera” (TG, AA 02: 369). A pesquisa metafísica não deve ultrapassar os limites de
todo o conhecimento e isso só é possível por meio de uma crítica da razão pura, que procura
limitar o entendimento e permite a razão buscar a unidade de todo o conhecimento, numa
ilusão natural, mas que tenha a consciência de que há um ‘objeto-limite’ que pode ser pensado,
mas não conhecido. Assim, no Apêndice à Dialética Transcendental, Kant afirma:
O ponto de partida de todas as tentativas dialéticas da razão pura não somente
confirma o que já provamos na Analítica Transcendental, a saber, que todas as
nossas inferências que querem conduzir-nos para além do campo da
experiência possível são enganosas e infundadas, mas nos ensina ao mesmo
tempo a peculiaridade de que a razão humana possui uma propensão natural a
ultrapassar esses limites e de que as ideias transcendentais lhe são exatamente
tão naturais quanto as categorias ao entendimento, se bem que com a
diferença de que, enquanto as últimas levam à verdade, isto é, à concordância
de nossos conceitos com o objeto, as primeiras produzem uma simples mas
irresistível ilusão, cujo engano não se pode impedir nem através da mais aguda
crítica. (KrV, B 670).
Os argumentos referentes aos limites do conhecimento presentes nos Sonhos
possibilitam tratar dos limites da razão e dos limites do entendimento com suas categorias
aplicáveis à experiência possível, na Dialética Transcendental. Nesse sentido, segundo Kant
(KrV, B 235), o que o racionalismo dogmático representava, quando ultrapassava os limites do
conhecimento e não percebia a ilusão que se criava, era o erro de imprudência ou um “juízo
natural”, que tornou-se modelo para o conhecimento imaginativo e conhecimento dogmático
por razão pura. Tanto um quanto o outro estão submetidos um ao outro e desembocam na
“influência despercebida da sensibilidade sobre o entendimento”. Ou seja, a ilusão está na
“despreocupação” natural do Entendimento, que engendra a Aparência, de poder conhecer
objetos que transcendem o mundo possível de ser conhecido. Um desses casos está na
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
323
configuração das Antinomias, em que a razão não produz conceitos, mas libera os conceitos do
entendimento das limitações de uma experiência possível (KrV, B 283). Aqui, é possível dizer
que a Antinomia tem sua origem na transposição da experiência possível. Um outro exemplo,
que aproxima ainda mais os Sonhos da Dialética, está na busca por provar a existência do
mundo espiritual (comunidade dos espíritos) e no problema do comércio psico-físico, nos
Sonhos, enquanto na Dialética, os paralogismos da razão pura (representados no problema da
ciência psicológica), que surgem na busca pela unidade do ser (alma), se aproximam da prova
da existência do mundo dos espíritos. Uma vez que, em ambos os casos, a razão não dá conta
de provar a existência de tal mundo ou conhecer a Ideia de unidade do ser, ao menos, pode
pressupor que há tal mundo e que há tal ideia, mesmo que não seja possível representar a ideia
e o ser espiritual em nosso mundo sensível e material.
Conclusão
A aproximação entre os Sonhos e a Dialética Transcendental se configura no contexto
da ilusão de conhecer o mundo suprassensível. Isso leva a crer que a Dialética Transcendental
pode ser uma ampliação dos Sonhos, passando ainda pela Seção V da Dissertação de 1770, a
qual também faz referência à Dialética.
Os argumentos de Kant acerca dos limites do conhecimento permanecem os mesmos,
mas adquirem uma ‘nova roupagem’ entre as obras. Nos Sonhos, os limites do conhecimento
estavam calcados na não transposição de ‘quimeras’ para o campo da sensibilidade com a
utilização das estruturas cognitivas espaço-temporais. Além da pressuposição de um ‘ponto
focal’ em que as imagens deveriam se projetar como uma espécie de unidade, configurando-se
em uma imagem clara e perceptível: focus imaginarius.
A pressuposição de limites do conhecimento nos Sonhos, conjugando-se com a
caracterização de um mundo visível e invisível, desemboca na Dissertação de 1770 no contexto
da divisão dos Mundos em sensível e inteligível, bem como o ‘contágio’ do sensível com o
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
324
inteligível no âmbito dos axiomas sub-reptícios, o que deve ser evitado para não ocorrer a
ilusão. Aqui, a distinção de mundos leva também à distinção daquilo que pode ou não ser
conhecido, o que leva à distinção de fenômeno e númeno (coisa em si), o que pode ser
conhecido e o que pode ser somente pensado, além do númeno ser considerado um conceito
limite. Com isso, é possível aproximar os Sonhos da Dissertação de 1770 em dois pontos: 1) os
limites do conhecimento com relação à divisão em dois mundos e o uso de espaço e tempo
para abarcar objetos que não são passíveis de conhecimento sensível; 2) o conceito limite:
quimeras e númeno.
Isso estará configurado na ‘Dialética Transcendental’ no âmbito da ilusão do
entendimento e da razão. A não transposição dos limites da experiência, o uso correto das
categorias do entendimento e da intuição pura espaço e tempo, a pressuposição da coisa em si
como o limite para o conhecimento e o Focus imaginarius como a unidade para o
conhecimento configurado na Ideia, são argumentos que já se encontravam nos Sonhos e
também na Dissertação de 1770. Argumentos e problemáticas que estão presentes nas três
obras citadas, mas que permanecem os mesmos, variando os termos de sua aplicação. O que
nos leva a afirmar que os Sonhos de um visionário podem ter um aprofundamento na Dialética
Transcendental, ou que esta pode ser uma ampliação dos Sonhos.
Referências bibliográficas
ALLISON, H. E. Kant's concept of the transcendental object. Kant-Studien. Berlim, n. 59, p. 165186, 1968.
______. Kant’s transcendental idealism. London: Yale University Press, 2004.
DAVID-MÉNARD, M. Kant et la patience des limites. Revue philosophique de la France et de
l’étranger, P.U.F., n. 1, 1987.
______. A loucura na razão pura: Kant leitor de Swedenborg. Rio de Janeiro: Editora 34, 1996.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
325
GRIER, M. Kant´s doctrine of transcendental illusion. Cambridge: Cambridge University Press,
2001.
HEIMSOETH, H. Vernunftantinomie und transzendentale Dialektik in der geschichtlichen
Situation des Kantischen Lebenswerkes. Kant-Studien. Berlim, n. 51, p. 131-141, 1959/60.
______. Transzendentale dialektik: ein kommentar zu kants kritik der reinen vernunft. Berlin:
Walter de Gruyter, 1966-71. V.1/3.
KANT, I. Kants Gesammelte Schriften. 29 Band. Berlin: Georg Reimer, 1902.
______. Da utilidade de uma nova Crítica da razão pura (Resposta a Eberhard). São Paulo:
Hemus, 1975.
______. Prolegômenos a toda metafísica futura que se queira mostrar como ciência. In: Textos
Selecionados. São Paulo: Abril Cultural, 1980. (Coleção Os Pensadores, Kant II).
______. Crítica da razão pura. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983. (Coleção Os Pensadores,
Kant I).
______. Lógica. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1992.
______. Opus Postumum. Cambridge: Press, 1993.
______. Crítica da razão pura. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.
______. Acerca da forma e dos princípios do mundo sensível e inteligível. In: SANTOS, L. R. dos.;
MARQUES, A. Dissertação de 1770 seguida de Carta a Marcus Herz. 2. ed. Lisboa: Casa da
Moeda, 2004. p. 23-105
______. Sonhos de um visionário explicados por sonhos da metafísica. In: ______. Escritos précríticos. São Paulo: Ed. Unesp, 2005. p. 141-218.
______. Ensaio sobre as doenças mentais. In: ______. Observações sobre o sentimento do belo
e do sublime seguido de Ensaio sobre as doenças mentais. 2. ed. Campinas: Papirus, 2000. p. 8396.
LEBRUN, G. O aprofundamento da “Dissertação de 1770” na “Crítica da razão pura”. In: Sobre
Kant. São Paulo: Iluminuras, 2001. p. 37-50.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
326
______. A aporética da coisa em si. In: Sobre Kant. São Paulo: Iluminuras, 2001. p. 51-68.
______. Kant e o Fim da Metafísica. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
PONS, J. C. Kant : assaig per introuir en filosofia el concepte de magnitud negativa i Somnis d’un
visionari explicats per somnis de la metafísica (comentari). Enrahonar, Barcelona, n. 4, p. 37-45,
1982.
TORRETTI, R. Manuel Kant : estudo sobre los fundamentos de la filosofia crítica. 2. ed. Buenos
Aires: Editorial Charcas, 1980.
TROBRIDGE, G. L. Swedenborg, vida e ensinamentos. Rio de Janeiro: Sociedade Religiosa A Nova
Jerusalém, 1998.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
327
Indivíduo hipermoderno e o consumo
Marco Antonio Gonçalves *
RESUMO
Pretende-se desenvolver uma análise ética sobre as características e padrões de consumo
hipermodernos que reforçam e incentivam manifestações hedonistas e individualistas que
transformam o ser humano em mercadoria e que geram sensações e atitudes de vazio e de
decepção. Esta ação de pensar critica e eticamente perpassa por uma educação do consumo
consciente, analisado por Cortina, indicativo transformador desta sociedade hipermoderna na
compreensão que, para ter uma vida digna e feliz, deve-se ir além da aquisição de bens e
prazeres efêmeros. Iremos contextualizar o problema a ser pesquisado, evitando cair num
subjetivismo, mas traçar um raciocínio sobre o tema, apontando para as contradições ainda
contidas na hipermodernidade; assim como avaliar as consequências reais de nosso
comportamento como consumidores que estão contribuindo para o desequilíbrio ambiental,
refletir eticamente sobre a responsabilidade de cada cidadão na construção de valores que
assegurem o bem-estar humano e o respeito a todas as formas de vida em suas mais variadas
manifestações. A educação para o consumo é elemento-chave na conscientização da população
em relação à sua responsabilidade social, na busca do desenvolvimento sustentável do planeta,
unindo-nos às diversas formas de associação, de ação política, de lutas sociais e reivindicação
de novos direitos já existentes.
PALAVRAS-CHAVE: hipermodernidade, narcisismo; hedonismo; consumo; ética.
Introdução
Novos tempos: novas expectativas, novos desafios, novos valores? Uma afirmação que
poderia ser classificada como senso comum é que “o novo sempre é desafiador, gera
insegurança e provoca medo” e que, ao chegar certa idade, torna-se difícil romper com certos
*
Mestrando em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). E-mail: [email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
328
paradigmas que fizeram parte de nossa formação epistemológica. Quando nos deparamos com
a complexidade do indivíduo contemporâneo, temos a sensação de estarmos perdidos, sem
rumo, e qualquer vento é favorável nestas condições.
Procurando não assumir um discurso pessimista, que vê numa nostalgia do passado
que nunca existiu, a imagem de um futuro melhor, Lipovetsky, em suas obras e, mais
especificamente, em A era do vazio (2005), busca pôr uma luz no entendimento deste novo ser
humano. Encontramos em seu pensamento e também no de Charles (2009), algumas ideias que
contribuirão na reflexão ética que se pretende realizar. Afinal, estamos vivendo uma fase de
descalabro ético, um fim da história e fim da ética, ou uma fase de desconstrução de um
moralismo de submissão, de sacrifício, de condenação do prazer, a partir de um processo
construtivo autônomo e livre?
Iremos analisar a ideia de consumo consciente e sustentável, como um imperativo na
formulação de uma nova sociedade, que já desponta como uma manifestação de
responsabilidade social dentro do contexto sociocultural no qual se inserem diversas empresas
e cidadãos. Ele será consciente e sustentável quando o consumo de alguns não colocar em
perigo o bem-estar dos outros e não comprometer as opções das futuras gerações.
Somente com atitudes e procedimentos éticos será possível construir uma sociedade
mais justa questionando os valores impostos pela sociedade de consumo e buscar novos
parâmetros para a vida em sociedade que sejam formadores de consciência e atitude ética.
O indivíduo hipermoderno
Num primeiro momento, cabe-nos deixar claro que, ao classificar este indivíduo como
hipermoderno, diferenciando-o do conceito de pós-moderno, vamos ao encontro da tese de
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
329
Charles1 que defende que os princípios constitutivos da modernidade – racionalidade técnica,
economia de mercado, democratização do espaço público e extensão da lógica individualista –
não foram rompidos, mas estão sim radicalizados.
Parafraseando uma frase da música “Como nossos pais”, interpretada por Elis Regina,
“já não somos os mesmos, e não vivemos como nossos pais”, vê-se que, há menos de 40 anos,
vivíamos num contexto onde a moral rigorista ocidental conduzia-nos à valorização do sacrifício
e à condenação do prazer, onde a Família, a Igreja, o Partido e a Ideologia dominavam o cenário
social e serviram como os grandes baluartes de sentido da nossa existência. Vivíamos numa teia
coercitiva, que não nos permitia escolher, não sendo permitido refutar o discurso da
autoridade nem a autoridade do discurso.
Até data bastante recente, a lógica que permeava a vida cotidiana em seus diversos
níveis – político, produtivo, moral, escolar, etc.- consistia em imergir o indivíduo em regras
uniformes, em eliminar o máximo possível as formas de preferências e expressões singulares,
homogeneizar e universalizar as convenções e os imperativos, ou seja, impedir o livre
desenvolvimento da personalidade íntima, da diferença e da autonomia.
Estamos numa época em que não se crê mais na existência de um único e categórico
sentido, mas sim na construção permanente de sentidos múltiplos, provisórios, individuais e
grupais. Somos desafiados e convidados a sermos artistas e artífices de nossa própria
existência. Em contrapartida, isso traz o aumento da responsabilidade individual, visto que cada
um é co-autor do estatuto moral ao qual adere.
Na apresentação do livro A era do vazio, Silva (2005) sintetiza esta nova era ao dizer:
Não queremos a ilusão do futuro nem a coerção do passado. Postulamos a
intensidade do aqui e do agora como necessidades vitais. Não aceitamos viver
de promessas nem de patrimônio acumulado. Exigimos fazer por nós mesmos
o que somos e o que seremos, sem garantias de redenção nem obrigações
inquestionáveis. (p.XIII)
1
Com conteúdos bastante relevantes, Cartas sobre a hipermodernidade contribui para o debate evitando uma
atitude simplória de desespero ou indignação diante desta lógica individualista presente em diversos níveis.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
330
Tudo nos inquieta e assusta diante de um futuro incerto. A era da hipermodernidade
assinalou o declínio das grandes estruturas não encontrando mais resistências estruturais,
culturais ou ideológicas.
Lipovetsky (2005) remete seu raciocínio à ruptura da socialização disciplinar, ao
defender o direito do indivíduo ser absolutamente ele mesmo, de realizar-se, de ter respeitada
a sua singularidade subjetiva, de ter e ser uma personalidade incomparável, de viver livre e sem
pressões, de escolher o seu modo de existência. Com este processo, o individualismo sofre uma
atualização e assume uma nova manifestação narcisista. 2
O novo Narciso
O indivíduo contemporâneo não é destituído de personalidade, mas sim possui um
novo tipo de personalidade, uma nova consciência, feita de indeterminação e flutuação. Nos
tempos atuais, Narciso espelha a condição humana nesta mutação antropológica que se realiza
diante de nossos olhos: o surgimento de um perfil inédito do indivíduo nas suas relações
consigo mesmo e com o seu corpo, com os outros, com o mundo e com o tempo no momento
em que o “capitalismo” autoritário cede lugar a um capitalismo hedonista e permissivo
(LIPOVETSKY, 2005, p.32).
Vivemos para nós mesmos, sem nos preocuparmos com as nossas tradições e com a
nossa posteridade, abandonando o sentido histórico – vivendo o presente, nada mais do que o
presente, não mais em função do passado e do futuro. Ocorre um hiperinvestimento na esfera
privada. O Eu, preocupação central de atenção e de interpretação, é um elemento constitutivo
da personalidade deste indivíduo hipermoderno, tornando possível viver sem ideais, sem
finalidades transcendentais.
2
A compreensão deste conceito “narcisismo” por Lipovetsky vai de acordo com a definição dos sociólogos norteamericanos, ao entendê-lo como conseqüência e manifestação miniaturizada do processo de personalização,
símbolo da passagem do individualismo “limitado” ao individualismo “total”, símbolo da segunda revolução
individualista (prefácio p. XXI – A era do vazio).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
331
Esse novo ethos narcisista nos convida a pensar o processo global que rege o
funcionamento social. Narciso nada mais é do que uma busca interminável de Si Mesmo,
desprendendo-se do domínio do Outro. A partir do pensamento de Rubin e Lasch (apud
LIPOVETSKY, 2005, p. 36) podemos entender esta lógica: “amar a mim mesmo o bastante para
não precisar de outra pessoa para me fazer feliz”. Isso tudo seria a glorificação do reino do Ego
puro, de um narcisismo sem limites, um processo de personalização sem fim, pois Narciso acha
feio o que não é espelho.
O que caracteriza o nosso tempo, povoado por mônadas insensíveis e independentes
seguindo o pensamento lipovetskyano, é a existência de relacionamentos interindividuais sem
apego profundo, com independência afetiva unida a um complexo vazio emotivo interior, cada
um vivendo num bunker de indiferença, ao abrigo das próprias paixões e das dos outros.
Lipovetsky (2005) sustenta que
quanto mais se desenvolve as possibilidades de encontro, mais os indivíduos se
sentem sós; quanto mais as relações se tornam livres, emancipadas das antigas
restrições, mais rara se torna a possibilidade de conhecer uma relação intensa.
Por todo lado há solidão, vazio, dificuldade de sentir, de ser transportado para
fora de si mesmo (p. 57).
O indivíduo quer ser só, sempre e cada vez mais só, ao mesmo tempo em que não
suporta a si mesmo estando só.
A dinamicidade do ambiente, tempo e espaço contemporâneos é organizada para
acelerar a circulação dos indivíduos e, assim, pulverizar a sociabilidade. Os indivíduos se
tornaram mais sociáveis e cooperativos apenas aparentemente; por trás da tela do hedonismo
e da solicitude, cada um explora cinicamente os sentimentos dos outros e satisfaz os seus
próprios interesses sem a menor preocupação com as gerações futuras.
Estamos com o que fechados numa concha egocêntrica. Jovens e adultos, por
exemplo, que, fechando-se em si mesmos, tentam ou desejam neutralizar o mundo exterior
através de seus fones de ouvido, em seus sons extremamente altos, “vivem ligados à música
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
332
desde o amanhecer até à noite, como se tivessem a necessidade de estar sempre em outro
lugar[...]; tudo acontece como se eles precisassem de uma desrealização estimulante, eufórica
ou embriagadora do mundo” (LIPOVETSKY, 2005, p. 06).
Nas atuais festas dos grandes centros urbanos, com excessos de representações que
confundem e fascinam, onde tudo é em excesso, o som, as luzes, o ritmo musical, o laser,
projeção de filmes..., o frenesi eletrizante que transparece como uma espécie de
hiperteatralização entre seus participantes, os jovens estão mais empenhados em sentir seus
corpos em dança, do que em se comunicar com o outro.
Seduziste-me e me deixei seduzir...
Vivemos numa temporalidade sob a categoria do espetáculo que seduz a todos os que
desejam ter seus “quinze minutos de fama”. Lipovetsky (2005) afirma que a análise do social se
explicaria melhor pela sedução do que por noções como a de alienação ou de disciplina. A
sedução se tornou um processo geral com tendência a regrar o consumo – não
necessariamente de produtos, mas de hábitos, valores e aparências -, as organizações, a
informação, a educação, os costumes.
Criando um ambiente eufórico de tentação e proximidade, a sedução – amplamente
revelada numa sociedade de consumo – representa uma intensa e insaciável viagem sensorial e
pulsante que nos estimula e embriaga. Ela insere o indivíduo hipermoderno numa era de
consumismo na qual, ao mesmo tempo em que se uniformiza os comportamentos e estimula
desejos, prazeres e intimidades, obriga-o permanentemente a escolher, a tomar iniciativas, a se
informar, a criticar a qualidade dos produtos, a se manter jovem, etc.; em suma, essa sociedade
de hiperescolha faz com que o indivíduo assuma, também, encargos e responsabilidades, se
engaje num caminho de responsabilização.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
333
Vários sinais fazem pensar que entramos na era do hiperconsumismo e
hipernarcisismo. Estamos numa sociedade que massifica, padroniza e, ao mesmo tempo, cria
seres autônomos e ambíguos, estimula os prazeres e produz comportamentos angustiados e
esquizofrênicos divididos entre uma cultura do excesso e o elogio da moderação. Em
contrapartida, o medo de tornar-se obsoleto faz com que fiquemos obcecados por informação,
pelo novo, inédito, consumamos nossa própria existência prolongando incessantemente nosso
imaginário com pseudonecessidades, fenômeno que extrapola as categorias de classes sociais.
Por uma ética do consumo
O consumo irresponsável ou desenfreado gera impactos sobre o meio ambiente de
maneira a colocar em xeque a sustentabilidade do planeta e a viabilidade de uma vida digna
para as futuras gerações. Temos direito de comprometer a qualidade de vida dos que virão
depois de nós? Inicia-se uma nova perspectiva quanto aos seres futuros exigirem eticamente
compromisso daqueles que os gerarão mesmo que ainda não tenham sido gerados. O futuro
não pode ficar refém de atos irresponsáveis para aqueles que eventualmente venham a nascer
tornando-o inviável para esses eventuais futuros seres.
A sociedade de consumo produz incessantemente carências e desejos (materiais e
simbólicos). Os indivíduos passam a ser reconhecidos, avaliados e julgados por aquilo que
consomem, por aquilo que vestem ou calçam, pelo carro e pelo celular que exibem em público,
pelos aparelhos de última geração, etc. O próprio indivíduo passa a se auto-avaliar pelo que
tem e pelo que consome. Mas é muito difícil estabelecer um limite entre consumo e
consumismo, pois a definição de necessidades básicas e supérfluas está intimamente ligada às
características culturais da sociedade e do grupo a que pertencemos.
O consumo gera a necessidade de mais consumo, estimulado pelos conceitos de
velocidade, transformação e obsolescência, uma convocação permanente a uma vida no
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
334
presente, eternamente jovem e permeada por um hedonismo e um narcisismo tipicamente
contemporâneo, em que as armadilhas do desejo estimulam o consumo, mas, sempre
insatisfeito, é fonte inesgotável de ilusão, frustração e eterno recomeço.
As práticas de marketing, que induzem ao consumo exagerado, geram insatisfação
pessoal, o aumento da extração de recursos naturais e a geração de resíduos de todo tipo. Tal
lógica evidencia duas consequências negativas imediatas: a ecológica, com a depredação da
natureza, e a social, com a gestação de desigualdades e a diminuição da qualidade de vida.
Considerações finais
Nossa era parece estar marcada pela elaboração de uma ética a la carte. Onde tudo se
move, muda e possui uma fluidez, a corrosão do imperativo moral é vista, por muitos, como
sinal de decadência da estrutura social contemporânea, mas pode ser, na verdade, considerada
uma marca de libertação própria do indivíduo hipermoderno. Redimensionamos os valores –
não que eles deixaram de existir e deixemos de respeitá-los, mas que, agora, são
essencialmente resultados do diálogo e da comunicação. O moralismo caracteriza-se pelo
excesso de valores que não podem ser discutidos.
Tem-se de cuidar para não querer atribuir, ingênua e ansiosamente, ao narcisismo a
ruína do sistema e atribuir-lhe um signo da “desmoralização” contemporânea. Quanto mais se
acentua o direito subjetivo de viver livre, mais se impõe socialmente a temática dos valores e
da responsabilidade. Narciso está agora em busca de limites, de ordem e de responsabilidade à
sua medida. (LIPOVETSKY, 2005, p.196)
Podemos atuar de forma subordinada aos interesses do mercado ou podemos ser
insubmissos a regras impostas de fora, erguendo-nos como cidadãos e desafiando os
mandamentos do mercado. Se o consumo pode nos levar a um desinteresse pelos problemas
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
335
coletivos, pode nos levar também a novas formas de associação, de ação política, de lutas
sociais e reivindicação de novos direitos.
O ato de consumir é também um ato de cidadania, pois com ele se escolhe em que
mundo se quer viver. Cada pessoa deve escolher produtos e serviços que satisfaçam as suas
necessidades sem prejudicar o bem-estar da coletividade, seja ela atual ou futura. Num mundo
globalizado, onde a própria atividade política foi submetida às regras do mercado, o exercício
da cidadania não pode ser desvinculado do consumo, uma das atividades onde atualmente
sentimos que pertencemos a um grupo e fazemos parte de redes sociais. O consumo não é uma
simples possessão individual de objetos isolados, mas apropriação coletiva – através de
relações de identidade e distinção com os outros – de bens que proporcionam satisfação
biológica e simbólica.
Ao propor uma ética do consumo no séc. XXI que implicará em redirecionamento
educacional das novas gerações no que tange à mudança de comportamentos de consumo
exige-se que haja um desenvolvimento de uma consciência moral do sujeito que, além de
consumir de forma autônoma tomando consciência das motivações pessoais e crenças sociais
que intervêm em suas escolhas, satisfaçam num princípio de corresponsabilidade as exigências
de justiça que levem em conta o conjunto da humanidade.
Isso mudará substancialmente ao repensarmos os atuais padrões de consumo e a
responsabilidade no pós-consumo, sua interferência no meio ambiente, numa nova consciência
ecológica geradora de mudança de comportamentos e hábitos de consumo. Uma nova ética de
consumo sustentável, voltado à sustentabilidade que compatibilize desenvolvimento, defesa
dos consumidores e meio ambiente é um desafio que se instaura para uns, e uma contradição
para outros.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
336
Referências bibliográficas
LIPOVETSKY, Gilles. A Era do Vazio. Barueri: Manole, 2005
CHARLES, Sébastien. Cartas sobre a hipermodernidade. São Paulo: Barcarolla, 2009
CORTINA, Adela. Por una Ética del Consumo. Montevideo: Univ. Católica; Taurus, 2003. 349 p.
SILVA, Jurandir Machado da. Vazio e comunicação na era “pós-tudo”. In: LIPOVETSKY, Gilles. A
Era do Vazio. Barueri: Manole, 2005 ( p. IX-XXIV)
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
337
A importância de Herbert Marcuse para a relação entre Teoria Critica e
Psicanálise no contexto da década de 30
Maria Érbia C. Carnaúba *
RESUMO
Nessa comunicação pretendemos debater um dos aspectos da recepção da psicanálise pela
teoria crítica no livro Eros e Civilização de Marcuse. Mas antes mesmo do debate propriamente
dito, faz-se necessário expor um padrão prévio implícito sobre a relação entre a Teoria Critica e
psicanálise estabelecido pelo autor em seu “Epílogo” de Eros e Civilização. Além de mostrar
como a ala “esquerda” entende a psicanálise, é preciso também em seguida relacionar tal
concepção aos escritos de Horkheimer de 1930, não apenas “Studien über Autorität und
Famílie”(1936) (Estudos sobre Autoridade e Família), mas ainda “Egoismus und
Freiheitsbewegung” (1936) (Egoísmo e Movimento de Libertação). Dois fatores muito
importantes da teoria de Marcuse são a historicização das categorias psicanalíticas e a
afirmação do caráter modificável do princípio de realidade. Todavia, não podemos inferir que
tais características isoladas constituem o aspecto critico de nosso autor, uma vez que, muito
antes dele, Reich e outros autores freudo-marxistas já haviam tecido teorias que consideravam
esses dois fatores, mas distanciaram-se da Teoria Crítica. É justamente ao tratar desse
distanciamento que Marcuse se opõe, logo na introdução de Eros, às escolas neofreudianas e
aos revisionistas, por acreditar que “a teoria de Freud é, em sua própria substância,
‘sociológica’, de modo que nenhuma nova orientação cultural ou sociológica é necessária para
revelar essa substância”. Ao acrescentar uma nova orientação à substância sociológica, os
revisionistas cometem um grande equívoco, já que a uma das tarefas da sociologia é tentar
explicar porque determinados temas surgem na história e desaparecem subitamente como se
nunca tivessem sido pensados. É sobre as conseqüências desse rompimento com o
revisionismo que gostaríamos de discutir.
PALAVRAS-CHAVE: psicanálise, teoria crítica, Marcuse.
*
Pós-graduanda em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Bolsista FAPESP. E-mail:
[email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
338
Começamos o nosso debate com a seguinte citação:
Na ótica deste trabalho, a critica mais geral que pode ser formulada, é a de que, em sua
preocupação em sociologizar o freudismo, perderam de vista que este já era, em sua
essência, sociológico, e em sua preocupação de desmistificar o pessimismo cultural de
Freud, mostrando que esse pessimismo só é justificado na civilização burguesa,
sucumbiram a um otimismo neo-rousseauísta que trivializa a dialética imanente do
freudismo, na qual consiste, justamente, a sua força critica.1
Essa “harmonização antidialética” entre individuo e sociedade tal qual descrita por
Rouanet, nos ajuda a entender o que Marcuse diz na introdução de Eros ser uma razão para o
distanciamento dos neofreudianos: eles tornam o “biologismo” freudiano algo superficial, pois
tudo que é biológico é cultural. Também negligenciam a importância da ação do inconsciente,
de modo que tudo passa a ser consciente e, o erro mais grave é eliminar as raízes da sociedade
nos instintos, amenizando o conflito entre indivíduo e sociedade, de maneira a rejeitar a
antítese freudiana (tão fundamental para os teóricos críticos). O conflito é explicado nos termos
de um sujeito que se depara com seu “meio” pré-fabricado e nada mais, não há discussão
alguma sobre sua origem e legitimidade. A crítica revisionista mantém-se no âmbito das
instituições estabelecidas e, por conseqüência se torna ideológica:
não há nela base conceitual fora do sistema estabelecido; a maioria de suas idéias e
valores críticos são aqueles fornecidos pelo sistema; a moralidade idealista e a religião
celebram sua feliz ressurreição: o fato de estarem embelezadas com o vocabulário da
própria psicologia que originariamente refutou suas alegações mal esconde sua
identidade com atitudes oficialmente desejadas e anunciadas.2
A crença na reconciliação entre homem e natureza provém também de um rigoroso
kantismo, baseado na autodeterminação humana, em que os esclarecidos possuem domínio
completo da existência social. Coube aos teóricos críticos ultrapassar essa fase iluminista,
debatendo sobre as conseqüências do pessimismo cultural de Freud, sem tomar uma síntese
como finalizada. No caso específico de Eros, fica claro o cuidado em manter dialética dos
1
2
Ibdem, p.67
MARCUSE, H. Eros and Civilization, p.6.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
339
conceitos de Freud que sofrerão uma transformação histórica. Ainda na introdução, Marcuse
defende que sua historicização dos conceitos se difere da revisionista, posto que, eles não
lidam com os textos da metapsicologia e sua tardia teoria dos instintos, onde se encontra toda
a estrutura e riqueza histórica. Tais conceitos (como pulsão de morte e a hipótese da horda
primitiva) revelam a base explosiva da cultura e por conta disso e de sua obscuridade que
impede qualquer verificação clinica reconhecida até pelo próprio Freud, é que os neofreudianos
negligenciaram essa parte de sua teoria.
Mas somente em seu “Epílogo”, Marcuse discorre sobre essas criticas aos
revisionistas e expõe a tentativa de Reich delimitar a psicanálise em esquerda e direita, sendo
que há uma cisão nas duas vertentes. Reich ainda se pretende estar na esquerda, dentre outros
motivos, pelo fato de ele reconhecer que “a repressão sexual é imposta pelos interesses da
dominação e exploração e, por seu turno, na medida em que esses interesses são reforçados e
reproduzidos pela repressão sexual”.3 Entretanto, há um problema em seu conceito de
repressão sexual: ele ignora a dinâmica dos instintos sexuais, ao desprezar a pulsão de morte.
Consequentemente, o avanço social depende apenas de uma simples libertação sexual que
pode acontecer a qualquer hora, ou seja, instaura-se aqui uma espécie de conformismo. A
sublimação não é problematizada em Reich, não existe nenhuma diferenciação entre
sublimação repressiva e não-repressiva.
A dinâmica da repressão desenvolvida por Freud é ignorada pelos neofreudianos que
acabam, de certo modo, purificando a psique, ao trazer a tona uma ética idealista ou mesmo
uma filosofia da alma. Tal rejeição desses conceitos não acontece por acaso, mas faz parte de
uma decisão política.
Confrontada com as escolas revisionistas, a teoria de Freud assume agora um novo
significado: revela mais do que nunca a profundidade de sua critica e – talvez pela
primeira vez – aqueles de seus elementos que transcendem a ordem predominante e
ligam a teoria da repressão com a de sua abolição.4
3
4
MARCUSE, H. Eros and Civilization, p.139
Ibdem, p. 241
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
340
O conteúdo crítico da teoria de Freud está justamente na contradição inscrita no
conceito de repressão, pois na luta das forças contidas nela há um potencial emancipatório que
pode transcendê-la e aboli-la, como pode ocorrer o contrário também que é a tendência já
identificada por Freud no período pós-guerra e por Marcuse no diagnóstico da sociedade do
desempenho.
A identificação entre teoria da repressão e a teoria 5 de sua abolição começou com o
ímpeto do revisionismo da escola cultural e nesse sentido, Erich Fromm ganha destaque e pode
ser lembrado como grande ícone que impulsionou o debate entre psicanálise e materialismo
interdisciplinar nos anos 30. Junto com Horkheimer e Marcuse desenvolveu muitas
contribuições que ajudaram a construir um debate específico sobre essa disciplina que, aos
poucos, ganhou relevância central naquela ocasião. Em Estudos Sobre Autoridade e Família, os
três autores desenvolvem um estudo sobre o papel da família como agente sociológico. A
introjeção da autoridade no indivíduo com sua concessão para uma satisfação masoquista e a
critica ao biologismo de Freud são pontos de acordo entre eles, dentre outras idéias que, de
uma maneira geral, conduzem a pensar a emancipação individual e social na esfera da
psicanálise.6 Mas Fromm se afastou gradativamente do que Horkheimer, Adorno e Marcuse
entendiam por ser a teoria freudiana. Um dos seus pecados principais foi suprimir a pulsão de
morte, as conseqüências disso tomaram rumos que se distanciam da critica. Por isso, em 1939,
Fromm rompeu com o Instituto de Pesquisas Sociais. Algumas objeções a Fromm foram
apresentadas diretamente por Marcuse, a respeito das quais discorreremos a seguir.
Entretanto, nem sempre as criticas de Marcuse foram semelhantes às de Horkheimer, embora
ambos tenham se afastado dele. O que importa aqui é mostrar as suas afinidades para traçar
um padrão de Teoria Critica, de maneira a aproveitar o exato momento. Isto pode corroborar
com a nossa hipótese central de que este serviu para Marcuse historicizar as categorias
psicanalíticas, dado que havia um olhar sob o elo entre psicanálise e Teoria Critica
compartilhado por Horkheimer e Marcuse.
5
Ver mais sobre a crítica a Fromm em Eros and Civilization, nas páginas 241-244.
Sobre as contribuições de Fromm junto a Horkheimer e Marcuse, é interessante o artigo de MARIN, I.L.
Psicanálise e Emancipação na Teoria Critica. In: Curso Livre de Teoria Critica, pp.233-237.
6
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
341
Como poderíamos definir um modelo crítico? Mais adiante nos ateremos
precisamente nessa análise. De pronto, podemos dizer de uma maneira bem sucinta que, é
possível “compreender cada modelo critico, não apenas em sua tentativa de produzir o
diagnóstico do tempo mais abrangente e preciso possível, mas também na constelação
disciplinar, que põe em pratica a cada vez”. 7 No contexto da década de 30, a economia política
é que se encontra no eixo dessa constelação disciplinar.
Na década de 30, o materialismo interdisciplinar se caracteriza pela variedade de
pesquisadores de diversas disciplinas, mas que compartilham do desígnio comum de superar a
dominação do capital, baseados na teoria de Marx. Nesse primeiro momento, Marcuse está de
acordo com Horkheimer quase sempre, sobretudo no que diz respeito a sua crítica ao
revisionismo.
A obra Eros e Civilização, no que diz respeito ao diagnóstico, acaba por divergir de
Dialética do Esclarecimento, por ter um diagnóstico implícito de utopia. Mas se considerarmos
o prefácio de 1966, veremos que seu diagnóstico de tempo carrega muitos aspectos dessa
ultima. Só estará mais claros os pontos em comum das duas obras citadas em One-Dimensional
Man, quase dez anos depois, ocasião em que ele explicita os obstáculos que não permitiram
que sua utopia fosse realizada. No que tange a psicanálise como disciplina, há muitas
convergências entre o que Eros propôs e o que Horkheimer entendia ser sua contribuição. Um
dos pontos em comum é a critica ao positivismo que a psicanálise permite esboçar com a
descoberta de que o homem tem instâncias para além da consciência, que não se permitem ser
totalmente conhecidas.
Num contexto de ascensão do nazismo, Horkheimer se identifica com o pessimismo
cultural de Freud e seu novo diagnóstico é de impossibilidade e bloqueio da emancipação.
Nesse sentido, a psicanálise ganha valor na sua obsolescência. A economia política sai de cena e
dá espaço central a psicanálise. O primeiro ponto que une Marcuse, Horkheirmer e Adorno é a
discordância com a rejeição de Fromm e dos revisionistas da pulsão de morte. Os três se unem
contra esse modo de ler Freud, mas também é aqui que Marcuse se separa de Adorno e
7
NOBRE, M. in: Curso Livre de Teoria Crítica, p.20.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
342
Horkheimer, pelo seu vislumbre utópico da possibilidade da emancipação. Um trecho de
Rouanet nos ajuda a esclarecer os rumos tomados por cada autor:
Ao mesmo tempo, a rejeição revisionista da teoria das pulsões comporta para Marcuse a
conseqüência inaceitável de impossibilitar uma reflexão sobre o futuro utópico da
humanidade, além do princípio de realidade vigente. Nisso distancia-se de Adorno e
Horkheimer, para os quais o mero projeto de tal reflexão já é repressivo. Assim,
enquanto os primeiros criticam Freud por levar a sério entidades instrumentais - que
Kardiner chama de mitos freudianos – como o parricídio primitivo, ou a lenda de Moisés,
atribuindo ao plano filogenético o que só é verídico ontogeneticamente – Marcuse
parte, exatamente, de tais mitos para fundar sua utopia. 8
Os três discordam da rejeição revisionista da pulsão de morte, que configura a
heterodoxia de Fromm. Porem, Marcuse vai mais além, pois ele ainda está, em Eros e
Civilização preocupado com a dimensão utópica. Dimensão tal que não está mais no horizonte
das possibilidades em Dialética do Esclarecimento. Enquanto Adorno e Horkheimer defendiam
a ortodoxia freudiana, Marcuse buscou uma heterodoxia diferente daquela de Fromm.
Mas enquanto a heterodoxia de Fromm, partindo da refutação da teoria das pulsões,
chega a resultados compatíveis com o princípio de realidade, a de Marcuse, partindo da
defesa tenaz daquela teoria chega a resultados que explodem o marco da ordem
vigente. Somente Marcuse crê atingir esse objetivo, não revendo Freud ou
acrescentando, de fora, considerações pretensamente sociológicas, mas desprendendo,
no âmago da estrutura pulsional, a presença do social.9
A teoria de Fromm revelava o conteúdo social da teoria freudiana ao atribuir à
sexualidade uma função de “força produtiva”. Se a sexualidade é enfraquecida, então a crítica
sociológica também enfraquece e a substância social da Psicanálise sofre uma redução. Fromm
reconhecia o conteúdo histórico das pulsões, tal como Marcuse e utilizava um conceito que é
análogo ao princípio de desempenho de Marcuse: cultura patricêntrico-aquisitiva (“patricentricacquisitive” culture), a qual também pode ser superada historicamente pela idéia de uma
cultura matricentrista. Esse novo princípio de realidade seria levado ao cabo pelos interesses
8
9
ROUANET, S.P. Op.cit.p.223
Ibdem, p.225
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
343
das relações libidinais gratificadas entre os homens, ou seja, não mais pelo interesse da
dominação.
O grande problema de Fromm está no desenvolvimento de sua teoria que se dá
através da terapia psicanalítica, estabelecendo um grau de importância maior do que a teoria.
A relação paciente-analista subentende uma reivindicação de felicidade que é impossível de ser
concretizada na teoria psicanalítica. Ao afirmar tal reivindicação, o conflito com uma sociedade
que só permite uma felicidade limitada aumenta num sistema em que a tolerância ainda não é
um elemento constitutivo das relações pessoais, econômicas e políticas. Felicidade individual e
desenvolvimento produtivo numa sociedade repressiva estão em contradição, e não podem ser
definidos como valores a serem realizados nesta, dado que adquirem um caráter ainda mais
repressivo.
O radicalismo dos revisionistas que os leva a contestar o “biologismo” de
Freud, supostamente baseado no postulado anti-histórico da imutabilidade da
natureza humana, revela-se no fundo, infinitamente mais conservador do que
a tentativa freudiana de hipostasiar, como constantes antropológicos, variáveis
históricas. Pois nessa tentativa estava implícita a recusa inviável, mas tenaz, do
princípio de prazer contra o princípio de realidade, e a reivindicação a
felicidade, contra as exigências repressivas da cultura.10
O biologismo de Freud incomodava Fromm, visto que era uma maneira de Freud
ignorar o ambiente em que as neuroses se formavam, que, por conseguinte, poderia ser
somente cultural. Marcuse também vai criticar esse biologismo, mas apenas no que diz respeito
a conceitos que antes eram constantes antropológicas e passam a ser variáveis históricas. O
conceito de repressão é um exemplo dessa transformação. Durante vários momentos históricos
ele mudou e não foi simplesmente suprimido por Marcuse, e sim ganhou uma nova conotação
diante de um novo princípio de realidade. Já no caso do revisionismo, a libido e as pulsões são
suprimidas, pois os homens não precisam mais que a sociedade reprima essas características
primitivas. O valores morais e éticos são absolutizados para a personalidade total, que “será
10
ROUANET, S.P. Teoria Critica e Psicanálise, p.220.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
344
uma união das qualidades psíquicas inatas e adquiridas que farão desse indivíduo um ser
único.”11
O centro da critica marcuseana está na critica à dessexualização da psicanálise que
extingue qualquer incompatibilidade insolúvel entre o principio de prazer e o principio de
realidade. O Man for Himself (personalidade autônoma, integral ou total) de Fromm está em
harmonia com a ordem existente e este pode alcançar, de forma não-problemática, uma
felicidade baseada em certos valores morais, como amor, cooperação e a autonomia interior,
em contraste com certas tendências destrutivas da cultura, como a competição e a
agressividade mútua. Segundo Marcuse, tal personalidade pode existir dentro de uma minoria
muito restrita de excepcionais, porém até mesmo estes privilegiados se frustram, uma vez que
as contradições da sociedade vão continuar a existir.
Demonstramos aqui o que seria o padrão de uma “vertente da psicanálise de
esquerda” que, reconhece as contradições entre sociedade e indivíduo, não dessexualiza as
pulsões e, a partir das categorias psicanalíticas, inicia uma reflexão sobre a utopia. Marcuse usa
esse epílogo para se defender, mas também para se dizer de antemão partidário de uma
maneira de conceber a psicanálise que é própria da Teoria Critica. Contudo, é importante
salientar que sua recepção da psicanálise diverge em certos aspectos do padrão de Horkheimer
e Adorno no segundo modelo critico em Dialética do Esclarecimento (1947), que utiliza a
psicanálise como instrumento de critica do existente. Para Marcuse a psicanálise serve para
isso, mas também é fomento para o seu projeto utópico em Eros. Apesar dessa diferença, o
prefácio de 1966 aponta muitos obstáculos à realização da emancipação e, nesse sentido
podemos dizer que Marcuse se aproxima mais ainda da teoria de Horkheimer.
11
MARIN, L.I. Psicanálise e Emancipação na Teoria Critica. In: Curso Livre de Teoria Critica., p.239.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
345
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
HORKHEIMER, M. Autoridad y Familia (1936). Teoria Critica. Amorrortu editores, Buenos AiresMadri. 2003.
____________ Egoísmo y Movimiento Libertador (1936). In: Teoria Critica. Amorrortu editores,
Buenos Aires-Madri. 2003.
___________ Filosofia e Teoria Critica. Os Pensadores. Trad. Edgar Afonso Malagodi e Ronaldo
Pereira Cunha. São Paulo: Ed. Abril Cultural, 1980.
____________ Teoria Tradicional e Teoria Critica. In: Os Pensadores. Trad. Edgar Afonso
Malagodi e Ronaldo Pereira Cunha. São Paulo: Ed. Abril Cultural, 1980.
____________e ADORNO, T. Dialética do Esclarecimento. Trad. Guido Antônio de Almeida.
Jorge Zahar editor, Rio de Janeiro, 2006.
JAY, Martin. A Imaginação Dialética. História da Escola de Frankfurt e do Instituto de Pesquisas
Sociais 1923-1950. ED. Rio de Janeiro, Contraponto, 2008.
MARCUSE, H. Eros and Civilization. A Philosophical Inquiry into Freud. Boston, Beacon Press:
1974.
____________ A Ideologia da Sociedade Industrial. Tradução Giasone Rebuá, Editora Zahar, Rio
de Janeiro, 1967.
_________One-dimensional Man: studies in the ideology of Advanced Industrial Society, Beacon
Press. 1991
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
346
Sobre a normatização da vida: um ensaio a partir de Nietzsche e Agamben
Mayara Annanda Samarine Nunes da Silva*
RESUMO
O presente ensaio volta-se ao exame do fenômeno da normatização da vida, entendido aqui
como a grande e cada vez maior regulação jurídica e moral das ações individuais dos
componentes de uma comunidade política, fato que vislumbramos nas sociedades ocidentais
contemporâneas, levantando a hipótese de ser, tal fenômeno, uma consequência direta e
inevitável dos valores democráticos modernos. Para tal, apóia-se nas ideias dos pensadores
considerados pós-humanistas Friedrich Nietzsche e Giorgio Agamben, buscando traçar
cruzamentos possíveis no que diz respeito a sua crítica aos e diagnóstico dos sistemas moral e
político predominantes a partir da Modernidade. Com Nietzsche refletiremos a respeito da
crise de valores, o niilismo, decorrente de um projeto cultural iniciado na Antiguidade com
Sócrates e o Cristianismo e que se reflete diretamente no âmbito político atual. Agamben nos
auxiliará no questionamento do conceito de vida que encontramos como alicerce do Estado
Moderno.
PALAVRAS-CHAVE: democracia, normatização da vida, niilismo, vida nua.
Introdução
Os ideais democráticos e os meios para o alcance de um equilíbrio entre liberdade e
igualdade nunca se apresentaram tão amplos e ao alcance da população em geral quanto neste
início de século (XXI), onde a maioria dos países, entre ocidente e oriente, adota sistemas de
governo representativos e possui como primeiro princípio a salvaguarda do indivíduo e sua
dignidade. Todavia, destarte o contexto tão favorável ao desenvolvimento da autonomia
*
Pós-graduanda em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Bolsista CAPES. E-mail:
[email protected]
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
347
humana almejada pela Modernidade, não parece ser este o caminho trilhado pelo indivíduo
contemporâneo, que se mostra sempre mais preso e perdido entre os conjuntos de regras
jurídicas e morais que balizam mesmo suas menores ações. O Estado ainda detém a última
palavra, sem possibilidade de apelar-se a outras instâncias, e a população não parece esforçarse por um rompimento com esta autoridade que lhe diz como agir. No Brasil, por exemplo, é
preciso que o Supremo Tribunal Federal decida questões essencialmente democráticas, como a
legitimidade do casamento homossexual e de movimentos reivindicatórios de ações
governamentais, como a marcha da maconha. Como compreender tal contradição?
O presente ensaio dedica-se a reflexão a respeito de uma possível resposta ao
questionamento elaborado acima, resposta esta que pode ser formulada através de uma nova
interrogação: a referida contradição não seria um problema já presente nas raízes do conceito
moderno de democracia? Adotando uma posição crítica a respeito do fenômeno aqui
denominado normatização da vida, qual seja, uma cada vez maior regulação jurídica e moral
das ações individuais dos componentes de uma comunidade política, e pautando-se em
aproximações possíveis entre os pensamentos dos considerados pós-humanistas Friedrich
Nietzsche e Giorgio Agamben, o texto apresentará argumentos voltados a defesa de uma
resposta afirmativa a esta última questão. Para tanto, deixando-se de lado a análise de suas
propostas políticas para determo-nos no problema em questão, o foco do trabalho restringirse-á às criticas elaboradas pelos referidos pensadores: Nietzsche em sua macro-análise da
constituição da cultura ocidental desde a Antiguidade, Agamben em sua observação quase
empírica a respeito da política do séc. XX e seus horrores totalitários, marcados pela biopolítica.
Parte-se, portanto, do pensamento de Adolfo Rocca (2009) de que
La filosofía de Nietzsche se configura así a partir de la reflexión en torno al
problema de la humanidad y la animalidad, es decir, se articula como un
intento de ir más allá del humanismo entendido como un esfuerzo de
domesticación del hombre en el que se pretende desinhibir su condición
animal (fracasando em el proceso). De allí la importancia de la discusión en
torno al estatuto biopolítico del hombre, debate en el que se insertan autores
como (...) Giorgio Agamben.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
348
Vida
Se desejamos falar a respeito das concepções de Nietzsche e Agamben, devemos levar
em consideração que ambos possuem como ponto central de seu pensamento uma
preocupação com a vida. Esta, contudo, é tanto entendida de forma diversa quanto
desempenha papeis diferentes na teoria dos pensadores. Se faz necessário entender o que
decorre da filosofia de cada um quando falamos sobre uma normatização da vida.
Ao falar em vida, o italiano Giorgio Agamben remete à distinção grega entre zoé e bíos,
respectivamente, a vida biológica/animal, do ser vivente, e a vida qualificada, alcançada
somente pelos homens, através da política. Alega, inspirando-se em Michel Foucault, que “nos
limiares da Idade Moderna, a vida natural começa, por sua vez, a ser incluída nos cálculos do
poder estatal, e a política se transforma em biopolítica” (AGAMBEN, 2002). Esta vida, que
encontra-se exposta sem qualquer proteção, a disposição de decisões políticas, ele denomina
vida nua, e do processo referido, afirma decorrer uma animalização do homem, que cada vez
mais abre mão da vida qualificada em nome da proteção da vida biológica. Segundo o filósofo,
a vida nua é o valor básico da política moderna, sendo que constitui mesmo o núcleo originário
do poder soberano estatal, e é a ela que são dirigidas as chamadas por Foucault de técnicas
políticas, “com as quais o Estado assume e integra em sua esfera o cuidado da vida natural dos
indivíduos” (AGAMBEM, 2002).
Friedrich Nietzsche, no entanto, ao filosofar com um século de antecedência a
Agamben, rompendo com a dicotomia natureza/cultura, viu a vida humana como um todo
integrado, tanto biológica quanto culturalmente: a vida qualificada como continuação e
decorrência da animal/corporal, e vice-versa. Desta apreensão da vida humana como
inseparável da natural, decorre sua definição de vida como vontade de potência. Juntando-nos
aos que interpretam a filosofia nietzscheana como uma espécie de cosmologia (perspectiva
adotada por Scarlett Marton), entendemos sua concepção de mundo como um jogo
permanente de forças e energias, sendo o traço comum dos seres orgânicos um desejo
constante de crescimento, expansão – a vida, então, seria a manifestação desta vontade: “a
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
349
vida mesma é, para mim, instinto de crescimento, de duração, de acumulação de forças, de
potência” (NIETZSCHE, 2007).
A vida humana é a manifestação das energias que compõem o corpo físico e se
transmutam em ação, criação, arte, estilo, cultura, e é esta vida, para Nietzsche, o critério de
avaliação por excelência. Forças que permitem a expansão da vida, favorecendo a criatividade e
o desenvolvimento da individualidade, são consideradas forças afirmativas. Forças que limitam
a capacidade criadora, padronizam e massificam, impedindo o crescimento da vida são forças
negativas. Nestas últimas encontramos as regras que normatizam a vida do homem moderno.
Nietzsche e a pequena política
Em seu estudo genealógico da cultura ocidental, Nietzsche identifica a transvaloração
iniciada por Sócrates e concretizada no cristianismo como estopim de um processo cultural que
tem como consequência lógica o niilismo da Modernidade. Para ele, a hipertrofia da razão e da
consciência e a vontade de verdade, decorrentes do modelo cultural citado acima, e aos quais
os homens em sua grande maioria conformaram-se, resultam no desenvolvimento de uma
moral ressentida (uma moral escrava, de fracos que atribuem a outrem a responsabilidade de
suas desventuras e definem como maus os fortes a quem invejam) e na autodestruição da
instância máxima de julgamento e produção dos valores: a morte de Deus. Chega-se a situação
niilista da Modernidade: o humano incapacitado de criar valores e romper com a moral
instituída, devido ao predomínio das forças negativas em sua cultura, já não encontra sentido
para suas ações e sua vida, ao não mais reconhecer a autoridade da religião na criação e
avaliação dos valores que o guiavam. Abre-se espaço para a secularização da autoridade
política, mas a ela falta um meio de legitimar-se.
Apesar de partidário da democracia durante o período intermediário de sua produção
intelectual, Nietzsche encontra nos valores modernos de liberdade e igualdade que a
sustentam a própria causa de sua falência. Os ideais libertários e igualitários são ficções criadas
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
350
pela moral fraca a que nos referimos acima que não levam em consideração que o processo de
socialização é um meio para o desenvolvimento da singularidade/originalidade, mas resultam
na generalização de um tipo humano extremamente egoísta e ressentido, pois “a base ética da
obrigação do indivíduo para com a sociedade é gradualmente corroída” (ANSELL-PEARSON,
1997). Para o filósofo alemão, os ideais democráticos constituem-se, portanto, de forças
negativas, que inibem a potência vital e a criatividade, dissolvendo as possibilidades de
singularidade na massificação de um caráter solipsista, e ignorando o necessário aspecto
trágico da vida, nos levando a um conformismo com uma ilusória promessa de segurança e
felicidade. Ademais, pautam-se em uma concepção de personalidade e consciência idealistas,
desvinculados do corpo, e, portanto, da vida como vontade de potência. Paradoxalmente, na
sociedade liberal moderna, quanto mais o homem valoriza o particularismo, menos
originalidade possui e mais fortemente restringe-se a moral vulgar: “sua [de Nietzsche]
desavença com a sociedade liberal moderna é que, embora sua ideologia de privatização da
política conceda aos indivíduos enorme grau de liberdade particular, só a faz a custa de solapar
as noções de cultura e cidadania” (Idem).
De um contexto de niilismo que busca a “salvação” através da democracia (em sua
concepção nietzscheana), a decorrência lógica é a normatização da vida da qual falamos aqui,
em um sentido mesmo de normalização: “onde a lei já não é tradição, como ocorre conosco, só
pode ser ordenada, imposta por coerção, de modo que temos que nos conformar com a lei
arbitrária” (NIETZSCHE, 2001). Para o filósofo, deve haver uma distinção entre cultura e política,
sendo esta última nada além de um meio para o desenvolvimento de uma cultura afirmativa; a
democracia, todavia, é um sistema totalizante ao pretender-se político e cultural, e não
proporciona um “espaço para o raro, o único e o nobre, isto é, um espaço para sentimentos e
esforços apolíticos, de modo a assegurar que nem tudo se politize, e, como resultado, se
vulgarize” (ANSELL-PEARSON, 1997). “Pequena política” é como pode ser reconhecida a política
negativa, limitadora e incompleta, contrapondo-se à sua proposta de uma “grande política”.
Para a possibilidade de uma expansão, uma afirmação, da vida, Nietzsche defende a
necessidade de uma autonomia que em sua concepção aproxima-se da ideia kantiana, mas que
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
351
diferencia-se desta em dois pontos: quanto a seu sujeito – o eu racional –, e em sua pretensão
de universalidade.
Nietzsche se preocupa com um estilo de caráter, não em prescrever uma série
especial de normas de conduta que legislem sobre o que é bom e o que é mal
para todos. Para Nietzsche, ao se tornar uma pessoa o que é, a tarefa é ajustar
conjuntamente suas forças e fraquezas em um plano artístico, ‘até que cada
uma delas se apresente como arte e razão, e mesmo as fraquezas deleitem os
olhos’. (...) Nietzsche encara o alcance da autonomia sob o aspecto de um
momento de individuação e diferença que distingue o eu dos outros seres
humanos (...) isso não acarreta, para Nietzsche,como para Kant, que se
acredite que todos os seres humanos devem conformar-se às mesmas
máximas universais da ação (...) uma parte essencial da reflexão de Nietzsche
além do bem e do mal é que uma virtude precisa ser a invenção pessoal de
cada indivíduo: ‘As mais profundas leis de conservação e crescimento exigem o
inverso de Kant: que cada um de nós deve projetar a sua própria virtude, o seu
próprio imperativo categórico’ (Idem).
Em contraposição, portanto, com a concepção nietzscheana de liberdade, “uma severa
auto-disciplina (...), vontade de auto-responsabilidade” (Ibidem), a liberdade moderna, parece
ter sido confundida com irresponsabilidade diante das ações individuais, pois o homem poupase de considerações autônomas sobre seus atos, visto já estarem estes prescritos pela ordem
política e moral vigentes: as forças negativas tornam-se, assim, dominantes, impedindo um
desenvolvimento afirmativo da vida.
Agamben e a biopolítica
Giorgio Agamben, embora não diretamente, pode ser considerado, de certo modo, um
herdeiro de Nietzsche, ao apoiar-se em Foucault (que, por sua vez, inspirou-se fortemente no
pensador alemão), e adotar como método a genealogia. Sua crítica aos valores políticos
modernos, apesar de também alcançar o fenômeno aqui nomeado como normatização da vida,
parte de fatos diferentes dos analisados por Friedrich Nietzsche.
Como já referido, Agamben apontou como alicerce da política moderna a vida nua,
uma vida matável. Ele utiliza o homo sacer – uma figura do direito romano que, incluída no
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
352
ordenamento através de sua exclusão em razão de uma condenação, torna-se insacríficável,
por encontrar-se em um limiar entre o mundo humano e o divino, e matável, pois qualquer um
poderia exterminá-la sem receber uma reprimenda em troca – para exemplificar a ideia de uma
vida nua, visto que, da mesma forma que esta foi incluída no ordenamento jurídico como
objeto de proteção, pode deste ser excluída a qualquer momento – fato que depende apenas
da decisão do soberano. A vida biológica, portanto, encontra-se a mercê de uma normatização,
bem como a vida qualificada, o modus vivendi, disponível diante do Estado, que a regula, ou
normatiza, em nome da preservação da primeira.
Tal como Nietzsche, Giorgio Agamben apóia-se na sociedade da Grécia Antiga para
iniciar sua crítica da política contemporânea. Ele nos diz que, para os gregos, o objetivo da
política era o alcance de um bem através da vida qualificada – deste modo, os valores que
qualificavam a vida, se assim se pode dizer, possuíam um peso maior mesmo que o da
preservação da vida do ser vivente (biológica): morria-se em nome da honra, por exemplo. Na
Modernidade, todavia, a vida biológica toma o lugar da vida qualificada na política, a zoé entra
na polis, transformado-se no valor central do sistema axiológico moderno. Esta mudança é
visível quando se observa a sociedade massivamente consumista e hedonista da atualidade.
Tal mudança tem importante impacto na concepção agambiana de soberania:
monopólio não da sanção ou do poder, mas da decisão. O soberano é aquele que decide sobre
o valor e o desvalor da vida, sendo, portanto, a vida nua a própria razão de ser da soberania,
pois depende de uma valoração, de uma definição. O corpo político, composto pelos corpos dos
indivíduos que compõem a população (conforme a metáfora do Leviatã) depende da saúde
destes para manter-se saudável: autoriza-se, então, a intervenção política no que há de mais
íntimo no indivíduo – seu corpo. Surge aí a biopolítica, com suas técnicas de cuidado e
dominação da vida natural, através do direito, da medicina, da eugenia, da disciplina.
O Estado Moderno legitima-se, portanto, por sua capacidade de proteção da vida,
como se verifica através da justificação hobbesiana de sua existência (salvaguardar o indivíduo
de um estado de guerra de todos contra todos, onde a vida encontrar-se-ia em risco constante).
Segundo Agamben (e ainda na trilha de Hobbes), tanto os estados totalitários quanto os que se
apresentam como democráticos legitimam-se a partir deste mesmo argumento. Deste modo,
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
353
conforme o autor, a enaltecida democracia fundar-se-ia no mesmo valor que o famigerado
totalitarismo: a vida nua (fato atestado pelas declarações de direitos humanos, através das
quais nota-se claramente que o que está em jogo é a vida como zoe – o próprio corpo é trazido
para dentro do ordenamento jurídico, por meio de institutos como o habeas corpus).
Ao prosseguirmos na linha de pensamento agambiana, a contraditória situação de
fortalecimento do fenômeno da normatização da vida no seio dos regimes democráticos
contemporâneos torna-se facilmente compreensível: é a expressão da pretensão totalizante
que se encontra nos fundamentos do pensamento político moderno. Parece-nos que enquanto
o fundamento da democracia, e dos demais sistemas políticos atuais, for a vida nua, não haverá
escapatória para a intensificação do fenômeno aqui analisado, pois este apresenta-se como
salvaguarda da vida biológica de sua população.
A normatização da vida
Trilhando diferentes caminhos teóricos e tratando de ocorrências diversas, os filósofos
que inspiram este texto aproximam-se em seu diagnóstico a respeito da política moderna –
enquanto os valores fundamentais da democracia permanecerem os mesmos, a normatização
da vida será uma fatalidade – e nos alertam para as consequências deste fenômeno,
apresentando ideias que aqui serão tratadas como complementares.
Em sua obra, Agamben, um estudioso do direito, centra seu exame nas consequências
políticas, ou talvez poderíamos dizer, coletivas, da constatada entrada da zoé na pólis, trazendo
à análise fatos históricos, como o holocausto. Nietzsche, um filósofo da cultura que se
autodefine como psicólogo, por sua vez, dirige ao fenômeno em questão um olhar existencial,
ou mesmo psicológico, destacando como sua resultante a decadência de uma vida entendida
como vontade de potência. Ambos enxergam no sistema axiológico contemporâneo um
esvaziamento do sentido da vida que leva ao niilismo e ao predomínio de uma vida nãoqualificada, hedonista e imediatista, onde o espaço político perde o caráter de arena de luta e
debate para tornar-se apenas um campo de controle. Neste contexto, não há espaço para
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
354
diferença ou alteridade, pois o outro, apenas um conceito formal – o sujeito de direitos – que
pode ser excluído deste status a qualquer tempo, não representa mais que uma ameaça de
insegurança e instabilidade. É a partir deste conformismo com a necessidade psicológica
humana de segurança, que leva ao desenvolvimento de uma vontade de verdade, que o Estado
moderno legitima-se e amplia seus poderes de modo a normatizar normalizando, garantindo
uma previsibilidade das condutas daqueles que constituem seu corpo político. Em tal situação,
o homem abre mão daquilo que seriam seus próprios direitos e de uma expansão de sua vida
em nome da preservação de seu status atual.
Tal estabilidade, contudo, resulta em hostilidade e ressentimento em relação ao
externo e ao desconhecido – ao diferente – pois a vida não se desenvolve, seguindo um
caminho inverso ao de sua natureza expansiva; esta situação, por sua vez, leva a aceitação de
um viver que torna-se disponível. Agamben constatou, acertadamente, que esta opção da
humanidade não poderia resultar em um fenômeno diferente do que identificou como o
surgimento dos campos – o lugar de habitação do homo sacer, a situação espaço temporal de
suspensão do ordenamento, onde a vida torna-se matável: presídios, campos de concentração
de inimigos políticos, de refugiados, favelas.
Tamanha regulação do viver, tal relevância atribuída às definições e generalizações,
uma cultura que não sabe criar, não transvalora, nos leva a consolidação de uma sociedade
onde a própria qualidade de homem é colocada em questão (AGAMBEN, 2002).
Conclusão
Não obstante as críticas apresentadas ao longo deste ensaio, ressaltamos que não se
pretendeu aqui promover uma desconstrução inconsequente do sistema democrático como um
todo, mas elaborar um convite a uma auto-análise da democracia capaz de levar não a
destruição, mas a uma transvaloração, uma nova atribuição de sentido aos valores que a
embasam, de modo a torná-la um instrumento potencializador de uma vida qualificada.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
355
Referências bibliográficas
AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I. Tradução de Henrique
Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.
ANSELL-PEARSON, Keith. Nietzsche como pensador politico. Tradução de Mauro Gama e Cláudia
M. Gama. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997.
CORREIA, Adriano. ¿La política occidental es co-originariamente biopolítica? Agamben frente a
Foucault y Arendt. Revista Observaciones Filosóficas, n. 08, 2009.
<www.observacionesfilosoficas.net>
FARRÁN, Roque. Filosofía Y Estado: La Dimensión Política De La Práctica Filosófica (En
Agamben, Nancy Y Badiou). Nomadas, Vol. 27, n. 03, 2010.
<http://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/>
GIACÓIA, Oswaldo. Nietzsche: filósofo da cultura. Um passado revisitado: 80 anos do curso de
filosofia da PUC-SP. São Paulo: EDUC, 1992.
______. O Indivíduo Soberano e o Indivíduo Moral. Assim Falou Nietzsche IV: A Fidelidade à
Terra. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
NIETZSCHE, Friedrich. O Anticristo e Ditirambos de Donisio. Trad. Paulo César Souza, São Paulo:
Companhia das Letras, 2007.
NIETZSCHE, Friedrich. A Gaia Ciência. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
_____. Genealogia da Moral. Trad. Paulo César Souza, São Paulo: Brasiliense, 1987.
______. Humano, demasiado humano. Trad. Paulo César Souza, São Paulo: Companhia das
Letras, 2000.
ROCCA, Adolfo V. Sloterdijk, Agamben Y Nietzsche: Biopolítica, Posthumanismo Y Biopoder.
Nomadas, Vol. 23, n. 03, 2009. < revistas.ucm.es/index.php/NOMA/>
RUBIRA, Luís Eduardo. O critério de avaliação nietzscheano. Assim Falou Nietzsche III. Rio de
Janeiro, 7Letras, 2001.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
356
SUAREZ, Rosana. Aspectos da “mínima política” de Nietzsche. "Assim Falou Nietzsche IV: A
Fidelidade à Terra". Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
TESHAINER, Marcus Cesar Ricci. Pensar a soberania a partir de Giorgio Agamben. Revista
Sociologia Jurídica, n. 11, dez/2010. <www.sociologiajuridica.net.br>
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
357
Apontamentos entre o conceito do eros em Platão e em Montaigne
Nelson Maria Brechó da Silva *
RESUMO
Esta comunicação tem como objetivo explicitar o pensamento de Platão e de Montaigne acerca
do eros. Primeiramente, analisa-se o diálogo platônico Banquete, principalmente a parte em
que o filósofo cita o mito de Aristófanes para narrar a origem do eros. Ele demonstra, por um
lado a originalidade perfeita do homem e, por outro lado, a sua divisão devido à sede insaciável
na busca das realizações que remetem aos seus desejos. Por conseguinte, numa segunda parte,
mostra-se a reflexão de Montaigne a respeito do eros e da philia. Para o pensador, a voracidade
do eros atua no ser humano como sentimento que o leva à agitação. A philia, por sua vez, é a
virtude perfeita que leva ao autoconhecimento, de modo a construir o seu retrato a partir do
relacionamento fraternal adquirido pela própria experiência do autor com La Boétie. Assim,
almeja-se elucidar estes conceitos para ver o que caracteriza cada um deles para os referentes
pensadores.
PALAVRAS-CHAVE: Eros, divisão, philia, experiência.
Para Platão, primeiramente, a natureza humana era diferente daquilo que
corresponde ao ser humano hoje. Ele afirma: “O que primeiro devem aprender é qual é a
natureza do homem e quais foram suas provações; é que no tempo de outrora, com efeito,
nossa natureza não era idêntica ao que é hoje, mas diferente” (O banquete189 d-191 d mito de
Aristófanes [trad. francesa de L. Robin, ed. Belles-Lettres] apud FOLSCHEID; WUNENBURGER,
1999, p. 136. Para o estudo de Platão será utilizado esta tradução no decorrer da comunicação).
Atualmente, existe, na condição humana, o gênero masculino e feminino. No entanto,
anteriormente, tinha-se o andrógino, cujo gênero compreendia concomitantemente o
*
Mestrando em Teologia pela PUC de São Paulo. Mestre em Filosofia pela UNESP de Marília. Bolsista Adveniat
(Alemanha). E-mail: [email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
358
masculino e feminino. Eis o primeiro momento desse texto platônico: o quadro da natureza
original do homem.
Segundo Platão, o homem possui diversas características, tais como: costas redondas,
flancos circulares, força e vigor. Além disso, acentua-se, também, um fator preponderante, o
orgulho, que o leva a enfrentar os deuses. Zeus e as demais divindades não sabem o que fazer
com os homens dessa espécie, devido ao demasiado orgulho que impera nesses homens. Por
esse motivo, as divindades terão que encontrar uma solução para tal aporia.
Destaca-se, agora, o segundo momento, a realização da punição divina com a divisão
da natureza humana por parte de Zeus. A partir disso, flui a natureza atual como tentativa de
tornar o homem mais moderado. Por esse motivo, Apolo, deus da organização, tem a função de
aproximar as partes do homem, que foram divididas por Zeus. Nesse sentido, o ser natural
dividido tem o ensejo de buscar a outra metade que lhe falta. A saudade toma conta do seu ser,
de forma que, ao encontrar a outra parte, sucumbem-se, ao invés de conseguir uma união,
porque se apresenta no âmbito do fragmentado.
Zeus sente compaixão ao ver que os homens sucumbem-se. Nisso, nota-se o terceiro
momento do texto: o nascimento e as funções de eros. Dessa maneira, por um lado, Zeus
determina o acasalamento entre o homem e a mulher. O fruto desse relacionamento consiste
na reprodução da espécie humana, a fim de que possa propagar uma nova geração. Por outro
lado, o acasalamento entre um homem com outro. O resultado da relação abarca apenas a
satisfação, ao passo que, quando saciada, voltam-se à ação. Assim, o trabalho é uma atividade
erótica. Platão postula: “ao mesmo tempo, no encontro de um macho com um macho, que a
satisfação fosse ao menos o fruto de seu comércio e que, saciados, pudessem voltar-se para a
ação, interessando-se pelas demais coisas da existência” (FOLSCHEID; WUNENBURGER, 1999, p.
136-137).
Vale dizer que o eros significa a tentativa de unir aquilo que se encontra separado. O
desejo de retornar à natureza primeira. Por essa razão, eros denota a falta, a lacuna e a
insatisfação da espécie humana que deseja unir aquilo que está dividido. Acrescenta-se,
inclusive, que eros compreende, segundo a interpretação de Folscheid e Wunenburger a
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
359
aspiração à totalidade do ser humano (cf. FOLSCHEID; WUNENBURGER, 1999, p. 139). Contudo,
somente ultrapassará este mundo, envolvido pela ação, quando aspirar à beleza em si, que se
encontra no mundo Inteligível. Platão explicita acerca do eros: “Portanto, é seguramente desde
esse tempo remoto que no coração dos homens se implantou o amor de uns pelos outros,
amor pelo qual é reunida nossa natureza primeira, amor cuja ambição é fazer, de dois seres, um
só, e assim curar a natureza humana” (FOLSCHEID; WUNENBURGER, 1999, p. 137). Para o
intérprete Batista Mondin, este “é o vértice da ciência do amor” (MONDIN, p. 71), porque a
beleza é a razão primeira, que, segundo Thonnard, proporciona a verdadeira felicidade inerente
à imortalidade do Bem, no desejo de amar e de se completar naquilo que se realiza no contato
com o outro (Tradução nossa do francês. Cf. THONNARD, 1946, p. 76).
A esta altura da apresentação, vale apresentar o pensamento de Montaigne. Para ele,
a afeição pelas mulheres não é comparável à amizade e muito menos pode substituí-la: “Nossa
afeição pelas mulheres, embora proveniente de nossa escolha, não poderia comparar-se à
amizade nem substituí-la” (Entre colchetes a edição francesa. MONTAIGNE; I, 28, 1946, p. 64
[1984, p. 92]). Fato curioso aqui é que o pensador usa o termo “afeição” para as mulheres. Isso
indica que a afeição não se restringe somente à amizade. Todavia, a afeição relacionada às
mulheres não contém a mesma essência da amizade. Não obstante, a afeição a elas é orientada
pela escolha do homem. Uma escolha diferente da amizade, porque é realizada pelo interesse e
movida pelo prazer. Já amizade é uma escolha em vista da igualdade e movida pela virtude, ou
seja, pela força de crescer fraternalmente.
Quando o autor fala no tocante à mulher, ele faz uma análise fundamentada em
Catulo, 57 a 84 a.C., poeta latino e lírico da Roma Antiga (Catulle, Épigrammes, LXVIII, 17 apud
MONTAIGNE; I, 28, 1946, p. 64-65 [1984, p. 92]). Em seguida, descreve as características da
mulher, de tal forma que acentua o fato de que ela só prende o homem por uma parte, porque
ela é sujeita a “interrupções de temperatura”. Além do mais, a mulher é representada como
“chama temerária e volúvel”, de maneira que não promove a constância, ou seja, a firmeza de
ânimo. A atitude temerária caracteriza a ação com heroísmo exagerado; imprudência;
irresponsabilidade e audácia irresponsável. Ser volúvel significa girar facilmente, que muda,
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
360
inconstante e instável. Assim, o amor a uma mulher não pode ser equiparado à amizade pela
inconstância.
Em contrapartida, a amizade apresenta um calor que abarca totalmente o homem, de
modo que: “o calor da amizade estende-se a todo o nosso ser; é geral e igual; temperada e
serena; soberanamente suave e delicada, nada tendo de áspero nem de excessivo”
(MONTAIGNE; I, 28, 1946, p. 64-65 [1984, p. 92]). O calor proporcionado pela amizade é
indicado pela expressão “temperada e serena”. Isto reflete o sentido da amizade como
completude, onde um completa o outro numa perfeita harmonia. A amizade tem uma função
“suave e delicada”, que incita holisticamente o homem. Acrescenta-se que o calor é igual e,
aqui, tem-se outro elemento importante para a explicação da amizade. Ela só é possível entre
pessoas que desejam vivenciar a vida com o pressuposto da igualdade.
Montaigne tece a reflexão da amizade a partir de sua experiência com La Boétie. Uma
amistosa amizade que dura pouco tempo, pois o amigo morre e leva parte de Montaigne. O
retrato de si mesmo, edificado pelo relacionamento fraternal de união das almas é corrompido
pela ação do tempo. Por essa razão, o autor continua a pintar o seu retrato a partir da escrita
de suas principais experiências que permitem novas reflexões. A perda do amigo coloca o autor
diante de uma aniquilação da subjetividade ou de um vazio do eu. A morte do amigo implica
uma perda parcial de si mesmo, pois o amigo não se encontra mais presente fisicamente. Ela
deve ser compreendida como o momento, não de uma aniquilação de si mesmo, mas como a
própria condição de sua expressão, na medida em que os ensaios surgem como um lugar
substituto de relação de si a si. Assim, os ensaios atuam como exercício de reflexão, na
recordação do amigo e na pintura de si mesmo.
A verdadeira imagem, levada por La Boétie, está aquém ou além da linguagem, como a
própria amizade – elas a dispensam, prescindem dela. A experiência da amizade é exatamente
o que dispensa o eu de dizer-se, de construir-se, pois aí ele existe em sua plenitude. Quanto ao
amor, procedente da palavra eros, entendido como paixão erótica, é, conforme o filósofo, um
desejo violento daquilo que escapa ao homem. Nisto, Montaigne cita a passagem de Ariosto,
1474 a 1533, poeta italiano que ridiculariza a nobreza feudal em decadência, ao mesmo tempo
que prenuncia o novo homem da Renascença. Na passagem de Ariosto assinalada por
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
361
Montaigne (cf. (Arioste, Roland furieux, X apud MONTAIGNE; I, 28, 1946, p. 65 [1984, p. 92]),
ele menciona o caçador que só tem desejo pela lebre enquanto a persegue. Vê-se, neste
sentido, o desejo de posse que está muito aquém do ideal da amizade, visto que, ao pegar a
lebre, o desejo passa, enquanto a amizade permanece igual, independente da aproximação ou
do distanciamento do amado, uma vez que a amizade é um sentimento revestido pela
temperança e serenidade.
Em relação ao amor e à concordância das vontades, vale dizer que à medida que o
amor assume os modos da amizade, ele perde a sua densidade, posto que ocorre uma
concordância das vontades. Mas, o que se entende por concordância? Compreende-se o ato de
pôr-se de acordo em relação a algo que seja comum entre amigos. Este gesto acontece à
proporção que se aplica a conversa na qual os amigos se interagem reciprocamente. Aliada à
concordância, acrescenta-se também a vontade de cada participante da amizade.
A vontade é a afeição que incita a pessoa a tomar uma atitude, visto que cada um tem
a capacidade livre de escolha, de decisão, de firmeza e ânimo. Além do mais, o amor eros tem
como objetivo ser carnal e a saciedade proveniente do seu estado levam a extingui-lo. A
expressão “carnal” diz tocante ao sensual e lascivo. A saciedade, por sua vez, compreende o
tédio e aborrecimento, porque designa o sentimento volúvel. Assim, ocorre a extinção do eros,
pois tem caráter superficial inerente ao gozo, que é meramente momentâneo.
Diferentemente do amor, a amizade cresce com a aspiração que o homem tem dela:
crescer mutuamente. Disto, oriunda o crescimento mútuo da amizade. O verbo “crescer” indica
que a amizade abarca a duração, a força e a estatura recíproca. Deste modo, no ato da
frequentação, ou seja, da convivência com o amigo, elucida-se que a amizade se eleva, porque
se coloca em plano superior, uma vez que a amizade é o maior sentimento que pode existir no
ser humano.
Além disso, desenvolve-se e se amplia, torna-se mais vasto, visto que tem cunho
espiritual e a forma de praticá-la apura a alma. Por que a amizade é de essência espiritual? A
amizade, como afeição maior que existe, tem uma noção vinculada ao espiritual pelo fato de
que ela completa aquilo que falta no âmago do homem. Na interpretação de Merleau-Ponty, o
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
362
homem apresenta uma mistura da alma com o corpo: “A mistura da alma com o corpo é, ao
contrário, o campo de Montaigne, ele só se interessa pela nossa condição de fato, e seu livro
descreve sem cessar esse fato paradoxal que somos” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 225). Por isso,
a amizade refina e humaniza devido ao fato de ela apurar a alma. Aí surge outra pergunta: Por
que, ao praticar a amizade, tal proeza apura a alma? À proporção que os amigos se frequentam
num relacionamento, mais se conhece do outrem e se toma, inclusive, consciência de si
mesmo, de modo a propagar a experiência do ser amigo.
Montaigne diz que experimenta em si mesmo duas paixões: amizade e amor. O que
significa paixão? Para ele, paixão significa o sentimento que contagia o interior do homem, que
acarretam duas vias: amizade, que se mantém nas regiões elevadas por ser a virtude mais
perfeita da qual o ser humano pode alcançar; e o amor, entendido no sentido puramente
erótico, de modo que num nível mais baixo do que a amizade. Montaigne admite
existencialmente as duas paixões e mais: não promove competição entre elas. Fato curioso a
ser analisado concerne à amizade, porque ela “olha desdenhosamente”, em outras palavras,
tem desprezo com orgulho, ausência de apreço no que diz equivalente ao amor fugaz.
Desse modo, nota-se que a amizade é insubstituível porque concilia totalmente o ser
humano. Logo, não é comparável às mulheres e tampouco ao amor compreendido como
paixão. Conforme Birchal, o amor como paixão tem o mesmo princípio do amor da amizade: a
capacidade de livre escolha, no entanto, é inferior à amizade: “Em relação ao amor erótico que,
como ela, é fruto de uma escolha livre, a amizade mostra sua superioridade inequívoca”
(BIRCHAL, 2000, p. 292). A amizade é superior, porque ela é a maior virtude que o homem pode
alcançar. Aquele que deseja ser virtuoso precisa construir a amizade. Tomar a consciência de
que é humano corresponde à tarefa central do homem.
Ter amizade indica ter a sua
experiência, num exercício constante para que se constitua a afeição pelo outro.
Nota-se, enfim, que Platão narra, com o mito de Aristófanes, a origem do eros. O
homem busca, por intermédio do trabalho, a sua realização. Com efeito, o trabalho tem uma
função erótica, pois não realiza o homem por completo. O homem precisa contemplar o Belo
que chega parcialmente à sua essência, uma vez que dividido, ele se encontra na esfera da
existência.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
363
Pode-se dizer que o eros ocorre pela livre escolha e na atração física pelo outro em
Montaigne. Nisto, assemelha-se à philia, porque esta também é formada pela livre escolha.
Contudo, ambas possuem uma diferença fundamental quanto à finalidade. Para o primeiro, a
finalidade é carnal e para a segunda é virtude perfeita. Montaigne experimenta com La Boétie
aquilo que há de mais belo no ser humano: a amizade como virtude perfeita.
De acordo com os dados analisados, constata-se que o pensamento platônico vai à
linha da origem do amor erótico; ao passo que Montaigne acentua o plano da experiência de
sua amizade com La Boétie. Por essa razão, nesse mundo hodierno, pensar sobre o eros e a
philia se torna algo de suma importância para que se possa distinguir aquilo que corresponde
às relações momentâneas e aquelas que perduram no âmbito da existência humana.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BIRCHAL, T. Montaigne e seus duplos: elementos para uma história da subjetividade. 2000. Tese
(Doutorado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.
FOLSCHEID, D.; WUNENBURGER, J. Metodologia filosófica. 2ed. São Paulo: Martis Fontes, 1999.
p. 136-139.
MERLEAU-PONTY, M. Leitura de Montaigne. In: ______. Signos. São Paulo: Martins Fontes,
1991. p. 221-235.
MONDIN, B. Curso de Filosofia. Os filósofos do Ocidente. 3ed. São Paulo: Paulinas, 1985. p. 5580. v.1.
MONTAIGNE, M. Essais. Paris: Les Belles Lettres, 1946.
______. Os ensaios. Tradução Sérgio Milliet. São Paulo: Abril Cultural, 1984. (Os PENSADORES).
THONNARD, F. J. Précis d’histoire de la Philosophie. Paris: Desclée, 1946. p. 46-82.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
364
Foucault e as sínteses objetivas
Rafael Fernando Hack*
RESUMO
Ao longo do período arqueológico, Foucault, apropriou-se de uma série de conceitos kantianos,
redefinindo-os e reestruturando-os. A reestruturação operada por Foucault incide, sobretudo,
no caráter transcendental destes conceitos. É o que ocorre no caso das sínteses objetivas. O
trabalho, a vida e a linguagem caracterizam-se como “transcendentais”, pois tornam possível o
conhecimento objetivo dos seres vivos, das leis de produção e das formas da linguagem. Estes
“transcendentais” operam uma síntese a posteriori e em um âmbito objetivo (isto é, em um
âmbito não propriamente transcendental). O conceito kantiano de síntese, presente na
analítica transcendental, refere-se, fundamentalmente, a um conhecimento proveniente da
junção de uma multiplicidade de representações. Assim, Kant (1999, p.107) nos diz: “Por síntese
entendo, no sentido mais amplo, a ação de acrescentar diversas representações umas às outras
e de conceber a sua multiplicidade num conhecimento.” A síntese, para Kant, se estabelece em
um âmbito transcendental; e, é responsável tanto pela unidade que dará forma ao
conhecimento (conceito puro do entendimento ou categoria) quanto pela adequação da
multiplicidade das representações a esta forma. Foucault, por sua vez, ao tratar das sínteses
objetivas esquiva-se de qualquer perspectiva transcendental que estas eventualmente teriam.
O filósofo atribui àquilo que ele denominou (guardada as devidas proporções), de
“transcendentais”, (ou seja, a potência de trabalho, a força da vida e o poder de falar) a
possibilidade de estabelecer uma unidade sintética que resultaria em um conhecimento. São as
“sínteses objetivas”, realizadas através destes “transcendentais”, que disponibilizam o valor das
coisas, as organizações dos seres vivos e as estruturas gramaticais e afinidades históricas entre
as línguas. Pretendemos, portanto, analisar o conceito de síntese objetiva presente em “As
palavras e as coisas”, bem como, sua presença nas ciências humanas.
PALAVRAS-CHAVE: sínteses objetivas, transcendental, representação.
*
Doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Bolsista CAPES. E-mail:
[email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
365
O conjunto de saberes que constituem as ciências humanas (ou seja, a psicologia, a
sociologia, a análise das literaturas e dos mitos 1), objeto da arqueologia desenvolvida em “As
palavras e as coisas”, bem como, as empiricidades modernas, estão vinculados a um
acontecimento ocorrido no final do século XVIII: o advento de um domínio transcendental. É,
sobretudo, através dos elementos concernentes a um âmbito transcendental que, de um modo
geral, os saberes modernos emergiram, daí a importância da crítica kantiana.
Kant interroga a representação naquilo que a torna possível. Para o pensador apenas
constatações empíricas e juízos de experiência se dão sobre os conteúdos da representação. As
outras ligações, para serem universais, devem estar pautadas no “a priori” isto é, além de toda
a experiência. O filósofo alemão, assim, discutirá a possibilidade das representações em geral.
De acordo com Foucault (2007, p. 334):
[...] A crítica kantiana marca, [...] o limiar de nossa modernidade; interroga a
representação, não segundo o movimento indefinido que vai do elemento
simples a todas as suas combinações possíveis, mas a partir de seus limites de
direito. Sanciona assim, pela primeira vez, este acontecimento da cultura
européia que é contemporâneo do fim do século XVIII: a retirada do saber e do
pensamento para fora do espaço da representação.
No final do século XVIII surge um tema transcendental, bem como novos campos
empíricos. Deste modo, por um lado, temos a perspectiva kantiana que “...interroga as
condições de uma relação entre as representações do lado do que as torna em geral
possíveis...”(FOUCAULT, 2007, p. 335). Tornando evidente um sujeito finito que não é dado a
experiência, mas que em sua relação com um objeto determina todas as condições de
possibilidade de qualquer experiência empírica. É através da análise deste sujeito
transcendental que o fundamento de uma síntese entre as representações torna-se possível.
1
Não trataremos as ciências humanas isoladamente em suas particularidades. Restringir-nos-emos apenas a sua
caracterização geral e aos seus elementos constituintes.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
366
Por outro lado, constitui-se uma forma de pensamento paralela a kantiana que,
valendo-se da noção de “transcendental” “interroga as condições de uma relação entre as
representações do lado do ser mesmo que aí se acha representado.”(FOUCAULT, 2007, p. 335).
É, justamente, esta forma de pensamento que pode ser observada na composição das
empiricidades modernas. Nela a interrogação não está propriamente naquele que conhece,
mas naquilo que se quer conhecer. Isto é, questionam-se as representações exteriores ao
sujeito responsáveis pela constituição da existência de um dado objeto. O que torna estas
representações possíveis são objetos que não podem ser objetivados, representações que não
podem ser representadas, visibilidades invisíveis: a potência do trabalho, a força da vida e o
poder de falar. Estas formas, que habitam o exterior de nossa experiência, determinam a
organização dos seres vivos, a estrutura gramatical, a afinidade histórica das línguas e o valor
das coisas. De acordo com Foucault (2007, p. 336):
Buscam-se assim as condições de possibilidade da experiência nas condições
de possibilidade do objeto e de sua existência, ao passo que, na reflexão
transcendental, identificam-se as condições de possibilidade dos objetos da
experiência às condições de possibilidade da própria experiência. A
positividade nova das ciências da vida, da linguagem e da economia está em
correspondência com a instauração de uma filosofia transcendental.
O trabalho, a vida e a linguagem acabam por se caracterizarem como
“transcendentais”, pois tornam possível o conhecimento objetivo dos seres vivos, das leis de
produção e das formas da linguagem. Mas, esses “transcendentais” diferem fundamentalmente
da concepção kantiana em dois pontos: Estão do lado do objeto e como na dialética
transcendental conferem a coerência a priori das multiplicidades empíricas, fundando-as num
ser anterior ao próprio conhecimento que atribui a ordem e o liame daquilo que se pode
conhecer. Além disso, estes “transcendentais” “...concernem ao domínio das verdades a
posteriori e aos princípios de sua síntese – e não a síntese a priori de toda experiência
possível.”(FOUCAULT, 2007, p. 336).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
367
A segunda diferença repousa, ainda, no fato de que os transcendentais direcionam-se
às sínteses a posteriori. Os fenômenos dados a experiência têm sua racionalidade e seu
encadeamento em um fundamento que não pode ser observado. Assim, o saber conhece os
fenômenos, as leis e as regularidades, escapando-lhe as substâncias, as essências e os seres.
Não obstante, isto implica em algumas consequências para o saber. Deste modo, Foucault
(2007, p. 342) declara:
[...] Sem dúvida, não é possível conferir valor transcendental aos conteúdos
empíricos nem deslocá-los para o lado de uma subjetividade constituinte, sem
dar lugar, ao menos silenciosamente, a uma antropologia, isto é, a um modo
de pensamento em que os limites de direito do conhecimento (e,
consequentemente, de todo saber empírico) são ao mesmo tempo formas
concretas da existência, tais como elas se dão precisamente nesse mesmo
saber empírico.
O homem, deste modo, passa a figurar simultaneamente como condição de
possibilidade para o saber e como ser determinado por este saber que ele mesmo constitui. A
antropologia se estabelece como um dos eixos privilegiados sobre o qual todo o saber será
determinado. O homem confere as condições para uma síntese “a posteriori” que o determina.
O conceito kantiano de síntese, presente na analítica transcendental, refere-se,
fundamentalmente, a um conhecimento proveniente da junção de uma multiplicidade de
representações. Assim, Kant (1999, p.107) nos diz: “Por síntese entendo, no sentido mais
amplo, a ação de acrescentar diversas representações umas às outras e de conceber a sua
multiplicidade num conhecimento.” A síntese, para Kant, se estabelece em um âmbito
transcendental; e, é responsável tanto pela unidade que dará forma ao conhecimento (conceito
puro do entendimento ou categoria) quanto pela adequação da multiplicidade das
representações a esta forma.
Foucault, por sua vez, ao tratar das sínteses objetivas esquiva-se de qualquer
perspectiva transcendental que estas eventualmente teriam. O filósofo atribui àquilo que ele
denominou (guardada as devidas proporções), de “transcendentais”, (ou seja, a potência de
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
368
trabalho, a força da vida e o poder de falar) a possibilidade de estabelecer uma unidade
sintética que resultaria em um conhecimento. São as “sínteses objetivas”, realizadas através
destes “transcendentais”, que disponibilizam o valor das coisas, as organizações dos seres vivos
e as estruturas gramaticais e afinidades históricas entre as línguas. Aí reside toda a infinita
tarefa do conhecimento.
O homem tem sua existência concreta determinada pelo trabalho, pela vida e pela
linguagem. São suas palavras, seu organismo e os objetos de sua produção que permitem
conhecê-lo. São, também, estas empiricidades que mostram sua finitude. Pois, do mesmo
modo que estas positividades permitem conhecer o organismo, as formas de produção e a
linguagem elas também informam sobre o caráter finito do homem.
Entretanto, a evolução das espécies, a modificação das formas de produção e a
possibilidade de expressar-se através de um sistema simbólico mais puro, anunciam o
indefinido do saber na marcha da humanidade. Mas, este indefinido só pode delinear-se
através da própria finitude.
A finitude do homem emerge diante de suas próprias experiências, e, são,
respectivamente, essas experiências que circunscrevem o homem como um ser finito no
âmbito do saber. Deste modo, Foucault (2007, p. 434) afirma:
No fundamento de todas as positividades empíricas e do que se pode indicar
como limitações concretas à existência do homem, descobre-se uma finitude –
que em certo sentido é a mesma: ela é marcada pela espacialidade do corpo,
pela abertura do desejo e pelo tempo da linguagem; e, contudo, ela é
radicalmente outra: nela o limite não se manifesta como determinação
imposta ao homem do exterior (por ter uma natureza ou uma história), mas
como uma finitude fundamental que só repousa sobre seu próprio fato e se
abre para a positividade de todo o limite concreto.
As analíticas da finitude tratam deste objeto limitado que é homem. São as atividades
desenvolvidas pelo homem que permitem simultaneamente conhecer aquilo que ele é e
estabelecer as positividades que permitem conhecê-lo. O homem é um ser limitado,
atravessado por processos produtivos, pelas suas condições de vida e pela sua linguagem; e,
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
369
são estes aspectos que evidenciam o homem como ser finito e que por serem provenientes do
homem também são limitados na sua intenção de conhecê-lo. Todas as empiricidades indicam
o caminho de uma analítica da finitude “... em que o ser do homem poderá fundar, na
possibilidade delas, todas as formas que lhe indicam que ele não é infinito.”(FOUCAULT, 2007,
p. 434).
As analíticas da finitude permitem a construção de um espaço onde o homem se
desdobrará por inteiro. Lá repetir-se-á a identidade e a diferença, o particular e o fundamental.
A vida particular está incrustada nesta vida fundamental, o desejo insere-se no processo
econômico, bem como, a linguagem é uma parcela daquilo que pode ser dito. Constrói-se
novamente um quadro onde as identidades e diferenças podem ser colocadas. Assim, sustenta
Foucault (2007, p. 436):
Para o pensamento moderno, a positividade da vida, da produção e do
trabalho (que tem sua existência, sua historicidade e suas leis próprias) funda,
como sua correlação negativa, o caráter limitado do conhecimento; e,
inversamente, os limites do conhecimento fundam positivamente a
possibilidade de saber, mas numa experiência sempre limitada, o que são a
vida, o trabalho e a linguagem.
As analíticas da finitude consideram o homem como um duplo empírico
transcendental, uma vez que ele só pode ser conhecido através dos conteúdos empíricos por
ele conferidos. Foucault nos afirma que na modernidade surgiram dois tipos de análise sobre o
homem. Por um lado, segundo o filósofo, desenvolveu-se uma espécie de análise que se alojou:
[...] no espaço do corpo e que, pelo estudo da percepção, dos mecanismos
sensoriais, dos esquemas neuromotores, da articulação comum às coisas e ao
organismo, funcionaram como uma espécie de estética transcendental; aí se
descobria que o conhecimento tinha condições anatomofisiológicas, que ele se
formava pouco a pouco na nervura do corpo, que nele tinha talvez uma sede
privilegiada, que suas formas, em todo o caso, não podiam ser dissociadas das
singularidades de seu funcionamento; em suma, que havia uma natureza do
conhecimento humano que lhe determinava as formas e que podia, ao mesmo
tempo, ser-lhe manifestada nos seus próprios conteúdos empíricos.
(FOUCAULT, 2007, p. 440).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
370
As estruturas anatomofisiológicas, que nos proporcionam conhecer, isto é, que
estabelecem as condições orgânicas para o nosso conhecimento são, também, objeto de
estudo. Portanto, elas são simultaneamente condição de possibilidade do conhecimento e
objeto a
ser conhecido.
Assim
como na
estética
transcendental, as
estruturas
anatomofisiológicas, caracterizam-se como uma espécie de faculdade da sensibilidade ou da
receptividade, contudo, constituem-se igualmente em objeto empírico a ser estudado. Deste
modo, o conhecimento é disponibilizado por condições biológicas que são também objeto de
estudo. Todavia, ainda outra espécie de análise se fará presente na modernidade, assim
Foucault (2007, p. 440) declara:
Houve também as análises que, pelo estudo das ilusões da humanidade, mais
ou menos antigas, mais ou menos difíceis de vencer, funcionaram como uma
espécie de dialética transcendental; mostrava-se assim que o conhecimento
tinha condições históricas, sociais ou econômicas, que ele se formava no
interior de relações tecidas entre os homens e que não era independente da
figura particular que elas poderiam assumir aqui ou ali, em suma, que havia
uma história do conhecimento humano que podia ao mesmo tempo ser dada
ao saber empírico e prescrever-lhe suas formas. (440)
O conhecimento é, portanto, segundo o filósofo francês, determinado por relações
históricas, sociais e econômicas. Estas formas regulam os contornos do saber e
simultaneamente são objetos de estudo. Esse aspecto empírico transcendental, possibilitou ao
homem desempenhar dois distintos papéis. Assim, Foucault (2007, p. 475) sustenta:
O modo de ser do homem, tal como se constituiu no pensamento moderno,
permite-lhe desempenhar dois papéis: está, ao mesmo tempo, no fundamento
de todas as positividades, e presente [...] no elemento das coisas empíricas.
Esse fato – e não se trata aí da essência geral do homem, mas pura e
simplesmente desse a priori histórico que, desde o século XIX, serve de solo
quase evidente ao nosso pensamento – esse fato é, sem dúvida, decisivo para
o estatuto a ser dado às ‘ciências humanas’...
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
371
As ciências humanas encontram-se alojadas no interior de um triedro de saberes
constituído pelas ciências matemáticas e físicas, pelas ciências da linguagem, da vida e da
produção; e, pela reflexão filosófica. É articulação destes três domínios que configura a
episteme moderna.
As ciências matemáticas através de seu encadeamento dedutivo e linear vinculam-se
as ciências (da vida, da linguagem e da produção) as quais estabelecem relações causais e
constantes entre elementos descontínuos e análogos. Tal vínculo propicia a criação de um
campo de aplicação das matemáticas a linguística, a biologia e a economia. A reflexão filosófica
por sua vez, apresenta-se como o pensamento do mesmo ao ligar-se com a biologia (através
das filosofias das formas de vida); das formas simbólicas e do homem alienado (através de seu
trabalho). A filosofia, além disso, promove ontologias regionais, buscando compreender o que é
o trabalho a vida e a linguagem. A reflexão filosófica, enfim, articula-se, também, com as
matemáticas, buscando formalizar o pensamento. Esta é, de um modo geral, a disposição da
episteme moderna no tangente as relações que se estabelecem nestes três domínios do saber.
Não se pode afirmar, entretanto, que as ciências humanas se localizam
especificamente em alguma destas dimensões. Elas encontram-se, quando muito, em seus
interstícios, submetendo-se ora a um campo do saber, ora a outro. Elas não têm, portanto, um
compromisso epistemológico preciso.
As ciências humanas possuem esta feição particular por serem determinadas por esta
relação entre o empírico/ transcendental, o impensado e esta concepção de homem que está
simultaneamente em recuo e na origem em relação a si mesmo. O impensado permite ao
homem questionar a si mesmo a partir daquilo que escapa ao seu pensamento imediato. Abrese, deste modo, uma série de possibilidades para a compreensão e o questionamento do ser (é
frente a estas possibilidades que se apresenta o sujeito psicanalítico e o sujeito
fenomenológico). O impensado articula-se, ainda, com um ser que está imbricado com o já
começado da vida, do trabalho e da linguagem, cujas palavras, o labor e a vivencia, embora já
tenham sido extenuantemente repetidos, sempre retornam. Tudo aquilo que o homem realiza
está em recuo em relação a ele mesmo e sempre está retornando a ele. É como se o homem já
tivesse a milênios seus contornos definidos. O homem encontra-se, portanto, enredado nesta
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
372
trama conferida pelo impensado, por estas diretrizes conferidas pelo já começado e pelos
efeitos das novas empiricidades.
O objeto das ciências humanas é o ser que se representa vivendo e que através das
representações daí decorrentes pode representar-se a vida. Do mesmo modo, ele evidencia-se
quando representa os meios de produção e a sociedade em que está inserido. E, além disso,
outro lugar privilegiado para o seu aparecimento é diante da maneira como os indivíduos
representam as palavras e o seu funcionamento e finalmente representam a própria linguagem.
As ciências humanas analisam esta extensão que se coloca entre o que o homem é em
sua positividade e o que permite “...a este mesmo ser saber (ou buscar saber) o que é a vida,
em que consistem a essência do trabalho e suas leis, e de que modo ele pode falar.”(
FOUCAULT, 2007, p. 488)
O trabalho, a vida e a linguagem direcionados a analítica da finitude permitem ao
homem saber como ele, de certo modo, constitui-se e possibilitam-lhe conhecer essas coisas
que o determinam.
[...] as ciências humanas não tratam a vida, o trabalho e a linguagem do
homem na maior transparência em que se podem dar, mas naquela camada de
condutas, de comportamentos, de atitudes, de gestos já feitos, de frases já
pronunciadas ou escritas, em cujo interior eles foram dados antecipadamente,
numa primeira vez, àqueles que agem, se conduzem, trocam, trabalham e
falam... (FOUCAULT, 2007, p. 490);
O que efetivamente está em questão nas ciências humanas são as representações do
homem quando ele fala, trabalha e vive e é através destas representações que ele poderá dizer
o que é a linguagem, o trabalho e a vida. As ciências humanas, portanto, encontram-se
vinculadas a três regiões epistemológicas: biologia, filologia e economia.
O homem, para as ciências humanas, é constituído por uma relação entre suas
representações e as positividades modernas, as quais são, também, oriundas de
representações
exteriores.
Assim,
são
necessárias
sínteses
objetivas
dadas
por
“transcendentais” que não podem ser objetivados a fim de que emerja o trabalho, a vida e a
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
373
linguagem; e, é no interior dessas positividades que o homem surgirá. Entretanto, ele não surge
na transparência imediata do discurso por elas conferido, mas sim na representação que ele
terá no interior dessas representações externas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
DREYFUS E RABINOW. Michel Foucault, uma trajetória filosófica: para além do estruturalismo e
da hermenêutica. Trad: Vera Porto Carrero. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995a.
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. Trad: Slama
Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. In: Os Pensadores. Trad: Valério Rohden e Udo Baldor
Moosburger. São Paulo: Nova Cultural, 1999.
MACHADO, Roberto. Ciência e saber: a trajetória da arqueologia de Michel Foucault. Rio de
Janeiro: Edições Graal, 1981.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
374
A Concepção da Verdade-como-Correspondência
Renato Machado Pereira*
RESUMO
O artigo tem por finalidade descrever as características principais de uma teoria da verdadecomo-correspondência. Dizer apenas que “verdade é correspondência com a realidade” não
expressa adequadamente a essência dessas teorias. Desse modo, o texto procura esclarecer
três aspectos da ideia de verdade-como-correspondência: 1) O quê tem a propriedade de ser
verdadeiro (qual é o portador-de-valor-de-verdade adequado?). 2) A “realidade” à qual
corresponde o portador-de-valor-de-verdade. 3) A correspondência (ou seja, qual a relação
entre o portador-de-valor-de-verdade e a realidade?).
PALAVRAS-CHAVE: Verdade, Verdade-como-Correspondência, Realismo.
Introdução
Muito da literatura contemporânea sobre verdade toma como ponto de partida
algumas idéias que são proeminentes no início do século XX. Porém, há algumas concepções da
verdade que já estavam sendo discutidas há muito tempo e influenciaram a maior parte das
discussões atuais. Um grande exemplo disso é a definição de “verdadeiro”, dada por
Aristóteles, que influenciou muitas teorias do início do século XX e, indiretamente, muitas
outras. Isso pode ser visto no quadro organizativo apresentado por Haack (1978) em seu livro
“Filosofia das Lógicas”, p. 128. Por exemplo, podemos observar nesse quadro que as teorias da
verdade-como-correspondência têm “afinidade” com a concepção aristotélica, com as teorias
pragmáticas e com a semântica de Tarski.
*
Pós-graduando em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Bolsista CAPES. E-mail:
[email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
375
Buscaremos neste texto entender as teorias da verdade-como-correspondência, ou
seja, entendermos a sua estrutura básica e quais suas características principais. Desse modo,
não procuraremos desenvolver uma análise crítica dessas teorias, mas objetivamos caracterizálas com a intenção de compreendê-las.
As teorias da verdade-como-correspondência estão baseadas na idéia de que “verdade
é correspondência com a realidade”, ou seja, um portador-de-valor-de-verdade é verdadeiro
quando as coisas no mundo são como os portadores-de-valor-de-verdade dizem que são. As
teorias correspondenciais estão entre as teorias robustas da verdade 1; isto é, aquelas teorias
que consideram que a verdade tem uma natureza. Além disso, constituem, em geral, segundo
Lynch (2001, p. 5), uma visão realista objetiva: se algo é verdadeiro, isso não depende daquilo
em que cada um acredita; a verdade depende do mundo e não de nós. Mas dizer apenas
“Verdade é correspondência com a realidade” não expressa adequadamente a essência dessas
teorias. Será necessário esclarecermos três aspectos da idéia de verdade-comocorrespondência (LYNCH, 2001, p. 9):
1.
O quê tem a propriedade de ser verdadeiro (qual é o portador-de-valor-deverdade).
2.
A “realidade” à qual corresponde o portador-de-valor-de-verdade.
3.
A correspondência (ou seja, qual a relação entre o portador-de-valor-de-verdade e a
realidade).
1
“Teoria robusta da verdade” é uma das classificações das Teorias da Verdade apresentada por Michael P. Lynch
(2001). As teorias robustas da verdade consideram que a verdade é uma propriedade robusta e importante e que
requer uma substancial e complexa explicação. Segundo Lynch (2001, p. 5), os defensores das teorias robustas
estão motivados em responder questões como:
• Existe tal coisa como a verdade absoluta, ou toda verdade é, de algum modo ou de outro, subjetiva ou relativa?
• Que tipo de relacionamento, se existir um, têm as proposições verdadeiras com o mundo?
• Toda verdade pode ser verificável pela experiência?
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
376
Portadores-de-Valor-de-Verdade
Teorias da verdade-como-correspondência têm utilizado os seguintes como
portadores-de-valor-de-verdade: crenças, pensamentos, idéias, juízos, sentenças, asserções,
expressões vocais e proposições. Contudo, é de costume usar a expressão “portadores-devalor-de-verdade” sempre que queremos assumir uma postura neutra dentre essas opções.
Na literatura contemporânea quase somente proposições são mencionadas como
portadores-de-valor-de-verdade.
A Relação de Correspondência
Como vimos, a correspondência se dá entre portador-de-valor-de-verdade e a
realidade. Mas o que conecta ou relaciona, de modo geral, um portador-de-valor-de-verdade à
realidade? Em outras palavras, o que é a noção de correspondência?
Discutiremos duas interpretações sobre essa noção: a correspondência como
correlação, também conhecida como relação fraca, e a correspondência como congruência,
também conhecida como relação forte (Grayling, 1997, p. 142-143; Pitcher, 1964, p. 9-14).
A correlação pode ser entendida como o emparelhamento de itens, ou membros de
dois ou mais grupos de coisas, um-para-um, de acordo com algumas regras ou princípios.
Podemos considerar, por exemplo, o sentido de correspondência um-para-um dos
matemáticos. Suponhamos que coloquemos a série de números naturais com uma
correspondência um-para-um com a série dos números naturais pares. Assim,
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
377
Números Naturais:
Números Naturais
1
2
3
4
5
|
|
|
|
|
2
4
6
8
10
...
n
|
...
2n
Pares:
Podemos dizer que, da série dos naturais, o número 1 corresponde para o número 2 da
série dos naturais pares, 4 da série dos naturais corresponde para o 8 da série dos naturais
pares, e assim por diante. Isso segue do seguinte raciocínio: dado um número xi de um grupo,
no caso o conjunto dos números naturais, e a regra y = 2x, há um único membro yi do outro
grupo, no caso o conjunto dos números naturais pares. E tudo isso significa dizer que xi
corresponde para yi, ou seja, xi do conjunto dos números naturais e yi do conjunto dos números
naturais pares estão correlacionados ou emparelhados um com o outro em concordância com a
regra estipulada. Claramente, nós temos especificado uma regra ou princípio para a
correspondência, dado que na ausência de um contexto, ou na ausência da indicação de um
grupo, ou na ausência da explicitação de uma regra, dizer “5 corresponde para 10” não fica
compreensivo.
Segundo Kirkham (1992, p. 174), Aristóteles foi o primeiro a apresentar uma
concepção da verdade-como-correspondência como correlação, em sua formulação: “Dizer
daquilo que é que não é, ou daquilo que não é que é, é falso, enquanto dizer daquilo que é que
é, ou daquilo que não é que não é, é verdadeiro” (ARISTÓTELES, 1969, p. 107).
Outro filósofo que defende a visão de correspondência como correlação é J. L. Austin
(1950). Sua visão é a de que todo portador-de-valor-de-verdade está correlacionado a um fato
possível; se esse fato possível realmente acontece, então o portador-de-valor-de-verdade é
verdadeiro; caso contrário, é falso. A verdade, para Austin, é considerada como uma relação
quaternária entre uma afirmação (é a informação transmitida por uma sentença declarativa),
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
378
uma sentença, um estado de coisas (um fato possível), e um tipo de estado de coisas. A
correspondência é determinada por convenções lingüísticas, que especificam se o estado de
coisas ao qual uma sentença se refere é do tipo apropriado para torná-la verdadeira. Para
Austin (1950, p. 28), as palavras e o mundo são correlacionados de duas formas:
Por meio de convenções descritivas, correlacionando palavras (sentenças) com
tipos de situações encontrados no mundo (estados de coisas), e
Por convenções demonstrativas, correlacionando palavras (afirmações, isto é,
sentenças realmente emitidas) com situações de fato encontradas no mundo em
ocasiões particulares.
Assim, uma afirmação é considerada verdadeira, quando ‘o estado de coisas particular
ao qual está correlacionada pelas convenções demonstrativas’ é de um tipo que a sentença
usada para fazê-la está correlacionada pelas convenções descritivas. Por exemplo, suponhamos
que alguém, S, em um instante t, diga “X está dormindo”. As convenções descritivas
correlacionam as palavras com situações em que as pessoas dormem, e as convenções
demonstrativas correlacionam as palavras com a real atividade de X no instante t. O que S diz
em t será verdadeiro se a situação real, correlacionada com as palavras que S profere pelas
convenções demonstrativas, é do tipo correlacionado com aquelas palavras pelas convenções
descritivas.
Por outro lado, a correspondência como congruência pode ser entendida em
termos de “encaixar” ou “ajustar”, como quando nós dizemos que extremidades reunidas de
um pedaço de papel rasgado se encaixam ou se ajustam. Tais teorias da verdade alegam que há
um isomorfismo estrutural entre os portadores-de-valor-de-verdade e os fatos aos quais eles
correspondem quando o portador-de-valor-de-verdade é verdadeiro.
Segundo Bertrand Russell, em seus artigos “Da Natureza da Verdade e da Falsidade” de
1910 e “Verdade e Falsidade” de 1912, a correspondência consiste em um isomorfismo
estrutural entre as partes de uma crença e as partes de um fato; é a correspondência daquilo
que se acredita ser verdadeiro ou falso com os fatos que tornam as crenças verdadeiras ou
falsas.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
379
Para Russell (1910, p. 155-157; 1912, p. 21), acreditar consiste em uma relação do
crente a vários objetos unidos por outra relação. Por exemplo, a crença
A acredita que B ama C,
consiste no A (o sujeito) relacionado a B (um termo-objeto), C (outro termo-objeto) e na
relação amar (a relação-objeto). O sujeito A anuncia uma crença que “B ama C” e esse
enunciado será verdadeiro “quando uma pessoa que acredita nele acredita de modo
verdadeiro e, falso, quando uma pessoa que acredita nele acredita de modo falso” (RUSSELL,
1910, p. 152). Dessa forma, Russell restringe a natureza da verdade à verdade das crenças, uma
vez que a verdade dos enunciados é uma noção derivada da verdade das crenças.
Um problema ocorre quando o enunciado é apenas um objeto (RUSSELL, 1910, p. 155).
Por exemplo, a crença “Rodrigo acredita que Sócrates não existiu” é composta apenas do
sujeito “Rodrigo”, do objeto “Sócrates não existiu” e da relação de acreditar. O enunciado nesse
caso é o objeto “Sócrates não existiu” que pode ser verdadeiro ou falso dependendo se existe o
fato que Sócrates existiu. O problema surge quando a veracidade e a falsidade da crença estão
dependendo da existência ou não de uma única entidade, no caso, “Sócrates”. Russell
considera, nesse caso, a crença verdadeira sustentável, pois a crença é a relação da mente do
sujeito com o objeto que existe. Mas quando é falsa é insustentável, pois a relação da crença
não pode ser uma relação com nada. E ele conclui:
Devemos portanto abandonar a perspectiva de que as crenças consistem numa
relação com um único objeto. Não podemos sustentar esta perspectiva com
relação às crenças verdadeiras enquanto a rejeitamos com relação às falsas,
pois isto faria uma diferença intrínseca entre crenças verdadeiras e falsas, e
permite que descubramos (o que é obviamente impossível) a verdade ou a
falsidade de uma crença simplesmente por exame da natureza intrínseca da
crença. Desta forma devemos nos dirigir à teoria de que nenhuma crença
consiste numa relação com um único objeto. (RUSSELL, 1910, p. 155)
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
380
Assim, o problema está em se admitir que, quando acreditamos de modo falso, não
existe nada em que estamos acreditando. A maneira de escapar a essa dificuldade consiste em
sustentar que, se acreditamos de modo verdadeiro ou se acreditamos de modo falso, não
existe uma única coisa em que estamos acreditando. Quando acreditamos que “B ama C, temos
diante de nós, não um objeto, mas vários objetos. Dessa forma, a crença é uma relação da
mente com vários outros termos: quando esses outros termos têm entre si uma relação
“correspondente”, a crença é verdadeira; quando não, ela é falsa.
A descrição da verdade, segundo Russell, requer uma congruência entre a relação da
crença e uma segunda relação chamada “um fato”. No caso a crença “A acredita que B ama C”
requer uma congruência entre os termos da crença (A, acreditar, B, amar, C, nessa ordem) com
o fato que tem B, amar e C (nessa ordem) como seus termos. Isto é, os objetos relacionados
dessa forma constituem uma “unidade complexa” que, quando relacionados na mesma ordem
em que também estão na minha crença, constituem o “fato correspondente à crença”. Logo,
uma crença é verdadeira quando corresponde a uma certa unidade complexa – um fato – e é
falsa quando não corresponde. Vejamos um exemplo concreto (RUSSELL, 1912, p. 20-21),
Crença
Othello
Fato
acredita
Desdemona
=
Desdemona
ama
=
ama
Cássio
=
Cássio
Do lado esquerdo da figura está a crença – Othello acredita que Desdemona ama
Cássio – com seus cinco termos e a seta vertical que simboliza a direção da relação. Do lado
direito está o fato de que Desdemona ama Cássio, com seus três termos e uma seta vertical
indicando sua direção. Pode-se dizer que as duas relações – a crença e o fato – se encaixam
porque cada um dos dois termos-objeto, Desdemona e Cássio, aparecem em ambas as
relações, e a relação-objeto, amar, aparece em ambas, e a crença e o fato têm a mesma
direção. Se uma dessas condições não fosse satisfeita, a crença e o fato não se encaixariam e a
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
381
crença seria falsa. Dessa forma, a crença seria falsa se a direção do fato fosse diferente (se
Cássio amasse Desdemona), se um dos termos-objeto fosse diferente (se Desdemona amasse
Rafael) ou se a relação-objeto fosse diferente (se Desdemona odiasse Cássio).
A correlação e a congruência parecem ser diferentes concepções de correspondência
(GRAYLING, 1997, p. 143). Isso é indicado pelo fato de que podemos dizer que as metades de
uma folha de papel rasgada se ajustam (correspondem) exatamente ou perfeitamente quando
reunidas. Porém, não podemos dizer de 3, da série de números naturais, que corresponde
exatamente ou perfeitamente para o 6, da série dos números naturais pares.
Estas duas interpretações da relação de correspondência possuem dificuldades
particulares. A maior dificuldade para elaborarmos ou entendermos uma teoria baseada na
correlação está na regra ou no princípio que norteia a correspondência entre portador-devalor-de-verdade e o fato. Para tentarmos entender uma teoria desse tipo, devemos
compreender a regra de correspondência. Nas teorias baseadas na congruência, dificuldades
aparecem na conexão entre as partes de um portador-de-valor-de-verdade e as partes do fato
que ele descreve, visto que o portador-de-valor-de-verdade como um todo é congruente ao
fato como um todo. Podemos questionar qual é a relação que liga essas partes, que tipos de
coisas podem ser constituintes de um portador-de-valor-de-verdade ou de um fato, como fazer
para determinar quantos constituintes um portador-de-valor-de-verdade ou um fato têm e
quais as regras para fazê-lo.
Realidade – Realismo e Não-Realismo
Vimos que a correspondência relaciona um portador-de-valor-de-verdade com a
realidade e essa relação se dá, sob, pelo menos, as duas possíveis interpretações descritas, por
correlação ou congruência. Assim, falta-nos compreender o significado de ‘realidade’.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
382
A realidade ou parte dela é tratada, geralmente, sob os nomes: fatos ou estados de
coisas. Kirkham (1992) caracteriza estado de coisas e fatos da seguinte maneira:
utilizo o termo “estado de coisas” no seu sentido filosófico (que não é o usual):
“estado de coisas” não é um sinônimo para “fato” ou “situação”, porque fatos
potenciais mas não realizados são também estados de coisas. Até mesmo fatos
impossíveis contam como estados de coisas, embora esses estados de coisas
nunca ocorram em nenhum mundo possível. Talvez a melhor maneira de se
definir “estados de coisas” seja dizer que qualquer coisa cuja ocorrência possa
ser asseverada (com verdade ou falsidade) por meio de uma sentença
declarativa conta como um estado de coisas, sendo que nada mais, além disso,
conta. (...) Um fato, então, é um estado de coisas que ocorre no mundo real.
(KIRKHAM, 1992, p. 109-110).
Discussões filosóficas sobre a realidade podem ser subordinadas a discussões sobre o
realismo e o não-realismo. E muitas idéias sobre o realismo e o não-realismo estão relacionadas
com as idéias sobre verdade.
Segundo Dummett (apud Grayling, 1997, p. 254), realismo é a tese de que o mundo
existe e tem características independentes de algum conhecimento ou experiência. Assim,
portador-de-valor-de-verdade sobre o mundo são verdadeiros ou falsos em virtude do modo
como as coisas estão no mundo, quer nós não saibamos ou possamos vir a saber como as coisas
são no mundo e, portanto, independentemente de sabermos ou não o valor-de-verdade desses
portadores-de-valor-de-verdade.
Dessa forma, uma teoria realista da verdade parece impor certa condição ontológica à
verdade de um portador-de-valor-de-verdade. Segundo Putnam (apud Grayling, 1997, p. 285286), o realismo metafísico é a tese de que o mundo consiste de uma totalidade fixa de objetos
independentes da mente. E argumenta que quem sustenta essa visão acredita que há
exatamente uma verdade e uma descrição completa do mundo e, então, verdade consiste em
uma forma de correspondência entre descrição e o mundo.
Para Putnam, verdade-como-correspondência exibe independência (do que o homem
sabe ou pode vir a saber), bivalência (uma sentença apenas pode ser verdadeira ou falsa) e
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
383
singularidade (não pode ser mais que uma verdade ou descrição completa da realidade). E
também, para Dummett, a bivalência é uma característica marcante do realismo.
Segundo os realistas, verdade e falsidade independem de nossa capacidade de decidir
qual o valor de qualquer portador-de-valor-de-verdade.
Em resumo, uma teoria da verdade realista sustenta que, para um portador-de-valorde-verdade ser verdadeiro, um certo estado de coisas deve ocorrer de modo independente da
mente. Por exemplo, a crença de que
“a neve é branca” é verdadeira, se e somente se a neve for branca,
de acordo com o realismo, “a neve é branca” é verdadeira se e somente se a neve é branca no
mundo externo independente das nossas mentes.
Uma teoria não-realista é qualquer teoria que negue o realismo, ou seja, nega que, se
o mundo existe, ele tenha características independentes de algum conhecimento ou
experiência. Ou seja, a existência daquilo que dizemos ser ‘do mundo’ depende da percepção
por alguma mente. Assim, não é uma condição para a verdade da crença que “a neve é branca”
que neve realmente seja branca em um mundo externo.
Referências bibliográficas
ARISTÓTELES. Metafísica. Tradução: Leonel Vallandro. Porto Alegre: Globo, 1969.
AUSTIN, J. L. [1950]. Truth. Proceedings of the Aristotelian Society, supp. v. 24, p. 111-128. In:
Lynch, 2001, p. 25-40.
GRAYLING, A.C. An introduction to philosophical logic. 3.ed. Oxford: Blackwell Publishers, 1997.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
384
HAACK, S. Is It true what they say about Tarski?. Philosophy, v. 51, n. 197, p. 323-336, 1976.
Kirkham, R. L. [1992]. Teorias da verdade: uma introdução crítica. Tradução: Alessandro Zir. São
Leopoldo: Unisinos, 2003.
LYNCH, M. P. The nature of truth: classic and contemporary perspectives. Massachusetts: The
MIT Press, 2001.
PITCHER, G. Truth. 2.ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1964.
RUSSELL, B. Da Natureza da Verdade e da Falsidade. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural,
1910.
___________. [1912]. Truth and Falsehood. The problems of philosophy. Oxford: Oxford
University Press. In: LYNCH, 2001, p. 17-24.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
385
Tradução cultural e política: recepção de Walter Benjamin em Homi Bhabha
Rodrigo Souza Fontes de Salles Graça*
RESUMO
Nesta comunicação é abordada de forma breve a recepção das considerações sobre a tradução
(A Tarefa do Tradutor) de Walter Benjamin no crítico literário Homi Bhabha. Exploramos em
que medida tais apropriações do pensamento benjaminiano, se circunscrevem para Bhabha
como possibilidade política de fundamentação da cultura na chave do conceito de tradução
cultural. Para tanto abordamos trechos de ensaios que compõe a coletânea O Local da Cultura que reúne produção intelectual do autor na década de 1980 e 1990 - e entrevista. Inicialmente
é problematizado em Bhabha o uso “metafórico” da tradução para se pensar a cultura, em
seguida passa-se a abordagem da centralidade que adquire a recepção benjaminiana em seu
pensamento e por fim se destaca a importância política do conceito de tradução cultural
perpassando brevemente três contextos que Bhabha analisa: o refluxo migratório na Inglaterra
do século XX, o colonialismo inglês no século XIX, e os discursos da Nação na
contemporaneidade. Observa-se como a construção dos conceitos de cultura e tradução
cultural fundamenta-se na apropriação do léxico benjaminiano indicado em termos como
traduzibilidade, intraduzibilidade e outros. Argumenta-se que, parcialmente, a partir destes
referenciais, a política é tomada enquanto processo de ressignificação, no sentido de que a
autoridade é questionada na ruptura com as pretensas totalidades das culturas.
PALAVRAS-CHAVE: Homi Bhabha, Walter Benjamin, tradução cultural, política.
Nas décadas de 1980, 1990 e 2000 debates políticos se voltaram cada vez mais para as
denominadas minorias, sejam de gênero, populações autóctones ou migrantes. Neste contexto,
termos como reconhecimento e cultura adquiriram relevância em correntes como
comunitarismo ou teoria crítica. No bojo destas problemáticas políticas e debates emergentes
encontramos também em desenvolvimento o pensamento pós-colonial e, através deste, uma
*
Mestrando do Programa de Pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Bolsista
CAPES. E-mail: [email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
386
série de conceitos. Termos como cultura hibrida tradução, tradução cultural ou diferença
cultural adquiriram variável importância entre representantes pós-coloniais como Gayatri
Spivak, Robert Young e Homi Bhabha. Neste trabalho nos voltamos para um desses conceitos
emergentes, o de tradução cultural.
O uso do termo tradução cultural já havia sido desenvolvido na antropologia social
britânica desde a primeira metade do século XX (ASAD, 1986). Com o crítico literário Homi
Bhabha, observamos sua formulação nas décadas de 1980 e 1990 não tanto a partir de uma
inflexão do uso feito pela antropologia social britânica, mas em partes - como se busca
argumentar – a partir de uma apropriação das considerações sobre a tradução presente em A
Tarefa do Tradutor (Die Aufgabe des Übersetzers) de Walter Benjamin.
O ensaio A Tarefa do Tradutor (1923) deteve vasto impacto na teoria da tradução
perpassando autores como Paul de Mann, Jacques Derrida, Haroldo de Campos e outros
(LAGES, 2007, p.161). Em Homi Bhabha tal recepção adquire certa notoriedade por ser
transposta para pensar cultura, apesar de em “A Tarefa do Tradutor” não encontrarmos, como
salienta Susana Kampff Lages, algo equivalente a uma “dimensão antropológica ou culturalista
manifesta”(LAGES,2007,p.170). Todavia, em entrevista de 1990 encontramos explicitado em
Bhabha a importância da recepção do pensamento benjaminiano para o desenvolvimento do
seu conceito de cultura e tradução cultural:
Gostaria de introduzir a noção de “tradução cultural” (e o meu uso é
desenvolvido a partir das observações originais de Walter Benjamin sobre a
tarefa da tradução e a tarefa do tradutor) para propor que todas as formas de
cultura são de alguma forma relacionadas entre si pela cultura ser formada
através da significação ou atividade simbólica. (RUTHERFORD, 1990, p.209,
tradução nossa).
De acordo com Sherry Simon(1995, p.46) diferentemente de Spivak que na perspectiva
pós-colonial desenvolve reflexão em referência direta a respeito da tradução lingüística,
Bhabha retoma uma forma “metaforizada” da tradução para pensar a cultura. Peter Burke
também chamará atenção para o recurso “metafórico” do uso do conceito tradução cultural de
uma forma geral (BURKE, 2009) e Lages indicará especificamente em Bhabha ”espécie de
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
387
paráfrase da teoria linguagem e da tradução de Benjamin” (LAGES, 2007, p.81). Todavia, tal
como se nota na referência a Benjamin na citação acima, não devemos interpretar a referência
a “metáfora” ou “paráfrase” como uma diminuição da importância da apropriação da teoria da
tradução de Benjamin em Bhabha1·.No mais, na história das ciências humanas parece
recorrente lançar a mão a conceitos não referidos explicitamente a realidade em que busca ser
utilizado. Encontramos, por exemplo, em Max Weber a retomado do termo “afinidade” da
alquimia e do misticismo para se pensar as relações não-causais entre a ética protestante e o
desenvolvimento do capitalismo (LÖWY,1989,p. 13) . Walter Benjamin retomará de Goethe o
termo “Origem”, utilizado inicialmente para pensar a metamorfose das plantas, para pensar
história(BENJAMIN, 1984).
Neste texto, nos centramos na observação das formas que adquire a recepção do
conceito de tradução de Benjamin em Bhabha, em particular no que diz respeito ao que se
indica como política.
Aspecto central dessa recepção de Benjamin seria a ênfase no caráter descentrado das
culturas. Bhabha argumenta a respeito da relativa abertura ou não-totalização das culturas a
partir da interpretação em A Tarefa do Tradutor da não-completude ou acabamento das obras
originais e das línguas a serem traduzidas. Recorremos novamente a trecho da entrevista de
Bhabha:
o original esta sempre aberto para a tradução por isso não se pode afirmar que
haja um momento prioritário de ser e sentido – uma essência. O que isso
significa é que toda cultura só é constituída em relação à alteridade interna ao
seu próprio processo de formação simbólica, tornando-se assim estruturas
descentradas – através deste deslocamento ou limiar existe a possibilidade de
articulação da diferença, até mesmo de práticas culturais e prioridades
incomensuráveis. (RUTHERFORD,1990,210-211, tradução nossa).
O autor busca, portanto se afastar de uma concepção de cultura enquanto totalidade
essencial presente em determinadas formulações multiculturalistas. Bhabha se apropria de
1
Evidentemente não se deve perder de vista a centralidade da recepção de outros diversos pensadores como
Mikhail Bakhtin ou Jacques Derrida a partir dos quais conceitos de diferença cultural ou cultura hibrida, imbricados
ao de tradução cultural, são desenvolvidos.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
388
Benjamin interpretando a partir deste a não-valorização da totalidade do original ou a sua
prioridade. Como argumenta o autor se diferenciando de Paul de Mann e Derrida: “Ao
contrário de Derrida e De Mann estou menos interessado na fragmentação metonímica do
‘original’.” (BHABHA, 1998d, p.312). Segue-se que este descentramento da traduzibilidade das
culturas deve ser compreendido a partir da transposição de características complementares da
tradução indicada em Benjamin: a intraduzibilidade, ou a estrangeiridade das línguas se tornam
referenciais centrais 2. A partir deste eixo o autor visa pensar não apenas o deslocamento das
culturas, mas a sua não assimilação totalizante. Acoplados a este referencial benjaminiano o
autor pensa ainda uma concepção de signo próxima ao de Bakhtin – e também como veremos
interpretada por Bhabha no próprio Benjamin – como argumenta Menezes de Souza (2004,
p.117), reinscrito sócio-históricamente, e ainda em contraposição ao símbolo que aparece no
autor como significação acabada 3:
Este jogo disjuntivo de símbolo e signo torna a interdisciplinaridade um
exemplo do momento fronteiriço da tradução, descrito por Benjamin como
“estrangeiridade das línguas”. A “estrangeiridade” da língua é o núcleo do
intraduzível que vai além da transferência do conteúdo entre textos ou
práticas culturais. A transferência de significado nunca pode ser total entre
sistemas de significados dentro deles, pois “a linguagem da tradução envolve
seu conteúdo como um manto real de amplas dobras... ela significa uma
linguagem mais exaltada do que a sua própria e, portanto, continua
2
Bhabha retoma as considerações de “A tarefa do tradutor” respeito da traduzibilidade (Übersetzbarkeit) e do
intraduzível (Unübersetzbar) (Opto pela tradução de Susana Kampff Lages). “De maneira análoga, a traduzibilidade
de construções de linguagem deveria ser levada em consideração, ainda que elas fossem intraduzíveis para os
homens. E, não seriam elas, até certo ponto, de fato intraduzíveis, se partirmos de um determinado conceito de
tradução? E é preservando tal separação que se deve questionar se a tradução de determinada estrutura de
linguagem deve ser exigida. Pois vale o princípio: se a tradução é uma forma, a traduzibilidade deve ser essencial a
certas obras. A traduzibilidade é, em essência, inerente a certas obras; isso não quer dizer que sua tradução seja
essencial para elas mesmas, mas que determinado significado inerente aos originais se exprime na sua
traduzibilidade.”(BENJAMIN, 2008 p.68). Nota-se ainda a referência a estranheza das línguas(Fremdheit der
Sprachen):”Com isso admite-se evidentemente que toda tradução é apenas um modo provisório de lidar com a
estranheza das línguas”(BENJAMIN,2008, p.73).
3
Os conceitos de signo e símbolo devem sem dúvida ser mais bem delimitados na obra de Bhabha.
Encontraríamos aqui além de Bakhtin e do próprio Benjamin, influências nas considerações em Jacques Derrida.
Acrescento outra citação de Bhabha para melhor explicitar a definição provisória que busco indicar neste texrto:
“Na apreensão do signo, como argumentei, não há nem negação dialética nem significante vazio: há contestação
dos símbolos de autoridade dados que fazem mudar o terreno do antagonismo. O sincronismo na ordenação social
dos símbolos é desafiado em seus próprios termos, mas as bases do embate foram deslocadas em um movimento
suplementar que excede aqueles termos.”(BHABHA, 1998c ,p.268)
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
389
inadequada para seu conteúdo, dominante e estrangeiro.”
1998b.p.229-239).
(BHABHA,
O “núcleo do intraduzível” referido a partir de Benjamin compõe-se em Bhabha por
um lado, como a impossibilidade de uma imposição cultural totalizante, pois os signos volvemse passíveis de ressignficação constantemente. Nessa última longa citação de Benjamin
presente no trecho acima, Bhabha indica também a impossibilidade da totalização do signo no
sistema em que é traduzido. A seguir podemos notar os potenciais políticos de tal concepção de
cultura e/ ou tradução cultural.
Nas abordagens da obra The Satanic Verses de Salman Rushdie Bhabha ressalta a
dinâmica da traduzibilidade e intraduzibilidade no cotidiano de migrantes das Metrópoles do
século XX. A aventura dos dois migrantes indianos - que narra a obra de ficção Rushdie- um
tendendo a assumir a “nacionalidade” inglesa, o outro a persistir e perpetuar a indiana,
representaria para Bhabha (1998d, p.308), “Cultura irresolvível, fronteiriça, do hibridismo que
articula seus problemas de identificação e sua estética diaspórica em uma temporalidade
estanha, disjuntiva, que é ao mesmo tempo, o tempo do deslocamento cultural e o espaço do
‘intraduzível’”.
Entre outros aspectos da obra de Rushdie , Bhabha destaca o uso do nome inferior de
Maomé e a atribuição dos nomes das esposas do profeta mulçumano a prostitutas de bordeis
(BHABHA, 1998. p.309). Tratar-se-ia de referencias considerados sacrílegos por tradições de
leitura do Corão, gerando assim debates políticos, polêmica e revolta entre comunidades
islâmicas diversas. Para Bhabha (1998d, p.310), tal deslocamento e polêmica constituem, no
entanto, característica propriamente política da tradução cultural:
Poderíamos argumentar, creio que em vez de simplesmente deturpar o Corão,
o pecado de Rushdie reside na abertura de um espaço de contestação
discursiva que coloca a autoridade do Corão dentro de uma perspectiva do
relativismo histórico e cultural. Não é que o “conteúdo” do Corão seja
diretamente contestado; ao revelar outras posições e possibilidades
enunciativas dentro do quadro de leitura do Corão, Rushdie põe em prática a
subversão de sua autenticidade através do ato de tradução cultural – ele
realoca a “intencionalidade” do Corão repetindo-a e reinscrevendo-a no
cenário do romance das migrações e diásporas culturais do pós-guerra.
(Bhabha 1998d, p.310).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
390
Observa-se que para indicar o deslocamento operado na interpretação do Corão por
Rushdie, Bhabha usa o termo intencionalidade presente em A Tarefa do Tradutor. O uso se
aproxima parcialmente da argumentação de Benjamin sobre a transformação do designado a
partir das diversas intencionalidades que compõe as línguas4. Reescrever a “intencionalidade”
do Corão num novo “cenário”, realizar essa denominada forma de tradução cultura, possibilita
o questionamento da totalidade ou originalidade da cultura ao “tornar os efeitos e valores
(político, social, cultural) inteiramente incomensurável com as tradições de interpretação
teológica ou histórica da cultura recebida de leitura e escrita corânica” (BHABHA,1990, p.212,
tradução nossa). No processo de tradução cultural revela-se a intraduzibilidade ou
estrangeiridade presente nas culturas, ou ainda, a possibilidade de seu desmembramento em
signos a serem ressignificados em outra “intenção”. Desta forma, pensar a cultura como
tradução cultural permite a Bhabha refletir sobre a reapropriação discursiva de minorias como
potencial político, no sentido de que, nos processos mesmos de ressignificação questiona-se a
autoridade dos sistemas culturais que se impõem. Os referenciais benjaminianos da
traduzibilidade, intraduzibilidade ou estrangeiridade são retomados por Bhabha para
questionar o estatuto da cultura original ou essencial, e desta forma, sua pretensa autoridade.
No ensaio Signos Tidos Como Milagres encontramos argumento semelhante apesar de neste não encontrarmos referência direta aos escritos de Benjamin. A análise
perpassa os relatórios de Anund Messeh, catequista indiano no período colonialista no inicio do
século XIX. Nestes relatórios, Bhabha destaca as apropriações desconcertantes da Bíblia entre
hinduístas vegetarianos na Índia:
As perguntas do nativo transformam literalmente a origem do livro em um
enigma. Primeiro: como pôde a palavra de Deus sair das bocas carnívoras dos
4
Segue trecho em A Tarefa do Tradutor: “Toda afinidade meta-histórica entre as línguas repousa sobre o fato de
que, em cada uma delas, tomada como um todo, uma só e a mesma coisa é designada; algo que, no entanto, não
pode ser alcançado por nenhuma delas, isoladamente, mas somente como totalidade de suas intenções
reciprocamente complementares: na pura língua(...).Pois nas línguas tomadas isoladamente, incompletas, aquilo
que nelas é designado nunca se encontra de maneira relativamente autônoma, como nas palavras e frases
isoladas: encontra-se em constante transformação, até que da harmonia de todos aqueles modos de designar
consiga emergir como pura língua. ” (BENJAMIN, 1998,p.72)
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
391
ingleses? – uma pergunta que confronta o pressuposto unitário e universalista
da autoridade com a diferença cultural de seu momento de enunciação. E
depois: como pode ser o Livro Europeu, quando estamos convictos de que é um
presente de Deus para nós?(BHABHA, 1998a, p.169).
Como aponta Robert Young (2006, p.10) tal evento colonialista torna-se “um ejemplo
del tipo diferente de marco de referencia que la cultura ocidental recibe cuando se traduce a
diferentes contextos(...)”. Desta forma encontramos no processo de deslocamento e tradução
cultural resistência à mera assimilação, e nesse caso específico, o questionamento da
autoridade colonial cristã. Como destaca Bhabha (1998a, p.179): “Ao assumir sua postura com
base na lei alimentar, os nativos resistem à miraculosa equivalência entre Deus e os ingleses.”.
Em DissemiNação e – indiretamente – em O Pós-Colonial e o Pós-Moderno
Bhabha retoma o conceito e as considerações de Benjamin sobre a tradução para pensar os
discursos homogeneizantes da “nação” e do “povo” na contemporaneidade. O autor demonstra
haver a uma “incomensurabilidade” entre o posicionamento pedagógico do Estado-Nação que
visa criar identidades compactas a partir da “origem comum” e da delimitação territorial, e a
condição performática, “sobrevivente” e migrante da criação de identidades e do cotidiano de
grupos marginalizados (BHABHA, 1998, p.240). Em realidade Bhabha (1998, p.241) busca na
chave da tradução cultural apontar os processos de circulação global como possibilidade de
questionamento das narrativas homogeneizadoras:
A cultura como estratégia de sobrevivência é tanto transnacional como
tradutória (...) A cultura é tradutória porque essas histórias espaciais de
deslocamento – agora acompanhadas pelas ambições territoriais das
tecnologias ‘globais’ da mídia – tornam a questão de como a cultura significa,
ou o que é significado por cultura, um assunto bastante complexo. (...) A
dimensão transnacional da transformação cultural – migração, diáspora,
deslocamento, relocação- torna o processo de tradução cultural uma forma
complexa de significação. O discurso natural (izado), unificador, da “nação”,
dos “povos” ou da tradição “popular” autêntica, não pode ter referências
imediatas. A grande, embora desestabilizadora, vantagem dessa posição é que
ela torna progressivamente conscientes da construção da cultura e da
invenção da tradição. (BHABHA,1998c, p241).
Frente à totalização dos discursos nacionais e de determinadas perspectivas
multiculturalista – a oposição aqui é ao conceito de diversidade cultural - Bhabha propõe o
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
392
conceito de diferença cultural. Neste se opera aquele de tradução cultural. Trata-se de “(...)
rearticular a soma do conhecimento a partir da posição de significação da minoria, que resiste a
totalização (...)” (BHABHA, 1998, p.228). O autor se refere à formulação do conceito a partir dos
referenciais benjaminianos que compõe a tradução cultural:
O argumento de Benjamin pode ser reelaborado em uma teoria da diferença
cultural. É somente se envolvendo com o que ele denomina o ‘ambiente
lingüístico mais puro’ – o signo como algo anterior a qualquer lugar de sentido
– que o efeito de realidade do conteúdo pode ser dominado, o que torna
então todas as linguagens culturais ‘estrangeiras’ a elas mesmas. No ato da
tradução, o conteúdo “dado” se torna estranho e estranhado, e isso, por sua
vez deixa a linguagem da tradução, Aufgabe, sempre em confronto com seu
duplo, o intraduzível – estranho e estrangeiro. (BHABHA, 1998b, p.231).
Trata-se para Bhabha (1998, p.230) de notar que as “significações sociais estão elas
mesmas sendo constituídas no ato da enunciação (...)”. A resistência aos processos de
totalização do discurso Nacional se desenvolve nesse caráter performático e tradutório da
dinâmica da cultura e da identidade, os quais – potencialmente -se redefinem a cada ato da
enunciação. A significação do signo esta sempre sendo reinscrita.
Portanto, como se buscou expor nessa comunicação, os sentidos da política em
Bhabha são desenvolvidos a partir de reformulação do conceito de cultura e tradução cultural.
Nestes encontramos constantemente presente o referencial de tradução benjaminiano. A
concepção dinâmica de cultura e tradução cultural, o potencial de ressignificação entre o
traduzível e intraduzível, é sustentado na argumentação do autor como possibilidade de se
questionar a autoridade das pretensas totalidades culturais. Observamos brevemente estes
questionamentos na leitura heterodoxa do Corão no contexto das migrações contemporâneas;
na apropriação da Bíblia no colonialismo inglês na Índia; e por fim, nos discursos nacionais.
Para Bhabha pensar os processos de significação e ressignificação da tradução cultural se
mostra como forma de pensar a política e a possibilidade de subversão5.
5
Pretendia-se inicialmente desenvolver considerações complementares sobre como, na abordagem da tradução
cultural e no questionamento da autoridade, Bhabha desenvolve reflexão crítica sobre a temporalidade histórica
através da apropriação direta do “Sobre o Conceito de História”(1940) de Walter Benjamin. No entanto, pela
limitação deste trabalho, não foi possível o desenvolvimento.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
393
Evidentemente permanece a ser explorado diversas questões centrais nessa temática.
Qual seria comparativamente a especificidade de uma recepção da tradução que preconiza
“metáforas” e “paráfrases” (se concordarmos aqui com as considerações de Simon Sherry,
Peter Burke ou Lages)? Ou ainda: qual a relação propriamente entre linguagem e cultura em
Bhabha?
Tais questionamentos serão pesquisados no desenvolvimento da dissertação
mestrado.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ASAD, T. The Concept of Cultural Translation in British Social Antropology. In:CLIFFORD, James;
MARCUS, G. The poetics and politics of etnography. University of California Press. Los Angeles,
1986
BENJAMIN, W. A tarefa-renuncia do tradutor. In:BRANCO, L. C(org.). A Tarefa do Tradutor, de
Walter Benjamin: quatro traduções para o português. Belo Horizonte. Fale/UFMG, 2008.
_____________.Origem do drama barroco alemão. São Paulo: Brasiliense, 1984.
BHABHA, H. Signos Tidos como Milagre. In:_ BHABHA, H. O Local da Cultura. Belo
Horizonte:UFMG, 1998a.
__________. DissemiNação. In:_ BHABHA, H. O Local da Cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1998b.
__________. O Pós-colonial e o Pós-moderno. In:_BHABHA, H. O Local da Cultura. Belo
Horizonte: UFMG, 1998c.
__________. Como o Novo Entra no Mundo. In:_BHABHA, H. O Local da Cultura. Belo Horizonte:
UFMG, 1998d.
LÖWY, M. Redenção e Utopia: O judaísmo libertário na Europa Central. São Paulo: Companhia
das Letras, 1989.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
394
RUTHERFORD, J. The Third Space. Interview with Homi Bhabha. In: Ders. (Hg): Identity:
Community, Culture, Difference. London: Lawrence and Wishart, 1990.
SIMON, S. La culture transnationale en question : visées de la traduction chez Homi Bhabha et
Gayatri Spivak. Études françaises, vol. 31, n° 3, 1995, p. 43-57.
SOUZA, L. M. S. Tradução Cultural e Hibridismo em Bhabha. In:_JUNIOR, B. A(org). Margens da
Cultura: Mestiçagem, Hibridimo e Outras Misturas. São Paulo: Boitempo, 2004.
YOUNG, R. Que es la crítica poscolonial? Disponível em
HTTP://robertjcyoung.com/críticaposcolonial.pdf. Acesso em: 07 de setembro de 2011.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
395
A indeterminação do político: Hannah Arendt e Roberto Esposito
Rodrigo Ponce Santos*
RESUMO
O ponto de partida é a crítica da política moderna como redução dos homens à mera vida
biológica. Redução que aparece, no pensamento de Hannah Arendt, como resultado da
ausência de um mundo construído e habitado por homens, em oposição à natureza em que se
encontram todas as formas de vida. Não obstante seu caráter inusitado e polêmico, a tese da
desmundanização se encontra firmemente ancorada em uma oposição cara à tradição
filosófica: a separação entre a vida comum a todos os seres (zoé) e a vida especificamente
humana (bíos). No conjunto de sua obra, Arendt descreve esta separação em uma série de
oposições binárias, tais como natureza x mundo, próprio x comum; privado x público. Parte
significativa das leituras dedicadas à autora tem debatido a validade e as implicações desta
tradicional cisão, considerando em que medida Arendt a teria tomado como um dado
irrefutável e, consequentemente, apreendido o político como uma realidade fechada, cujos
assuntos, espaços e sujeitos são essencialmente determinados. Cumpre aqui indicar uma
leitura diferente, aproximando o pensamento arendtiano das investigações do italiano Roberto
Esposito, a fim de pensar a política como tarefa irrealizável e, portanto, avessa à toda
determinação e acabamento. Veremos em um primeiro momento como o pensamento de
ambos se coadunam a este respeito para, em seguida, apontar brevemente a distância tomada
por Esposito em relação àquela tradicional cisão entre vida natural e vida humana.
PALAVRAS-CHAVE: vida; biopolítica, impolítico, limite.
Introdução
Entre as reflexões de Hannah Arendt sobre o totalitarismo e sua descrição da
modernidade como época do esquecimento da política encontramos o mesmo diagnóstico: a
*
Mestrando pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Bolsista REUNI. E-mail: [email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
396
redução dos seres humanos à mera vida biológica. Vida que pode ser morta nos campos de
concentração ou gerenciada estatisticamente pela administração de empresas e governos
burocráticos; que pode ser substituída ou descartada. Tal compreensão da política se encontra
reunida no pensamento contemporâneo sob o amplo conceito de biopolítica.
Esta impiedosa redução seria resultado da ausência de um mundo comum, entendido
como um conjunto de artifícios que sirvam como referência estável e compartilhada ao
desenrolar de vidas que seriam, em si mesmas, inconstantes, triviais e totalmente indiferentes.
Em Origens do Totalitarismo, o homem sem a proteção das leis (o apátrida, o cidadão de
segunda classe) é como a personagem – cada vez mais comum no cinema atual – que perde sua
identidade e não tem para onde ir, pois não se reconhece em nada ou não é reconhecido por
ninguém. Dada sua insignificância, ele pode desaparecer sem alterar a ordem de qualquer
coisa. Embora não estejamos nas mesmas condições de aniquilamento, um dos mais
importantes alertas a soar entre as páginas de A Condição Humana indica que a vida nas
democracias de massa seria em grande medida regida pelo mesmo princípio de desvalorização
da permanência e privação de referências comuns e estáveis.
Apesar de sua novidade e das controvérsias que produz, a tese da desmundanização se
encontra firmemente ancorada em uma oposição cara à tradição filosófica: a separação entre a
vida comum a todos os seres (zoé) e a vida especificamente humana (bíos). Pois, de acordo com
nossa autora, “o autor do artifício humano, que designamos mundo para distingui-lo da
natureza, e os homens, que estão sempre envolvidos uns com os outros por meio da ação e da
fala, não são de modo algum seres meramente naturais” (ARENDT, 2005, p. 182). A existência
em um mundo compartilhado depende desse afastamento em relação à natureza, ou seja, da
“possibilidade de se tornar algo eminente não natural” (ARENDT, 1985, p. 455). No conjunto de
sua obra, Arendt descreve esta separação em uma série de oposições, tais como mundo x
natureza, vida biológica x vida humana, próprio x comum, privado x público, social x político,
violência x poder, necessidade x liberdade. A cisão pode ser ainda descrita da seguinte maneira:
de um lado estão as coisas que não dependem dos homens e, portanto, não podem ser
debatidas e argumentadas; do outro, aquelas que os homens produzem e que devem ser
colocadas em discussão. O estabelecimento de uma barreira entre os dois domínios garante um
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
397
espaço apropriado para a política, enquanto sua destruição ocasiona a colonização do espaço
público por preocupações de caráter privado e a consequente transformação da política em
mera administração de necessidades vitais.
A rigidez de tais distinções tornou-se tema de intensos debates entre seus leitores. O
ponto crucial é que no estabelecimento dos assuntos, espaços e sujeitos políticos permaneceria
vedado tudo o que concerne a fatos naturais. Tomado como um dado intransponível, aquilo
que diz respeito ao corpo humano e suas necessidades - os assuntos domésticos ou
concernentes à manutenção da vida do indivíduo ou da espécie humana, assim como os
problemas que dizem respeito especificamente às mulheres, aos judeus, aos negros ou a
qualquer grupo identificado por características étnicas ou fisiológicas - nunca poderia se tornar
uma questão política propriamente dita. Entre os mais atentos às consequências de tal
encerramento teórico da política, Seyla Benhabib defende que o problema consistiria em uma
espécie de falha metodológica. A busca por aquilo que a política realmente é estaria marcada
por um "essencialismo fenomenológico" que levaria Arendt a confundir diferentes níveis de
análise (conceitual, histórico, social, ontológico, etc.) e a insistir "em querer fazer uma distinção
baseada no conteúdo ou no assunto, sugerindo que (...) alguns assuntos permitem soluções
'administrativas' e por isso podem ser removidos da arena público-política" (BENHABIB, 1996,
pp. 156-157).
Sem pretender ignorar a validade da polêmica e suas implicações, este artigo pretende
indicar uma leitura diferente, escapando a todo encerramento do político em assuntos, espaços
ou sujeitos determinados. Percorro este caminho acompanhando os argumentos de Roberto
Esposito em sua "definição" do político como algo sempre inacabado e, portanto, impossível de
ser representado e delimitado de uma vez por todas. Nosso ser em comum não apenas carece
de fundamento perene em algum dado natural ou biológico, em uma essência metafísica ou
origem mitológica, como também não encontra - e não pode encontrar - tal fundamento em
qualquer finalidade específica. O que reúne os homens para uma vida política não é nem uma
característica natural comum a todos (seja esse todos um grupo específico ou a humanidade
inteira), nem algo plenamente reconhecível, inegável e incontestável. O que os homens
possuem em comum, enfim, não é algo que possuem, mas uma falta, uma carência constitutiva
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
398
de seu ser. Daí o aspecto disforme e indeterminado da vida em comum, que pretendemos
ressaltar. Veremos em um primeiro momento como o pensamento de Arendt e Esposito se
coadunam a este respeito para, em seguida, apontar brevemente a distância tomada pelo
segundo, em seus estudos mais recente, em relação àquela tradicional cisão entre duas formas
de vida.
A política e seu avesso
Em um congresso sobre a obra de Hannah Arendt realizado no Canadá, em 1972, a própria
autora tomou parte das discussões e respondeu, entre diversas questões, o que seriam
assuntos políticos propriamente ditos – em oposição às questões sociais ou privadas – e qual
seria a validade de tal distinção no contexto contemporâneo. Apesar das incisivas contestações
de seus interlocutores, ela insiste: “Existem coisas nas quais a medida certa pode ser calculada.
Estas coisas podem de fato ser administradas e, desse modo, não estão sujeitas ao debate
público. O debate público só pode lidar com coisas que – se quisermos dizer negativamente –
não podemos calcular com exatidão” (ARENDT, 2010, p. 139).
Os debatedores presentes na ocasião (entre eles, Richard Bernstein, Mary McCarthy e
Albrecht Wellmer) intercalam diversas e contundentes objeções a tal separação, denunciando
algo demasiado abstrato e despolitizado em seu pensamento. "Pediria a você que desse um
exemplo atual de um problema social que não seja ao mesmo tempo um problema político.
Considere tudo: como educação, saúde, problemas urbanos", provoca Albrecht Wellmer. E
continua, "parece-me que mesmo os problemas sociais em nossa sociedade são
inevitavelmente problemas políticos" (ibid., pp. 140-141). Na ocasião, Arendt não nega que
temas como o transporte e a moradia possam ser tratados politicamente, mas insiste que “em
cada uma destas questões há uma dupla face, e uma destas faces não deve estar sujeita a
discussão” (ibid., p. 141). O teor de suas respostas não indica que existam coisas
essencialmente antipolíticas ou que devam ser sempre e em todos os lugares protegidas do
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
399
debate público. Pelo contrário, ela deixa entender que todas as coisas possuem um aspecto
propriamente público-político e, em seu avesso, algo que não pode ser debatido.
É verdade que nos diversos momentos de sua obra em que tentou definir com precisão
o que constituiria cada um desses lados, buscando encerrar teoricamente uma disputa
eminentemente política, Arendt pareceu fechar as portas da ágora a todas as questões sociais,
econômicas, raciais e de gênero. Por isso mesmo, não devemos lamentar que a descrição
apresentada neste debate seja menos evidente e decisiva. Talvez os assuntos políticos tenham
realmente este aspecto disforme, indefinível, indeterminado. São assim, justamente, em
oposição àquilo que pode ser calculado com exatidão, ao que existe e se impõe sem discussão.
Não encontramos em seus escritos um quadro definitivo dos interesses que devem estar entre
os homens e reuni-los, daquilo que constitui um assunto propriamente político e do que não
serve a tal propósito; mas isto não se deve somente ao fato de que, como afirma André Duarte
(2000, p. 282), “tais interesses apresentam grandes variações de grupo para grupo, alterandose no correr da história”. Talvez mais importante do que essa “indeterminação histórica” seja o
caráter indeterminado do próprio conteúdo da política, em qualquer época e para qualquer
comunidade.
Talvez possamos dizer, assumindo as críticas que lhe são dirigidas, que a política para
Hannah Arendt realmente não possui conteúdo, no sentido de algo que possa ser plenamente
contido em seu domínio e bem representado. A comunidade política é descontente - não como
indicativo de infelicidade, mas de incompletude, abertura e exposição. Não podemos delimitar
de uma vez por todas o campo político porque ele é, por princípio, um espaço aberto. Abertura
que se revela na pura capacidade humana de agir, de desempenhar um papel publicamente, à
parte de qualquer resultado específico. Duarte percebe e chama atenção para isto em um texto
recente, em que procura aproximar Arendt e o que chama de "pensadores da comunidade",
entre eles Roberto Esposito. Ele relembra a relação tramada por Arendt entre a política e as
artes de desempenho, tais como a dança, o teatro e a apresentação musical. Elas "se esgotam
na própria performance, já que não são orientadas por um telos que lhes seja exterior, motivo
pelo qual não deixam um objeto tangível ao final da atividade", assim como "o caráter
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
400
performático da atividade política constituinte de espaços de compartilhamento" (DUARTE,
2011, p. 29).
Mas é possível pensar desta maneira a esfera público-política? Como ela pode ser
constituída por referências que estabilizam nossas vidas pela segurança de sua permanência,
sendo, ao mesmo tempo, aberta e indeterminada? Como conciliar a permanência das
instituições, que nos mantém reunidos ao seu redor, com o caráter performático da política? Se
existem respostas para tais questões, elas devem passar pelo duplo significado do termo
"público" apresentado por Arendt em A Condição Humana (1998, pp. 50-58), o duplo espaçoentre intersubjetivo, de um lado, formado pelos interesses objetivos e mundanos, que mudam
historicamente e, de outro, pelos atos e palavras que formam a teia de relações humanas
(DUARTE, 2011, pp. 35-36). Este caminho não será trilhado neste artigo. No entanto, as linhas
que seguem poderão ressaltar o problema, apresentando de maneira coerente e adequada
uma articulação do pensamento arendtiano que enfatize este segundo espaço-entre, intangível,
e tensionando de algum modo a tese sobre a desmundanização.
Ao invés de tomarmos o político como um lugar específico ou a partir do interesse em
um objeto qualquer, podemos pensá-lo como puro meio, a abertura que torna possível a
instauração de um lugar para o debate, onde todo objeto pode então aparecer e ser
compreendido. Pensemos que a luz, metáfora recorrente em Arendt para se referir ao mundo
público, não possui forma, mas nos permite discernir os contornos daquilo que ilumina. Ela é
desfigurada, ainda que figuras possam surgir em seu meio. Parece totalmente viável
compreendermos aquilo que fica entre os homens na compreensão arendtiana da política (seu
inter-esse, o ser-entre), do modo como Jean-Luc Nancy sugere que seja compreendido o com
da comunidade, referindo-se ao conceito de communitas na obra de Roberto Esposito:
(...) o 'com' não é nada: nenhuma substância e nenhum em-si-para-si. No
entanto, este 'nada' não é exatamente nada: é algo que não é uma coisa no
sentido de um 'dado-presente-em-algum lado'. Não está em um lugar, porque
é antes o lugar mesmo: a capacidade de que alguma coisa, ou melhor, algumas
coisas e alguns estejam aí, isto é, que aí se encontrem uns com os outros ou
entre eles, sendo o com e o entre, precisamente, não outra coisa senão o lugar
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
401
mesmo, o meio ou o mundo de existência. Tal lugar se denomina sentido. Sercom é ter sentido (...) (NANCY apud ESPOSITO, 2003, p. 17).
Sentido para Arendt é justamente o que as coisas adquirem através do senso comum,
isto é, do compartilhamento de nossas experiências. “Para nós, a aparência – aquilo que está
sendo visto e ouvido por outros tanto quanto por nós mesmos – constitui a realidade”
(ARENDT, 1998, p. 50), pois “a realidade do mundo é garantida pela presença dos outros, por
sua aparição a todos; 'para o que aparece a todos, damos o nome de Ser'” (ARENDT, 1998, p.
199). Não há nada pleno de sentido e por isso essencialmente capaz de nos reunir ao seu redor,
uma vez que tudo adquire sentido a partir de nossa reunião. Nas palavras de Esposito (2006, p.
25), "a comunidade não é algo que põe em relação o que é, senão o ser mesmo como relação".
Ou ainda - comentando a noção de comunidade inoperável [communauté désoeuvrée] de JeanLuc Nancy - "a comunidade não se entende como aquilo que põe em relação determinados
sujeitos, nem como um sujeito amplificado, senão como o ser mesmo da relação" (ESPOSITO,
2009, pp. 15-16).
Este ser-com – que abre a possibilidade de todo ser – nos desprivatiza e nos lança em
uma teia de relações. Não como se existisse um sujeito isolado e privado que decide então se
reunir com os outros por causa de determinado assunto em comum. A comunidade é "o lugar
mesmo - ou, melhor dizendo, o pressuposto transcendental - de nossa existência, dado que
desde sempre existimos em comum" (ibid., p. 26). Este puro ser-com é a posição primordial do
humano. Enquanto o isolamento e, de modo mais radical, a solidão correspondem às
experiências em que se destrói nossa humanidade, conduzindo ao encerramento da abertura e
da indeterminação, podemos dizer, da liberdade que é "a substância e o significado de tudo que
é político" (ARENDT, 2008, p. 185). Algo que é sacrificado "em todo lugar onde o processo
histórico-político seja definido em termos determinísticos como algo que é preordenado de
antemão a seguir suas próprias leis e, por conseguinte, é plenamente reconhecível" (ibid., p.
183, grifo meu).
A pluralidade, noção incontornável no pensamento de nossa autora, revela que o
político (ou o impolítico, como define Esposito) não pode ser de modo algum hipostasiado. Seus
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
402
assuntos, espaços e sujeitos não possuem uma realidade única e definitiva, dado que "a
realidade da esfera pública está ligada à presença simultânea de inúmeros aspectos e
perspectivas nos quais o mundo comum se apresenta e para os quais nenhuma medida ou
denominador comum pode jamais ser inventado. Pois embora o mundo comum seja o terreno
comum a todos, os que estão presentes nele ocupam posições diferentes” (ARENDT, 1998, 57,
grifo meu). Tais palavras soam em harmonia com o que Esposito (2006, p. 36) diz sobre a
irrepresentabilidade inerente à pluralidade. "Toda tentativa lógico-histórica de representar essa
pluralidade constitui na verdade uma evidente negação dela, a partir do momento que o modo
intrínseco da representação é o da reductio ad unum."
Somente porque estamos em posições diferentes podemos falar a respeito daquilo que
vemos e ouvimos. Se encarássemos o mundo da mesma maneira, de que valeriam nossas
palavras? O que elas tentariam dizer? Toda conversa começa com discordância. A fala é
justamente a tentativa de afinar nossas vozes. Mas nunca diremos o mesmo. Primeiro, porque
não percebemos o mesmo. Não somos iguais. Esta é a condição da pluralidade para a qual
Arendt tão insistentemente chama nossa atenção. Além do mais, não possuímos a medida para
representar o mundo com tamanha exatidão; as palavras não se encontram grudadas nas
coisas, nem as apreendem completamente. Não é possível, enfim, construir uma gramática que
corresponda perfeitamente às coisas. Por isso podemos falar e continuar falando, afirmando e
contestando outras afirmações.
A impossibilidade de esgotar o sentido do mundo torna possível nos reunirmos para
falar e agir sobre o mundo. Esta impossibilidade, mais do que uma deficiência de nossa
linguagem ou de nossa compreensão, diz respeito a uma falta constitutiva de nós mesmos. O
tema não poderá ser explorado com rigor neste artigo, mas podemos dizer que tanto em
Arendt quanto em Esposito encontra-se uma compreensão do homem como aquele que não
possui em si mesmo a origem de seu ser. "Nada é mais óbvio", diz Arendt (1973, p. 101), "do
que o fato de o homem, seja como membro da espécie ou como indivíduo, não dever sua
existência a si mesmo". O que nós compartilhamos, de acordo com Esposito, é justamente esta
falta, este nada constitutivo; "não é senão comunidade do defeito, (...) o que a constitui
enquanto ser-em-comum, com-ser, é precisamente esse defeito, esse caráter inalcançável, essa
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
403
dívida. Dito de outro modo, nossa finitude mortal" (ESPOSITO, 2009, p. 32). A lei que vincula os
homens “é algo que continuamente transcende. Mas esta transcendência (...) não é outra coisa
senão o limite de nossa própria possibilidade de esgotar a lei e, por esta razão, o indicador e a
medida de nossa própria finitude” (ibid., p. 40).
Esta falta constitutiva nos reúne. Não porque sejamos capazes de suprir tal carência,
reencontrando alguma unidade perdida e cumprindo o fim da humanidade, mas, pelo
contrário, para que continuemos tramando e tecendo uma história sem fim. O que ocorre
quando tentamos realizar, cumprir e determinar a vida em comum é justamente o seu fim. A
conversa termina quando pretende se fixar em algo que não pode ser mudado. A linguagem –
consequentemente, a política – se torna impossível, por exemplo, diante do racismo, na
medida em que ele tenta determinar de uma vez por todas seu conteúdo. “O racismo (...) é, por
definição, saturado de violência, porque contesta fatos orgânicos naturais – a pele branca ou
negra – que não podem ser alterados por nenhum poder ou tentativa de persuasão” (ARENDT,
1973, p. 147). A diferença física é algo simplesmente dado pela natureza e, como tal,
irrefutável. Arendt (1985, p. 301) fala em um “fundo escuro (...) formado por nossa imutável e
incomparável natureza”, a partir do qual surgem diferenças “naturais e sempre presentes [que]
indicam muito claramente aquelas esferas onde os homens não podem agir e mudar à
vontade”.
Não estando sujeito à transformação, este fundo constitui um limite à ação política.
Não apenas no sentido de impedimento, mas daquilo que a constitui como seu negativo. O que
é o contrário daquilo que não podemos mudar senão a liberdade e abertura de inúmeras
perspectivas? Quando esta fronteira é ultrapassada, a própria política fica ameaçada. Pois
enquanto condicionada pela pluralidade, a política não é somente uma resposta dos homens
aquilo que lhes é dado pela natureza, mas uma conversa permanente, dissonante, polifônica, a
fala sobre a fala, o constante repor-se do argumento que nunca encontra base segura sobre a
qual possa manter-se de uma vez por todas. Daí a relação entre política e liberdade.
Mas o discurso interrompe seu curso quando 'não se fala mais nisso'.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
404
Se um negro em uma comunidade branca é considerado um negro e nada
mais, ele perde juntamente com seu direito à igualdade aquela liberdade de
ação que é especificamente humana; todos os seus feitos são agora explicados
como 'necessárias' consequências de algumas qualidades 'negras'; ele se
tornou um espécime de uma espécie animal, chamada homem. A mesma coisa
acontece àqueles que perderam todas as distintivas qualidades políticas e se
tornaram seres humanos e nada mais (ARENDT, 1985, pp. 301-302).
A redução dos homens à vida biológica é a condição para seu controle e manipulação
nos campos de concentração ou nos quadros estatísticos de nossas empresas e governos, que
desqualificam, uniformizam e reduzem os homens à uma equivalência geral, transformando-os
em recurso que pode ser calculado com exatidão. A politização da vida é a naturalização da
política, o fechamento do ser que se caracteriza pelo diálogo e pela persuasão. Por isto a
lembrança recorrente da definição grega do espaço privado, em que se conserva e reproduz a
vida, como lugar da necessidade e do domínio. O dominus, assim como o eugenista, não fala:
“As palavras, nesse caso, eram meros substitutos do fazer algo, na verdade de algo que
supunha o uso da força e ser coagido” (ARENDT, 2008, p. 173). A fala baseada em necessidades
e fatos naturais não é fala, mas coação lógica. Violação que explica a vigilante aversão de
Arendt a toda metáfora orgânica aplicada aos assuntos humanos.
Política reduzida à vida e revitalização da política
Tradicionalmente, o conceito de natureza diz respeito àquilo que não pode ser refutado
ou contestado, mas apenas reconhecido, determinado e definido. Trata-se sempre, no modo
como historicamente se utilizou o termo, de uma essência ou propriedade imutável. A natureza
de algo diz respeito não a um evento ou ente particular, mas a um conjunto de coisas que
podem ser subsumidas a um conceito geral. O homem, por exemplo, enquanto ser
biologicamente determinado, pode ser compreendido a partir de certas características que
compõem sua natureza.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
405
Mas para Arendt, na compreensão dos homens em sua singularidade, ou seja, dos
homens enquanto homens, não é possível apelar a uma natureza humana. "É altamente
improvável que nós, que podemos conhecer, determinar e definir a essência natural de todas
as coisas que nos rodeiam, que não somos, sejamos capazes de fazer o mesmo com nós
mesmos" (ARENDT, 1998, p. 10). Sua preocupação é distinguir dois modos de se pensar nossa
própria humanidade: como espécie humana - o homem - formada por uma série de indivíduos
que compartilham certas propriedades e que, vistos a partir delas, não se diferenciam; ou como
pluralidade formada por seres singulares e de diferenças irredutíveis - os homens. Este segundo
aspecto, que diz respeito a vida política, é negligenciado por uma perspectiva generalizante:
"para todo pensamento científico - para a biologia e a psicologia, como para a filosofia e a
teologia - só existe o homem, da mesma forma como para a zoologia só existe o leão" (ARENDT,
2008, p. 144).
De modo semelhante, Esposito problematiza aquilo que reuniria os homens em uma
vida política.
Que 'coisa' tem em comum os membros de uma comunidade? É
verdadeiramente uma 'alguma coisa' positiva? Um bem, uma substância, um
interesse? (...) o sentido antigo, e presumivelmente originário, de communis,
deveria ser 'quem comparte uma carga (um cargo, um encargo)'. Portanto,
communitas é o conjunto de pessoas unidas, não por uma 'propriedade', senão
justamente por um dever ou uma dívida (...) uma falta, um limite. (ESPOSITO,
2006, pp. 29-30).
A primeira parte deste texto foi uma tentativa de desenhar este caminho de
aproximação entre os dois autores. A ideia de que não compartilhamos, enquanto seres
políticos, nenhuma propriedade fundamental, de que nossas comunidades não possuem
nenhuma origem mitológica e nenhuma finalidade suprema. E como consequência desta falta
de fundamento, uma noção muito particular da relação entre liberdade e política.
Trata-se agora de apresentar, de maneira muito breve, o distanciamento tomado por
Esposito em relação à apreciação da vida natural. Como dito acima, todo o edifício conceitual
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
406
arendtiano está construído sobre a tradicional distinção entre zoé e bíos, a vida comum a todos
os seres e a vida especificamente humana. Desde a compreensão do fenômeno totalitário, que
inaugura sua teoria política, até as análises das democracias, das revoluções e das ciências
modernas, ela segue utilizando esta ferramenta. Quanto a Esposito, ele certamente não ignora
a distinção. Não obstante seu empenho em desconstruir categorias como as de próprio e
comum (idion e koinon) - a qual Arendt remete as de zoé e bíos -, substituindo-as pela
articulação entre communitas e immunitas (o dever, a dívida que expõe os homens aos perigos
da vida comum, contraposta a imunidade que os protege), tal noção não parece invalidar a
distinção entre duas formas de vida. Antes, tornaria mais visível o problema da redução
biopolítica que Arendt (juntamente com Foucault) teria vislumbrado.
Aqui está a contradição que eu tentei iluminar: aquilo que salvaguarda o corpo
- individual, social, político - é também aquilo que impede seu
desenvolvimento. E aquilo que também, passado certo ponto, ameaça destruílo. (...) a imunização em alta dose é o sacrifício do vivente - isto é, de toda
forma de vida qualificada - à simples sobrevivência. A redução da vida a sua
nua base biológica (ESPOSITO, 2009, p. 18).
A diferença, bastante sutil, me parece a seguinte: para Arendt, a redução se dá na
medida em que se destrói a barreira entre as duas formas de vida, enquanto para Esposito, em
última instância, não existem duas formas de vida. “Diferente do proposto – ou pressuposto”,
diz ele, “por todos os existencialismos, os historicismos ou os personalismos (...) a humanidade
do homem não pode ser pensada fora do conceito e da realidade natural” (ibid., p. 166). A
imunização não é pensada como barreira artificial que se interpõe entre os homens e a
natureza, senão como proteção inscrita na própria natureza, mecanismo de proteção da vida. O
que ocorre, em casos extremos, é uma dose muito forte do remédio. Não por acaso, aqui
retornam as metáforas orgânicas. Há em seu pensamento uma tentativa de revitalizar a
política, que apaga as fronteiras entre natureza e cultura para buscar na própria vida uma
potência criadora de sentido. É preciso "mudar a difundida ideia de que a vida humana possa
ser salva da política; se trata antes de que a política hoje deva ser pensada a partir do
fenômeno da vida" (ibid., p. 22).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
407
Enquanto Arendt relaciona a vida biológica ao imutável e incontestável, Esposito (ibid.,
p. 167) afirma que “o homem, por assim dizer, está programado para mudar continuamente a
própria programação”. As transformações (culturais, técnicas ou políticas) operadas na
natureza não escapam aos processos naturais, mas se fazem a partir deles e também os
modificam: “assim como as atividades da mente e da linguagem estão conectadas com as
estruturas orgânicas das quais emergem, estas são, por sua vez, modificadas pelas funções
linguísticas e mentais que produzem” (ibid., p. 168). Mais do que uma nova dialética entre
natureza e cultura, Esposito parece se dirigir para a superação deste dualismo. O que traz
consequências para o pensamento da política. Arendt pensava a mera vida como uma
dimensão de indiferença e servidão comuns, a partir do qual se constrói, artificialmente, as
condições para uma vida humana. Esposito não toma esta dimensão como pressuposto e sim
como resultado da separação. Por mecanismos jurídicos e políticos, alguns se tornam cidadãos,
enquanto o “resto” é transformado em mera coisa, vida sem importância. Baseado na cisão
entre zoé e bíos, todo critério para a obtenção de direitos produz a exclusão dos mesmos
direitos. Cria-se uma vida qualificada que se distingue da "vida natural" determinando, ao
mesmo tempo, o que é esta natureza. A incorporação da personagem jurídica (a pessoa de
direitos) é também “despersonalização – isto é, redução à coisa” (ibid., p. 194).
Esposito certamente não pretende fornecer a fórmula e a forma definitiva de uma
política sem tal mecanismo excludente, constituída não como domínio sobre a vida, mas como
uma política da própria vida. Mas, ao contrário de Arendt, sugere que a superação da redução
biopolítica não passa pela separação entre política e vida. Antes, este seria "o momento de
repensar a relação entre política e vida em uma forma que, mais do que submeter a vida aos
ditames da política - o que precisamente aconteceu no século XX -, insira na política a potência
da vida" (ibid., p. 138).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
408
Referências bibliográficas
ARENDT, Hannah. A Promessa da Política. Trad.: Pedro Jorgensen Jr. Rio de Janeiro: DIFEL,
2008.
_______. "Da Violência". In: Crises da República. São Paulo: Perspectiva, 1973.
_______. Sobre Hannah Arendt. Trad.: Adriano Correia. Revista Inquietude, Goiânia, v. 1, n. 2,
2010. Disponível em: <www.inquietude.org/index.php/revista/article/viewArticle/45>. Acesso
em: 03/06/2011.
_______. The Human Condition. 2ed. Chicago: University of Chicago Press, 1998.
_______. The Origins of Totalitarianism. New York: Harvest Book,1985.
_______. Trabalho, Obra, Ação. Trad.: Adriano Correia. Cadernos de Ética e Filosofia Política,
São Paulo, v.7, 2/2005, p. 175-201.
BENHABIB, S. The Reluctant Modernism of Hannah Arendt. Thousand Oaks: Sage Publications,
1996
DUARTE, A. "Hannah Arendt e o pensamento ‘da’ comunidade: notas para o conceito de
comunidades plurais". In: O que nos faz pensar. Revista de Filosofia da PUC-RJ 29 (2011): 21-40.
Disponível em: http://works.bepress.com/andre_duarte/28 - Acesso em: 28/02/2012.
_______. O Pensamento à Sombra da Ruptura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.
ESPOSITO, R. Categorías de lo Impolítico. Trad.: Roberto Raschella. Buenos Aires: Katz, 2006.
_______. Communitas. Trad.: Carlo Rodolfo M. Marotto. Buenos Aires: Amorrortu, 2003.
_______. Comunidad, Inmunidad y Biopolítica. Trad.: Alicia G. Ruiz. Barcelona: Herder, 2009.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
409
Ação e duração: a visão bergsoniana da liberdade
Solange Bitterbier*
RESUMO
Na obra Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, Bergson enfatiza, após expor sua
concepção de tempo homogêneo, os fundamentos de sua crítica à concepção associacionista
que tem por base justamente o tempo espacializado. O filósofo inicia sua análise do problema
da liberdade procurando mostrar que tanto os deterministas quanto os adeptos do livrearbítrio se utilizaram do associacionismo e, logo, não conseguiram explicá-la satisfatoriamente
porque, ao abordarem as ações livres, se apropriaram de uma concepção equivocada da
duração, extraindo as características principais de uma consciência que dura em prol de uma
representação dos estados psicológicos no espaço. Todavia, se analisarmos as ações tendo
como base a noção de duração, sabe-se que a liberdade não pode ser considerada diante de
um tempo homogêneo. Em outras palavras, a liberdade e os problemas relacionados a ela
estão ligados a uma consideração errônea da concepção de tempo, o que nos leva a considerar
os estados de consciência como homogêneos e separados. Diante disso, nosso trabalho tem
por objetivo enfatizar a noção bergsoniana de duração e como tal noção está na base da
resolução dos problemas relacionados à liberdade. Para tanto, faremos uma introdução aos
dois primeiros capítulos do Ensaio sobre os dados imediatos da consciência e buscaremos nos
centrar naquilo que, já no terceiro capítulo da obra em questão, Bergson caracteriza como
ações livres.
PALAVRAS-CHAVE: ação, espaço, duração, consciência, liberdade.
Tendo como meta a resolução dos supostos problemas em relação à concepção de
liberdade, Bergson mostra que os equívocos relativos a esta advêm de uma imprecisão
existente em sua abordagem, visto que em sua base realidades diferentes são tratadas como
iguais. Tais realidades dizem respeito ao espaço e a nossa consciência: é preciso mostrar que
*
Doutoranda em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Bolsista CNPQ. E-mail:
[email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
410
não se pode atribuir propriedades de uma a outra já que se tratam de instâncias diferentes.
Sendo assim, as noções de multiplicidades qualitativa e quantitativa são a base para a
compreensão de que a nossa realidade psicológica não é comparável à realidade extensa que
vivenciamos por meio do espaço. Ora, diante da distinção entre as multiplicidades é que nossa
vida psicológica poderá ser compreendida em termos de duração. Tal compreensão é que
permitirá mostrar a liberdade sem pressupostos filosóficos equivocados como aqueles aos
quais se apegaram tanto os deterministas quanto os defensores do livre arbítrio ao
desenvolverem seus argumentos baseados numa concepção incoerente de vida interior.
Quando a consciência for compreendida como duração é que a liberdade torna-se um
fato e não mais um problema filosófico. A questão da liberdade se elucida quando a
enunciamos em outros termos que aqueles do associacionismo, ou seja, é preciso colocar a
liberdade tendo como base o modo como a consciência se apresenta imediatamente: trata-se
de se fazer um ensaio, como já fica previamente indicada pelo título da obra em questão, sobre
os dados imediatos da consciência. Trata-se então de uma tentativa de recolocar os problemas
mais em função do tempo que do espaço, onde a duração enquanto dado imediato seria a
base.
Mas o que isso significa? Significa mostrar que nossa realidade é feita de uma mistura
de multiplicidades: uma quantitativa, própria ao exterior, ao espaço, à simultaneidade e à
homogeneidade, e outra qualitativa, que é característica de nossa vida psicológica, onde os
estados conscientes se sucedem sem que haja uma separação entre eles e onde a cada instante
modificam toda a interioridade.
É pela análise minuciosa do número que Bergson mostra as características da
multiplicidade cabível ao espaço e é diante dessas características que chegará a afirmação da
existência de uma outra multiplicidade, por sua vez qualitativa. Isso porquê chama a atenção
para o fato de que os objetos justapostos e alinhados no espaço só se tornam passíveis de
numeração, de contagem, só se tornam propriamente quantidade numérica, graças à coesão, à
união, ou antes, a uma organização propiciada pela duração. Sem a duração permaneceríamos
sempre no estático, sempre no número 1, ou seja, se não houvesse a duração não haveria a
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
411
idéia de número. Nas palavras de Bergson: “É graças à qualidade da quantidade que nós
formamos a idéia de uma quantidade sem qualidade.” (DI, 82/92)1.
Em outras palavras, ao mesmo tempo em que Bergson mostra as características da
multiplicidade numérica ele caracteriza também outra espécie de multiplicidade a
diferenciando da realidade própria à exterioridade, uma vez que o objetivo da obra é tratar da
questão da liberdade, trata-se de abordá-la na dimensão em que se propõe investigar, ou seja,
na interioridade. Não cabe espacializá-la, exteriorizá-la, mas sim mostrar que a liberdade é
“restituída” à consciência quando extraímos desta conceitos exteriorizantes, quando não
confundimos as multiplicidades. Assim, o que a filosofia bergsoniana traz de novo é essa
abordagem que “desvia o espírito do domínio da exterioridade e volta para o interno: a
instância suprema e única jurisdição do filósofo é a experiência interna” (JANKÉLÉVITCH, p. 3637).
Sendo assim, a justaposição da matéria que o espaço nos faculta não é a única
condição da formação do número. Somente ela não bastaria, é preciso um ato de síntese do
espírito. O espírito nos permite sintetizar várias unidades em um único número e é também por
um ato do espírito, mas por sua vez intuitivo, que a própria concepção de espaço surge: a
simples coexistência dos objetos não seria suficiente para a gênese do espaço. O ato do espírito
“consiste essencialmente na intuição, ou antes, na concepção de um meio vazio homogêneo”
(DI, 64/70). A definição do espaço enquanto meio vazio homogêneo fruto de um ato do espírito
é, para Bergson, a única possível. Isso ocorre porque, sugerindo uma volta à experiência, o
filósofo, por meio da análise do número, extrai de nossa relação com as coisas exatamente tal
concepção: ao tornarmos os objetos passíveis de numeração é necessário inserirmos nesse
âmbito uma homogeneidade que não lhes é própria, mas que nosso espírito pode conceber.
Sendo assim, a análise do número nos permite chegar a uma série de conclusões que
embasam a filosofia bergsoniana e é a partir dessa análise que Bergson pretende mostrar que
nossa vida consciente se passa num tempo o qual, por vezes, é corrompido pela nossa
1
Todas as citações das obras de Bergson são de nossa própria autoria. Usaremos a seguinte configuração: após a
citação estará a abreviatura, a numeração da página referente às Oeuvres (1959) e em seguida aquela referente às
edições críticas feitas sob direção de Frédéric Worms.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
412
tendência à vida prática. Se o objetivo é mostrar aquilo que a consciência é, chegando aos seus
dados imediatos os quais não passaram pelo crivo da inteligência, nada mais coerente que,
após fazer a análise do número e mostrar que a multiplicidade numérica está intrinsecamente
ligada ao espaço, Bergson busque esclarecer aquilo que comumente tratamos como
multiplicidade numérica e que, por sua vez, não comporta noções advindas de nossa concepção
do espaço: o tempo, aquilo que caracteriza a multiplicidade qualitativa dos nossos estados de
consciência.
O tempo ao qual Bergson afirma ser o da realidade interior é aquele que ainda não
possui uma forma espacial, ainda não está nos moldes da inteligência: passa sem que existam
separações, divisões ou distinções como supomos quando observamos um relógio, é a própria
duração, nas palavras de Bergson, “é a forma que toma a sucessão dos nossos estados de
consciência quando nosso eu se deixa viver, quando se abstém de estabelecer uma separação
entre o estado presente e os estados anteriores” (DI, 67/74-75).
O que ocorre nos estados de consciência não é uma soma, ou seja, uma mudança
quantitativa, mas uma sucessão que necessariamente implica mudança qualitativa, ou seja, na
consciência tem-se um processo de organização das posições anteriores com uma
interpenetração das mesmas e assim tenho a experiência da duração: “suprimamos por um
instante o eu que pensa as oscilações do pêndulo ditas sucessivas, haveria somente uma única
oscilação do pêndulo, uma só posição deste pêndulo: não há duração por conseqüência.
Suprimamos por outro lado, o pêndulo e suas oscilações; haverá somente a duração
heterogênea do eu, sem momentos exteriores uns aos outros, sem relação com o número” (DI,
72/80-81).
Assim sendo, compreendemos aquilo que a análise do número já esclarecia, a saber,
que a duração dos objetos exteriores só nos aparece porque temos a experiência da nossa
própria duração: “(...) em nosso eu, há sucessão sem exterioridade recíproca; fora do eu,
exterioridade recíproca sem sucessão (...)” (DI, 72-73/81). 2 Deste modo, há uma “sucessão sem
distinção, e como uma penetração mútua, uma solidariedade, uma organização íntima de
2
Grifo nosso.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
413
elementos, em que cada um, representativo do todo, dele não se distingue nem isola a não ser
por um pensamento capaz de abstração” (DI, 68/75).
Dessa forma, espaço e duração interagem constantemente e a simultaneidade com
que isso acontece nos faz transmitir à duração a exterioridade daquilo que se passa no espaço.
Uma vez que “projetamos o tempo no espaço, exprimimos a duração pela extensão” (DI,
68/75), pode-se compreender que não há, em última instância, dois tipos de tempo, mas sim
um misto de duração e espaço, quando atribuímos a característica de justaposição e
simultaneidade à moda da contagem aos nossos estados conscientes. Isso é algo natural e
necessário à vida, precisamos dessa espécie de endosmose entre duração e espaço,
necessitamos dessa troca, desse “compromisso”, no qual o espaço introduz a homogeneidade e
suas distinções extrínsecas, e a duração interna, por sua vez, a sucessão e a organicidade de
seus elementos” (MARQUES, 29)
A nossa inteligência cria esquemas para facilitar a nossa vida exterior, entre os quais, a
associação entre espaço e duração. Entretanto, o resultado dessa associação nada mais é que
um tempo homogêneo diferente do tempo real. Dado que nossa vida é voltada ao agir,
acabamos desenvolvendo nossas ações através de um âmbito “manchado” pelo exterior. Tal
âmbito seria, segundo Bergson, uma espécie de “eu superficial”, aquele que encobre, como se
fosse uma “camada”, o nosso eu profundo que, por sua vez, seria onde encontraríamos o
tempo em sua forma pura, como um dado imediato para nossa consciência.
O “eu parasita”, segundo a metáfora bergsoniana, se mantém no âmbito social, na
nossa relação com o mundo, relação esta marcada pela linguagem. Dado que a nossa principal
forma de comunicação é a linguagem, exprimimos nossas idéias, sentimentos, sensações por
palavras, que por sua vez não permitem que um estado psicológico se coloque em sua forma
pessoal. Para darmos nome a algo, é preciso que dele removamos o que há de impressão
pessoal e mantenhamos aquilo que para todos aparece igualmente, “perceberemos então
termos exteriores uns aos outros, e estes termos já não serão os próprios fatos de consciência,
mas os seus símbolos ou, para falar com mais precisão, as palavras que os exprimem.” (DI,
108/122).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
414
Após apontar desde o início de sua análise que os nossos estados de consciência não
comportam divisão nem aumento quantitativo, Bergson parece fundamentar tudo aquilo que
anteriormente havia exposto dando ênfase no desenvolvimento de nossa vida prática. É esse
modo em que nossa vivência se dá que acaba sendo fonte da confusão entre quantitativo e
qualitativo. É nessa confusão que tanto os deterministas quanto os defensores do livre-arbítrio
se apoiaram e, logo, se enganam ao tratar do ato livre. Quando se diz que se optou por um
caminho, é como se já desenhássemos uma deliberação do início ao fim, à semelhança de uma
linha no espaço. Os deterministas afirmam que o fim dessa linha já era determinado, já os
defensores do livre-arbítrio, que havia ao menos duas ou mais possibilidades e optar por uma
ou outra era igualmente possível. Porém essa linha mostra o tempo decorrido e não o tempo
que transcorre. Após a deliberação feita, posso, por um esforço de imaginação, representá-la
no espaço através de um traço, mas nunca a deliberação em progresso. Em nossos estados não
há uma linha demarcada, não há um ponto de escolha, não há duas direções. Pensar o
contrário “é admitir a possibilidade de representar adequadamente o tempo pelo espaço, e
uma sucessão por uma simultaneidade” (DI, 119/135).
O problema tanto do determinismo quanto do livre-arbítrio é, então, a representação
da “deliberação sob a forma de oscilação no espaço, quando ela consiste num progresso
dinâmico onde o eu e seus motivos estão em um continuo devir, como verdadeiros seres
vivos.” (DI, 120/137). Quando deliberamos acerca de algo, não há dois momentos estáticos a
espera de que nos decidamos por um ou por outro. O eu modifica-se na medida em que os
sentimentos se apresentam, “assim se forma uma série dinâmica de estados que se penetram,
se reforçam uns aos outros, e chegarão ao ato livre por uma evolução natural.” (DI, 113/129).
Todavia é preciso enfatizar que embora o filósofo faça uma crítica ao se tratar as ações
livres baseando-se num “eu superficial”, não se trata de uma aversão ou repúdio pela
inteligência ou pela experiência do âmbito social, pelo contrário, a consciência inserida nesse
âmbito é que propicia nosso conhecimento do exterior, que nos insere na sociedade enquanto
tal. O problema é manter-se nessa experiência “inautêntica” para tratar das ações livres, sob
pena de se negar a liberdade: “é preciso um “esforço vigoroso de análise”, para retornar ao
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
415
dinamismo interno da consciência profunda, no qual se constituem os atos livres”. Isso que
faltou aos associacionistas ao desenvolverem suas análises sobre a liberdade.
É preciso enfatizar também que a liberdade, como pode ser percebido pelas noções de
“eu superficial” e de “eu profundo”, comporta graus. Somos mais ou menos livres na medida
em que nossas ações se baseiam ora em nossa tendência à prática ora em nossa
individualidade, em nossa história pessoal, em nosso eu como um todo.
Sendo assim, a ação livre se mostra com um retorno à consciência através de um
esforço para alcançar-lhe ora superficialmente, ora mais profundamente nos atos realmente
livres em que o agir estará impregnado de interioridade. Em poucas palavras, a liberdade se
realiza na ação, ou seja, nossa duração se concretiza na ação na medida em que esta última é a
expressão maior ou menor da interioridade na realidade exterior.
Referências bibliográficas
BERGSON, H. ŒUVRES. Edition du centenaire. Paris: PUF, 1959.
____________. Essai sur les données imediates de la conscience. Paris: PUF, 2007. (Édition
critique).
JANKÉLÉVITCH, V. Henri Bergson. Paris: PUF, coll. Quadrige,1989.
MARQUES, S. T. Ser, tempo e liberdade: as dimensões da ação livre na filosofia de Henri
Bergson. São Paulo: Associação Editorial Humanitas: 2006.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
416
O realismo de entidades de Nancy Cartwright
Tales Carnelossi Lazarin*
RESUMO
Nancy Cartwright apresenta uma posição intermediária entre o empirismo e o realismo
científico, conjugando uma atitude antiteórica sobre as leis científicas fundamentais com o
realismo a respeito das entidades inobserváveis postuladas pela ciência. A autora sustenta, por
um lado, que apenas leis fenomenológicas – que buscam descrever regularidades empíricas de
maneira direta – podem ser verdadeiras, enquanto que leis teóricas ou fundamentais, que são
mais abstratas e a partir das quais as primeiras podem ser derivadas e explicadas, não
descrevem os fatos literalmente (isso por uma série de razões alegadas, como essas leis
requererem a condição ceteris paribus ou haver perdas de adequação empírica com a
ampliação de seu poder explicativo). Por outro lado, Cartwright entende que a ciência pode
obter conhecimento a respeito de entidades que não são diretamente observáveis (e.g.
elétrons), e o faz recorrendo a situações experimentais em que essas estariam envolvidas. A
autora alega que a existência das causas (i.e. entidades) do que é constatado em um
experimento controlado é requerida para que uma explicação causal seja aceita; e afirma
também que, mesmo que os cientistas sejam estimulados a formular modelos diversificados
para dar conta de certos fenômenos, que apenas uma história causal é, por fim, admitida pela
comunidade científica - o que reforça seu entendimento sobre o compromisso ontológico
envolvido nas explicações causais. Cartwright detalha posteriormente sua posição sobre o
realismo de entidades, sustentando que as regularidades empíricas não são fundamentais, mas
sim resultado da ação de certas ‘capacidades causais’ (i.e. disposições ou tendências de certos
objetos em se comportarem de determinadas maneiras ou de produzirem certos efeitos em
condições específicas). É a combinação de objetos com certas capacidades causais em
configurações estáveis e repetitivas – que ela denomina sugestivamente de ‘máquinas
nomológicas’ – que geraria as regularidades empíricas que as leis científicas descrevem.
*
Pós-graduando em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). E-mail: [email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
417
Nancy Cartwright apresenta uma posição intermediária entre o antirrealismo empirista
e o realismo científico, conjugando uma atitude antiteórica sobre as leis científicas
fundamentais com o realismo a respeito das entidades inobserváveis postuladas pela ciência.
Nesta comunicação discorrerei sobre algumas das posições da autora, expondo seu argumento
em favor da existência de entidades inobserváveis, e também sua defesa posterior das
capacidades naturais e das ‘máquinas nomológicas’ em que essas são articuladas, dando
origem às regularidades constatadas empiricamente.
… eu não estou preocupada exclusivamente com o que pode ser observado. Eu
acredito em entidades teóricas e em processos causais também. Todo tipo de
coisas inobserváveis está em ação no mundo, e mesmo se quisermos prever
apenas resultados observáveis, ainda teremos de olhar para suas causas não
observáveis para obter as respostas certas.
Nancy Cartwright
O debate sobre o realismo científico tem sido um dos mais movimentados na Filosofia
da Ciência das últimas três décadas (ao menos...) sendo que a tese realista pode ser
apresentada, de maneira resumida, como a alegação de que as teorias científicas aceitas são
descrições aproximadamente verdadeiras da realidade nos domínios respectivos, o que inclui
alegações sobre a existência de entidades que não podem ser diretamente observadas (e.g.
elétrons, campos eletromagnéticos, genes, estados mentais...) que são representadas por essas
mesmas teorias (cf. Boyd, 1984). O assunto da presente comunicação são algumas concepções
científicas de Nancy Cartwright (1983, 1989, 1999), filósofa que investiga a ciência
principalmente da perspectiva de sua prática, com especial atenção ao emprego de modelos no
desenvolvimento de experimentos científicos e de aplicações tecnológicas.
Na citação inicial, Cartwright (1983) soa quase como uma perfeita realista,
asseverando a existência de entidades inobserváveis e relações causais das quais essas
participam - e que podem bem ser requeridas para explicar certas ocorrências observáveis.
Entretanto, a autora se autodeclara ‘uma empirista’ e, embora divirja dessa tradição filosófica
com relação a diversos pontos sensíveis, define seu empirismo não com relação ao que é
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
418
estritamente observável sem o auxílio da instrumentação científica (como faz van Fraassen,
1980/2006), mas sim com respeito àquilo que pode ser empiricamente testado e medido. Essa
perspectiva se constitui em uma ampliação em relação a um empirismo mais estrito, uma vez
que ocorrências subobserváveis podem, ocasionalmente, ser testadas e medidas de maneira
engenhosa pelos cientistas (e.g. com o uso de microscópios) e, por conseguinte, o
conhecimento a seu respeito pode ser assim estabelecido.
Porém, Cartwright (1983) assume uma posição antirrealista com relação às leis
fundamentais da natureza, dedicando boa parte de seu influente e controverso livro How the
laws of physics lie buscando justamente mostrar que tais leis não representam a realidade
literalmente e, portanto, não podem ser (aproximadamente) verdadeiras como alegado pelos
realistas. A autora distingue dois tipos de leis seguindo o uso que fazem os cientistas. Leis
fenomenológicas apenas descrevem regularidades empíricas específicas da maneira mais fiel
possível (e.g. leis da refração e reflexão, leis fenomenológicas dos gases); enquanto que as leis
fundamentais ou teóricas (e.g. leis de Newton, a equação de Schrödinger) são gerais, unificam e
explicam as regularidades descritas pelas leis fenomenológicas, sendo capazes de derivá-las
(em conjunto com informações específicas da situação). A autora contraria toda uma tradição
na Filosofia da Ciência que privilegia as leis fundamentais em detrimento das leis
fenomenológicas (cf. Hempel, 1965), e aqui menciono alguns motivos para seu ceticismo com
respeito às primeiras.
Um dos problemas é que Cartwright (1983) alega que as leis fundamentais devem ser
interpretadas como requerendo a condição ‘ceteris paribus’ (todo o mais constante), uma vez
que são formuladas para descrever tipos de efeitos específicos (e.g. força elétrica pela lei de
Coulomb e força da gravidade pela lei da gravitação universal), mas, considerando que a
interação entre fatores causais de naturezas diversas (e.g. interação de forças elétricas e
gravitacionais em partículas carregadas) ocorre via de regra, isso faz com que o comportamento
observado divirja do que é estritamente ditado pelas leis tomadas isoladamente. A autora
replica, então, que essas leis não descrevem os fatos literalmente – isto é, são estritamente
falsas, - ou o fazem somente em condições muito simples (como aquelas obtidas em
laboratório) ou idealizadas.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
419
Outro ponto enfatizado por Cartwright (1983) é que enquanto as leis fenomenológicas
são confirmadas diretamente pela evidência empírica, as leis fundamentais são confirmadas
apenas indiretamente pela derivação das primeiras. A autora opõe-se ao modelo nomológico
dedutivo de explicação científica apresentado por Hempel (1965), realizando estudos de caso
(e.g. sobre lasers e circuitos elétricos) que mostram que tais derivações não são diretas como
prescrito, mas sim mediadas por modelos da situação, de modo que informações específicas a
respeito dessa são empregadas para melhorar o que é ditado pelas leis fundamentais; e
também mostrando que há passos nas derivações que são tomados mais por conveniência
matemática do que pela obediência aos fatos empíricos. Cartwright (1983, p. 2) alega que razão
para muitos desses problemas com as leis fundamentais é que o custo do poder de explicar e
organizar de forma conveniente uma ampla gama de fenômenos empíricos em poucos
princípios científicos é uma inevitável perda de sua adequação empírica, de modo que “o poder
explicativo manifesto das leis fundamentais não é argumento para sua verdade” – afirmação
que se constitui na negação, pela autora, de tese central aos realistas científicos tradicionais (cf.
BOYD, 1984).
Retornando ao assunto do realismo de entidades, Cartwright (1983, p. 87) rejeita, com
outros empiristas como van Fraassen e Duhem, a inferência à melhor explicação em que os
realistas se apoiam para sustentar que as teorias fundamentais devem ser ao menos
aproximadamente verdadeiras. A autora segue uma linha instrumentalista clássica afirmando
que “explicações organizam breve e eficientemente a desajeitada, e talvez impossível de ser
aprendida, massa de conhecimento altamente detalhada que temos dos fenômenos”, mas
replicando que “o poder organizativo não tem nada a ver com a verdade”. Por tal concepção,
uma explicação falsa ainda poderia satisfazer todos os requisitos do que seja uma boa
explicação, ou seja, a verdade é entendida como ‘externa’ às explicações, um ‘ingrediente
adicional’ cujo estabelecimento não é constitutivo ou requerido pelas mesmas (e.g. teorias
falsas com valor instrumental como a astronomia de Ptolomeu ou a mecânica newtoniana).
Entretanto, Cartwright (1983, p. 89-90) pensa que os autores instrumentalistas citados
“eliminam mais do que deveriam”, entendendo que as explicações causais são de um tipo
especial das quais a verdade é, sim, constitutiva, e que apoiam a crença nas entidades
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
420
inobserváveis. A autora discorre então sobre as explicações causais, afirmando que estas não
explicam somente “no sentido de organizar e de tornar claro, mas também de apresentar ...
uma causa” e oferece o seguinte exemplo:
Meu limoeiro recém-plantado está doente, as folhas amareladas e caindo. Eu
finalmente explico isso dizendo que a água se acumulou no fundo do
recipiente: a água é a causa da doença. Eu furo um buraco na base do barril de
carvalho onde vive o limoeiro e água suja escorre. (...) Deve haver água para a
explicação ser correta. Uma explicação de um efeito por uma causa tem um
componente existencial, não apenas um ingrediente extra opcional.
O ponto enfatizado por Cartwright (1983, p. 90-91) é que aceitar uma explicação
causal requer a admissão da causa apresentada - pois sem isso a explicação não faria sentido
uma vez que o fator que realiza a explicação seria eliminado. O mesmo raciocínio do efeito à
causa pode ser empregado para estabelecer a existência de entidades inobserváveis:
Da mesma maneira, quando eu explico a mudança na taxa de queda de uma
pequena gotícula em um campo elétrico, asseverando que há elétrons e
pósitrons nessa esfera, eu estou inferindo do efeito para a causa, e a
explicação não faz nenhum sentido sem a implicação direta de que há elétrons
e pósitrons na esfera. Aqui, não há como furar um buraco para deixar os
elétrons escorrerem diante dos nossos olhos. Porém, há a geração de outros
efeitos: se a esfera está carregada negativamente, eu a pulverizo com um
emissor de pósitrons e então mudo a taxa de queda da esfera: os pósitrons do
emissor aniquilam os elétrons da esfera. O que eu invoco ao completar essa
explicação não são leis fundamentais da natureza, mas antes propriedades dos
elétrons e pósitrons, e alegações muito complexas e muito específicas sobre
como o seu comportamento leva a essa situação. (...) Eu infiro à melhor
explicação, mas apenas de uma forma derivativa: eu infiro à causa mais
provável, e a causa mais provável é um item específico, o que nós chamamos
de entidade teórica.
Aqui, há a inferência do efeito – a variação na taxa de deslocamento da gotícula
eletricamente carregada – para as causas que são os elétrons e pósitrons, entidades que não
podem ser diretamente observadas. A explicação é elaborada a partir de considerações sobre
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
421
as propriedades que as entidades inobserváveis supostamente possuem (e.g. carga elétrica) e
sobre as condições específicas da situação experimental. De maneira análoga ao exemplo
anterior, Cartwright (1983) sustenta que é necessário conceder a existência das entidades
teóricas se essa explicação causal for aceita – caso contrário não faria sentido apresentá-las
como as causas do que foi empiricamente constatado.
Ao final da citação, Cartwright (1983) esclarece que o raciocínio não envolve a
chamada ‘inferência à melhor explicação’, que os realistas empregam para estabelecer a
verdade aproximada das teorias científicas, mas apenas uma forma derivativa e mais restrita de
raciocínio que ela chama de ‘inferência à causa mais provável’, que requer apenas o
entendimento de como as causas apresentadas produzem o efeito em situações específicas.
Por certo, a aplicação dessa inferência requer um conhecimento de fundo considerável, mas a
autora entende que as leis teóricas não estão envolvidas de modo essencial como alegam os
realistas.
A posição moderada de Cartwright (1983, p. 93) como realista sobre as entidades
inobserváveis e antirrealista a respeito das teorias fundamentais pode ser entendida também à
luz dos dois tipos de explicação científica abordados pela autora. Ela diz que “o que há de
especial sobre a explicação por uma entidade teórica é que ela é uma explicação causal, e a
existência é uma característica de alegações causais”, mas complementa afirmando que “não
há nada de similar para as leis teóricas”. Cartwright (1983, p. 94, grifo original) cita Adolf
Grünbaum que diz que “...leis são explicadas não por mostrarem que as regularidades que
essas afirmam serem o produto da operação de causas, mas antes por reconhecer que sua
verdade é um caso especial de verdades mais compreensivas.” Assim, uma lei fundamental
pode ser capaz de derivar uma lei fenomenológica se informação específica sobre a situação for
fornecida, mas tal derivação não é a ‘causa’ da regularidade descrita pela última, de modo que
essa explicação não requer a verdade da primeira. De fato, uma das razões em favor do
instrumentalismo é que várias leis fundamentais podem ser capazes de derivar uma mesma lei
fenomenológica, de modo que explicações distintas e incompatíveis para as mesmas
regularidades empíricas são sempre uma possibilidade em aberto.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
422
É relevante comentar sobre algumas críticas que o realismo de entidades proposto por
Cartwright (1983, p. 93) tem recebido na literatura 1. Primeiramente, a própria autora concede
que seu argumento é limitado ao afirmar que “van Fraassen não acredita em causas,” e que ele
as toma “como uma ficção”; isto é, um cético a esse respeito não aceitaria explicações causais
em quaisquer circunstâncias e estaria desobrigado de conceder a existência das causas (i.e.
entidades) mencionadas como requerido pela argumentação anterior.
Outros questionamentos buscam enfatizar a relação que é de fato obtida entre as
teorias e as evidências em favor das entidades teóricas. Em um extremo, é possível supor uma
visão mínima do realismo de entidades como simplesmente alegando a existência de certos
inobserváveis científicos sem que esses estejam mais firmemente atrelados a qualquer teoria
ou descrição específica (cf. Devitt, 1984/1997). Porém, de novo, um instrumentalista poderia
concordar prontamente com todos os efeitos diretamente observáveis sem conceder a
existência das entidades em questão, ou das propriedades a elas atribuídas, uma vez que tais
efeitos poderiam, em princípio ao menos, ser o resultado de algo distinto. Noutro extremo, é
possível negar de forma bastante enfática a independência das evidências empíricas das teorias
fundamentais, sustentando que, sem o recurso a essas últimas, a construção dos experimentos
não faria sentido, ou os dados obtidos não poderiam ser apropriadamente interpretados (cf.
ELSAMAHI, 1994). Assim, o realismo de entidades seria uma posição ‘incoerente’ ao negar a
verdade de teorias que são requeridas para estabelecer a evidência empírica que é apresentada
em seu apoio.
O ponto que gostaria de enfatizar é que é possível uma leitura intermediária sobre o
papel das descrições das entidades – nem mínima, nem fortemente influenciada por teorias –
que penso ser mais apropriada. No exemplo anterior da gotícula carregada eletricamente,
Cartwright (1983) apoia a inferência causal em regularidades conhecidas e dados detalhados
1
Hacking (1983) também propôs, de forma independente, uma formulação particular do realismo de entidades,
mas sua versão foca na manipulabilidade experimental dessas, enquanto que a de Cartwright (1983) se apoia na
análise das explicações causais. Os autores tiveram conhecimento do trabalho paralelo antes da publicação de
seus textos, o que reconheceram explicitamente nos mesmos. Na literatura subsequente, muitas vezes o realismo
de entidades é tratado como uma única posição, desconsiderando diferenças envolvidas no tratamento dado por
cada um dos autores a suas propostas. Por outro lado, dada a similaridade de suas posições, muitas das críticas
feitas a um aplicam-se, sem prejuízo, ao outro também.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
423
sobre a situação experimental, que permitem inferir a partir do efeito constatado (e.g. variação
na taxa de queda) para suas causas (e.g. elétrons e pósitrons). O ponto importante, porém, é o
papel das propriedades dessas entidades (e.g. sua carga elétrica e o fato de elétrons e pósitrons
se aniquilarem mutuamente), que são, em última análise, as efetivas responsáveis por sua ação
causal. A concepção mínima aludida anteriormente não resiste a essa consideração uma vez
que há, sim, descrições de propriedades firmemente relacionadas às entidades - que estão
envolvidas, inclusive, no apoio à alegação de sua existência. Por outro lado, isso tampouco
significa um compromisso integral com as teorias fundamentais - e a autora se esforça para
mostrar que, ao menos nos casos abordados, essas não são requeridas. Em textos
subsequentes, Cartwright (1989; 1999) desenvolve novas considerações a respeito das
propriedades causais - sobre o que passo a contextualizar e comentar.
Em The Dappled World, que Cartwright (1999, p. 23) considera uma continuação do
livro já comentado, a autora diz que seu trabalho anterior foi por vezes considerado como um
ataque o realismo científico (i.e. concebido de forma tradicional), e afirma em tom conciliatório
que foi “iludida pelo inimigo” e que não é o realismo, mas o fundamentalismo que deseja
combater. Esse último é concebido pela autora como uma mescla de universalismo – a tese de
que as leis científicas se aplicam de maneira irrestrita – e de reducionismo – a alegação de que
a diversidade dos fenômenos naturais pode ser subsumida a leis de nível fundamental – teses
que a autora toma, por vezes, de maneira indistinta.
Cartwright (1999, p. 1) critica o ideal positivista, ainda arraigado, de que a ciência se
constituiria em um sistema de leis dedutivo, fechado e hierarquizado entre as várias disciplinas
científicas. Ela sustenta que a falha repetida de ciências com tendências ‘imperialistas’ (e.g. a
física para as ciências naturais e a economia para as sociais) em assumir o controle e governar
as demais é evidência a favor de um mundo misturado e bagunçado, afirmando também que a
“desordem da natureza é aparente” e que uma imagem mais fiel da ciência é a de uma colcha
de retalhos de leis (patchwork of laws) relacionadas maneiras complexas e que descrevem
partes específicas da realidade sem que haja continuidade ou subordinação essencial entre
elas. A autora até supõe, em favor do argumento, que as leis fundamentais possam ser
verdadeiras – possibilidade questionada anteriormente por problemas nas derivações -, mas
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
424
afirma que ainda assim não haveria justificativa para o fundamentalismo. A razão é que
conceitos abstratos das teorias (e.g. força) descrevem a realidade apenas com a ajuda de
modelos que os interpretam de maneira mais concreta (e.g. o oscilador harmônico simples);
entretanto, os modelos disponíveis nas ciências se aplicariam, segundo a autora, apenas em
certas situações específicas (e.g. pêndulo simples, corda vibrando...) - e os conceitos abstratos,
por conseguinte, apenas a uma gama limitada de fenômenos cobertos por eles (cf. Giere, 1988,
para exemplos de modelos na mecânica clássica).
Retornando à questão do realismo, Cartwright (1989) já havia realizado em um texto
anterior a defesa de que a ciência pode descobrir ‘capacidades’ da natureza e também de seu
papel central na explicação das ocorrências empíricas. As capacidades são concebidas pela
autora como disposições ou tendências de certos objetos em se comportarem de determinadas
maneiras ou de produzirem certos efeitos em condições específicas (e.g. o paracetamol,
quando ingerido, tem a capacidade de amenizar as dores de cabeça; corpos eletricamente
carregados têm a capacidade de atrair ou repelir outros corpos próximos também carregados).
As capacidades estariam em ação mesmo quando há interação ou interferência de outras
causas - ‘tentando’ realizar seus efeitos mesmo contra resistências e, assim, influenciando o
resultado final; e podem ser descobertas e descritas pelas ciências com o controle de outras
ocorrências que não a ação da própria capacidade investigada, que então, livre de
impedimentos e de interferências significativas, realiza-se plenamente (esse procedimento é
chamado de ‘método de Galileu’).
Por certo um empirista tradicional poderia objetar à ‘inflação metafísica’ do retrato do
mundo pela admissão das capacidades, mas essa é compatível com o empirismo de Cartwright
(1999, p. 81), uma vez que ela alega que podem ser descobertas e testadas pelo método
descrito. Não obstante, isso certamente significa um flerte com o essencialismo, o que a autora
reconhece. Porém, ela também assinala uma diferença fundamental entre o essencialismo
aristotélico e a sua posição, afirmando que “para a ciência moderna o que algo é – como ele é
identificado e definido – e o que está em sua natureza fazer são coisas distintas”. O exemplo
oferecido pela autora é o de átomos em estado excitado que, agitados, produzem luz (i.e.
fótons). Está em sua natureza emitir luz, mas isso não é o mesmo que ser um átomo em estado
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
425
excitado – ou seja, estar nesse estado é uma característica estrutural do átomo, identificada
pela ciência de forma distinta da maneira com que esse se comporta por sua natureza (e.g.
emitir luz).
Cartwright (1989, p. 140) também sustenta que as capacidades são centrais para o
objetivo da ciência de explicar a natureza, e que os testes e experimentos científicos não têm
por objetivo descobrir ‘leis’, mas sim as capacidades naturais nos domínios respectivos. Para
entender o ponto é preciso considerar outra alegação da autora, de que “as regularidades não
são, de nenhuma maneira, fundamentais ontologicamente ... elas são consequências da
operação de capacidades.” Assim, ela diverge também nesse ponto do empirismo tradicional que defende uma concepção ‘regularista’ da ciência -, colocando as capacidades como
ontologicamente fundamentais e, portanto, aptas a explicarem as próprias regularidades
descobertas empiricamente. Porém, as capacidades identificadas talvez sejam pouco efetivas
por si e precisam ser articuladas em estruturas causais para que sejam obtidos efeitos estáveis
ou repetitivos. Ao elaborar esse ponto, Cartwright (1999, p. 50) define o que seria uma
máquina nomológica:
...um arranjo (suficientemente) fixo de componentes ou fatores, com
capacidades (suficientemente) estáveis que no tipo apropriado de ambiente
estável irão, com a repetida operação, fazer surgir o tipo de comportamento
regular que nós representamos nas nossas leis científicas.
Cartwright (1999) alega que as regularidades descritas pelas leis científicas são geradas
por máquinas nomológicas, sejam esses arranjos dados naturalmente (e.g. o sistema solar,
células) ou criados artificialmente em laboratórios e aparatos tecnológicos (e.g. aceleradores de
partículas, circuitos de aparelhos eletrônicos...); e afirma também que os modelos
desenvolvidos nas ciências se assemelham muito a projetos para a construção de máquinas
nomológicas. Assim, é possível entender como as regularidades – então vistas como exceções e
não como a regra - podem surgir em um mundo bagunçado e desordenado como delineado
pela autora. Além disso, os modelos que são utilizados para ‘concretizar’ princípios e leis
abstratas das ciências aplicando-os a situações específicas servem, na prática, como espécies de
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
426
projetos que orientam cientistas e engenheiros a articular máquinas nomológicas - e, por
conseguinte, a instanciar as regularidades descritas pelas leis respectivas.
Enfim, mesmo declarando-se uma empirista, Cartwright (1999) parece buscar reverter
empirismo inglês clássico, seguido pelo positivismo, que expurgou a metafísica da ciência e
privilegiou as regularidades observadas (cf. AYER, 1936/1946). Para a autora, as entidades
inobserváveis e as capacidades naturais podem ser descobertas empiricamente – e,
apropriadamente articuladas, essas últimas podem originar (e explicar!) as regularidades tão
caras aos empiristas tradicionais.
Referências bibliográficas
Ayer, A. J. Language, truth and logic. 2. ed. London: Victor Gollancz, 1946. (1936).
Boyd, R. N. The current status of scientific realism. In: Leplin, J. Scientific realism. Los Angeles:
University of California Press, 1984.
Cartwright, N. The dapple world: a study of the boundaries of science. Cambridge: Cambridge
University Press, 1999.
_______. Nature's capacities and their measurement. Oxford: Oxford University Press, 1989.
_______. How the laws of physics lie. Oxford: Oxford University Press, 1983.
DEVITT, M. Realism and truth. 2. ed. Princeton: Princeton University Press, 1997. (1984).
Elsamahi, M. Could theoretical entities save realism? Proceedings of the Biennial Meeting of the
Philosophy of Science Association, v. 1, p. 173-180, 1994.
van Fraassen, B. C. A imagem científica. Tradução de Luiz Henrique de Araújo Dutra. São Paulo:
Editora UNESP, 2006. (1980).
GIERE, R. Explaining science: a cognitive approach. Chicago: University of Chicago Press, 1988.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
427
Hacking, I. Representing and intervening: introductory topics in the philosophy of natural
science. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
Hempel, C. G. Aspects of scientific explanation and other essays in the philosophy of science.
New York: The Free Press, 1965.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
428
A relação entre compreensão e regras
Tatiane Boechat*
RESUMO
Trataremos nesse texto da questão das regras na filosofia de Wittgenstein, com o intuito de
levantar a importância do conceito de compreensão (Verstehen) e, principalmente, de précompreensão. Para isso, apresentamos a distinção entre duas espécies de regras, as regras
constitutivas e as regras reguladoras e a relação que elas mantém entre si. Adentramos, assim,
no problema das relações entre a pluralidade dos jogos de linguagem, dito de outro modo, da
multiplicidade dos modos de significar o mundo, procurando mostrar como é possível
aproximar a noção de compreensão das atividades segundo regras.
De que depende o significar e a apreensão do sentido ou o que acontece quando
entendemos uma expressão ou questão? Ainda que não haja o que torne possível o
entendimento do sentido de uma expressão, sabemos que continuamos uma conversa mesmo
que não conheçamos uma palavra do enunciado ou podemos continuar uma série de numerais
sem sabermos o conjunto de todos os numerais e, mesmo assim, nos lançamos à frente.
O tema da relação entre a compreensão e as regras coloca a questão de saber se
seguimos regras ao empregarmos as expressões. Haverá regras que dizem como usar as
expressões? Qual é o estatuto da regra ao usarmos os signos? Haverá uma forma genuína para
toda regra? Essas questões, no entanto, parecem propor-nos outra questão: quando alguém
profere uma proposição o que exatamente ele compreendeu ou teve em mente ao empregála? A compreensão, no entanto, diz-nos Wittgenstein, não é algo que consultamos e para a qual
nos voltamos ao procurar entender o significado de uma palavra. Assim ocorre no exemplo do
*
Doutoranda em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Bolsista CAPES. E-mail:
[email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
429
comerciante (PU §1) que para pegar “cinco maçãs vermelhas” consulta uma tabela com as
cores até encontrar a palavra “vermelho” ou diz a sequência dos numerais até a palavra “cinco”
e a cada número tira da gaveta uma maçã que tem a cor da amostra. Não está a compreensão
em algum lugar, não “compreendo” porque algo me guia e me é dado anteriormente. Essas
teses poderão ser melhor esclarecidas com a investigação das regras que tangem as nossas
atividades e ajudará a tornar claro o que nos induz a pensar que quem profere uma proposição
ou a compreende está com isso operando segundo um cálculo de regras determinadas.
Parece-nos natural admitir que existam regras que governam o uso que fazemos de
determinadas palavras ou expressões. Wittgenstein vai falar que o significado de uma palavra é
o modo de emprego que fazemos dela ou seu uso na linguagem. 1 Porém, é preciso esmiuçar
melhor sua tese para que não entendamos que o uso da expressão segue uma regra
determinada como facilmente poderíamos admitir.
Não é a toa que Wittgenstein, em vários momentos das Investigações, compara a
linguagem e as palavras ao jogo de xadrez e suas peças. Através dessa analogia ele procura
indicar a correspondência que existe entre regra e significado. Diz ele no parágrafo 108:
Estamos falando sobre o fenômeno espacial e temporal da linguagem, não
sobre alguma não-entidade a-espacial ou a-temporal. [...] Mas falamos sobre
ela como fazemos com as peças no xadrez quando afirmamos as regras para o
seu movimento, com isso não descrevemos suas propriedades físicas.
Logo de início fica evidente que as regras não devem ser definidas por suas
características físicas. Mais que isso, elas não seguem leis definidas que possam ser acessadas
meramente por serem explícitas e pré-fixadas. Vejamos.
No parágrafo 54 das PU é levantado dois modos da regra. A regra pode aparecer como
um recurso de instrução no jogo e pode ser um instrumento do próprio jogo. Ou pode haver
um tipo de regra que não encontra uma aplicação nem na instrução nem no jogo. Lançando
mão da terminologia usada por Balthazar Barbosa Filho, chamaremos a primeira de regra
1
Cf. Sobre a Certeza, 61 e PU §43.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
430
reguladora e a segunda de regra constitutiva.2 Sabemos que estas duas distinções não se
encontram explícitas na obra de Wittgenstein, contudo, é indubitável que nosso autor insista
nelas durante boa parte das Investigações e também em outras obras.3 Quando diz que é
preciso saber ou “poder” alguma coisa antes de se poder questionar qualquer denominação, já
está em questão a distinção entre regras constitutivas e reguladoras. 4 Ou quando relaciona as
regras de um jogo à linguagem:
“Podemos facilmente imaginar pessoas que se divertem num campo, jogando
com uma bola: elas começam jogando diversos jogos conhecidos, não levam
alguns até o fim, e por vezes jogam a bola para o alto sem objetivo. Correm
uns atrás dos outros com a bola, atiram-na uns nos outros por brincadeira, etc.
E agora alguém diz: o tempo todo elas estão jogando um jogo de bola, e por
isso guiam-se, a cada jogada, por regras determinadas” (PU §83).
Quais são as regras segundo as quais esta linguagem se efetua? Nesse exemplo vemos
que as regras determinadas em questão não podem ser definidas em apenas uma
interpretação. Por outro lado, também não estamos falando aqui de se colocar em dúvida uma
interpretação a outra. Quando dizem que eles estão jogando um jogo de bola não há dúvida
alguma quanto ao que fazem, eles jogam um jogo, há linguagem e o outro me entende. Porém,
não somos capazes de descrever essas regras, não somos capazes de circunscrever os conceitos
que utilizamos. Definir o conceito de regra seria como “supor que, sempre que as crianças
brincam com uma bola, jogam um jogo de acordo com regras rigorosas” (BB, p. 25). Num
primeiro momento tentamos especificar a ação de acordo com dois tipos distintos de regras
vistos no contexto do jogo de linguagem, mas veremos que essa distinção é, de alguma
maneira, relativa. As regras constitutivas (constitutive rules) por pertencerem ao contexto de
jogo, a uma praxis, nos indicam um modo de ser das regras que não é totalmente delimitado e
2
Cf. FILHO, B.B. mimio, p. 119 e op.cit. Essa distinção é encontrada também na obra de Searle, Speech Acts: An
Essay um the Philosophy of Language. Contudo, elas desempenham papéis bastante distintos nas duas filosofias
fundamentalmente porque elas visam diferentes problemas sob diferentes aspectos. Não trataremos de expor
essa distinção, mas uma boa explanação pode ser encontrada em Balthazar Barbosa Filho, mimio, p. 129-34.
3
Cf. Zettel §320; Philosophical Grammar I, 23 p.60; PU §6, §30-1, §83-7, §90, §242, passim
4
PU §30
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
431
por isso estas regras “não estão assentadas num catálogo de regras” (PU §54). Elas podem ser
vistas ao se jogar o jogo, são apreendidas ao participarmos do jogo; vale notar que nem todas
as regras precisam ser ditas, há as que permeiam o jogo e definem o bom comportamento do
jogador-participante. Nesse sentido, as regras estão indiretamente postas e podem ser lidas ao
assistir os jogadores na prática do jogo. Assim como as regras afirmadas para movimentar as
peças de jogo não assumem uma característica física, do mesmo jeito, as palavras não mantêm
regras para seu uso de modo que possamos manipulá-las e alterá-las ao nosso bel prazer.
Podemos dizer, então, que é nessa latência pré-compreensiva envolta em toda ação que
se encontram as regras constitutivas. São elas também que criam e definem novas formas de
comportamento. Assim, “um movimento qualquer só pode ser descrito como um movimento
específico do jogo de xadrez sob a pressuposição das regras (constitutivas) que fundam e
definem o jogo” (FILHO,B.B. mimio, p.120). Notemos como o conceito de descrição é tratado
aqui nas Investigações. Toda possibilidade de descrição de um objeto ou palavra deve
pressupor uma descrição já dada, essa descrição atua no âmbito do jogo de linguagem em que
se está imerso. Já as regras reguladoras podem ser vistas quando precisamos erigir algumas
regras para servirem de baliza entre a atividade que se quer instituir e outras. Apesar de não
podermos determinar a totalidade das regras que estão em jogo ou segundo a qual eles jogam,
podemos elencar algumas regras definidoras e regulativas no jogo. Isso pode ser feito porque
toda ação descrita pela regra reguladora, já é uma ação que “preexiste” à própria regra
levantada. As regras reguladoras (regulative rules) são, portanto, aquelas que governam certos
comportamentos que existem independentemente delas, a existência das ações não dependem
destas regras, elas são erigidas tão somente desde o contexto constitutivo das regras; são
regras seguidas sem um consenso explícito, seguem-se as naturalmente. Quanto às
constitutivas faz-se necessário segui-las, pois se não as seguimos deixa de haver um jogo, uma
linguagem. Nesse caso para que toda ação exista ela tem que depender logicamente dessas
regras. As regras constitutivas também governam comportamentos e atividades que já existem,
mas, além disso, criam e definem novas formas de comportamento. Toda a atividade em
questão depende logicamente dessas regras. No Blue Book temos um exemplo bastante
elucidativo, olhemos para ele e procuremos aplicar essa distinção.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
432
O que acontece se entre às 4 e às 4:30 h A espera que B venha a seu quarto?
[...] Pode ser isto: às quatro horas olho para minha agenda e vejo o nome “B”
junto da data de hoje; preparo chá para dois; penso por um momento “será
que B fuma?” e ponho cigarros à vista; por volta das 4:30 h começo a sentir-me
impaciente; imagino qual será o aspecto de B quando entrar no meu quarto.
(BB, p.20)
Essa descrição pode ser considerada sob duas perspectivas. Pode ser tomada como descrição
do “conjunto das minhas ações” nesse intervalo de tempo ou como a descrição “de espera por
B”. No primeiro caso, comandariam as regras reguladoras, pois essas ações já existem de
alguma maneira e são erigidas ou usadas independentemente da regra. E, no segundo caso,
comandam as regras constitutivas, já que um conjunto de ações só pode ser praticado ao se
pressupor o jogo de linguagem da espera. No entanto, se nos atentarmos cuidadosamente a
essa distinção, veremos que se nos instalamos noutra perspectiva as regras que antes eram
reguladoras se tornam regras constitutivas e vice-versa. Esse comportamento pode ser tratado,
tanto como evocação de regras constitutivas, quanto das regras reguladoras, vai depender do
ponto de vista. (Isso diz respeito a alteração do estatuto de um fato bruto. Não há fato
absolutamente bruto já que todo fato está limitado a um estado de coisas que, por sua vez,
está relativamente relacionado a uma forma determinada de descrição, “a um jogo de
linguagem que o constitua enquanto tal. [Nesse sentido, o fato em si mesmo] [...] só é bruto
relativamente a uma outra forma de descrição possível, a um outro modo de consideração”.
(FILHO, mimio, p. 124) Portanto, a descrição pode estar submetida a regras simplesmente
reguladoras ou sob a descrição de uma atividade definida por regras constitutivas). O gesto
regulador de por cigarros sobre a mesa torna-se constitutivo sob a pressuposição das regras
que o constituem como precisamente esse gesto, ao definirem-no como o comportamento de
“colocar uma coisa sobre outra”. Agora, essas regras permanecem reguladoras se o gesto
continua sendo parte do comportamento de espera. É importante grifar nesta questão que o
que as duas posições procuram expressar não são significados da mesma maneira, elas falam
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
433
de modos distintos apesar de, em algum sentido, falarem a mesma coisa. 5 Fica evidente que
esses dois modos de regras falam do objeto sob uma forma de apresentação irredutivelmente
diferente uma da outra. Isso quer dizer que os critérios de sentido vão depender do jogo de
linguagem em que estão inseridas; elas podem falar a mesma coisa, possuir a mesma sentença,
mas os critérios de sentido não são os mesmos porque obedecem a estado de coisas diferentes.
Na realidade essa distinção é uma distinção formalizada que procura ressaltar a indiferenciação
bastante recoberta pelo uso cotidiano das nossas palavras.
Dessa formalização podemos extrair, ainda, a mútua dependência entre esses dois
níveis de regras: as regras constitutivas não são percebidas ou não se realizam sem a
possibilidade das regras reguladoras e estas, por sua vez, para serem evocadas, precisam se
pautar sobre as regras constitutivas. Seguimos o exemplo de Searle (Speech Acts: An Essay um
the Philosophy of Language), o comportamento de enviar convites obedece a regras
reguladoras no caso de tratar-se de uma regra de etiqueta, que se supõe existir e segundo a
qual convites são enviados com, no mínimo, 15 dias de antecedência. Percebam que essa regra
é independente dela mesma, na medida em que esse comportamento poderia existir mesmo
que não houvesse essa regra, simplesmente porque ele pré-existe a ela. No entanto, esse
comportamento supõe, não obstante, regras constitutivas. Regras que pertencem à linguagem,
ao jogo de linguagem, e que abrem novas formas de comportamento, por exemplo, o ato de
enviar convites sugere plena aceitação independentemente da data enviada. (O que não pode
ocorrer é o envio do convite depois da data da ocasião comemorativa, nesse caso, deixa de
existir isso que chamamos “convite”). Assim, esse fato supõe, tanto regras constitutivas, quanto
regras reguladoras, caso sejam seguidas e aceitas por um grupo ou comunidade, isto é, que
pertençam a uma forma de vida, apenas assim elas serão admitidas como sentenças
regulativas, do mesmo modo que as regras reguladoras podem vir a se tornarem definidoras de
novos modos de comportamento e caracterizarem-se como regras constitutivas.
Essa análise, portanto, nos mostra que, tanto a descrição de “por cigarros sobre a
mesa”, quanto a da “espera”, estão sob a pressuposição de regras que constituem esses e
5
Cf. FILHO, B.B. mimio, p.121.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
434
também outros gestos. Recapitulemos então, o jogo de linguagem da espera e seu modo de
agir só pode ser considerado uma atividade se estiver sob a pressuposição necessária das
regras que definem e fundam esse jogo de linguagem, isto é, das regras constitutivas; é só
nesse sentido que “pôr cigarros sobre a mesa” é um comportamento de espera. Podemos dizer,
portanto, que uma regra explícita não é a explicitação de uma regra, ou seja, explicitar uma
regra implica num conjunto de ações passadas, arraigadas como hábito, e que podem ser
evocadas e aplicadas de uma nova maneira, isto é, dentro das circunstâncias do jogo de
linguagem. Se prestarmos atenção ao sinal, por exemplo, veremos que ele não nos diz o que
fazer.6 Numa placa de orientação, “onde está dito em qual sentido eu devo segui-la, se na
direção da mão ou na direção oposta?” (PU, §85). Então, como a regra pode ser posta em
prática, se sempre ela pode ser interpretada numa direção? Aqui, o que falta não é uma
interpretação, mas a incapacidade de fundamentar a regra. O que transparece claramente
nesta questão é o descompasso entre a expressão da regra e o modo como ela é interpretada,
dando a impressão de que a regra não pode ser formulada. O caráter de regra se perde nesse
caso porque não se pode jogar ou não jogar, seguir ou não segui-la. Seguir uma regra pertence
ao contexto prático de jogo, é ele que fornece a direção ao sinal. Por exemplo, para dizer que
não faz parte das regras do jogo de xadrez que o bispo corra na vertical (ao invés da regra
estabelecida de ele correr na diagonal), ou melhor, para recorrer a uma regra, é preciso que
paire sobre o jogo outras regras, para as quais, as regras explícitas do xadrez não pertencem
explicitamente, isto é, é preciso haver no horizonte dessa afirmação uma duplicidade no
sistema de regras, uma possibilidade de incorrer num outro conjunto de regras, que não as
explícitas, e que formam e definem o jogo de xadrez. Dito de outro modo, recorrer a uma regra
significa evocar outra regra para dizer se a ação foi correta ou incorreta, nesse caso, correr o
bispo na vertical. A possibilidade de se ter uma regra requer que ela possa ser evocada, que se
possa recorrer a ela e isso se dá quando aplicamos um precedente a uma nova espécie de caso.
Assim, o ato de recorrer a uma regra é bastante específico e supõe esses dois tipos de regras,
6
Aqui se perde a ideia tractariana de que o sinal pode dizer o que se deve fazer, ou seja, de se encontrar na
expressão da regra aquilo que se deve fazer.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
435
bem como, a regulação de um pelo outro, ou seja, recorrer a uma regra não é a explicitação de
uma regra já presente.
Agora pensemos novamente no caso do jogador que ao preparar o tabuleiro com as
peças, move o bispo verticalmente. Levantada essa impossibilidade nos pautamos pelas regras
de jogar o jogo, ou seja, como fomos treinados para seguir a regra, para reagir de determinada
maneira. No entanto, as regras evocadas para se levantar essa incorreção pertencem a outro
conjunto de regras nas quais são praticadas; evocar uma regra é abrir a possibilidade de
utilização de outro grupo de regras (erigidas pela própria ação), grosso modo, dizer por que se
agiu assim e não de outro modo. É nesse sentido que a regra reguladora pode ser rompida sem
que deixemos de jogar o jogo. Na preparação do tabuleiro para o jogo de xadrez é bem possível
que o bispo vá à vertical, mas isso não vale para se seguir as regras constitutivas do jogo de
xadrez, para garantir que se está jogando o jogo. Aquilo que a regra proíbe, levanta uma nova
ação segundo um outro sistema de regras (constitutivo) na qual ela é praticada.
Essa ação deve ser uma mostra de racionalidade no sentido de que ela deve poder ser
admitida como a conduta de um grupo. Pois, assim, há a compreensão de que o outro jogador
fez um lance errado e um critério de justificação pode ser levantado, tornando possível a
continuação de um diálogo com o jogador. Portanto, é preciso que todo critério ou justificativa
de uso ou evocação da nova regra seja compreendido como uma possibilidade de escolha para
que toda ação envolva um seguir regras. É somente nessa perspectiva que seguir uma regra é
algo aberto pela praxis. Diz Winch (1970, p.68), “é por isso que a conduta é o produto da
compreensão, e somente ela, é conduta na qual há uma alternativa”.
Referências bibliográficas
BAKER, G.P. & HACKER, P.M.S. Wittgenstein: Rules, Grammar and Necessity. Oxford: Basil
Blackwell, 1988.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
436
BARBOSA FILHO, B. Os modos da significação. Tese de doutoramento. (No prelo)
WITTGENSTEIN, L. Philosophical Investigations/ Philosophy of Psychology. Trad. G.E.M.
Anscombe, P.M.S. Hacker, Joachim Schulte. Ed. bilíngüe. Oxford: Basil Blackwell, 2009.
__________.On Certainty. Oxford: Basil Blackwell, 2003.
__________. Blue and Brown Books. Oxford: Basil Blackwell, 2008.
__________. Zettel. Oxford: Basil Blackwell, 1967.
________________. Philosophical Grammar. Ed. Rush Rees. Oxford: Basil Blackwell, 1969.
WINCH, Peter. A idéia de uma ciência social e sua relação com a Filosofia. São Paulo: Ed.
Nacional, 1970.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
437
A Concepção de Indivíduo Segundo Kierkegaard
Valdinei Caes*
RESUMO
O objetivo da nossa pesquisa é o entendimento acerca da concepção de indivíduo em
Kierkegaard. O indivíduo é uma categoria cara à filosofia kierkegaardiana e, ao mesmo tempo,
complexa. Segundo o filósofo dinamarquês, o indivíduo está sempre em situações limítrofes na
existência, o que representa que há um processo de individualização. Não há um conceito
fechado e acabado de indivíduo, mas sim uma concepção, que por sua vez, é dinâmica em sua
natureza. Para tratarmos dessa questão, teremos como referência as seguintes obras: Temor e
Tremor e o Ponto de Vista Explicativo da Minha Obra como Escritor, onde há duas notas que
tratam especificamente sobre <<o Indivíduo>>, as quais, outrossim, vamos ter como alicerces
da nossa pesquisa. Dentre outras, teremos como base a obra Indivíduo e Comunidade na
Filosofia de Kierkegaard de Marcio Gimenes de Paula, que reflete com grande sutileza acerca
desta temática fundamental no pensamento de Kierkegaard.
PALAVRAS-CHAVE: concepção, indivíduo, limítrofe e processo de individualização.
Introdução
A categoria indivíduo é um elemento essencial na filosofia de Kierkegaard. O próprio
pensador afirma que: “Para mim, não pessoalmente, mas como pensador, essa questão do
singular é a mais decisiva” (apud DE PUALA, 2009a, p. 52). É a partir dessa categoria que o
filósofo nórdico desenvolve seu pensamento. A defesa do indivíduo ressalta sua crítica à
comunidade, ao aglomerado, em oposição ao processo de individualização.
*
Pós-graduando em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). E-mail:
[email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
438
Na filosofia do pensador de Copenhague, o indivíduo não é posto em evidência por
acaso. O contexto dinamarquês, no qual o referido filósofo viveu, exaltava o que era público. O
geral sobrepunha-se ao singular.
Em termos de religião, Estado e Igreja estavam plenamente unidos. Kierkegaard
diagnosticou, nesse contexto, a superioridade da exterioridade sobre a interioridade. Assim
sendo, tornar-se cristão não passava pela decisão e adesão, mas por questões geográficas.
“Deus do céu, e os Estados dizem-se cristãos” (KIERKEGAARD, 1986a, p. 101). Para o
dinamarquês, é inadmissível o indivíduo se constituir a partir daquilo que o Estado lhe impõe.
“Tal imposição é inaceitável, pois tira a possibilidade de decisão do indivíduo, transferindo-a
para o Estado e à geografia” (DE PAULA, 2009b, p. 48). Ao aceitar a superioridade da
exterioridade sobre a subjetividade, sem a possibilidade de escolha, estaríamos diante de um
conceito e não de uma concepção de indivíduo. O conceito, por natureza, fecha-se em si, mas a
concepção é dinâmica em sua natureza.
O conceito se constrói em movimento inverso à concepção. O primeiro é imposição de
fora, e é para todos. O segundo, ao contrário, parte do interior, portanto, é próprio do singular,
é decisão, é possibilidade. A concepção de indivíduo, segundo Kierkegaard, subsiste porque na
interioridade reside a possibilidade. “A possibilidade é, por conseguinte, a mais pesada de todas
as categorias [...] Na possibilidade tudo é igualmente possível...” (KIERKEGAARD, 2010a, p. 164).
O indivíduo kierkegaardiano se constitui a partir do processo de individualização. Ele
não nasce pronto, entrementes, no transcorrer da existência, “torna-se o que é” (cf. DE PAULA,
2009c, p. 104), não por influência alheia, mas por decisão própria. O indivíduo passa pelo
processo do tornar-se o que se é. Para isso é preciso decisão, escolha; é necessário se assumir.
Em Kierkegaard “o existir como indivíduo e a consciência desse existir chegaram a ser [...]
condição absoluta da filosofia e até sua única razão de ser” (KIERKEGAARD, 1979, VI).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
439
Desenvolvimento
“A questão do indivíduo é decisiva entre todas”
(KIEKREGAARD, 1986b, p. 105).
Kierkegaard aborda uma temática antiga, porém numa perspectiva nova. A questão do
indivíduo já surgira na antiguidade. “A palavra indivíduo possui duas origens: em grego, se diz
atomon e, na língua latina, individuum. Em ambos os idiomas, o significado aproxima-se de algo
que possui uma unidade originária e singular” (DE PAULA, 2009d, p. 39). Passando também pelo
idioma dinamarquês, o indivíduo, o único, o singular, se diz en Enkelt, que traduzido para o
idioma inglês é sinônimo de single - singular. “O autor dinamarquês enfatiza o indivíduo e sua
subjetividade em meio a uma sociedade de massas” (DE PAULA, 2009e, p. 33).
O indivíduo kiekegaardiano, em tese, é o único, é o singular que sente a vida pulsar em
si, durante seu existir. Nesse sentido, “a cada indivíduo na geração [...], basta o seu tormento”
(KIERKEGAARD, 2010b, p. 09). Etimologicamente, a categoria indivíduo expressa singularidade.
Diante disso, uma indagação se impõe: Como se constitui o homem que Kierkegaard denomina
de “o Indivíduo”? (KIIERKEGAARD, 1986c, p. 96). No processo do tornar-se o que se é, o que se
evidencia é que “en Enkelt” (KIERKEGAARD, 2010c, p. 09) “está mais relacionado àquele
indivíduo que se assume existencialmente” (DE PAULA, 2009e, p. 140).
Quando o indivíduo se assume existencialmente, há a anulação da multidão, que é a
mentira. A consciência do indivíduo torna-se seu próprio guia. Não se permite conduzir apenas
pelo impulso. O que o conduz é “a decisão” (KIERKEGAARD, 2010d, p. 10). Vale ressaltar que, a
decisão é algo particular do indivíduo, que se assume existencialmente. Nessa circunstância, o
singular permite vir à tona sua particularidade. “A cada indivíduo na geração, tal como a cada
dia, basta seu tormento” (KIERKEGAARD, 2010e, p. 09). Cabe a cada indivíduo assumir-se.
Enquanto não houver isso, não acorrerá o primeiro passo no processo de individualização.
O processo de individualização, uma vez iniciado, coloca o indivíduo na “atmosfera das
suas condições limítrofes” (VIESENTEINER, 2011a, p. 01). A atmosfera, segundo Kierkegaard,
caracteriza uma condição tal, que ninguém, além do indivíduo, na sua mais íntima
singularidade, consegue avaliar a condição na qual ele se encontra inserido. Os anteparos
moralizantes estão suspensos. A condição limítrofe põe o indivíduo numa circunstância tão
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
440
distinta, que nem mesmo ele, após vivenciá-la, será capaz de mensurá-la. “A condição limítrofe
é aquela em que o conhecimento humano já não tem mais nenhuma segurança de si e o
próprio pensamento perde o controle sobre ela, de modo que, nessas regiões fronteiriças, o
pensamento conceitual se torna impotente” (VIESENTEINER, 2011b, 01).
É sob essa condição limítrofe-atmosférica inapreensível que se encontra o ápice da
concepção de indivíduo em Kierkegaard. O indivíduo kierkegaardiano é a superação da
multidão. “O cristianismo jamais admitiu dar a cada indivíduo singular (enkelte individ) o
privilégio de poder iniciar da capo, num sentido exterior. Todo indivíduo começa dentro de um
contexto histórico, e as consequências da natureza continuam valer como sempre”
(KIERKEGAARD, 2010f, p. 79). O homem nasce em meio à massa. Cabe a ele escolher
permanecer nela ou buscar sua autenticidade, que passa pelo encontro com o ‘totalmente
outro’. Pois, “o essencial da conduta de um homem é a decisão” (DE PAULA, 2009f, p. 66). Ao
homem, na posteridade de seu surgimento lhe é concedida a possibilidade de assumir sua
condição, mas como indivíduo singular, porque a multidão também se assume, mas enquanto
objetivo comum. A massa é consequência conjunta da exterioridade. O indivíduo é resultado de
sua interioridade, ou melhor, de sua subjetividade. “'A subjetividade é a verdade' [...], afirma-se
(também) que o que existe realmente não é o conceito de indivíduo, e sim o indivíduo
concreto, vivendo aqui e agora, decidindo sua própria existência” (LE BLANC, 2003, p. 01).
Kierkegaard louva a originalidade do indivíduo, a singularidade. Não se pode ser singular apenas
repetindo o que outros já fizeram, é preciso originalidade, é preciso assumir-se.
É nesse sentido que o indivíduo para Kierkegaard torna-se uma categoria
eminentemente cristã. Por esse motivo é necessário indagar se é possível se tornar um
indivíduo sem se tornar cristão, segundo Kierkegaard?
No seu entender, o importante não é a igualdade entre os homens, mas a
afirmação da individualidade cristã. Nesse sentido, ele afirma o eu-mesmo
individual como humano absoluto, isto é, como indivíduo. Na visão
kierkegaardiana, o homem é um indivíduo diante de Deus (e não do seu
egoísmo) e, para tanto, ele deve imitar a Cristo (DE PAULA, 2009g, p. 29).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
441
De acordo com Márcio Gimenes de Paula, o indivíduo para Kierkegaard atinge sua mais
alta expressão quando se depara perante Deus. O indivíduo depara-se com Deus quando, em
seu interior, O reverencia. “Tornar-se este único, que todos podem ser, é querer aceitar a ajuda
de Deus” (KIEREKGAARD, 1986d, p. 98). É preciso querer tornar-se indivíduo, mas também é
preciso aceitar a intervenção de Deus. Se não houver a aceitação da ajuda não haverá a
intervenção. Deus não pode ferir a liberdade humana. Deus pode tudo, mas não pode tentar
contra o livre arbítrio do homem.
Em Kierkegaard, na gênese da concepção de indivíduo encontra-se uma dura crítica à
cultura da época, no que diz respeito ao cristianismo luterano. O cristão não se torna cristão
por opção própria, mas por imposição do Estado. “O cristianismo parece ter se tornado,
segundo o pensador de Copenhague, uma imposição estatal” (DE PAULA, 2009h, p. 48).
Kierkegaard não pensa o indivíduo em submissão ao Estado. O indivíduo kierkegaardiano está
sempre buscando sua autenticidade, ou seja, a presença do totalmente Outro: Deus. Dessa
forma, percebemos que há em Kierkegaard o homem que somente se torna um indivíduo
autêntico se for responsável perante Deus. Diante de Deus, não há multidão; existe apenas o
indivíduo e o que ele é em si.
Diante disso, podemos trazer à tona o exemplo de Abraão, expressão elevada da
concepção de indivíduo. Ao receber o anúncio do arauto de Deus, pedindo-lhe o sacrifício do
filho amado, Isaac, no silêncio, isto é, em sua interioridade, toma consigo o filho e se põe a
caminho, rumo ao local indicado. “Caminharam em silêncio durante três dias” (KIERKEGAARD,
1979, p. 114).
As grandes decisões que o homem faz na esfera da existência passam em primeiro
lugar pela “interioridade [que] reside na subjetividade” (DE PAULA, 2009i, p. 44). Uma decisão
que não passa pelos meandros da subjetividade não pode ser considerada uma grande escolha,
e não faz parte do indivíduo. É imposição exterior. O indivíduo em Kierkegaard pressupõe,
antes de qualquer coisa, o conhecimento do valor da subjetividade. É na subjetividade que, em
primeiro lugar, acontece a decisão. Para o filósofo dinamarquês “devíamos aceitar que as
decisões são individuais e particulares, e que se chaga a elas mediante um conflito interior...”
(PAPINEAU, 2009a, p. 154).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
442
É sob essa atmosfera que Abraão se coloca à caminho. É no silêncio que ocorre a
decisão. É no “silêncio [...] que o Indivíduo toma consciência de sua união com a divindade”
(apud DE PAULA, 2009, 106). Por essa razão, interioridade, subjetividade e silêncio tornam-se
elementos essenciais na dinâmica do processo de individualização. O indivíduo “jamais deve
trocar o silêncio da sua interioridade pela publicidade, sob pena de desobedecer a Deus” (DE
PAULA, 2009j, p. 67). O silêncio revela a interioridade, e a interioridade apresenta a
incomensurabilidade. O segundo não subsiste sem primeiro, pois na interioridade da
singularidade reside o incomensurável. Todavia, por que Abraão preferiu caminhar no silêncio,
sem comunicar a ninguém o que estava prestes a fazer? Isso explicita que a decisão é sempre
do indivíduo, nunca de seus semelhantes. A vida está cobrando uma decisão do indivíduo.
Assim como a cada dia basta seu tormento, para cada indivíduo cabe as suas escolhas. A
escolha é sempre do indivíduo. O autêntico indivíduo não permite que outrem escolha por ele.
A decisão é sempre do “eu-único individual” (DE PAULA, 2009k, p. 26).
Para o pensador dinamarquês, o eu:
É uma relação que não se estabelece com qualquer coisa de alheio a si, mas
consigo própria. Mais e melhor do que na relação propriamente dita, ele
consiste no orientar-se dessa relação para a própria interioridade. O eu não é a
relação em si, mas sim o seu voltar-se sobre si própria, o conhecimento que ela
tem de si própria depois de estabelecida.
O indivíduo encontra-se perenemente no invólucro da circunstância existencial. Assim sendo,
não podemos afirmar que Kierkegaard cria um conceito de indivíduo, mas traz à realidade um
primado inusitado, ou seja, a concepção de indivíduo que, ao mesmo tempo em que se revela,
não se deixa conhecer quem é, porque é o singular, o indivíduo. O indivíduo que se apresenta
gradativamente no processo de individualização é o mesmo que se oculta. O Abraão que se
coloca a caminho é o mesmo que permanece em silêncio.
O indivíduo não é simplesmente o que se apresenta, mas é isso também. Kierkegaard
não considera como indivíduo o ser que se apresenta aos sentidos. Não! Indivíduo é aquele que
se coloca no processo do vir a ser, ou seja, do “tornar-se (...) único” (KIEKEGAARD, 1986e, p.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
443
98). Esse é o indivíduo. Está “ao alcance de cada um tornar-se o que é, um Indivíduo;
absolutamente ninguém está excluído de o ser, exceto quem se exclui a si próprio, tornando-se
multidão” (KIEKEGAARD, 1986f, p. 102).
A multidão é incapaz de compreender o indivíduo. “Suspiro quando vejo que,
diversamente da Antiguidade em que ignorava relativamente o arrependimento, a multidão é o
ser todo poderoso, mas absolutamente privado de arrependimento, que se chama: ninguém”
(KIERKEGAARD, 1986g, p. 101).
O processo de ser tornar indivíduo é um projeto para toda a vida. Não é uma tarefa
que rapidamente se conclui. É uma tarefa, mas uma tarefa que se estende por toda a vida. Em
outros termos, é um processo; e como tal, não permite que alguém seja delegado ou
incumbido para fazer isso por outrem. Ao homem cabe a responsabilidade de se auto incluir no
processo de individualização. Essa tarefa é própria e particular de cada um. Não há a
possibilidade de ordenar ou implorar para que outro realize essa tarefa, por mais que haja
cumplicidade ao extremo entre dois seres. Cabe a cada um fazê-la por si e para si. O processo
de individualização requer a sua stemning1própria. Por isso, acaba se tornando sumamente um
processo antagônico à multidão.
A cada um é reservada a possibilidade de se tornar indivíduo por si mesmo. Essa é uma
tarefa que pressupõe arte. O homem é responsável para se tornar aquilo que ele é em
potência: “individuum” (KIERKEGAARD, 2010g, p. 30). Tornar indivíduo “é um ser capaz
[Kunnem], uma arte [Kunst], uma tarefa e arte prática, cuja prática às vezes exige as vidas de
seus praticantes” (GOUVÊA, 2009a, p. 371). Nesse sentido, nascemos humanos e, se quisermos
e com arte, podemos nos tornar o denominado indivíduo singular.
Ao perscrutarmos a concepção de indivíduo em Kierkegaard, observamos que há um
processo de individualização e que este processo, gradativamente, vai se evidenciando. O
homem não nasce indivíduo, mas pode se tornar um, desde que assume o processo de
1
“A atmosfera é o mais individual, o mais fugaz e incompreensível no pensamento mesmo, aquilo ao que não se
apreende e o que deve se suprimir caso se pretenda torná-lo compreensível”. Cf. VIESENTEINER, J. L. Kierkegaard:
pensamento e existência como paixão. 2011 (Prelo). Além disso, de acordo com Álvaro L. M. Valls, a Stimmung, em
alemão ou Stemning em dinamarquês, exprime um estado de ânimo, uma realidade interior. Em outros termos, é
uma totalidade inapreensível ao pensamento.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
444
individualização. O homem só se torna um “indivíduo autêntico se ele for responsável perante
Deus” (GOUVÊA, 2009b, 371). O tornar-se é possibilidade.
Ressaltamos que Kierkegaard não apresenta um conceito de indivíduo. O indivíduo,
segundo o dinamarquês, não é um ser distante da realidade, ao contrário, é aquele chafurdado
na realidade, no mundo, em prol de suas escolhas, defronte ao Absoluto, na singularidade,
sentindo o peso do existir. O indivíduo não é um conceito, mas uma realidade que sente a vida
pulsar em si.
Kierkegaard não cria por acaso a concepção de indivíduo. O pano de fundo presente
enfatiza a oposição a Hegel, pois este “defendia que os direitos do indivíduo derivam do Estado”
(GOUVÊA, 2009c, p, 371). Para Kierkegaard, não há indivíduo perante o Estado. Diante do
Estado o indivíduo deixa de ser o que de fato é para se tornar aquilo que os outros fazem dele.
O indivíduo é aquilo que ele é, mesmo quando não deseja ser. “Por outras palavras, cada um
pode ser este único, e Deus o ajudará” (KIEREKEGAARD, 1986h, p. 97).
Conclusão
Para Kierkegaard o homem é um individuum. O indivíduo é o singular, o eu, que
afirma: “O importante é descobrir uma verdade que seja verdade para mim, encontrar uma
ideia pela qual eu possa viver e morrer” (apud PAPINEAU, 2009b, p. 155). Essa razão pela qual
ele vive o distancia dos anteparos moralizantes. A arte de viver é própria a cada ser. Em
Kierkegaard, não há uma receita que faz com que o homem se torne um indivíduo. “Existir é
uma arte” (ALMEIDA; VALLS, 2007, p. 54). O que há é a existência e o querer se ‘tornar-se
único’, na medida em que o homem coloca no processo de individualização. Para ingressar
nesse processo é preciso assumir-se.
O pano fundo da construção da concepção de indivíduo em Kierkegaard tem como
objetivo fazer uma dura crítica à cultura massificante do século XIX, em Copenhague, em
relação ao conceito de cristão. “Na concepção de Clímacus, o cristianismo é um assumir-se
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
445
enquanto cristão. Ter nascido numa pátria cristã...” (DE PAULA, 2009l, p. 48) não,
necessariamente implica na vivência do que é de fato ser cristão. Em outros termos, não é o
suficiente para se colocar no seguimento a Cristo e imitá-lo, é preciso bem mais do que
delimitação geográfica para segui-lo, é preciso escolher, é preciso decidir segui-lo por si mesmo.
Não há indivíduo sem a escolha por tornar-se um. Tornar-se indivíduo passa pela possibilidade
do vir a ser um indivíduo.
Na possibilidade tudo é igualmente possível, e aquele que, em verdade, foi
educado pela possibilidade entendeu aquela que o apavora tão bem quanto
aquela que lhe sorri. Quando, pois, um tal sujeito conclui a escola da
possibilidade e sabe, melhor que uma criança no seu ABC, que não se pode
exigir absolutamente nada da vida, e que o horrível, perdição, aniquilamento
moram na porta ao lado de qualquer homem” (KIEKEGAARD, 2010h, p. 164).
A cada homem ‘é igualmente tudo possível’. Portanto, torna-te naquilo que és: um indivíduo,
sem exigir absolutamente nada da vida, a não ser de ti mesmo, no transcorrer da existência.
Referências bibliográficas
ALMEIDA, Jorge Miranda de; Alvaro L. M. Valls. Kierkegaard. Rio de janeiro: Zahar, 2007.
VALLS, Álvaro Luiz Montenegro. Do Desespero Silencioso ao Elogio do Amor Desinteressado.
Porto Alegre: Escritos, 2004.
DE PAUA, Marcio Gimenes de. Subjetividade e Objetividade em Kierkegaard. São Paulo:
Annablume, 2009.
_________, Marcio Gimenes de. Indivíduo e Comunidade da Filosofia de Kierkegaard. São
Paulo: Paulus e Mackenzie, 2009.
FERRAGO, France. Compreender Kierkegaard. Trad. Ephraim F. Alves. Rio de janeiro: Vozes,
2006.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
446
GARDINER, Patrick. Kierkegaard. Trad. Antônio Carlos Vilela. São Paulo: Edições Loyola, 2010.
GOUVÊA, Ricardo Quadros. Paixão pelo Paradoxo: uma introdução a Kierkegaard. São Paulo:
Fonte Editorial, 2006.
KIERKEGAARD, Søren Aabye. O Conceito de Angústia. Trad. Álvaro L. M. Valls. Petrópolis: Vozes;
São Paulo: Editora Universidade São Francisco, 2010.
______________, Søren Aabye. Ponto de Vista Explicativo de Minha Obra Como Escritor. Trad.
João Gama. Ed. 70. São Paulo: Martins Fontes, 1986.
______________, Søren Aabye. Tremor e Temor. São Paulo: Hemus, 2008.
______________, Søren Aabye. Diário de um Sedutor; Temor e Tremor; O Desespero Humano.
Trad.: Carlos Grifo, Maria J. Marinho; Adolfo C. Monteiro. In. Pensadores. São Paulo: Abril
Cultural: 1979.
LE BLANC, Charles. Kierkegaard. Trad.: Marina Appenzeller. São Paulo: Estação liberdade, 2003.
PAPINEAU, David. Filosofia: grandes pensadores, principais fundamentos e escolhas filosóficas.
Trad.: Maria da A. Rodrigues; Eliana Rocha. São Paulo: Publifolha, 2009.
VIESENTEINER. Jorge Luiz. Kierkegaard: pensamento e existência como paixão. 2011 (Prelo).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
447
A contribuição de Matéria e Memória para o estudo da linguagem na filosofia
de Henri Bergson
Vanessa de Oliveira Temporal*
RESUMO
Após uma breve retomada da tese bergsoniana da inadequabilidade da linguagem para
exprimir o real, a qual está presente ao longo de toda sua obra, este trabalho procura mostrar
de que modo Matéria e Memória contempla uma reflexão mais profunda sobre esta temática
ao apresentar a noção de “aparelho motor”, que permite uma análise do fundamento dos
hábitos da prática e de sua influência no pensamento especulativo. Em linhas gerais,
procuramos entender de que modo a concepção de linguagem de Bergson – com base na
definição da palavra como entidade de ordem motora ou mais explicitamente como aparelho
motor –, anuncia um acesso extralingüístico ao real.
PALAVRAS-CHAVE: Henri Bergson, linguagem, aparelho-motor, intuição.
Frédéric Worms, em sua apresentação de Introduction à matière et mémoire, ao
elencar as dificuldades de leitura desta obra aos leitores contemporâneos de Bergson, aponta a
noção de imagem como sendo uma delas. De fato – 38 anos após a redação de Matéria e
Memória –, o próprio Bergson aponta esta dificuldade na introdução de O pensamento e o
movente, onde faz uma retrospectiva de sua obra:
O primeiro capítulo de Matéria e memória, onde nós relatamos o resultado de
nossas reflexões sobre as “imagens”, foi julgado obscuro por todos aqueles
que tinham algum hábito da especulação filosófica, e em razão deste hábito
mesmo (BERGSON, 2001, p. 1318).
*
Pós-graduanda em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Bolsista FAPESP. E-mail:
[email protected].
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
448
Neste trecho, Bergson caracteriza os leitores que se encontraram em dificuldades
como “aqueles que tinham algum hábito da especulação filosófica” e vai mais além, dizendo ser
esta mesma a causa de julgarem obscura a noção de imagem. Nestas palavras, podemos
identificar a crítica de Bergson ao método conceitual da tradição filosófica. Não é sem motivo
que Worms utiliza o termo “noção de imagem” ao invés de “conceito de imagem”. Podemos
dizer que a dificuldade encontrada pelos leitores já iniciados na filosofia se deve ao fato de que
com a noção de imagem, Bergson põe em execução seu próprio método filosófico, o método
intuitivo.
Aliada ao método conceitual – alvo da crítica de Bergson –, está a linguagem.
Desde sua primeira obra, o Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, Bergson faz uma
intensa crítica à inadequabilidade da linguagem para exprimir o ser. No entanto, se por um
lado, Bergson abandona o método conceitual ao formular a noção de imagem, por outro,
Bergson não deixa de se exprimir por meio de palavras (lembremos a frase de abertura do
prefácio do Ensaio: “Exprimimo-nos necessariamente por palavras”, BERGSON, 1988, p.9). Por
conseguinte, nossa apresentação irá procurar mostrar qual é esta crítica à linguagem e de que
forma em Matéria e Memória, Bergson pressupõe um meio de reflexão extralingüístico que
está presente na noção de imagem e que foi responsável pela dificuldade de leitura de seus
contemporâneos.
Se olharmos mais de perto, vamos perceber que a crítica de Bergson à impossibilidade
da linguagem exprimir o real está por trás de sua crítica ao método conceitual, pois é devido às
características da linguagem que as regras do método conceitual validam até mesmo eventos
impossíveis de serem encontrados na realidade – como a causalidade aplicada aos fenômenos
de consciência. Seguindo este raciocínio, Bergson (2006, p.5) aponta na Introdução de O
pensamento e o movente que nada o impressionou tanto quanto como ver que o tempo real
escapa à matemática. “A linha que medimos é imóvel, o tempo é mobilidade. A linha é algo já
feito, o tempo aquilo que se faz”. Por isso, será a partir da idéia de tempo que Bergson iniciará
sua reflexão filosófica. E será justamente por isso que Bergson chama o tempo de duração, ao
invés de simplesmente tempo: para destacar sua crítica à história da filosofia:
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
449
Um Platão, um Aristóteles adotam o recorte da realidade que encontram já
pronto na linguagem: ‘dialética’, que se prende a dialegein, dialegestai,
significa ao mesmo tempo ‘diálogo’ e ‘distribuição’; uma dialética como a de
Platão era ao mesmo tempo uma conversação na qual se procurava
estabelecer um acordo sobre o sentido de uma palavra e uma repartição das
coisas segundo as indicações da linguagem (BERGSON, 2006, p. 91, grifos no
original).
A partir dessas críticas, podemos dizer que a metafísica tradicional parte da
própria estrutura da linguagem para constituir seu método. O que desloca nossa questão do
método conceitual para a linguagem.
Dado o fato de que pelo discurso podemos provar o falso como real e que o real pode
escapar ao discurso filosófico, quais seriam justamente as características do real que escapam à
linguagem? Vamos observar uma das definições de Bergson para duração: “A duração
totalmente pura é a forma que a sucessão de nossos estados de consciência adquire quando
nosso eu se deixa viver, quando não estabelece uma separação entre o estado presente e os
anteriores” (BERGSON, 1988, p. 72, grifo nosso). Sucessão, ausência de separação – o que
podemos chamar de continuidade –, constituição de um todo individual: são as palavras
freqüentemente empregadas por Bergson para se referir à idéia de duração.
No entanto vale notar, assim como fez Axel Cherniavski (2009, p.28) que, ao
perguntarmos o que é duração, partimos do princípio de que a duração é alguma coisa, um
quê, um objeto. E a duração tem a especificidade de não ser um objeto mas um processo, não
uma coisa, mas uma ação (ela aparece “quando nosso eu se deixa viver”). Citando Cherniavski
(2009, p. 28, grifo nosso): “Toda questão começando por o que é é no fundo uma questão
platônica naquilo que assinala a Idéia, uma realidade imutável e eterna”. Então temos que
como conseqüência deste procedimento platônico (o qual vimos acima recortar a realidade
segundo um molde já pronto na linguagem), a tradição filosófica predeterminou a verdade –
que constituiu a finalidade da filosofia – a ser fixa, ou seja, toda mobilidade deve ser superada,
pois é a fixação do significado ao conceito que garante a validade deste.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
450
Além de esta ser justamente a crítica de Bergson à tradição filosófica, é também sua
crítica à linguagem. Tendo em mente as características fundamentais da duração (sucessão,
continuidade, todo individual), analisemos o seguinte trecho presente no Ensaio:
dizíamos que vários estados de consciência se organizam entre si, se
penetram, se enriquecem cada vez mais, podendo deste modo dar a um
ignorante do espaço o sentimento da duração pura; mas já, para empregar a
palavra “vários”, tínhamos isolado estes estados uns dos outros, tínhamo-los
exteriorizado uns relativamente aos outros, numa palavra, tínhamo-los
justaposto; e denunciávamos assim, pela própria expressão a que nos
obrigamos a recorrer, o hábito profundamente enraizado de desenvolver o
tempo no espaço (BERGSON, 1988, p. 86).
A partir deste trecho, podemos notar a impossibilidade de se exprimir a duração por
meio da linguagem. O motivo está no fato de que, mesmo que descrevam esta natureza e dêem
“o sentimento da duração pura”, os termos que são utilizados para gerar este sentimento são
compostos a partir de uma corrupção na natureza da interioridade: isolamento, exteriorização e
justaposição de seus estados. Assim, a linguagem fica situada nos limites do espaço, o que a
inviabiliza como instrumento de análise da duração.
Mas quais seriam os motivos de a linguagem ocultar a mobilidade da duração?
Procuremos apontar os pressupostos de Bergson quanto à linguagem:
A linguagem, para Bergson, é antes de tudo um instrumento. Instrumento útil,
ferramenta prática. Ela serve para comunicar. É porque deve permitir a ação
de comunicar que, como toda ação, necessita de pontos de apoio firmes,
sólidos, imóveis e idênticos. Por que a linguagem se torna imóvel, homogênea
e se divide? Porque estas são para Bergson as três operações de base que
tornam possível uma ação (CHERNIAVSKY, 2009, p.68).
Nossa vida exterior, e por assim dizer, social tem para nós mais importância prática do
que a nossa existência interior e individual. A linguagem nos oculta a duração porque ela está
comprometida primeiramente com a ação. Suas características de imobilidade, homogeneidade
e divisão estão na base da ação possível na medida em que elas garantem a arbitrariedade e a
convencionalidade da linguagem, sem as quais ela não realizaria sua função de comunicar
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
451
(função que coincide com o clima positivista do século XIX, onde se tendia a reforçar a função
comunicativa da linguagem e sua função social). Para Bergson, “cada palavra representa uma
porção da realidade, mas uma porção recortada grosseiramente, como se a humanidade
tivesse cortado segundo sua comodidade e suas necessidades, ao invés de seguir as
articulações do real” (DE PALO, 2001, p. 241). Isto significa que é necessário distinguirmos a
linguagem da realidade, o que garante seu caráter de signo: uma coisa é substituída por outra
no ato de fazer referência.
Podemos então procurar resumir a questão da linguagem para Bergson: a linguagem é
um obstáculo para acessar ao real justamente porque é um signo (substitui uma coisa por
outra) arbitrário (ela não nasce com as coisas) e convencional (sua função é social). O fato de
ela ser um signo garante a representação de algo, mas o que ela tem de arbitrário e
convencional fazem com que ela represente mal. Podemos evocar aqui a imagem da etiqueta
que se cola em uma embalagem. A embalagem tem contornos bem definidos, é sólida, imóvel e
guarda tudo o que é idêntico, porque aquilo que é diferente se organiza em outra embalagem.
Mas, quem pode saber se o real não é de fato organizado em embalagens? Quem é
capaz de dizer se por trás das etiquetas, na realidade, esconde-se um progresso vital de limites
difusos, um todo heterogêneo e movente? Isto quer dizer que, desde o início, a concepção de
linguagem de Bergson já anuncia um acesso extralingüístico ao real na medida em que afirma a
não correspondência do tempo com a sua expressão.
Se um acesso extralingüístico ao real está anunciado de forma implícita desde o início
de sua filosofia com a crítica à capacidade da linguagem em expressar o real, será apenas em
sua segunda obra, Matéria e memória que Bergson procurará explicitar esta questão através da
noção de “aparelho-motor”. Antes de chegarmos à explicação desta noção – que é o objeto de
estudo de nossa pesquisa –, cabe fazermos algumas considerações a respeito desta obra de
Bergson.
Ao invés de tomar como objeto a substância do eu – o que foi feito no Ensaio –, o
objeto enfocado nesta segunda obra é a substância das coisas e de que forma esta última não
se identifica com a solidez atribuída pela tendência da linguagem em imobilizar a mudança.
Bergson estuda a herança metafísica do século XVII assumida pela ciência do XIX: as concepções
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
452
realista e idealista da matéria, concentrando-se em denunciar o dualismo nelas presente e
mostrando como isto traz dificuldades teóricas que tornam a questão da relação entre alma e
corpo insolúvel.
O debate entre as doutrinas realista e idealista gira em torno do grau de existência do
pensamento e do mundo material. De um modo grosseiro, podemos dizer que o realismo
acredita que o universo existe fora de nosso pensamento; e o idealismo, que o universo existe
apenas em nosso pensamento. Um exemplo de idealista é Berkeley, o qual – partindo da
constatação de que as qualidades secundárias da matéria tinham tanta realidade quanto às
qualidades primárias – afirmou que a matéria nada mais é que idéia pura. De outro lado, como
um exemplo de realista, temos Descartes, o qual distanciou a matéria de nosso espírito ao
afirmar que ela era extensão geométrica e que as relações matemáticas entre os fenômenos
eram sua própria essência (BERGSON, 1999, p. 3-4).
Bergson não irá tratar esta questão sem antes fazer uma denúncia metodológica:
Perguntar se o universo existe apenas em nosso pensamento ou fora dele é
(...) enunciar o problema em termos insolúveis, supondo-se que sejam
inteligíveis; é condenar-se a uma discussão estéril, em que os termos
pensamento, existência, universo serão necessariamente tomados, por uma
parte e por outra, em sentidos completamente diferentes. Para solucionar o
debate, é preciso encontrar primeiro um terreno comum onde se trava a luta,
e visto que, tanto para uns como para outros, só apreendemos as coisas sob
forma de imagens, é em função de imagens, e somente de imagens, que
devemos colocar o problema (BERGSON, 1999, p. 21, grifos nossos).
Nesta passagem fica claro o motivo da escolha pela noção de imagem, que vimos no
início ter sido motivo da dificuldade de leitura dos contemporâneos de Bergson. Foi justamente
tendo em vista que realismo e idealismo operavam em dois registros de notação possíveis, o
que fica explicitado no artigo de 1904, O cérebro e o pensamento: uma ilusão filosófica:
Quando falamos de objetos externos, podemos optar entre dois sistemas de
notação. Podemos tratar tais objetos, e as mudanças que neles se realizam,
como coisas ou como representações. E esses dois sistemas de notação são
aceitáveis, contanto que se siga estritamente o que foi escolhido (BERGSON,
2009, p. 194, grifos no original).
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
453
Enquanto o realismo “é um sistema de notação que implica que todo o essencial da
matéria é mostrado ou demonstrável na representação que temos dela, e que as articulações
do real são as mesmas de nossa representação”, o idealismo consiste em “afirmar que as
divisões e articulações visíveis em nossa representação são puramente relativas à nossa
maneira de perceber” (BERGSON, 2009, p. 194). Apesar de realismo e idealismo serem duas
maneiras diferentes de compreender a análise do real, quando ambas procuram sustentar a
tese paralelista, relacionando cérebro e pensamento, a questão se desloca para um problema
no plano da linguagem:
A tese do paralelismo só parece sustentável se forem empregados ao mesmo
tempo, na mesma proposição, os dois sistemas de notação simultaneamente.
Ela só parece inteligível se, por uma inconsciente prestidigitação intelectual,
passar-se instantaneamente do realismo para o idealismo e do idealismo para
o realismo, aparecendo em um momento preciso em que se vai ser pego em
flagrante delito de contradição no outro (BERGSON, 2009, pp. 195-196).
O emprego do termo “aparelho motor” aparece pela primeira vez logo no início do
primeiro capítulo de Matéria e memória para explicar a função do cérebro. Tal explicação, por
sua vez, enquadra-se em uma conjuntura maior, fazendo parte da tese defendida neste
capítulo inicial de que o corpo deve ser caracterizado como um centro de ação. Tal
comprometimento com a prática afastaria do cérebro seu papel comumente atribuído pelos
idealistas e realistas, de que ele estaria comprometido essencialmente com o conhecimento,
sendo um órgão de representação fadado ao pensamento especulativo.
Será recorrendo à constituição do sistema nervoso nos seres vivos ao longo da cadeia
evolutiva que Bergson nos apresentará o cérebro como o grande órgão responsável pela
atividade voluntária do organismo. Em um organismo mais simples, como o da ameba, o
sistema nervoso reúne em si a apreensão do estímulo exterior e a resposta imediata a este
estímulo. Mas, conforme avançamos na série dos organismos se nota a tendência das células
nervosas a se agruparem em sistema. Como resultado deste fenômeno, o sistema de resposta
aos estímulos exteriores se torna mais variado. No caso de um vertebrado superior, como o
homem, em que o sistema nervoso é composto de medula e cérebro, há uma distinção radical
entre automatismo e atividade voluntária: enquanto a medula é responsável pela contração
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
454
muscular imediata diante de uma excitação exterior, no cérebro, o estímulo sofre um desvio
até o encéfalo antes de descer para as células motoras da medula. Com isso, podemos dizer
que o cérebro permite escolher em que posição da medula o estímulo se imprimirá. Devido a
este comportamento, Bergson (1999, p. 26) utiliza a metáfora do cérebro como central
telefônica: ele não acrescenta nada àquilo que recebe do estímulo, faz simplesmente a
comunicação deste ou o faz aguardar, dando lugar à escolha. Assim, podemos compreender a
definição de aparelho motor em contraste direto com a tese idealista e realista de que o
cérebro tem como função produzir conhecimento puro:
(...) o sistema nervoso nada tem de um aparelho que serviria para fabricar ou
mesmo preparar representações. Ele tem por função receber excitações,
montar aparelhos motores e apresentar o maior número possível desses
aparelhos a uma excitação dada. (...) Mas, se o sistema nervoso é constituído,
de uma ponta à outra da série animal, em vista de uma ação cada vez menos
necessária, não caberia pensar que a percepção, cujo progresso é pautado pelo
dele, também seja inteiramente orientada para a ação, e não para o
conhecimento puro? (BERGSON, 1999, p. 27).
Cabe notar que todo este processo de transformação do objeto da percepção ocorre
independentemente de conceitos, apenas em função do corpo e de seu comprometimento com
a vida prática. Neste sentido, o fundamental para nossos objetivos é observar que essa
transformação se opera através do corpo, cujo centro é o cérebro e se realiza através de
complexas organizações de movimentos.
Referências bibliográficas
BERGSON, Henri. Ouevres. Textes annotés par André Robinet et introduction par Henri Gouhier.
6ª edição. Édition du centeraire. Paris: Presses Universitaires de France, 2001.
______. Ensaio sobre os dados imediatos da consciência. Tradução de João da Silva Gama.
Lisboa: Edições 70, 1988.
______. Matéria e Memória. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)
455
_____. O pensamento e o movente. Tradução de Bento Prado Neto. São. Paulo: Martins Fontes,
2006.
_____. 2009. A energia espiritual. Tradução de Rosemary Costhek Abílio. São Paulo: Martins
Fontes.
CHERNIAVSKY, A. Exprimer l’esprit: Temps et langage chez Bergson. Paris: L'Harmattan, 2009.
DELEUZE, G. Bergsonismo. Tradução de Luiz B. L. Orlandi. São Paulo: Editora 34, 2008 (Coleção
TRANS).
LEOPOLDO E SILVA, F. Bergson: intuição e discurso filosófico. São Paulo: Loyola, 1994.
NEF, F. A linguagem, uma abordagem filosófica. Tradução de Lucy Magalhães. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Ed., 1995.
PRADO JÚNIOR, B. Presença e campo transcendental: consciência e negatividade na filosofia de
Bergson. São Paulo: Edusp, 1989.
STANCATI, C. (et all). Henri Bergson: esprit et langage. Claudia Stancati (Ed.); Donata Chiricò
(Ed.); Federica Vercilio (Ed.). Bélgica: Sprimont: Mardaga, 2001.
WORMS, F. Bergson ou les deux sens de la vie. Paris: Presses Universitaires de France, 2004.
(Collection Quadrige).
______. Introduction à matière et mémoire de Bergson: suivie d´une brève introduction aux
autres livres de Bergson. Paris: Presses Universitaires de France, 1997.
Anais do VII Seminário de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar (2011)