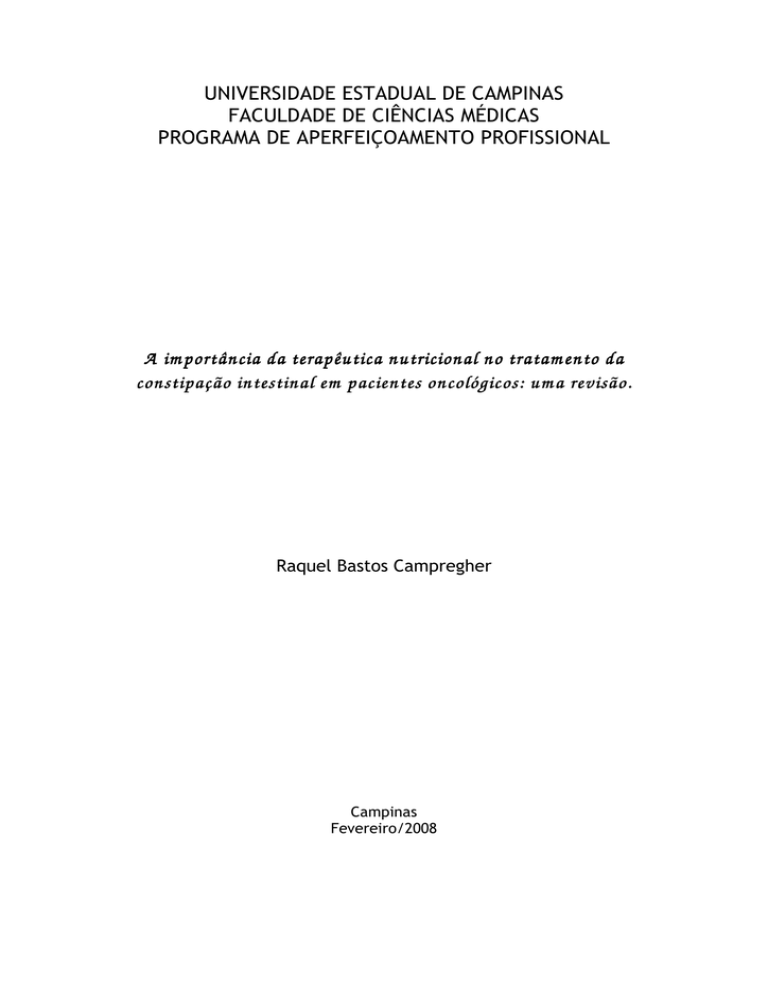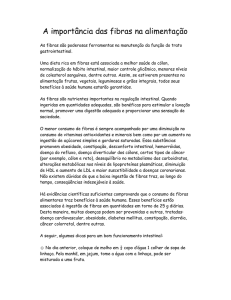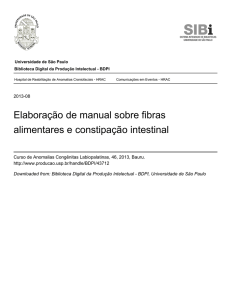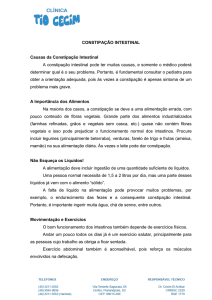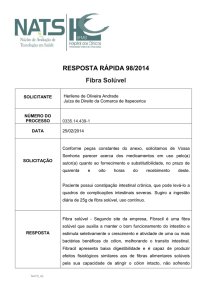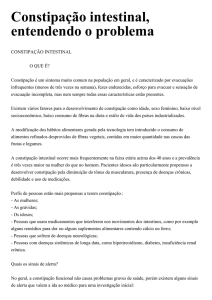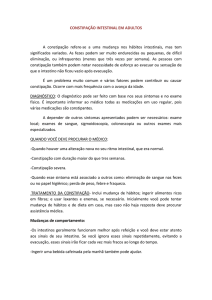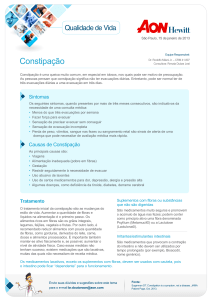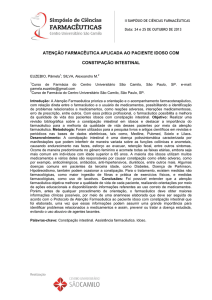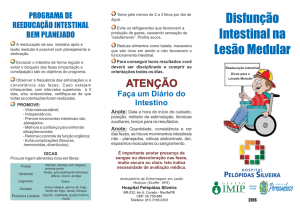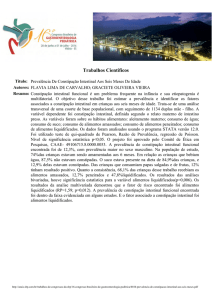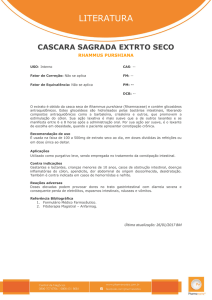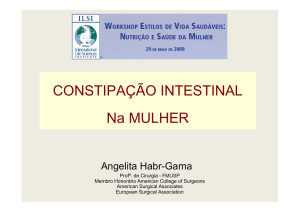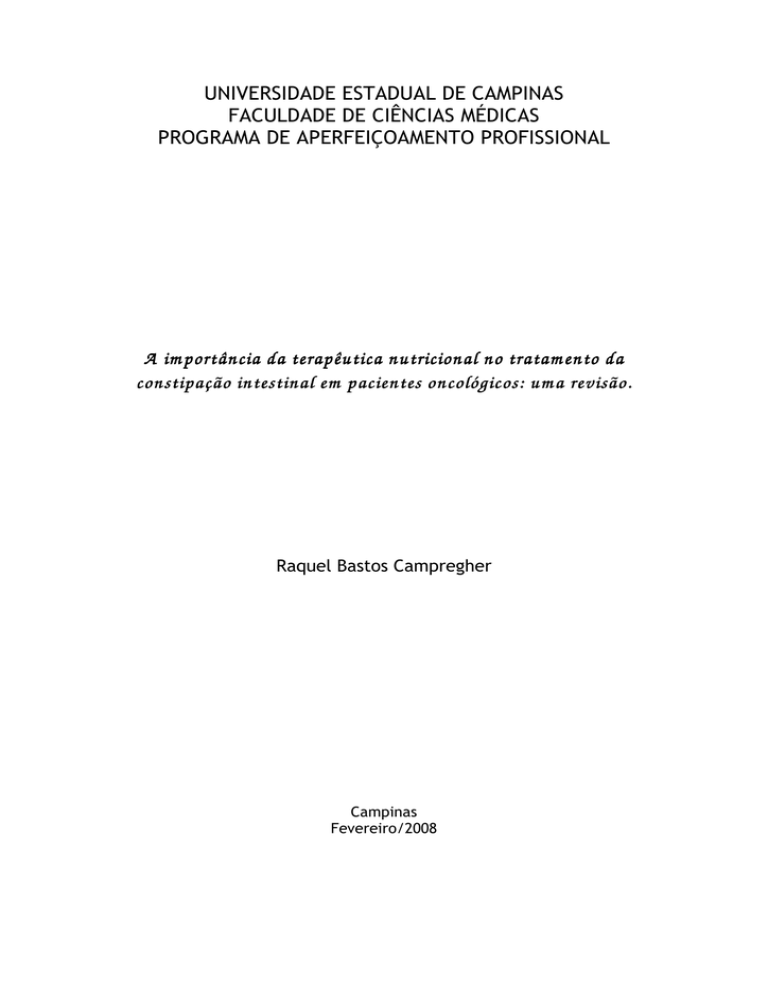
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
A im portância da terapêutica nutricional no tratam ento da
constipação intestinal em pacientes oncológicos: um a revisão.
Raquel Bastos Campregher
Campinas
Fevereiro/2008
PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP
RAQUEL BASTOS CAMPREGHER
A importância da terapêutica nutricional no tratamento da
constipação intestinal em pacientes oncológicos: uma revisão
Monografia apresentada ao Programa de
Aprimoramento Profissional/CRH/SES-SP e
FUNDAP, elaborada na Universidade
Estadual de Campinas/Faculdade de
Ciências Médicas
Área: Nutrição
CAMPINAS
2008
ÍNDICE
Lista de Tabelas.............................................................................................................
i
Resumo........................................................................................................................... ii
1. Introdução..................................................................................................................
01
2. Objetivos....................................................................................................................
04
3. Metodologia...............................................................................................................
05
4. Revisão Bibliográfica................................................................................................. 06
4.1 Constipação Intestinal...........................................................................................
06
4.2 Dor Oncológica.....................................................................................................
10
4.3 Terapêutica Nutricional......................................................................................... 14
4.3.1 Água...............................................................................................................
18
4.3.2 Pobióticos, Prebióticos e Simbióticos........................................................... 20
4.3.4 Outros............................................................................................................. 21
4.4 Tratamento Medicamentoso.................................................................................. 23
5. Conclusão................................................................................................................... 25
6. Referências Bibliográficas.........................................................................................
26
LISTA DE TABELAS
Tabela 1. Causas secundárias de constipação intestinal
Página 10
Tabela 2. Principais componentes da fibras dietética
Página 15
Tabela 3. Exemplos de alimentos fonte de fibras solúveis e insolúveis
Página 17
i
Resumo
Atualmente, no Brasil, o câncer se constitui na segunda causa de morte por
doença e a dor é um dos sintomas mais freqüentes em pacientes oncológicos. Seu alívio
pode requerer o uso de medicamentos como os opióides, combinações de narcóticos e
de outras formas de terapia. No entanto, a administração dessas medicações causa,
dentre outros efeitos colaterais, especialmente a constipação intestinal, cujo controle se
faz necessário para promover a qualidade de vida dos pacientes, em particular dos que
apresentam doença avançada. A constipação intestinal nestes pacientes também pode
decorrer devido a outros fatores relacionados diretamente ao tumor, ao tratamento ou a
processos concomitantes como, por exemplo, debilidade física e diminuição da ingestão
de alimentos ricos em fibras ou de líquidos. Quando mal tratada, a constipação pode
levar a severas complicações. A terapêutica nutricional, provida de nutrientes laxativos,
oferece grandes benefícios e pode minimizar os desconfortos causados por esse
distúrbio, restaurar o trânsito intestinal, promover aumento do peso das fezes e o
restabelecimento da freqüência da defecação. Este trabalho é uma revisão bibliográfica
sobre a constipação nutricional em pacientes oncológicos, especialmente como
conseqüência do uso de opióides utilizados no tratamento da dor e a necessidade de uma
adequada terapêutica nutricional para efetivo sucesso do tratamento.
Palavras-chave: oncologia, dor oncológica, analgésico opóides, constipação, nutrição
fibras, terapia nutricional e dieta.
ii
1. Introdução
O câncer se constitui na segunda causa de morte por doença atualmente no
Brasil. Em 2004, a mortalidade relacionada ao câncer representou 13,7% de todos os
óbitos registrados no país. Em 1994, as neoplasias foram responsáveis por 10,86% dos
887.594 óbitos registrados, sendo que 53,81% desses óbitos ocorreram entre os homens
e 46,05%, entre as mulheres. Com exceção da região Nordeste, nas demais regiões, os
neoplasmas seguem-se às doenças cardiovasculares, como causa de morte, e sua
proporcionalidade aumenta à medida que se desloca para o sul: 7,83% (Região Norte),
9,89% (Região Centro-Oeste), 11,93% (Região Sudeste) e 15,19% (Região Sul).
Somente na Região Nordeste, as neoplasias representam a terceira causa de morte por
doença, consistindo de 6,34% dos óbitos atestados, ficando apenas 0,02 pontos
percentuais depois das doenças infecciosas e parasitárias. Assim, analisando-se as taxas
de mortalidade das macrorregiões do Brasil, o câncer apresenta-se em diferentes
posições, mas sempre encontrado entre as primeiras causas de morte, ao lado das
doenças do aparelho circulatório, do aparelho respiratório, causas externas, afecções do
período peri-natal e doenças infecciosas e parasitárias. O câncer hoje pode ser
configurado como problema de saúde pública no Brasil. Fatores como o aumento da
expectativa de vida, a industrialização, a urbanização e os avanços tecnológicos
observados na área da saúde, além da mudança de hábitos de vida da população, estão
diretamente relacionados com o aumento do risco de desenvolvimento de câncer(14, 15).
Em 2005, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), de um total
de 58 milhões de mortes ocorridas no mundo, o câncer foi responsável por 7,6 milhões,
o que representou 13% de todas as mortes. Os principais tipos de câncer com maior
mortalidade foram: pulmão (1,3 milhão); estômago (cerca de 1 milhão); fígado (662
mil); cólon (655 mil); e, mama (502 mil)(35). Estima-se que em 2020 o número de casos
novos anuais seja da ordem de 15 milhões. Cerca de 60% destes novos casos ocorrerão
em países em desenvolvimento. É também conhecido que, pelo menos um terço dos
casos novos de câncer que ocorrem anualmente no mundo, poderiam ser prevenidos. No
Brasil, as estimativas para o ano de 2008 e válidas também para o ano de 2009, apontam
que ocorrerão 466.730 casos novos de câncer. Os tipos mais incidentes, à exceção do
câncer de pele do tipo não melanoma, serão os cânceres de próstata e de pulmão no sexo
masculino e os cânceres de mama e de colo do útero no sexo feminino, acompanhando o
mesmo perfil da magnitude observada no mundo(5, 15).
1
Apesar do estigma causado pelo câncer ter diminuído nos últimos anos, seu
diagnóstico ainda é de difícil assimilação pelo paciente, seus familiares, e mesmo os
profissionais envolvidos em seu tratamento. Os avanços no campo da terapia oncológica
tornaram muitos tumores curáveis ou passíveis de melhoras e, considerando-se todos os
tipos de câncer em seus diversos estádios, dois em cada três pacientes podem ser
curados se tratados corretamente, ainda que muitos dentre estes, poderão, de algum
modo, recidivar(15, 26).
O tratamento com intenção curativa normalmente é a fase inicial do tratamento,
e as opções terapêuticas são amplas e com chances de serem bem-sucedidas. Inclui a
cirurgia, radio e quimioterapia e hormonioterapia e visa eliminar a doença, oferecendo
chances reais de cura para o paciente, podendo também estar indicado nas recidivas,
dependendo de cada tipo de câncer e individualizado para cada caso. Não sendo
possível a cura, como em casos de doença muito avançada ao diagnóstico ou em
recidivas sem condições de tratamento com intenção curativa, o tratamento visa
proporcionar uma qualidade de vida satisfatória, controlando a doença e seus sintomas
com o uso de terapias paliativas e tratamento de suporte, que inclui o tratamento da dor,
suporte nutricional, fisioterapia, cuidados de enfermagem, apoio psicológico,
psiquiátrico e espiritual(24, 26).
A dor é um dos sintomas mais freqüentes em pacientes oncológicos,
especialmente quando a doença está avançada e afeta significativamente a qualidade de
vida(36). Seu alívio pode requerer o uso de medicamentos como os opióides,
combinações de narcóticos e de outras formas de terapia, como a neurocirurgia e a
anestesia. No entanto, a administração dessas medicações causa efeitos colaterais como
xerostomia, disgeusia, náuseas e, especialmente, constipação intestinal, cujo controle se
faz necessário para promover a qualidade de vida dos pacientes, em particular dos que
apresentam doença avançada(5, 22, 26).
Além do uso de fármacos com ação constipante, pacientes oncológicos podem
apresentar constipação intestinal devido a outros fatores, que podem estar relacionados
diretamente ao tumor, ao tratamento ou a processos concomitantes como, por exemplo,
debilidade física e diminuição da ingestão de alimentos ricos em fibras ou de líquidos(3,
22)
.
O termo constipação tem origem no latim “constipare”, significando
inicialmente, fezes condensadas, solidamente coletadas num cólon dilatado e,
posteriormente, caracterizando qualquer condição de retenção de material fecal, palavra
2
que acompanha essa disfunção até os dias atuais. No entanto, sua definição não é
universal e tal fato se deve à multiplicidade de fatores biológicos e subjetivos
envolvidos na percepção da constipação(10).
Cerca de 40% a 80% dos pacientes em cuidados paliativos e cerca de 90% ou
mais dos pacientes tratados com opiáceos apresentam constipação. Quando mal tratada,
a constipação pode levar a severas complicações. O manejo efetivo da constipação
começa com uma cuidadosa assistência ao paciente, incluindo o histórico de sua
freqüência e a dificuldade de defecação, sintomas causados pela constipação e exames
físicos e retais e, no seu manejo, o nutricionista é um dos profissionais que pode
oferecer importante auxílio, através de conduta dietoterápica apropriada. A terapêutica
nutricional, provida de nutrientes laxativos, oferece benefícios e pode minimizar os
desconfortos causados por esse distúrbio, restaurar o trânsito intestinal, promover
aumento do peso das fezes e o restabelecimento da freqüência da defecação(5, 7, 16, 26).
3
2. Objetivos
Este trabalho tem por objetivo abordar a ocorrência da constipação intestinal
entre os pacientes oncológicos, descrever terapias nutricionais anticonstipantes para
esses pacientes, incluindo outros agentes anticonstipantes utilizados para resolução
desse problema, identificar os componentes dietéticos que auxiliam a regulação do
trânsito intestinal e apontar algumas dificuldades da realização de uma alimentação
equilibrada para o controle da constipação intestinal, descritos na literatura.
4
3. Metodologia
A metodologia consistiu na análise de artigos de periódicos, livros, manuais,
teses e sites, no período compreendido entre 1989 e 2008, encontrados nas seguintes
bases de dados: Periódicos Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior), Bireme (Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde); Dedalus (Acervo das Bibliotecas da USP); Acervo da Biblioteca da
Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Campinas e Pubmed (National
Institute of Health).
Os seguintes termos foram cruzados nos idiomas português e inglês: nutrição,
oncologia, constipação, obstipação, fibras, prebióticos, dor oncológica, terapia
nutricional e dieta.
5
4. Revisão Bibliográfica
4.1. Constipação Intestinal
Diversos fatores estão relacionados ao hábito intestinal, entre eles a ingestão
hídrica, de fibras e a atividade física. O adequado atendimento dessas necessidades
auxilia a movimentação das fezes, facilitando a defecação. Estudos mostram que o
aumento da ingestão de fibras contribui para uma melhora no funcionamento intestinal e
apontam para uma relação positiva entre o consumo de fibras e o tamanho das fezes(6, 20,
21)
.
A definição de constipação apresenta variações entre os profissionais de saúde,
mas pode ser definida como um decréscimo na freqüência da eliminação de fezes
formadas, caraterizada por fezes endurecidas ou freqüentemente com grande dificuldade
de serem eliminadas(19).
Constipação é um sintoma e não uma doença e representa uma interpretação
subjetiva de um distúrbio da função intestinal. Pode compor o quadro clínico de
diversas patologias. Embora seja um problema comum em pacientes debilitados com
doenças avançadas, não é limitada a estes indivíduos, sendo freqüente sua incidência
numa parcela significativa da população ocidental, acometendo crianças e adultos,
homens e mulheres. O desconforto por ela causado pode interferir na qualidade de vida
de muitos dos indivíduos que a apresentam. Muitos pacientes definem constipação
utilizando-se de um ou mais dos sintomas: fezes endurecidas, evacuações infreqüentes
(tipicamente menos de três vezes por semana), necessidade de esforço excessivo para
evacuar, sensação de evacuação incompleta, tempo excessivo ou insucesso na
defecação(1,
2)
. Outra definição para constipação refere-se à freqüência (número
absoluto) de evacuações semanais relatada pelo paciente, considerando-se como
constipados aqueles que apresentam menos de três evacuações por semana. Uma forma
de diagnosticar constipação, internacionalmente padronizada, baseia-se nos critérios de
Roma II para constipação funcional, compostos por seis sintomas: menos de três
evacuações por semana, esforço ao evacuar, presença de fezes endurecidas ou
fragmentadas, sensação de evacuação incompleta, sensação de obstrução ou interrupção
da evacuação e manobras manuais para facilitar as evacuações. São considerados
constipados aqueles que apresentam dois ou mais desses sintomas, no mínimo em um
quarto das evacuações referidos por, pelo menos, três meses (não necessariamente
6
consecutivos), no último ano embora possam ser considerados os últimos três meses(19,
30)
.
Mesmo sendo apontada como um risco para a ocorrência de câncer de cólon, por
exemplo, sabe-se que constipação é também um problema resultante de doenças
oncológicas e seu tratamento ainda é limitado, ainda que sua prevalência seja alta(10).
Trata-se de um problema significante entre pacientes que recebem agentes
quimioterápicos neurotóxicos, analgésicos opióides, antidepressivos, tranqüilizantes e
relaxantes musculares(19).
As funções de digestão e absorção do sistema gastrointestinal dependem de
numerosos mecanismos que amolecem os alimentos, impelem-nos ao longo do trato e
os misturam com a bile hepática armazenada na vesícula pelo pâncreas. Alguns desses
mecanismos dependem das propriedades intrínsecas da musculatura lisa do intestino.
Outros, exigem a atuação de reflexos que envolvem os neurônios do sistema nervoso
entérico (chamados intrínsecos do intestino), os neurônios do sistema nervoso autônomo
(a atividade colinérgica parassimpática acelera o trânsito, enquanto a noradrenérigca
simpática o inibe), o sistema nervoso central, bem como dos efeitos parácrinos de
mensagerios químicos e hormônios gastrointestinais(22).
As principais funções do cólon são: absorver água e eletrólitos do quimo,
conduzir as fezes a partir do intestino delgado e armazená-las, especialmente no
sigmóide, antes das evacuações(29). As fezes contêm material inorgânico, fibras vegetais
não digeridas, bactérias e água. Sua composição não é relativamente afetada por
variações na dieta, visto que grande parte da massa fecal é de origem não dietética,
razão pela qual uma quantidade apreciável de fezes continua sendo eliminada durante
um período prolongado de inanição(22).
Os movimentos no cólon normalmente são lentos, podendo ser divididos em
movimentos de mistura (contrações haustrais) e propulsivos (movimentos de massa).
Nos movimentos de mistura, cerca de 2,5 cm de músculo circular se contrai, até
quase a oclusão completa da luz intestinal, juntamente com três faixas de musculatura
longitudinal denominada tinea coli, formando as haustrações. Desse modo, toda a
matéria fecal é gradualmente exposta à superfície do intestino grosso, e o líquido é
progressivamente absorvido. Habitualmente, cerca de 1500 ml de líquidos entram por
dia no cólon, provenientes do intestino delgado, através da válvula íleo cecal e
aproximadamente 1300 ml são absorvidos. A capacidade diária de absorção de água
pelo cólon pode chegar a 5000 ml(22, 29).
7
A maior parte da propulsão no ceco e cólon ascendente resulta de uma lenta, mas
persistente, contração haustral, levando de 8 a 15 horas para mover o quimo apenas da
válvula ileocecal até o cólon transverso, enquanto o próprio quimo se torna fecal em
qualidade e também se transforma em semi-sólido pastoso ao invés de semilíquido.
Do cólon transverso ao sigmóide, movimentos de massa aparecem, com mais
abundância, por cerca de 15 minutos durante a primeira hora do desjejum. Também
chamados de contrações propulsivas de alta amplitude (CPAA), ocorrem uma ou duas
vezes ao dia. Quando forçam uma massa de fezes para o reto, manifesta-se o desejo
evacuatório(13, 29).
As células nervosas do intestino formam o plexo submucoso e o plexo
mesentérico, que compõem o sistema nervoso entérico, responsável pelas atividades
motoras e secretoras do trato gastrintestinal(10).
Como em outros segmentos, no intestino grosso o sistema nervoso
parassimpático aumenta a freqüência e amplitude dos movimentos. O sistema nervoso
simpático os inibe. O plexo nervoso entérico organiza os movimentos.
O aparecimento das CPAA após as refeições deve-se em parte pelos reflexos
gastro-cólicos e duodenocólicos e pela liberação de gastrina (hormônio com ação
excitatória no cólon e ação inibitória sobre a válvula ileocecal). Também ocorrem, pela
estimulação do sistema nervoso parassimpático, por uma irritação do cólon ou por sua
superdistensão(13, 29).
O reflexo evacuatório inicia-se com a chegada do bolo fecal na ampola retal.
Com a dilatação retal, os receptores sensíveis ao estiramento determinam o relaxamento
do esfíncter interno do ânus (reflexo reto anal), permitindo que o conteúdo retal seja
percebido de modo discriminado para gases, líquidos ou fezes pastosas. O suprimento
nervoso simpático para o esfíncter anal interno (involuntário) é excitatório nos seres
humanos, enquanto a inervação parassimpática (voluntária) é inibitória. O esfíncter
relaxa quando o resto é distendido. A invervação do esfíncter anal externo, constituído
por músculo esquelético, provém do nervo pudendo. O esfíncter é mantido no estado de
contração tônica e a distenção moderada do reto aumenta a força de sua contração. A
vontade de defecar começa a aparecer quando a pressão retal aumenta para cerca de
18mmHg e, com 55 mmHg, ocorre o relaxamento do esfíncter externo e do interno e o
conteúdo do reto é expelido. A defecação voluntária pode ser iniciada pelo relaxamento
voluntário do esfíncter externo e pela contração dos músculos abdominais (esforço para
evacuar), que auxilia o esvaziamento reflexo do reto distendido. Dessa forma, o
8
indivíduo pode decidir pela eliminação de flatos ou pela contração voluntária do
esfíncter externo até chegar ao local apropriado para defecar(13, 22, 29).
A retenção fecal ocorre quando as fezes não são eliminadas. Quando essa
retenção persiste por tempo prolongado, o reto passa a conter fezes, progressivamente
mais ressecadas, e em maior volume. A parede retal fica cronicamente dilatada e a
sensibilidade retal diminui. Um círculo vicioso se instala quando ocorre a eliminação
dolorosa de fezes endurecidas e calibrosas, fazendo com que continue a inibir a
defecação, através de contração anormal do esfíncter anal externo e do assoalho pélvico
(anismo)(13).
A constipação pode ser classificada em três tipos: primária, secundária e
iatrogênica.
Constipação Primária: é aquela relacionada à anormalidade da função motora
colorretal, sem associação com alterações de outros órgãos do sistema digestório, nem a
presença de sinais como febre, perda de peso, anemia e que resulta de fatores
extrínsecos como o decréscimo da atividade física, tempo ou privacidade adequada para
a evacuação e ingestão diminuída de líquidos e fibras na alimentação, bem como fatores
psicológicos ou sociais. O conjunto desses fatores promove o decréscimo da motilidade
intestinal e aumenta o tempo de trânsito do bolo fecal o que permite a reabsorção de
fluidos e o endurecimento das fezes(19,
29)
. Não se estabelece aqui causas definidas,
anatômica, bioquímica ou doenças específicas neuromusculares. Portanto, nesse grupo
incluem-se as disfunções decorrentes de erros dietéticos e/ou comportamentais(29).
Constipação Secundária: definida como resultante de alterações patológicas,
como compressão da medula espinal ou do tubo intestinal por tumores o que leva à uma
interferência de ordem mecânica no processo de eliminação intestinal. Nesses casos, o
ritmo intestinal depende de mudanças estruturais do intestino grosso, anorretais ou
perineais ou ainda de seus elementos neuromotores, como manifestação digestiva de
doenças sistêmicas ou metabólicas e decorrente do uso de medicamentos com efeito
potencialmente constipante. Em pacientes oncológicos, deficiências nutricionais,
musculares e neurológicas podem ser encontradas. Além disso, nefropatias, hipo e
hipertireoidismo, doença de Adison, Síndrome de Cushing, hipercalcemia e hipocalemia
contribuem para a ocorrência de obstipação intestinal, que pode atingir 100% dos
doentes com neoplasias, em diferentes estágios da doença(10, 19, 29).
Constipação iatrogênicamente induzida é decorrente da administração de
agentes farmacológicos, utilizados para o tratamento da doença ou dos seus sintomas.
9
Assim sendo, na doença oncológica, a constipação pode estar relacionada às terapias
antineoplásicas ou ao tratamento da dor(10).
Tabela 1 - Causas secundárias de constipação intestinal.
Tratamento
Doenças
Causas secundárias
Medicações
Endócrinas
Neurológicas
Anticonvulsivante
Diabetes
a. Sistêmicas
Neuropatia Int. grosso
Antidepressivo
Hipotiroidismo
(congênita; adqurida)
Anticolinérgico
Hiperparatiroidismo Neuropatia diabética
Antidiarreico
Feocromocitoma
Parkinson
Antihistamínico (H1)
Síndrome Shy-Drager
AINES
b.Traumática
Lesão da medula
Bloqueador do cálcio
espinal
c. Trânsito lento
Bloqueador ganglionar
(inérica cólica)
d. Disfunção do
Corticosteróide
mecanismo da
defecação
Diuréticos
Dopaminérgico
Inativador do ácido
biliar
Laxativo
Lítio
Miorrelaxante
Psicotrópico
Propanolol
Suplemento dietético
(Fe e Ca)
Fonte: Silveira, 2008.
4.2. Dor Oncológica
A Sociedade Internacional para o Estudo da Dor (IASP) conceitua dor como
“uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada a uma lesão, ou
descrita como a ela relacionada”. A dor relacionada ao câncer é um fenômeno
complexo, multidimensional, composto por componentes sensoriais, afetivos,
cognitivos e comportamentais. É descrita como crônica e progressiva. Afeta a atividade,
a função, o apetite, o sono, além de deprimir o paciente e aumentar o risco de suicídio.
A dor deve ser aliviada para que o paciente volte a desenvolver sua capacidade
funcional e tenha melhor qualidade de vida(26).
10
O tratamento da dor oncológica é baseado nas diretrizes do Programa de Alívio
da Dor no Câncer da Organização Mundial da Saúde(36), diretrizes essas
internacionalmente reconhecidas e aceitas. Esse programa, baseado em uma seqüência
terapêutica, que se tornou conhecida como “escada analgésica”, consiste no uso de
drogas analgésicas e adjuvantes, em três etapas, em horários fixos e, preferencialmente,
por via oral, a menos que essa não esteja indicada devido a náuseas, vômitos,
dificuldades de deglutição, nível de consciência, etc. A farmacoterapia analgésica foi
escolhida como o sustentáculo desse tratamento, por ser, principalmente, acessível à
maior parte dos povos e efetiva em aliviar a dor em aproximadamente 90% dos
pacientes com câncer e em 75% daqueles em estado terminal. Quando o quadro
doloroso apresenta características de cronicidade, a adoção da escada analgésica deve
ser considerada. Dependendo da intensidade da dor, recomenda-se administrar
inicialmente analgésicos não-opióides, seguindo-se os analgésicos opióides fracos e
finalmente os opióides fortes. Embora esse esquema analgésico mostre-se eficiente no
controle da dor oncológica, o inadequado conhecimento da farmacologia das drogas e
dos efeitos colaterais desses medicamentos, contribuem para a descontinuidade do uso e
decréscimo da qualidade de vida de doentes portadores de neoplasias(10,
22, 32)
. Assim
sendo, o "primeiro degrau" da escada analgésica propõe que analgésicos comuns,
periféricos e anti-inflamatórios não-hormonais sejam empregados inicilamente no
combate de dores de leve a moderada intensidade. Outros tipos de medicações,
chamadas de "drogas adjuvantes" (isto é, medicações cuja indicação original de uso não
é analgésica, mas que atuam como tal) como, por exemplo, antidepressivos,
fenotiazínicos, antieméticos e protetores gástricos, também podem ser utilizadas com o
intuito de implementar a eficácia analgésica e/ou tratar outros sintomas que possam
exacerbar a dor. Os analgésicos antiinflamatórios reduzem a proteção das mucosas e,
por vezes, compõem o conjunto de agressões às mesmas e o estado nutricional pode ser
ainda mais comprometido devido à ocorrência de queimação esofágica, gastralgia,
cólicas, diarréia, náuseas e vômitos (22).
O "segundo degrau" da escada analgésica é atingido quando a dor persistir ou
aumentar e, nessa situação, deve-se adicionar (e não substituir) ao esquema
medicamentoso prévio drogas opiáceas fracas, tais como a codeína e o tramadol, entre
outras.
Havendo persistência ou aumento da dor, o "terceiro degrau" é atingido, com a
introdução de opiáceos fortes ao esquema prévio, em substituição aos opiáceos fracos.
11
Os protótipos deste grupo são o sulfato de morfina e a metadona, contudo, há situações
onde faz-se necessário o uso de drogas mais potentes, como por exemplo a oxicodona,
que apresenta equianalgesia duas vezes maior que o sulfato de morfina, ou mesmo o
fentanil, um opiáceo sintético com potência analgésica 80 a 100 vezes superior à da
própria morfina(22).
Os analgésicos são separados em quatro grupos: os não opiáceos, os opiáceos
fracos, os opiáceos fortes e os adjuvantes. Os opiáceos, grupo mais importante no
tratamento da dor oncológica de moderada a severa intensidade, são os analgésicos com
maior ação constipante, e dependendo da sua intensidade, pode haver a necessidade de
interrupção da medicação eventualmente(14, 22).
Os principais medicamentos opióides são: morfina (utilizada amplamente),
meperidina, metadona (opiáceo sintético, tão potente quanto a morfina), fentanil (80
vezes mais potente que a morfina), heroína, propoxifeno, codeína, pentazocina,
buprenorfina, naloxona, naltrexonal. Entre os não opióides, encontram-se o ácido acetilsalicílico e antiinflamatórios não esteróides (AINE)(26).
Como anteriormente mencionado, a atividade motora do cólon é lenta e envolve
movimentos segmentares e propulsivos, resultando na formação de fezes pastosas, com
formato definido e em intervalos regulares(10).
A constipação intestinal decorrente do uso de opiáceos ocorre em função de
contrações segmentares muito vigorosas e contrações propulsivas muito fracas, o que
resulta em fezes mais endurecidas e de difícil eliminação. Os locais no cérebro
envolvidos na transmissão da dor e na alteração da reatividade aos estímulos
nociceptivos (dolorosos) parecem ser os principais sítios nos quais os opióides agem. Os
receptores também podem ser encontrados, em altas concentrações, no trato
gastrointestinal(15). Os opiáceos se ligam a receptores morfínicos do trato gastrintestinal
e produzem vários efeitos. Ocorre redução no estímulo que cria a contração propulsiva
necessária e há redução da motilidade gástrica. No intestino delgado, retardam a
digestão dos alimentos devido à diminuição das secreções pancreáticas, biliares e
intestinais. No intestino grosso provocam a diminuição ou abolição do peristaltismo
propulsivo e aumento do tônus intestinal, com conseqüente lentificação na passagem do
conteúdo intestinal e desidratação das fezes, tornando-as duras e secas(13,
21)
. Além
disso, o tônus do esfíncter anal aumenta e o relaxamento reflexo, que normalmente
ocorre em resposta à distensão do reto, diminui. Essas ações, associadas à diminuição
na percepção dos estímulos sensitivos normais para o reflexo da defecação, decorrentes
12
das ações da droga no sistema nervoso central, contribuem para o aparecimento da
constipação relacionada ao uso de opiáceos. As dificuldades e desconfortos
relacionados à constipação podem estar associados à sensação de esvaziamento retal
incompleto, sucedido por dor abdominal, flatulência, distensão, anorexia, cefaléia,
edema e a presença ou não de náuseas, além de vômitos e disforia (21, 22, 26).
Não apenas a constipação é uma conseqüência inevitável desse tipo de
analgésico, como também é dose-dependente. À medida que a dose aumenta, aumentam
os riscos da ocorrência de obstipação. O doente muito sedado também reduz sua
ingestão de alimentos(19, 22).
A morfina por via oral é a primeira escolha para o tratamento do terceiro nível
da dor oncológica, quando essa atinge intensidade bastante severa(34,
36)
. A morfina e
seus correlatos combinam-se seletivamente a vários sítios de reconhecimento existentes
no organismo para produzirem os efeitos farmacológicos. A morfina atrasa o trânsito
intestinal, especificamente no ceco e no cólon ascendente, sugerindo que os problemas
de propulsão se iniciam no cólon proximal e culminam distalmente com a inibição da
defecação(26). Uma vez que a tolerância ao medicamento é desenvolvida muito
lentamente em relação aos efeitos da morfina sobre o intestino, a constipação pode durar
todo o período em que esta estiver sendo administrada.
A constipação quando não tratada pode levar à permanente necessidade de
cuidado de suas complicações associadas à obstrução intestinal. Considerando-se que o
controle da evacuação pode se tornar mais difícil do que o controle da dor oncológica,
recomenda-se o uso de terapia laxativa concomitante ao uso de analgésicos dessa linha.
A alta prevalência da constipação intestinal para muitos especialistas justifica a
utilização de medidas profiláticas, assim que o tratamento com opiáceos tem início. O
sucesso da terapêutica analgésica com opiáceos depende do controle adequado dos
efeitos adversos(19, 21, 34).
Além dos opiáceos, antidepressivos e neurolépticos, recomendados pela OMS
para o controle da dor oncológica outras drogas utilizada na oncologia também podem
causar constipação. Dentre esses, encontram-se os quimioterápicos como alcalóides da
vinca, antieméticos, suplementos de cálcio, antiácidos e antihipertensivos(10).
A ação analgésica dos neurolépticos não é bem conhecida. Sabe-se que são
drogas muito efetivas na terapia da dor associada à agitação, insônia e náuseas e em
afecções neuropáticas. Altera a percepção da dor, alivia a ansiedade e potencializa o
efeito constipante de outras drogas com ação anticolinérgica, por diminuir o
13
metabolismo hepático, aumentando o nível sérico das drogas. O efeito constipante dos
antidepressivos e neurolépticos é atribuído à ação anticolinérgica, adrenérgica e
dopaminérgica desses fármacos no sistema nervoso periférico e no central(10).
O diagnóstico de constipação é geralmente feito pela história do paciente e pelo
exame físico, podendo ser necessária a realização de outros exames. A coleta de dados
sobre o hábito intestinal pregresso e a história atual permite avaliar o tipo e a magnitude
da constipação(21). A investigação do hábito intestinal se caracteriza por dados como o
tipo e quantidade de alimentos e volume de líquidos ingeridos diariamente, a realização
de atividade física, a existência de horário preferencial e do uso de agentes laxativos,
entres outros. Por haver grande variação na freqüência de evacuação entre os
indivíduos, esta não pode ser parâmetro único utilizado quando se investiga
constipação. O volume fecal varia de acordo com a quantidade de alimentos e fibras
ingeridas(10).
A observação clínica sugere que alguns doentes conseguem controlar a
constipação intestinal somente com mudança na dieta, porém outros desenvolvem
tolerância ao efeito constipante dessas drogas. Deve-se considerar a prevenção de sua
ocorrência quando se deseja controlar a constipação induzida pelo uso de opiáceos(10).
4.3. Terapêutica Nutricional
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda um consumo acima de 25
g de fibras alimentares totais por dia, atingidas a partir da ingestão ≥ 400 g de frutas e
vegetais diárias. Deste total, 2/3 devem ser fibras insolúveis e 1/3 fibras solúveis, ou
seja, a ingestão diária deve seguir a proporção fibra insolúvel:fibra solúvel de 3:1(20, 27) .
Segundo a Associação Dietética Americana (ADA), o controle da constipação
pode ser realizado através do consumo de 25 a 35 g de fibras /dia, para indivíduos com
mais de 20 anos e de 10 a 13g de fibras/dia por 1000 Kcal para idosos, como parte de
uma dieta balanceada, com altas quantidades de carboidratos complexos, atividade
física regular e ingestão hídrica adequada(20).
Especificamente para a prevenção do desenvolvimento de doenças
cardiovasculares, câncer, doença renal e diabetes, a Associação Norte-americana do
Coração desenvolveu algumas diretrizes. Dentre elas, está incluída a de que o consumo
de fibras deve estar entre 25 e 30 g/dia provenientes da alimentação, como legumes,
grãos integrais, frutas e vegetais. A quantidade de líquidos recomendada é de 6 a 8
copos diários(11, 20).
14
As fibras formam um conjunto de substâncias derivadas de vegetais resistentes à
ação das enzimas digestivas humanas. A American Association of Cereal Chemistis
(AACC) estabeleceu a definição de fibra alimentar como sendo “a parte remanescente
da porção comestível ou de carboidratos análogos que são resistentes à digestão e à
absorção no intestino delgado humano, com fermentação completa ou parcial no
intestino grosso. A fibra alimentar inclui polissacarídeos, oligossacarídeos, lignina e
outras substâncias associadas e ao ser humano, promove efeitos fisiológicos benéficos,
como os laxativos, atenuação do colesterol sangüíneo e/ou atenuação da glicose
sangüínea”(27).. Do ponto de vista químico, os constituintes da fibra alimentar podem ser
divididos em componentes não-glicídicos, polissacarídios não-amido e amido resistente.
Os componentes não-glicídios somados à celulose, hemiceluloses e substâncias pécticas
representam os componentes da parede celular vegetal. Gomas, muscilagens,
polissacarídios, não-amido de origem vegetal e bacteriana, juntamente com o amido
resistente representam os demais componentes(34).
Tabela 2. Principais componentes da fibra dietética.
Classificação Química
Componente
Substâncias não-glicídicas
Proteínas
Cutina
Cera
Silício
Suberina
Lignina
Polissacarídios não-amido
Amido
Celulose
Hemiceluloses
Substâncias pécticas
Gomas
Muscilagens
Polissacarídeos de origem vegetal
Polissacarídeos de origem
bacteriana
Amido resistente
Fonte: Silva, 2003.
Quanto às propriedades físico-químicas, a fibra alimentar é dividida em fração
insolúvel e fração solúvel em água(23).
A fração insolúvel da fibra alimentar é formada principalmente de celulose,
lignina e hemiceluloses insolúveis. Essa fração exerce um efeito físico-mecânico,
aumentando o volume do bolo alimentar e das fezes, diminuindo o tempo de trânsito
intestinal. Esses componentes, ao se hidratarem, ligam não somente água, mas podem
15
ligar também elementos minerais, vitaminas, sais biliares, hormônios e lipídios. Os
alimentos fontes de fibra insolúvel são farelo de trigo, grãos integrais, verduras e
legumes(17, 23).
Com essas ações, as fibras insolúveis podem produzir efeitos benéficos à saúde,
como aumentar o peristaltismo intestinal e aliviar principalmente as constipações
intestinais, as hemorróidas, a síndrome de cólon irritado e a doença diverticular. Pelo
fato de aumentar o bolo fecal, aumentar a velocidade de trânsito intestinal e poder ligar
sais biliares, ácidos graxos, estrógenos e compostos fenólicos, as fibras podem arrastar
nas fezes substâncias mutagênicas e carcinogênicas, aumentando o volume fecal e
diminuindo a incidência de tumores intestinais, particularmente do cólon e reto. Os
componentes da fibra insolúvel, particularmente celulose e lignina praticamente não
sofrem degradação microbiológica no intestino grosso, sendo quase que totalmente
excretados nas fezes(23, 27).
As fibras solúveis incluem pectinas, mucilagens, beta-glicanos e algumas
hemiceluloses. São encontradas principalmente na aveia, cevada, leguminosas (soja,
grão de bico, lentilha, feijão), frutas (maçã, morango, banana) e verduras. As pectinas
são encontradas principalmente em frutas e vegetais, especialmente em maçãs, cenouras
e laranjas. Os componentes solúveis da fibra alimentar adsorvem muita água, já a partir
do estômago, formando sistemas viscosos de consistência gelatinosa, podendo retardar
o esvaziamento gástrico e o trânsito do conteúdo intestinal. Esses polissacarídeos
tendem a formar uma camada viscosa de proteção à mucosa do estômago e intestino
delgado, dificultando a absorção, principalmente de açúcares e gorduras, sendo este,
talvez, o mecanismo pelo qual esses polissacarídeos ajudam a baixar os níveis lipídicos
sangüíneos e teciduais, assim como a glicemia(23, 27).
No intestino grosso, a fibra solúvel sofre fermentação anaeróbica pelas bactérias,
principalmente do cólon, como a dos gêneros Bacterióides, Bifidobacterium,
Clostridium, Streptococcus e Escherichia(23). Em média, cerca de 70% da fibra alimentar
podem ser fermentados no intestino grosso, entretanto, esse valor irá depender da fonte
de fibra. Vários produtos de fermentação da fibra poderão ser aproveitados como fonte
de energia. Os principais produtos da fermentação das fibras no cólon são ácidos graxos
de cadeias curtas (acético, propiônico, butírico), metano, amônia e hidrogênio. Os
produtos da fermentação podem ocasionar uma série de alterações no cólon como a
diminuição do pH intraluminal, redução da solubilidade dos ácidos biliares e dos ácidos
16
graxos livres, controle seletivo das linhagens da microflora bacteriana e,
conseqüentemente, dos ácidos graxos de cadeias curtas que se formam(23, 27, 30).
A inulina e a oligofrutose, denominadas de frutanos, são também fibras solúveis
e fermentáveis (oligossacarídeos), as quais não são digeríveis pela α-amilase e por
enzimas hidrolíticas, como a sacarase, a maltase e a isomaltase, na parte superior do
trato gastrintestinal. Assim sendo, uma vez que os componentes da fibra da dieta não
são absorvidos, eles penetram no intestino grosso e fornecem substrato para as bactérias
intestinais(23).
Tabela 3. Exemplos de Alimentos Fonte de Fibras Solúveis e Insolúveis
Fibras Dietéticas
Fibras
Tipo
Fontes
Pectinas
Solúveis
Β-glucanas
Frutas, leguminosas,
Gomas
aveia, cevada
Mucilagens
Insolúveis
Celulose
Trigo e seu farelo,
Hemicelulose
grãos integrais,
Lignina
hortaliças
Fonte: Silva, 2003
O tratamento da constipação se constitui na adaptação da dieta, com ingestão de
fibras, alimentos funcionais prebióticos e probióticos, além da ingestão habitual de
líquidos e atividade física. Em pacientes oncológicos, a profilaxia deve ser aplicada,
uma vez que a causa da obstipação é multifatorial e ocorre com grande freqüência. Por
isso, recomendam-se algumas mudanças no estilo de vida dos pacientes, como a
adequação da ingestão de fibras através da dieta, orientação quanto ao malefício do uso
excessivo de laxantes e o aumento da atividade física, quando possível, deve ser
estimulado, bem como orientação da prática de hábitos regulares de toalete(10, 26). Além
disso, pacientes com doença avançada, onde a desidratação e outros distúrbios podem
somar-se e limitar a eliminação do conteúdo intestinal, requerem especial atenção.
Para pacientes com doença avançada, o tratamento deve apoiar-se na prevenção,
através da educação nutricional e o incentivo ao consumo diário inicial mínimo de
17
fibras de 10 gramas. O cozimento dos alimentos pode promover quebra das reações que
aumentam o conteúdo de fibra dos alimentos devido à perda de água deste durante o
processo de cocção, o que torna a fibra dietética mais biodisponível(30).
Farelo de cereais, tais como os de arroz, de aveia, de trigo e de milho fornecem
proteínas, calorias, vitaminas e minerais e fibras; são de baixo custo e de fácil obtenção.
Seu consumo, no entanto, limita-se, especialmente pela falta de hábito alimentar e a
não-preocupação com os padrões higiênicos ideais para a obtenção do farelo(27).
O farelo de aveia, obtido da moagem do grãos de aveia, é constituído por cerca
de 1,2% de fibra bruta; 9,7% de fibra alimentar total, sendo que desta, 3,5% são fibras
solúveis e 6,2% são fibras insolúveis(27). Quando comparada a outros cereais, a
concentração de fibra solúvel na aveia é relativamente maior, sendo composta
principalmente pelos β-glucanos(27).
O farelo de trigo representa o principal subproduto da moagem do trigo,
constituindo-se de uma mistura heterogênea dos fragmentos dos grãos originada da
camada hialina-alerona da semente. As proteínas de melhor valor biológico, os minerais
e vitaminas estão concentrados em maior proporção no farelo, que se torna uma fonte
rica desses nutrientes. No entanto, seu valor nutritivo depende de sua biodisponibilidade
e digestibilidade(27).
O teor de fibra alimentar total presente no farelo de trigo é cerca de 47,31%,
sendo que 86% desse total constitui-se de fibra insolúvel e 14% de fibra solúvel. Dessa
forma, o farelo tem como principal efeito fisiológico o aumento no peso e no volume
fecal, uma vez que a maior parte das fibras insolúveis não se degrada no cólon e pode
reter água dentro de uma matriz, aumentado o peso fecal úmido de 3 a 6 g/g de fibra
ingerida na dieta, facilitando a evacuação(27).
4.3.1. Água
A água é essencial aos processos fisiológicos de digestão, absorção e excreção
de resíduos metabólicos e não digeríveis. Portanto, o tratamento da constipação
intestinal consiste no consumo de fibras e de líquidos adequados(20).
Os benefícios gastrointestinais reconhecidos pelo uso da fibra dietética não são
efetivos sem que haja um consumo adequado de líquidos, uma vez que estes são
importantes para lubrificar e aumentar o processo de mistura das fezes.
A quantidade de água ingerida por dia deve ser aproximadamente equivalente à
quantidade de água perdida(10). O conteúdo de água do peso corpóreo sem gordura
18
permanece regularmente constante pelo controle homeostático resultante das interações
entre hormônio antidiurético (ADH), trato gastrointestinal, rins e cérebro. A perda de
água, ou seja, a excreção hídrica ocorre normalmente através dos rins, pela urina, que
constituem as perdas sensíveis ou água mensurável. Pelas fezes, ar expirado dos
pulmões e suor evaporado pela pele, ocorrem as perdas insensíveis(20).
Considera-se a quantidade total de água a combinação do consumo de água
isolada e da água contida em bebidas e alimentos. A água proveniente de líquidos (água
e bebidas) corresponde a 81% do total de ingestão de água (cerca de 2-3 l/dia) e 19% se
referem à água dos alimentos (cerca de 700 ml/dia), considerando o consumo de
adultos. Portanto, a recomendação de ingestão adequada de água total é de 3,7 litros
para homens e 2,7 litros para mulheres por dia, para a faixa etária de 19-70 anos. Para
indivíduos que realizam atividade física ou que ficam expostos a altas temperaturas, é
necessário aumentar a quantidade de água total recomendada(39).
O consumo de água em excesso é facilmente excretado, por isso não há uma
recomendação de nível de ingestão máxima diária. No entanto, a toxicidade aguda de
água tem sido descrita na literatura quando o consumo rápido e em larga escala de
líquido excede a taxa excreção máxima dos rins, equivalente a cerca de 0,7 a1,0
litro/hora, para adultos(39).
O requerimento basal de água para o adulto depende da superfície corporal,
quantidade de massa celular, idade e sexo. Em média, um adulto de 20 a 55 anos
necessita de 35ml de água por quilograma de peso corpóreo(38). Se o consumo for
abaixo do necessário, efeitos adversos advindos do alto consumo de fibras poderão ser
observados tais como a produção excessiva de flatos e até mesmo obstrução em
qualquer parte do tubo digestivo, mas principalmente nos intestinos(26).
Na presença de sintomas como plenitude gástrica com conseqüente dificuldade
de adequada ingestão de alimentos e de água recomenda-se a oferta líquida em forma de
gelatinas, preparações líquidas com altos valores nutricionais bem como evitar a oferta
de líquidos pouco nutritivos além administração de líquidos aquecidos meia hora antes
do paciente evacuar(26, 23).
19
4.3.2. Probióticos, Prebióticos e Simbióticos
Probióticos
são
microrganismos
vivos,
administrados
em
quantidades
adequadas, que conferem benefícios à saúde do hospedeiro(9). O alívio da constipação,
através do seu consumo é um importante benefício do seu consumo, dentre vários
outros como o controle da microbiota intestinal; estabilização da microbiota intestinal
após o uso de antibióticos; promoção da resistência gastrintestinal à colonização por
patógenos; diminuição da população de patógenos através da produção de ácidos
acético e lático, de bacteriocinas e de outros compostos antimicrobianos; promoção da
digestão da lactose em indivíduos intolerantes à lactose; estimulação do sistema imune;
aumento da absorção de minerais e produção de vitaminas(25).
A influência benéfica dos probióticos sobre a microbiota intestinal humana
inclui fatores como efeitos antagônicos, competição e efeitos imunológicos, resultando
em um aumento da resistência contra patógenos. Assim, a utilização de culturas
bacterianas probióticas estimula a multiplicação de bactérias benéficas, em detrimento à
proliferação de bactérias potencialmente prejudiciais, reforçando os mecanismos
naturais de defesa do hospedeiro(25).
Prebióticos
são
componentes
alimentares
não
digeríveis
que
afetam
beneficamente o hospedeiro, por estimularem seletivamente a proliferação ou atividade
de populações de bactérias desejáveis no cólon. Os prebióticos identificados atualmente
são carboidratos não-digeríveis, incluindo a lactulose, a inulina e diversos
oligossacarídeos que fornecem carboidratos que as bactérias benéficas do cólon são
capazes de fermentar. Os prebióticos avaliados em humanos constituem-se dos frutanos
e dos galactanos. A inulina e a oligofrutose são considerados ingredientes funcionais,
uma vez que exercem influência sobre processos fisiológicos e bioquímicos no
organismo, resultando em melhoria da saúde e em redução no risco de aparecimento de
diversas doenças(25).
Os prebióticos estão presentes na chicória, alho-poró, alho, bananas, cebola,
tomate, beterraba, aspargos, alcachofra, centeio, aveia, trigo, mel, açúcar mascavo,
dentre outros(25).
O prebiótico pode inibir a multiplicação de patógenos, garantindo benefícios
adicionais à saúde do hospedeiro. Esses componentes atuam mais freqüentemente no
intestino grosso, embora eles possam ter também algum impacto sobre os
microrganismos do intestino delgado(25).
20
Um produto referido como simbiótico é aquele no qual um probiótico e um
prebiótico estão combinados. A interação entre o probiótico e o prebiótico in vivo pode
ser favorecida por uma adaptação do probiótico ao substrato prebiótico anterior ao
consumo. Isto pode, em alguns casos, resultar em uma vantagem competitiva para o
probiótico, se ele for consumido juntamente com o prebiótico. Alternativamente, esse
efeito simbiótico pode ser direcionado às diferentes regiões “alvo” do trato
gastrintestinal, os intestinos delgado e grosso. O consumo de probióticos e de
prebióticos selecionados apropriadamente pode aumentar os efeitos benéficos de cada
um deles, uma vez que o estímulo de cepas probióticas conhecidas leva à escolha dos
pares simbióticos substrato-microrganismo ideais(25).
Bifidobactérias fermentam seletivamente os frutanos, preferencialmente a outras
fontes de carboidratos, como o amido, a pectina ou a polidextrose. Bactérias
pertencentes aos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium e, em menor escala,
Enterococcus faecium, são mais freqüentemente empregadas como suplementos
probióticos para alimentos, uma vez que elas têm sido isoladas de todas as porções do
trato gastrintestinal do humano saudável. O íleo terminal e o cólon parecem ser,
respectivamente, o local de preferência para colonização intestinal dos lactobacilos e
bifidobactérias(25).
Para garantir um efeito contínuo, tanto os probióticos quanto os prebióticos
devem ser ingeridos diariamente. Alterações favoráveis na composição da microbiota
intestinal foram observadas com doses de 100 g de produto alimentício contendo 109
unidades formadoras de colônias (ufc) de microrganismos probióticos (107 ufc/g de
produto) e com doses de 5 a 20 g de inulina e/ou oligofrutose, geralmente com a
administração durante o período de 15 dias. Assim sendo, para serem de importância
fisiológica ao consumidor, os probióticos devem alcançar populações acima de 106 a
107 ufc/g ou mL de bioproduto. Para garantirem o estímulo da multiplicação de
bifidobactérias no cólon, doses diárias de 4 a 5 g de inulina e/ou oligofrutose são
eficientes(25).
A seleção de bactérias probióticas tem como base os seguintes critérios
preferenciais: o gênero ao qual pertence a bactéria ser de origem humana, a estabilidade
frente a ácido e a bile, a capacidade de aderir à mucosa intestinal e de colonizar, ao
menos temporariamente, o trato gastrintestinal humano, a capacidade de produzir
compostos antimicrobianos e ser metabolicamente ativo no intestino. Outros critérios
21
fundamentais são: a segurança para uso humano, o histórico de não patogenicidade e
não estarem associadas a outras doenças, tais como endocardite, além da ausência de
genes determinantes da resistência aos antibióticos(25).
4.3.3. Outros
A utilização de agentes laxativos naturais também pode fazer parte do
tratamento de escolha, como a lactulose, que embora sendo um dissacarídeo sintético,
formado por frutose e galactose, promove um efeito laxativo uma vez que não é
metabolizada ou absorvida pelo organismo(3). Outro exemplo é o isomaltooligossacarídeo, um amido resistente à digestão humana. Um estudo onde pacientes do
sexo masculino receberam suplementação diária com 10 gramas durante 30 dias
observou melhoras na freqüência da evacuação, além do aumento da produção de ácidos
graxos de cadeia curta e da absorção intestinal de cálcio e fósforo(26).
A utilização de laxativos e/ou o aumento da ingestão de fibras por um período
superior a uma semana em pacientes com constipação crônica analisada em estudos
mostrou que os laxativos e as fibras melhoraram a freqüência de evacuação, a
consistência das fezes e diminuíram os relatos de dor abdominal(21). Outro estudo
realizado com pacientes crônicos que receberam um acréscimo de 30g de fibra
vegetal/dia por um período de um ano, observou aumento da freqüência das evacuações
na semana (21)
A suplementação de L-arginina constitui-se também em uma outra alternativa
para o tratamento da constipação. A L-arginina promove o atraso no trânsito intestinal
produzido pela morfina, podendo ser um efeito causado pelo aumento da liberação de
óxido nítrico, que tem sido identificado como neuro-modulador intestinal. No entanto,
seu uso deve vir sempre acompanhado de suplementações de vitaminas antioxidantes,
como as C, A e E, uma vez que o óxido nítrico é um radical livre que causa efeitos
deletérios ao organismo, podendo resultar em complicações indesejáveis como
toxicidades cardíaca, renal, pulmonar, entre outras(26).
22
4.4. Tratamento medicamentoso
A constipação pode e deve ser controlada inicialmente com o tratamento dos
fatores desencadeantes, agravantes e/ou perpetuantes. A associação de laxativos orais e
retais deve ser considerada e, em muitos casos, apresenta-se muito útil e necessária(21).
Os laxativos podem ser classificados de acordo com o mecanismo geral de ação
em agentes formadores de massa, agentes lubrificantes ou emolientes, agentes
osmóticos ou salinos e agentes estimulantes ou de contato(12, 21, 28).
Os agentes formadores de massa (psylium ou plantago, farelo, goma,
metilcelulose) absorvem a água, aumentam o volume fecal e amolecem as fezes e
distendem o cólon, aumentando a motilidade peristáltica. Podem levar alguns dias para
fazer efeito. Na fase inicial do seu uso pode ocorrer flatulência, distensão abdominal e
dor abdominal. Podem ser associados a outros esquemas laxativos. Exemplos desses
agentes são Fibrapur, Trifibra Mix, Metamucil(8, 21).
Os agentes lubrificantes ou emolientes, como os óleos minerais, não são
quimicamente ativos no organismo, porém possuem ação lubrificante tanto da parede
intestinal quanto do bolo fecal, facilitando sua passagem pela luz colônica. Seu uso
constante pode comprometer a absorção de vitaminas lipossolúveis(8, 21).
Os agentes osmóticos ou salinos (lactulose, sorbitol, sais de sódio e magnésio)
são fracamente absorvidos e aumentam o volume dos fluidos dos intestino delgado e
grosso, resultando no aumento da motilidade peristáltica. Liquefazem as fezes, dada a
presença de partículas osmoticamente ativas que atraem líquidos para a luz intestinal,
diminuindo, assim, o tempo de trânsito do conteúdo fecal. A lactulose (Lactulona), um
açúcar não absorvível, passa inalterada para o cólon, é degradada pelas bactérias em
ácidos láctico e acético, que aumentam osmoticamente o volume do fluido e reduzem o
pH. O Mg++ também estimula a síntese de colecistocinina e, em conseqüência, a
motilidade do cólon e a secreção de líquidos para o lúmen. São contra-indicados para
pacientes com insuficiência renal e com insuficiência cardíaca congestiva(8, 12, 28).
Os agentes estimulantes ou de contato estimulam o plexo mioentérico e
diminuem a absorção de água do conteúdo intraluminal, aumentando, assim, o
peristaltismo intestinal e a secreção de água pelo íleo e cólon. Podem comprometer as
terminações nervosas intestinais e provocar dependência se usados por período
prolongado, o que não impede seu uso em pacientes oncológicos, desde que feito com
critério. Atuam em poucas horas. Exemplos de laxantes desse grupo são:
23
- Cáscara sagrada (Solvobil, Naturetti, Tamarine, Tamaril): estimula o sistema
neuroentérico e altera o equilíbrio hídrico da parede intestinal para promover a
motilidade propulsiva.
- Sene (Agiolax, Laxtan, Naturetti, Tamaril, Tamarine).
O uso prolongado destes laxativos pode levar ao desenvolvimento de um “cólon
catártico” com redução da motilidade propagativa, dilatação e exacerbação de uma
doença de base; pode danificar o sistema nervoso entérico ou provocar um desequilíbrio
eletrolítico(12, 21).
Os laxativos retais incluem os supositórios como os de glicerina e os enemas
(solução de fosfato de sódio) e agem por estimulação mecânica do reto. Os supositórios
de glicerina amolecem e lubrificam as fezes e induzem sua eliminação em
aproximadamente 30 minutos. Os enemas iduzem o funcionamento intestinal em cerca
de 5 minutos, provocando o aumento do volume e do teor de água das fezes(12, 21).
24
5. Conclusão
Na promoção da qualidade de vida de pacientes oncológicos, a dietoterapia ou
terapêutica nutricional exerce papel fundamental. O plano dietoterápico desses pacientes
deve ser o mais individualizado possível, compatível com seu estado fisiológico atual e
deve promover o efeito laxativo desejado. O controle da constipação é, em grande parte,
determinado por uma intervenção nutricional adequada, que pode levar a uma
minimização do distúrbio, sem a necessidade de procedimentos invasivos e que geram
desconfortos. Dessa forma, a oferta de fibras, nutrientes e a ingestão hídrica devem
ocorrer de acordo com a capacidade de aceitação do paciente, evitando-se a ocorrência
de plenitude gástrica e outros incômodos físicos e psicológicos. A dieta visa, então,
aumentar o teor de fibras alimentares da dieta do paciente, bem como promover sua
adequada hidratação e, sendo necessário, o uso de laxantes, prescrito por médicos, pode
contribuir positivamente para melhora do quadro.
As principais medidas dietoterápicas recomendadas são:
- Fracionamento da dieta em, no mínimo, seis refeições diárias, de acordo com a
aceitação alimentar do paciente;
- Estímulo do consumo de líquidos de 1,5 a 2.0 litros por dia, dependendo da
presença de edemas. Preparações que contenham molhos, sopas, caldos, sucos e
alimentos com maior teor hídrico podem facilitar o consumo do total recomendado.
- Oferta de alimentos fonte de fibras solúveis e, especialmente insolúveis, com
maior efeito laxativo como verduras folhosas e vegetais em geral. Sendo possível, o
consumo desses alimentos crus deve ser incentivado. Frutas com casco ou bagaço e de
maior poder laxativo como laranja, mamão, ameixa seca também devem compor a dieta.
A adoção de um protocolo para tratamento da obstipação, baseado nas
recomendações nutricionais e apoiada pelo cuidadoso uso de agentes laxativos pode
trazer grandes benefícios e melhora da qualidade de vida para o paciente.
25
6. Referências Bibliográficas
1. Boström B, Hinic H, Lundberg D, Fridlund B. Pain and health-related quality of life
among cancer patients in final stage of life: a comparison between two palliative care
teams. J Nurs Manag 2003;11:189-196.
2. Caetano, S. et al. Constipação intestinal em mulheres na pós-menopausa. Rev. Assoc.
Med. Bras, 2005. 51(6)
3. Cameron, CJ. Constipation related to narcotic therapy. Cancer Nurs, 1992. 15(5):
372-377.
4. Câncer Information Service. Constipation, impaction and bowel obstruction
supportive
care
–
health
professionals.
Available
from:
http://www.cancernet.nci.nih.gov/sgibin/srch.
5. Corrêa, PH; Shibuya, E. Administração da terapia nutricional em cuidados paliativos.
Rev Bras Cancerologia 2007. 53(3):317-323.
6. Cunha, ES. Ingestão de fibras alimentares em mulheres com constipação intestinal.
Arq Gstroenterol, 1992. 29(4): 137-141.
7. Daeninck PJ,; Bruera E. Reduction in constipation and laxative requirements
following opioid rotation to methadone: a report of four cases. J Pain Symptom Manage
1999. 12(4): 303-309.
8. Danni F; Wannmacher L; Ferreira MB.
Guanabara-Koogan 3ed., 2004.
Farmacologia clínica. Fuchs, C. Ed
9. Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization.
Evaluation of health and nutritional properties of probiotics in food including powder milk with
live
lactic
acid
bacteria.
Córdoba,
2001.
34p.
Disponível
em:
<ftp://ftp.fao.org/es/esn/food/probioreport_en.pdf>. Acesso em: jan 2005.
10. Fukuda, CL. Constipação intestinal relacionada à terapia analgésica em doentes
oncológicos. 1999. Dissertação (Mestrado) – escola de Enfermagem da USP. São Paulo,
1999.
11. Gorman MA; Bowman C. Position of the american dietetic association: health
implications of dietary fiber. J Am Diet Assoc 1993, 93(12):1446-1447.
12. Grahame-Smith, D.G.; Aronson, J.K. Farmacologia Clínica e Farmacoterapia. Rio
de Janeiro:Guanabara-Koogan, 3ed, 2004.
13. Guyton, AC. Tratado de fisiologia médica. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 1997.
937p.
14. Instituto Nacional de Câncer (INCA). O câncer no Brasil. Citado em 05/01/2008.
Acesso em http://www.inca.gov.br
26
15. Kowalsk, LP; Nishimoto, IN. Epidemiologia do câncer. In: Nutrição em Oncologia.
Ikemori, Eloísa Hisami Aibara et alSão Paulo:Marina e Tecmedd, 2003. p.17-34.
16. Mancini I, Bruera E. Support Care Cancer. 1998 Jul;6(4):356-64.
17. Marlett JA, Slavin JL. Position of the american dietetic association: health
implications of dietary fiber. J Am Diet Assoc 1997, 97(10):1457-1459
18. Mattos, LL; Martins, IS. Consumo de fibras alimentares em população adulta. Rev.
Saúde Pública, 2000. 34(1).
19. McMillan, SC; Williams, FA. Validity and reliability of the constipation assessment
scale. Cancer Nurs 1989, 12(3): 183-188.
20. Mahan LK, Scott-Stump, SMA. Krause: Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 11ed.
São Paulo: Roca, 2005. 1179p.
21. Moraes, TM; Pimenta, CAM. Constipação intestinal em doentes com doença
oncológica avançada. Mundo da Saúde, 2003. 27(1): 118-122
22. Oliveira Junior, JO; Martins, IMSM. Dor oncológica. In: Nutrição em Oncologia.
Ikemori, Eloísa Hisami Aibara et alSão Paulo:Marina e Tecmedd, 2003. p.375-401.
23. Pacheco, MTB; Sgarbieri, VC. Alimentos Funcionais. Campinas:Instituto de
Tecnologia de Alimentos. 69p. Acesso em janeiro, 2008.
24. Rossi, BM; Ishihara, CA. Tratamento clínico e nutricional do paciente fora de
possibilidades curativas. In: Nutrição em Oncologia. Ikemori, EHA et al. São
Paulo:Marina e Tecmedd, 2003. p.345-355.
25. Saad, SMI. Probióticos e prebióticos: o estado da arte. Rev. Bras. Cienc. Farm. 2006
42(1).
26. Santos, HS. Terapêutica nutricional para constipação intestinal em pacientes
oncológiocos com doença avançada em uso de opiáceos: revisão. Rev Bras
Cancerologia 2002, 48(2):263-269
27. Silva, MAM et al. Efeito das fibras dos farelos de trigo e aveia sobre o perfil
lipídico no sangue de ratos (Rattus norvegicus) Wistar. Ciênc Agrotec. Lavras, 2003.
27(6):1321-1329.
28. Schiller, LR. Clinical pharmacology and use of laxatives and lavage solutions. J
Clin Gastroenterol, 1999. 28(1): 11-18.
29. Silveira, FLR. Constipação intestinal: terapêutica repertorizada. Acesso em Janeiro
2008. Disponível em:http://www.abrah.org.br/
30 Slavin, JL. Dietary fiber: classification, chemical analyses and food sources. J Am
Diet Assoc 1987: 87(9):1164-1171.
27
31. Sobrado, CW. Constipação intestinal. Saúde e Nutrição. Série Danone. Agosto,
2007.
32. Takashi, N et al. Effect of dietary fiber on morphine-induced constipation in rats.
Biosc. Biotechnol. Biochem, 2002. 66(6):1233-1240.
33. Thebaudin, JY; et al. Dietary fibres: nutritional and technological interest. Trends in
Food Science & Technology, 1997. 8: 41-48.
34. Vanegas, V et al. Side effects of morphine administration in cancer patientes.
Cancer Nursing, 1998. 21:289-297
35. World Health Organization (WHO). Cancer (cited Jan 2008). Available from:
<http://www.who.int/cancer/>
36. World Health Organization (WHO). Cancer pain relief and palliative care. Gebebra,
1996 (11). Available from: <http://www.who.int/cancer/>
37. Waitzberg, DL. Nutrição Oral, Enteral e Parenteral na Prática Clínica 3ed. São
Paulo: Atheneu, p. 3-13, 2004.
38. Wilson, JAP. Constipation in the elderly. Clin Geratr Med 1999, 15(3):499-510.
39. Disponível em: http://www.nap.edu/books/0309091691/html. Acessado em janeiro
de 2005.
28