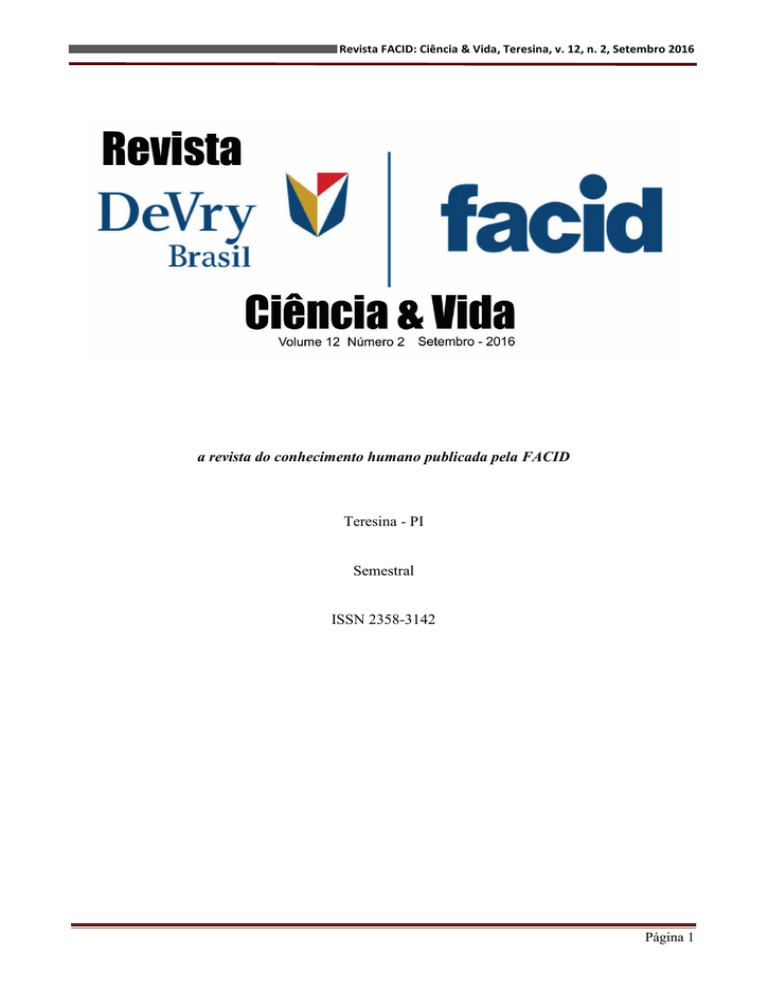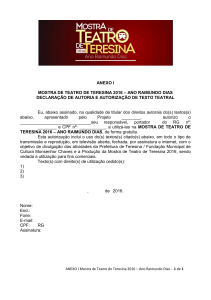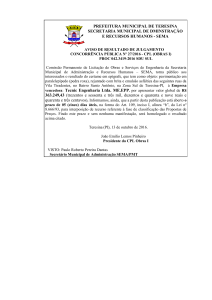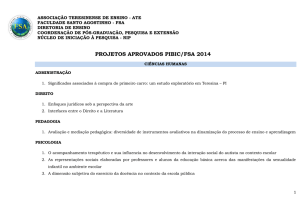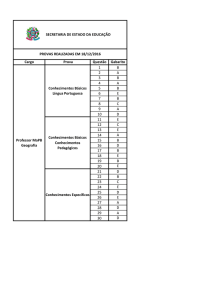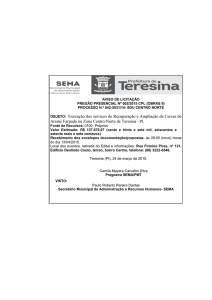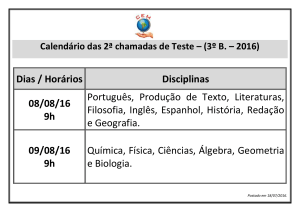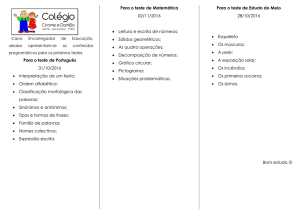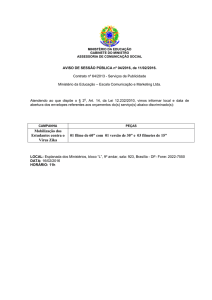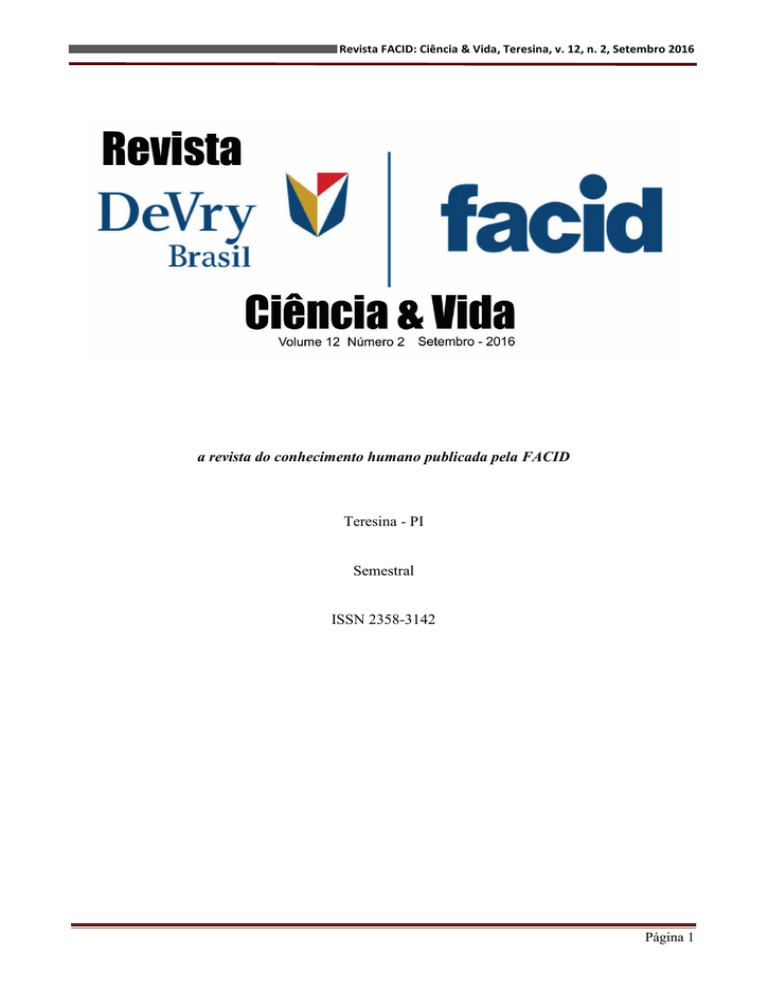
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
a revista do conhecimento humano publicada pela FACID
Teresina - PI
Semestral
ISSN 2358-3142
Página 1
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Página 2
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
a revista do conhecimento humano publicada pela FACID
Teresina-PI
As opiniões e artigos expressos aqui são de inteira
responsabilidade dos autores.
Periodicidade Semestral
Rua Veterinário Bugyja Brito, 1354 - Horto Florestal
CEP: 64052-410 • Teresina (PI) • Brasil
Fone: (086) 3216-7900 / 3216-7901
www.facid.edu.br
Página 3
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Revista Facid
http://www.facid.edu.br
[email protected]
Editor - responsável
Maria Helena Chaib Gomes Stegun
Projeto Gráfico
Castino Martins da Silveira e Luiz Carlos dos Santos Júnior
Revisão
Antonia Osima Lopes, Maria Helena Chaib Gomes Stegun, Maria Rosilândia Lopes de Amorim.
Jornalista Responsável
Marcos Sávio Sabino de Farias - MTB 1005
Impressão
Gráfica
Capa
Amanda Paiva e Silva Martins
Catulo Coelho dos Santos
George Mendes Ribeiro Sousa
Juciara Freitas Ribeiro
(Egressos do Curso de Publicidade e Propaganda da FACID)
Revista Facid: Ciência & Vida / Faculdade Integral Diferencial.
V. 12, N. 2, 2016 / Teresina: DeVry / FACID, 2016.
Semestral
ISSN 2358-3142
1. Pesquisa científica. 2. Desenvolvimento científico.
CDD 509
CDU 001.891
Página 4
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
a revista do conhecimento humano publicada pela FACID
Teresina-PI
FACID - Faculdade Integral Diferencial
Integral - Grupo de Ensino Superior do Piauí S/C Ltda.
Maria Josecí Lima Cavalcante Vale
Diretora Geral
Nivea Maria Ribeiro Rocha da Cunha
Coordenadora Geral Acadêmica
Maria Helena Chaib Gomes Stegun
Coordenadora de Pesquisa e Pós-Graduação
Conselho Editorial da Revista
Antonia Osima Lopes
Maria Helena Chaib Gomes Stegun
Hilris Rocha e Silva
Isabel Cristina Cavalcante Moreira
Maria do Carmo Bandeira Marinho
Maria Josecí Lima Cavalcante Vale
Nivea Maria Ribeiro Rocha da Cunha
Thais Barbosa Reis
Valéria de Deus Leopoldino de Arêa Leão
Bibliotecária
Marijane Martins Gramosa Vilarinho - CRB/3 – 1059
Página 5
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Página 6
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
EDITORIAL
Página 7
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Página 8
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
EDITORIAL
A Revista FACID Ciência & Vida chega ao seu décimo segundo número em 2016. Em seu
início, maio de 2005, a Revista era anual e impressa e em 2011, passou a ser semestral, hoje, além de
ser semestral, é online, facilitando o acesso ao seu conteúdo.
Parece simples ao relatar esta história, mas graças ao comprometimento de nossos
colaboradores ela continua como instrumento de socialização das pesquisas de nossos professores e
alunos, além de pesquisadores externos, evidenciando a contribuição científica nas soluções dos
problemas apresentados em cada área.
Nesta Edição, a Revista FACID Ciência & Vida traz doze artigos. Estes artigos, em sua maioria,
decorrem de pesquisas realizadas por professores e alunos da DeVry FACID do Programa de
Iniciação Científica e Tecnológica (PICT) e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), avaliados
previamente no processo de submissão à publicação.
Os textos apresentados expressam estudos sobre problemas locais e discutem temas relevantes
e atuais, que nos auxiliam a pensar sobre os desafios contemporâneos. Dessa forma, a DeVry FACID
fortalece cada vez mais a pesquisa e cumpre o papel social de comunicar e disseminar a pesquisa.
Esperamos que essa publicação promova uma maior visibilidade à produção acadêmica local,
concorrendo para que ela seja socializada de forma ampla, não só em nossa cidade, mas no Brasil e
no mundo.
Boa leitura!
Maria Josecí Lima Cavalcante Vale
Diretora Geral DeVry Facid
Página 9
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Página 10
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
SUMÁRIO
Página 11
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Página 12
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
SUMÁRIO
ARTIGOS
INCIDÊNCIA DE ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO EM
PROFISSIONAIS DE UM SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA
Fernanda de Moraes Ribeiro; Isabel Cristina Cavalcante Carvalho Moreira .....................
17
CONHECIMENTO DE ENFERMEIROS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA ACERCA DA VACINAÇÃO INFANTIL
Raquel Gomes Gonzalez; Amália de Carvalho Oliveira ...................................................
28
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL EM CAPITAIS
DA REGIÃO MEIO-NORTE DO BRASIL
Nataniel Sousa Santos Filho; Augusto César Evelin Rodrigues .........................................
36
PROCESSO DE CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE DESINFECÇÃO DE
TUBETES ANESTÉSICOS
Diego Dantas Lopes Santos; Sâmmea Martins Vieira , Márcia Socorro da Costa Borba..
47
PREVALÊNCIA DE QUEILITE ACTÍNICA EM OPERÁRIOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL EM TERESINA-PI
Nathália de Maria Torres e Barros, Neiva Sedenho de Carvalho ......................................
56
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS HISTOMORFOMÉTRICOS DE FOLÍCULOS
PRÉ-ANTRAIS DE OVÁRIOS DE RATAS EXPOSTAS À FUMAÇA DE
CIGARRO
Jadson Lener Oliveira dos Santos; Karinne Sousa de Araújo ...........................................
71
RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO-DENTISTA
Rafaela Dias e Silva; Márcia Socorro da Costa Borba ......................................................
78
INCIDÊNCIA E FATORES RELACIONADOS AO CÂNCER COLORRETAL
OBSTRUTIVO EM UM SERVIÇO MÉDICO PRIVADO DE TERESINA-PI
Érica Patrícia Sousa Reis Meneses, Norma Maria de Cássia Lima Sarmento Veloso
Martins, Walysson Toncantins Alves de Sousa ................................................................
86
EXPERIÊNCIA DE MULHERES NO PUERPÉRIO SOBRE O PARTO
NORMAL EM MATERNIDADES MUNICIPAIS DE TERESINA-PI
Iziane Bispo de Sousa Leal, Maria de Jesus Lopes Mousinho Neiva ...............................
94
PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES SOROPOSITIVOS
PARA HIV EM TERESINA-PI
Marina Aguiar Barreto Maia , Jonas Moura de Araújo ......................................................
104
Página 13
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
RELAÇÃO ENTRE A DEFICIÊNCIA, INSUFICIÊNCIA E NÍVEIS NORMAIS
DE VITAMINA D E RESISTÊNCIA INSULÍNICA EM PACIENTES DE UM
CENTRO MÉDICO DE TERESINA-PI
Manoel Ítalo Pinheiro Néri , Jonas Moura de Araújo ........................................................
114
COMPOSIÇÃO CORPORAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATRAVÉS
DE BIOIMPEDÂNCIA ELÉTRICA TETRAPOLAR
Aldinês de Sousa Almeida , Jonas Moura de Araújo ..........................................................
126
NORMAS EDITORIAIS ................................................................................................
139
Página 14
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
ARTIGOS
Página 15
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Página 16
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
INCIDÊNCIA DE ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO EM PROFISSIONAIS DE
UM SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA
ACCIDENT INCIDENCE WITH BIOLOGICAL MATERIAL FOR
PROFESSIONALS OF AN EMERGENCY MEDICAL SERVICE
Fernanda de Moraes Ribeiro1,
Isabel Cristina Cavalcante Carvalho Moreira2
RESUMO
O ambiente de trabalho na área da saúde oferece muitos riscos aos profissionais de saúde, com
destaque ao risco biológico. A exposição a material biológico pode favorecer a aquisição de
microrganismos potencialmente infectantes presentes no sangue ou outros fluídos orgânicos. Nesse
contexto, o serviço de urgência se destaca por oferecer um ambiente vulnerável a riscos ocupacionais
O estudo objetivou verificar a incidência de acidentes com material biológico em profissionais que
atuam no serviço de atendimento médico de urgência. Tratou-se de um estudo descritivo de caráter
retrospectivo, com abordagem quantitativa, realizado em um Hospital de Urgência de Teresina-PI. A
amostra foi constituída de 55 Fichas de Notificação de Acidente de Trabalho registradas entre janeiro
e dezembro de 2014, disponibilizadas junto ao SESMT e o SINAN. Os dados foram organizados em
planilhas do Excel e agrupados na forma de gráficos e tabelas. A maioria das exposições ocupacionais
acometeu os profissionais técnicos de enfermagem (56,4%), gênero feminino (78,2%), na faixa etária
de 20-40 anos (78,2%), com ensino superior completo (50,9%) e vacinados (49,1%). O período do
dia em que os acidentes ocorreram foi pela manhã (52,7%). Em 74,5% dos casos o acidente foi
percutâneo, tendo o sangue como material envolvido em 45,5% destes. A agulha com lúmen foi
responsável por 27,3% dos acidentes, em circunstância do descarte inadequado de material
perfurocortante (20%) e durante a realização de procedimentos laboratoriais (20%). Espera-se que os
resultados deste estudo contribuam para que os trabalhadores em saúde possam refletir sobre formas
seguras para o desempenho de suas atividades.
Palavras chave: Incidência. Material Biológico. Profissional.
ABSTRACT
The working environment in healthcare offers many risks to health professionals, with emphasis on
biological risk Exposure to biological material may favor the acquisition of potentially infectious
microorganisms present in blood or other body fluids. In this context, the emergency department
distinguishes itself by offering a vulnerable environment to occupational hazards The study aimed to
determine the incidence of accidents with biological material for professionals working in emergency
medical service. This was a descriptive study of retrospective with a quantitative approach, performed
in an Emergency Hospital in Teresina-PI. The sample consisted of 55 sheets Work Accident
Notification registered between January and December 2014 provided by the SESMT and SINAN.
__________________
¹ Aluna do Curso de Medicina da Faculdade Integral Diferencial (FACID/DeVry).
Email: [email protected]
2 Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí. Professora do Curso de Medicina da Faculdade Integral
Diferencial (FACID/DeVry)
Email: [email protected]
Página 17
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Data were organized in Excel spreadsheets and grouped in the form of graphs and tables. Most
occupational exposures befell the technical nursing professionals (56.4%), female (78.2%), aged 2040 years (78.2%), university graduates (50.9 %) vaccinated (49.1%). The day of the period in which
the accident occurred was the morning (52.7%). In 74.5% of the cases the accident was percutaneous
taking blood as a material involved in 45.5% thereof. The needle lumen accounted for 27.3% of
accidents in case of improper disposal of sharps (20%) and while conducting laboratory procedures
(20%). It is expected that the results of this study have contributed to enable workers to reflect on
safe ways to carry out their activities.
Key words: Incidence. Biological material. Professional.
1 INTRODUÇÃO
O exercício profissional expõe os trabalhadores a riscos que podem acarretar vários tipos de
acidentes e doenças. Sendo assim trabalhadores da saúde não fogem à regra estando também expostos
a estes riscos ocupacionais (CANALLI, 2012). O ambiente de trabalho na área da saúde oferece
muitos riscos aos profissionais que nele atuam, com destaque ao risco biológico, considerado o
principal gerador de insalubridade a esses trabalhadores (FACCHIN, 2009).
A exposição a material biológico, seja ela por contato com fluidos corporais ou por lesões
causadas por instrumento perfurocortante durante o cuidado direto ou indireto de pacientes, pode
favorecer a aquisição de microrganismos potencialmente infectantes presentes no sangue ou outros
fluídos orgânicos (CDC, 2011). Segundo Valim e Marziale (2012), merece atenção devido aos sérios
problemas que causam, não apenas ao indivíduo exposto ao risco, mas para a família, a comunidade
e o Estado.
Nesse contexto, o acidente ocupacional com material biológico, deve ser tratado como
emergência médica, uma vez que para obter uma maior eficácia, as intervenções profiláticas devem
ser iniciadas logo após o acidente (BRASIL, 2010).
Dentre os setores mais insalubres ao trabalhador da saúde, o serviço de urgência se destaca
por oferecer um ambiente vulnerável a riscos ocupacionais e consequentes acidentes de trabalho,
afirmam Miranda e Stancato (2008). Acidentes são mais frequentes em ambientes com maior número
de pacientes, condições físicas precárias, escassez de recursos humanos e materiais, pois geram
grande sobrecarga e consequentemente maior número de acidentes (MEDEIROS, 2010).
O presente estudo teve como problema de pesquisa a incidência de acidentes com material
biológico em profissionais que atuam no serviço de atendimento médico de urgência. Como
hipóteses, verificou: se ocorria uma alta incidência de acidentes com material biológico envolvendo
profissionais que atuam no serviço médico de urgência; se os acidentes com material biológico
envolvendo profissionais que atuam no serviço de urgência se relacionavam ao uso inadequado e não
adesão de medidas de proteção e a sobrecarga de trabalho; e se, entre os profissionais envolvidos nos
acidentes com material biológico, estava o enfermeiro, o técnico de enfermagem, os estudantes da
área da saúde, o médico e o profissional da limpeza.
O estudo objetivou investigar a incidência de acidentes com material biológico em
profissionais que atuavam em um serviço de atendimento médico de urgência em Teresina-PI.
Também se propôs a identificar as situações de risco envolvidas nos acidentes com material biológico,
verificar qual a categoria profissional envolvida nos acidentes com material biológico no serviço de
urgência, detectar qual o tipo de exposição envolvendo material biológico, estabelecer o agente
causador da lesão, como também identificar qual a situação vacinal do profissional no momento do
acidente.
Página 18
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
2 METODOLOGIA
O projeto da pesquisa foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade Integral Diferencial (FACID/DeVry) sendo aprovado sob o Protocolo nº 985.113. A
execução da pesquisa ocorreu de acordo com os princípios éticos da Resolução nº 466/2012 do
Conselho Nacional de Saúde (CNS) e normas complementares. Os dados foram coletados após a
assinatura do Termo de Compromisso para Uso de Dados (TCUD).
Foi realizado um estudo descritivo de caráter retrospectivo, com abordagem quantitativa,
mediante análise documental, realizada em um Hospital de referência no serviço de urgência da
cidade de Teresina-PI. Utilizou-se uma amostra de 55 Fichas de Notificação de Acidente de Trabalho
(FINAT), correspondentes a todas as notificações registradas entre janeiro e dezembro de 2014,
disponibilizadas junto ao Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e o
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
A coleta de dados ocorreu no período de maio a julho de 2015 utilizando um formulário
semiestruturado contendo as seguintes variáveis de interesse: sexo, faixa etária, escolaridade,
ocupação, hora e local do acidente, situação vacinal, tipo de exposição, material orgânico, agente
causador, circunstância do acidente.
Após a coleta, os dados foram organizados para análise estatística em uma planilha
eletrônica no programa Microsoft Office Excel 2010 e, posteriormente, submetidos a análise e
distribuição de frequência simples e percentual por meio de técnicas de estatística básica, com
subsequente confecção de gráficos e tabelas.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No período de janeiro a dezembro de 2014 foram notificados e registrados no SINAN e
SESMT do Hospital estudado 55 acidentes com material biológico envolvendo diferentes
profissionais que nele trabalham. O Gráfico 1 apresenta a distribuição, segundo o gênero, dos
profissionais vítimas de acidentes envolvendo material biológico.
Gráfico 1 - Características, segundo o gênero, dos profissionais de um serviço de
urgência e emergência vítimas de acidentes com material biológico, Teresina-PI, 2015
Feminíno
Masculino
21,8% (12)
78,2% (43)
Fonte: RIBEIRO (2015)
De acordo com o Gráfico 1, 78,2% dos acidentes ocorreram em mulheres e 21,8% em
homens. Os dados obtidos mostraram resultado compatível com o encontrado na literatura, com o
predomínio dos acidentes em mulheres. No Estado de São Paulo, entre 2007 e 2010, foram notificados
33.856 acidentes, dos quais 76,2% envolveram a categoria feminina (SÃO PAULO, 2011). Marziale
et al (2007), em um estudo realizado no Hospital Universitário de Brasília, dos 107 acidentes
registrados, 83,3% dos trabalhadores envolvidos eram do sexo feminino.
Este resultado pode refletir a composição dos profissionais desta instituição de saúde. A
predominância de trabalhadores do sexo feminino em hospitais é confirmada na literatura,
Página 19
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
principalmente, devido ao grande contingente de mulheres na equipe de enfermagem, exposta à
ocorrência de acidentes de trabalho com material biológico (MARZIALE, NISHIMURA,
FERREIRA, 2004; NISHIDE, BENATTI, ALEXANDRE, 2004).
Quanto à faixa etária a maioria dos profissionais tinha entre 20-40 anos no momento da
exposição, conforme exposto na Tabela 1.
Tabela 1 - Características, segundo a faixa etária, dos profissionais de um serviço
médico de urgência vítimas de acidentes com material biológico,Teresina-PI, 2015
VARIÁVEIS
N
%
20 a 40 anos
43
78,2%
41 a 60 anos
12
21,8%
Faixa etária
Legenda: n, frequência absoluta; %, frequência relativa.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
Os dados obtidos estão em consonância com a maioria encontrada na literatura com
predominância em adultos jovens. No estudo de Santos, Costa e Mascarenhas (2013), dos 268 casos
de exposição ocupacional com material biológico entre profissionais de saúde, notificados entre 2007
e 2011, na cidade de Teresina-PI, 40,3% ocorreram no grupo etário de 18 a 29 anos. A média de idade
dos profissionais de saúde acidentados foi de 33,3 anos, com uma mediana de 30 anos, no estudo
apresentado por Cassoli (2006). No Estado de São Paulo a maioria dos acidentados tinha entre 25 e
39 anos no momento da exposição (SÃO PAULO, 2011).
Ainda em concordância com os dados do estudo, Giancotti et. al (2014) verificaram que a
maior parte dos acidentes ocorreu entre trabalhadores de 20 a 30 anos (45,6%), seguidos por aqueles
de 31 a 40 anos (29,7%), resultado também semelhante ao encontrado por estudo realizado em um
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Ribeirão Preto-SP, onde 37,3% dos acidentes
acometeram profissionais na idade entre 20 e 29 anos (CHIODI et.al, 2010). Resultado parecido foi
apresentado pelo estudo realizado por Silva et. al (2009), em Campos dos Goytacazes-RJ, onde 69,4%
dos acidentados situavam-se na faixa etária dos 20 aos 40 anos.
O Gráfico 2 apresenta a distribuição, conforme o grau de escolaridade, dos profissionais de
saúde vítimas dos acidentes envolvendo material biológico.
Gráfico 2 - Características, segundo a escolaridade, dos profissionais de um serviço
médico de urgência vítimas de acidentes com material biológico, Teresina-PI, 2015
50,9%(28)
Ensino Superior completo
14,5%(8)
Ensino Superior incompleto
27,3%(15)
Ensino Médio completo
3,6%(2)
Ensino Médio incompleto
3,6%(2)
Ensino Fundamental completo
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Fonte: RIBEIRO (2015)
Página 20
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Em relação a variável escolaridade, o estudo aponta que 50,9% dos profissionais tinham
ensino superior completo. O resultado não é concordante com a maioria das pesquisas avaliadas.
Julio, Filardi e Marziale (2014) verificaram em estudo sobre acidentes de trabalho com material
biológico, desenvolvido em municípios de Minas Gerais, que de 460 acidentados 32,4% possuíam o
ensino médio completo, sendo os trabalhadores de nível superior responsáveis pela segunda maior
parcela de acidentados: 22,8%.
Para Medeiros (2010), avaliando os acidentes de trabalho nos profissionais de enfermagem
que atuam nas unidades de terapia e urgência, 55,8% dos acidentados afirmaram ter concluído o
ensino médio e 28,97% o superior completo.
O resultado deste trabalho, no que diz respeito ao grau de escolaridade dos profissionais,
deve estar relacionado ao fato da busca constante destes profissionais em concluírem uma graduação
com o intuito de assumirem cargos superiores em instituições hospitalares.
A distribuição da categoria profissional dos profissionais de saúde vítimas de acidentes com
material biológico consta na Tabela 2.
Tabela 2 - Características, segundo a categoria profissional, dos profissionais de um serviço
médico de urgência vítimas de acidentes com material biológico,Teresina-PI, 2015
VARIÁVEIS
N
%
Auxiliar de serviços gerais
7
12,7%
Técnico de Enfermagem
31
56,4%
Enfermeiro
7
12,7%
Estudante
7
12,7%
Médico
2
3,6%
Nutricionista
1
1,8%
Ocupação
Legenda: n, frequência absoluta; %, frequência relativa.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
Do total de exposições com material biológico, houve predomínio dos profissionais da
enfermagem abrangendo técnicos de enfermagem, com 56,4%, e enfermeiros, com 12,7%; os
auxiliares de enfermagem neste estudo não tiveram representação em número de acidentes, isso
possivelmente refletindo a migração de categorias profissionais (Tabela 2). Destaca-se que no Brasil,
os profissionais de enfermagem são divididos em três categorias: enfermeiros; técnicos; e auxiliares
de enfermagem. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, os técnicos de enfermagem são a
maioria entre esses profissionais (40,4%), seguidos pelos auxiliares de enfermagem (40,1%) e
enfermeiros (18,7%) (COFEN, 2011).
Resultados semelhantes foram evidenciados em outras pesquisas. Em estudo realizado por
Almeida et.al (2015), de 461 indivíduos da área da saúde que sofreram exposição a material biológico
potencialmente contaminado, a maioria acometeu os profissionais da enfermagem, com 47,3% de
registros.
De acordo com Santos, Costa e Mascarenhas (2013) as exposições foram mais frequentes
entre auxiliares e técnicos de enfermagem com 67,2% dos casos, em menor proporção, identificaramse casos em enfermeiros (7,5%), trabalhadores da limpeza (6,7%), auxiliares e técnicos de laboratório
(3,4%) e médicos (3,4%). A predominância em profissionais de enfermagem ocorre, segundo Lima,
Oliveira e Rodrigues (2011), pelo maior tempo de contato desses profissionais com os pacientes e a
realização de maior número de procedimentos invasivos.
A distribuição quanto ao turno, o tipo de exposição e o material orgânico envolvido nos
acidentes consta na Tabela 3.
Página 21
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Tabela 3 - Características, segundo a circunstância do acidente e o agente causador, dos
acidentes com material biológico em profissionais de um serviço médico de urgência,
Teresina-PI, 2015
VARIÁVEIS
N
%
Manhã
29
52,7%
Tarde
11
20,0%
Noite
13
23,6%
Não declarado
2
3,6%
Percutânea
41
74,5%
Mucosa (oral ou ocular)
11
20,0%
Pele íntegra
2
3,6%
Ignorado
1
1,8%
Sangue
25
45,5%
Líquido pleural
1
1,8%
Líquido ascético
5
9,1%
Fluido com sangue
2
3,6%
Soro/Plasma
4
7,3%
Turno do acidente
Tipo de exposição
Material orgânico
Secreção traqueal
1
1,8%
Ignorado
16
29,1%
Não declarado
1
1,8%
Legenda: n, frequência absoluta; %, frequência relativa.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
O período do dia em que os acidentes ocorreram também foi levado em consideração,
verificando-se que 52,7% destes se deram no período da manhã. Em consonância com o resultado, a
pesquisa realizada por Ribeiro, Ribeiro e Lima Júnior (2010), percebeu-se que o turno de trabalho em
que mais ocorreu acidente foi o matutino (49%). O turno de maior ocorrência desses eventos foi o da
manhã, das 7h às 12h (46,4%) segundo Almeida e Benatti (2007) em seu estudo sobre exposições
ocupacionais por fluidos corpóreos.
A maioria das exposições ocorreu pela via percutânea (74,5%). Em Julio, Filardi e Marziale
(2014) 82,3% das exposições foram percutâneas. De 386 acidentes registrados em um hospital de
ensino do interior do Estado de São Paulo, as lesões percutâneas ocorreram em 79% dos casos
(MARZIALE et al., 2013). Vieira, Padilha e Pinheiro (2011) também constataram que a exposição
percutânea foi a mais incidente dentre os acidentes com material biológico, ocorridos na Grande
Florianópolis, no ano 2007, contabilizando 73% do total de exposições.
O sangue foi o material orgânico envolvido em 45,5% dos acidentes, no entanto, observouse uma frequência substancial do item “ignorado” (29,1%). Para Campos, Vilar e Vilar (2011) o
sangue respondeu por 78,6% das exposições a material biológico sofridas por trabalhadores de um
hospital de Campina Grande. Julio, Filardi e Marziale (2014), Valim e Marziale (2012), Vieira,
Padilha e Pinheiro (2011) estimaram que o sangue estivesse envolvido em 73,9%, 76%, 69,49%,
respectivamente, das exposições à material biológico.
A discriminação dos acidentes com material biológico conforme as circunstâncias do
acidente e o agente causador constam na Tabela 4.
Página 22
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Tabela 04 - Características, segundo a circunstância do acidente e o agente
causador, dos acidentes com material biológico em profissionais de um serviço médico de
urgência, Teresina-PI, 2015
VARIÁVEIS
Circunstância do acidente
Administração de medicação
Aspiração traqueal
Desobstrução de acesso central
Descarte inadequado de material perfurocortante
Lavagem de material
Manipulação de medicação
Manipulação de frascos de soro
Procedimento Laboratorial
Procedimentos cirúrgicos
Punção Venosa/arterial
Reencape
Não declarado
Agente causador
Agulha com lúmen (luz)
Agulha sem lúmen
Lâmina ou lanceta
Intracath
Ignorado
Não declarado
n
%
6
2
2
11
2
1
1
11
9
4
2
4
10,9%
3,6%
3,6%
20,0%
3,6%
1,8%
1,8%
20,0%
16,4%
7,3%
3,6%
7,3%
20
14
11
3
1
6
36,4%
25,4%
20,0%
5,4%
1,8%
10,9%
Legenda: n, frequência absoluta; %, frequência relativa.
Fonte: dados da pesquisa (2015).
Entre as circunstancias, destacam-se aqueles acidentes que ocorreram em virtude do descarte
inadequado de material perfurocortante (20%) e durante procedimentos laboratoriais (20%). Em
estudo desenvolvido por Julio, Filardi e Marziale (2014), a principal circunstância envolvida foi o
descarte inapropriado de material perfurocortante em sacos de lixo ou em bancada, cama, chão, dentre
outros locais, perfazendo 29,7% dos casos. Já para Tipple et al (2013) a maioria dos acidentes ocorreu
durante a realização de procedimentos (64,4%).
Para Araújo et al (2012) 13,7% dos acidentes ocorreram relacionados ao descarte inadequado
de perfurocortantes e 13,3% relacionados à procedimentos laboratoriais, com destaque para o teste
de glicemia capilar. Este procedimento é considerado, segundo os autores, relativamente simples e,
talvez por isso, não se priorize os cuidados necessários quanto ao uso de equipamento de proteção
individual (EPI). Afirmam, ainda, que a alta prevalência dos acidentes relacionada ao descarte
inadequado de perfurocortantes ressalta a negligência ou o descuido quanto ao destino e
armazenamento de agulhas e outros perfurocortantes.
Quanto à circunstância do acidente, a administração de medicamentos (12,8%) teve maior
número de ocorrências, conforme o estudo de Kon et al (2011), embora a quantidade de dados
ignorados, em branco ou outros (28,1%%) possa ter prejudicado a fidedignidade das informações.
Vieira, Padilha e Pinheiro (2011) verificaram que os acidentes foram, em 32,20% dos casos,
decorrentes de procedimentos cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais.
Na análise dos achados, constatou-se que a agulha com lúmen é o material mais
frequentemente envolvido em acidentes por material biológico, com 36,4% de ocorrências. Esses
achados são coerentes com a literatura que ressalta ser a manipulação de agulha o maior risco de
acidente por material penetrante entre trabalhadores hospitalares. Lapai, Silva e Spindola (2012), em
trabalho sobre a ocorrência de acidentes por material perfurocortante entre trabalhadores de
enfermagem intensivista, observaram que a agulha estava envolvida em 69,2% dos acidentes. Santos,
Costa e Mascarenhas (2013) encontraram a agulha como responsável por 74,2% das exposições
ocupacionais a material biológico
A avaliação da situação vacinal dos profissionais envolvidos nos acidentes com material
biológico está apresentada no Gráfico 3.
Página 23
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Gráfico 3 - Características, segundo a situação vacinal, dos profissionais de um
serviço médico de urgência vítimas de acidentes com material biológico, Teresina-PI, 2015
Vacinado
Não Vacinado
47,3%(26)
Ignorado
49,1%(27)
3,6%(2)
Fonte: RIBEIRO, 2015
Quanto à situação vacinal 49,1% dos profissionais eram vacinados no momento do acidente.
É importante destacar o alto índice apresentado no item “ignorado”, 47,3%, onde se relaciona ao não
preenchimento das fichas de notificação.
Lima et al (2012), analisando a frequência e o perfil dos acidentes com material biológico
entre estudantes de Odontologia, perceberam que na maioria dos casos, 92,9%, a vacinação contra
hepatite B estava presente. Araújo et al (2012) observaram que 64,7% estavam com o esquema
vacinal de hepatite B completo no momento do acidente. Para Kon et al., (2011), em um trabalho
desenvolvido em Curitiba, 79% dos trabalhadores acidentados apresentaram imunização para hepatite
B.
Em relação à imunização prévia contra hepatite B foi revelado, por Noronha et al (2012),
que 53.2% dos profissionais apresentavam imunização completa, 24.2% não estavam imunizados e
3.2% possuíam imunização incompleta. Quanto à situação vacinal contra a hepatite B, entre os
trabalhadores acidentados com material biológico na macrorregião de Florianópolis, no período de
janeiro a dezembro de 2007, registrou-se 37 casos (31%) de trabalhadores não vacinados ou com seu
estado vacinal ignorado e/ou em branco (VIEIRA; PADILHA; PINHEIRO, 2011).
4 CONCLUSÃO
Constatou-se no estudo que a incidência de acidentes ocupacionais com material biológico
foi alta, no período de janeiro a dezembro de 2014, com 55 acidentes registrados no Hospital campo
do estudo.
A maioria dos profissionais envolvidos era do gênero feminino, com idade entre 20 e 40
anos e com nível superior completo no momento do acidente. Dentre os profissionais destaca-se a
equipe de técnicos de enfermagem como a mais envolvida nos acidentes com material biológico. O
turno onde ocorreu o maior número de acidentes foi o diurno. A maioria dos profissionais relatou
contato de fluídos por via percutânea. O sangue esteve envolvido na maioria das exposições.
Em relação à circunstância do acidente, grande parte ocorreu em decorrência do descarte
inadequado de material perfurocortante e também durante a realização de procedimentos
laboratoriais, sendo a agulha com lúmen o principal agente causador. Quanto à situação vacinal, a
maioria relatou ser vacinado no momento do acidente, no entanto, um destaque deve ser dado ao
número considerável de notificações com este dado não preenchido.
Considerando-se a relevância, atualidade do tema e complexidade da assistência prestada
pelos serviços de urgência, espera-se que os resultados deste estudo possam contribuir para desvelar
a realidade desta situação, como também fornecer subsídios para que os trabalhadores do serviço
médico de urgência possam refletir sobre formas seguras para o desempenho de suas atividades.
Página 24
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, M.C. M. et al. Seguimento clínico de profissionais e estudantes da área da saúde expostos
a material biológico potencialmente contaminado. Rev Esc Enferm, n. 49, v. 2, p. 261-266, 2015.
ALMEIDA, C. A. F. de; BENATTI, M. C. C. Exposições ocupacionais por fluidos corpóreos entre
trabalhadores da saúde e sua adesão à quimioprofilaxia. Rev Esc Enferm, São Paulo, v. 41, n. 1, p.
120-126, 2007.
ARAÚJO, T.M. et al. Acidentes de trabalho com exposição a material biológico entre profissionais
de enfermagem. Revista de Enfermagem Referência, Coimbra, v. 3, n.7, p. 7-14, 2012.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e
Hepatites Virais. Recomendações para terapia antirretroviral em adultos infectados pelo HIV2008. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.
CAMPOS, S. F.; VILAR, M. S. A.; VILAR, D.A. Biossegurança: Conhecimento e Adesão às
Medidas de Precauções Padrão num Hospital. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, v. 15, n. 4,
p. 415-420, 2011.
CANALLI, R.T.C. Riscos Ocupacionais e Acidentes com Material Biológico em Profissionais de
Enfermagem da Saúde Coletiva. 2012. 190 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012.
CASSOLI, L.M. Acidente ocupacional com material biológico: adesão ao seguimento
ambulatorial segundo as características do acidente e do acidentado. 2009. Dissertação
(Mestrado em Saúde) - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2006.
CDC - Centers for Disease Control and Prevention. HIV/AIDS Surveillance Report, 2009.
Publicado
em
fevereiro
de
2011.
Disponível
em:
<http:www.cdc.gov/hiv/resources/factsheets/PDF/hcw.pdf>. Acesso em: agosto 2014.
CHIODI, M.B. et al. Acidentes registrados no centro de referência em saúde do trabalhador de
Ribeirão Preto, São Paulo. Rev Gaucha Enferm, v. 31, n. 2, p. 211-217, jun, 2010.
COFEN - Conselho Federal de Enfermagem. Comissão de Business Intelligence. Produto 2: analise
de dados dos profissionais de enfermagem existentes nos Conselhos Regionais [Internet]. 2011.
Disponível
em:
<http://www.portalcofen.gov.br/sitenovo/sites/default/
files/
pesquisaprofissionais.pdf>. Acesso em: 15/10/2015.
FACCHIN, L.T. Prevalência de subnotificação de acidentes com material biológico pela equipe
de Enfermagem de um Hospital de Urgência. 2009. 98 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) –
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009.
GIANCOTTI, G. M. et al. Caracterização das vítimas e dos acidentes de trabalho com material
biológico atendidas em um hospital público do Paraná, 2012. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v.
23, n. 2, p. 337-346, abr-jun, 2014.
Página 25
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
JULIO, R. S.; FILARDI, M. B. S.; MARZIALE, M. H. P. Acidentes de trabalho com material
biológico ocorridos em municípios de Minas Gerais. Rev Bras Enferm, v. 67, n. 1, p. 119-126, janfev, 2014.
KON, N. M. et al. Acidentes de trabalho com material biológico em uma unidade sentinela: casuística
de 2.683 casos. Rev Bras Med Trab, Curitiba, v.9, n. 1, p. 33-38, 2011.
LAPAI, A. T.; SILVA, J. M.; SPINDOLA, T. A Ocorrência de acidentes por material perfurocortante
entre trabalhadores de enfermagem intensivista. Rev. Enferm, UERJ, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p.
642-647, dez, 2012.
LIMA, L. M; OLIVEIRA, C. C; RODRIGUES, K. M. R. Exposição ocupacional por material
biológico no hospital Santa Casa de Pelotas - 2004 a 2008. Esc Anna Nery, v. 15, n. 1, p. 96-102,
jan-mar, 2011.
LIMA, L. K. O. L. et al. Acidentes com Material Biológico Entre Estudantes de Odontologia no
Estado de Goiás e o Papel das Instituições de Ensino. Rev Odontol Bras Central, Goiás, v. 21, n.
58, p. 553-559, 2012.
MARZIALE, M. H. P.; NISHIMURA, K. Y. N.; FERREIRA, M. M. Riscos de contaminação
ocasionados por acidentes de trabalho com material pérfurocortante entre trabalhadores de
enfermagem. Rev. Latino-am Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 12, n. 1, p. 36-42, 2004.
MARZIALE, M. H. P. et al. Acidentes com material biológico em hospital da Rede de Prevenção de
Acidentes do Trabalho – REPAT. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, v. 32, n.
115, p. 109-119, 2007.
MARZIALE, M. H. P. et al. Influência organizacional na ocorrência de acidentes de trabalho com
exposição a material biológico. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 21, jan./fev, 2013.
Edição Especial.
MEDEIROS, R. C. Acidentes de Trabalho: análise em profissionais de enfermagem que atuam nas
unidades de terapia intensiva e urgência – Natal/RN. 2010. 145 f. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem na Atenção à Saúde) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rio Grande do
Norte, 2010.
MIRANDA, E. J. F.; STANCATO, K. Riscos a saúde de Equipe de Enfermagem em Unidade de
Terapia Intensiva: proposta de abordagem integral da saúde. Revista Brasileira de Terapia
Intensiva, São Paulo, v.20, n.1, 2008.
NISHIDE, V. M.; BENATTI, M. C. C.; ALEXANDRE, N. M. C. Ocorrência de acidente de trabalho
em uma Unidade de Terapia Intensiva. Rev. Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v.
12, n. 2, p. 204-211, 2004.
NORONHA, D. D. et al. Acidentes ocupacionais ocorridos entre os profissionais de saúde do Hospital
Universitário Clemente de Faria – HUCF. Motricidade, v. 8, n. 2, p. 67-77, 2012.
RIBEIRO, P. C.; RIBEIRO, A. C. C.; LIMA JÚNIOR, F. P. B. Perfil dos acidentes de trabalho em
um hospital de Teresina, PI. Cogitare Enferm, v. 15, n. 1, p. 100-106, jan/mar, 2010.
SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado da Saúde, Coordenação Estadual de DST/Aids.
Vigilância epidemiológica dos acidentes ocupacionais com exposição a fluidos biológicos no Estado
Página 26
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
de São Paulo – 2007 a 2010. BEPA, v. 8, n. 94, outubro, 2011. Disponível em:
http://www.cve.saude.sp.gov.br/bepa/txt/bepa94_acid_biologico.htm. Acesso: 07 de novembro de
2015.
SANTOS, S. S.; COSTA, N. A.; MASCARENHAS, M. D. M. Caracterização das exposições
ocupacionais a material biológico entre trabalhadores de hospitais no município de Teresina, Estado
do Piauí, Brasil, 2007 a 2011. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v. 22, n. 1, p. 165-170, jan-mar,
2013.
SILVA, J. A. et al. Investigação de acidentes biológicos entre profissionais de saúde. Rev. da Esc.
Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 13, n. 3, p. 508-516, 2009.
TIPPLE, A. F. V. et al. Acidente com material biológico no atendimento pré-hospitalar móvel:
realidade para trabalhadores da saúde e não saúde. Rev Bras Enferm, Brasília, v. 66, n. 3, p. 378384, mai-jun, 2013.
VALIM, M. D; MARZIALE, M. H. P. Notificação de Acidentes do Trabalho com Exposição a
Material Biológico: Estudo Transversal. Online Brazilian Journal of Nursing, Rio de Janeiro, v.
11, n. 1, 2012.
VIEIRA, M.; PADILHA, M. I. C. S; PINHEIRO, R. D. C. Análise dos acidentes com material
biológico em trabalhadores da saúde. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 19, n. 2,
mar./abr, 2011.
Página 27
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
CONHECIMENTO DE ENFERMEIROS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
ACERCA DA VACINAÇÃO INFANTIL
HEALTH STRATEGY OF NURSES KNOWLEDGE ABOUT FAMILY CHILD
VACCINATION
Raquel Gomes Gonzalez1 ;
Amália de Carvalho Oliveira2
RESUMO
No âmbito da Estratégia Saúde da Família, o enfermeiro ganha destaque, sendo o responsável técnico
e administrativo pelas atividades em sala de vacina, uma vez que, dentre outras atribuições,
acompanha o cumprimento do calendário de vacinação, verificando as contraindicações,
aprazamentos ou adiamentos da vacinação infantil. Face a essas considerações, objetivou-se
principalmente, nesse estudo, analisar o conhecimento de enfermeiros da Estratégia Saúde da Família
no tocante à vacinação infantil. Estudo descritivo, exploratório, pesquisa de campo e com abordagem
quantitativa, realizada por meio de questionários com enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde
dos Municípios de Altos – PI, Demerval Lobão – PI e José de Freitas – PI, integrantes da Microrregião
do Piauí. Os dados foram processados através da utilização do programa Microsoft Excel (2013) e do
software SPSS versão 19.0, com tabelas e gráficos com os resultados. Quando investigados os
motivos para as contraindicações e adiamentos gerais das vacinais, somente 28,6% e 14,3%,
respectivamente, acertaram integralmente a questão. Muitas das alternativas assinaladas pelos
participantes cuidavam-se, na verdade, de falsas contraindicações. Poucos participantes acertaram
também integralmente os itens dos quesitos relacionados ao esquema vacinal contra poliomielite em
criança com 5 anos sem comprovação vacinal (25%). Este estudo apontou para a necessidade de
capacitar os enfermeiros responsáveis pelas imunizações na ESF, no sentido de garantir os benefícios
e qualidade da imunização às crianças nos primeiros cinco anos de idade.
Palavras chave: Enfermagem. Vacinação. Saúde da Família.
ABSCTRACT
Under the Health Strategy, the nurse is highlighted, and the technical and administrative
responsibility for activities in the vaccine area, since, among other duties, monitors compliance with
the vaccination schedule, checking the contraindications, adverse events, Appointments or
postponements of childhood vaccination. In view of these considerations, the objective is mainly in
this study describe the knowledge of nurses of the Family Health Strategy in relation to childhood
vaccination. descriptive, exploratory study, field research and a quantitative approach, conducted
through questionnaires with nurses in Basic Health Units of Towns Altos-PI, Demerval Lobão-PI,
and José de Freitas- PI, Piaui Microregion of members. The data were processed using Microsoft
Excel (2013) and SPSS software version 19.0, with tables and graphs. charts and graphs with the
results. When investigated the reasons for the contraindications and general delays of vaccine, only
28.6% and 14.3%, respectively fully agreed the issue. Many of the alternatives indicated by the
_________________________
1
Acadêmica de Enfermagem da Faculdade Integral Diferencial – FACID/ DeVry Brasil, Email: [email protected]
em Enfermagem e Professora da Faculdade Integral Diferencial – FACID/ DeVry Brasil, email: [email protected]
2 Mestre
Página 28
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
participants tended it is actually false contraindications. A few participants also agreed fully items
of items related to the vaccination schedule against poliomyelitis in Children 5 years without
vaccination proof (25%). This study pointed to the need to train nurses responsible for immunization
in the ESF, to ensure the benefits and quality of immunization to children in the first five years.
Key words: Nursing. Vaccination. Family Health.
INTRODUÇÃO
A vacinação é uma ação importante para toda a população mundial, em especial, para as
crianças, pois dos recursos preventivos existentes, constitui o mais eficaz na tutela individual e
coletiva contra inúmeras enfermidades, independentemente das diferenças socioeconômicas e
culturais (SOUZA, 2014).
A inobservância ao calendário básico de vacinação de crianças pode causar diversos agravos
que podem se reverter em graves problemas de saúde pública. Aumenta-se o risco, tanto dos infantes
quanto das famílias, de adquirir doenças imunopreviníveis e torna real o risco de surgirem epidemias
na comunidade.
Firmando-se como um dos pilares dos cuidados primários em saúde no Brasil, a Estratégia
Saúde da Família (ESF) é um importante meio de atuação para o controle e erradicação de doenças
infectocontagiosas e imunopreviníveis, além de contribuir para o aumento das coberturas vacinais
(ARAUJO, 2005). Ademais, é campo profícuo para operacionalizar-se ações de educação e promoção
da saúde, demonstrando à sociedade as evidências dos benefícios da imunização.
Nessa perspectiva, no âmbito da Estratégia Saúde da Família o enfermeiro ganha destaque,
sendo o responsável técnico e administrativo pelas atividades em sala de vacina, uma vez que, dentre
outras atribuições, acompanha o cumprimento do calendário de vacinação, verificando as
contraindicações, eventos adversos, aprazamentos ou adiamentos da vacinação infantil. A partir desse
ofício, o enfermeiro tem ainda a oportunidade de agir como educador no momento da vacinação,
transmitindo informações fundamentais referentes à prevenção de doenças, contribuindo para que as
famílias percebam o valor da imunização, definido como método capaz de evitar enfermidades
(ANDRADE, et al, 2014).
O serviço de imunização obedece aos princípios da integralidade, cujo objetivo é uma
assistência humanizada e completa. Assim, para o êxito dos programas de vacinação, todos os
profissionais envolvidos devem conhecer o processo, desde a conservação dos imunobiológicos, até
o calendário vacinal dos diferentes grupos populacionais (DEUS apud SOUZA, 2014).
A participação ativa dos profissionais de enfermagem torna-se elemento fundamental para a
prevenção da mortalidade infantil e para a promoção de ações de educação em saúde, que estimulem
a prática de hábitos saudáveis que visem à promoção, prevenção e manutenção da saúde. Entretanto,
é reconhecido o déficit na execução de suas atividades (CARVALHO; ARAUJO, 2010).
Desta forma, chegou-se ao seguinte problema da pesquisa: qual o conhecimento dos
enfermeiros da Estratégia Saúde da Família sobre vacinação infantil? Em resposta a tal
questionamento, foram levantadas as seguintes hipóteses: há profissionais de enfermagem que não
são capacitados em vacinação ou têm conhecimento insuficiente em relação ao processo de vacinação
infantil, educação em saúde ou imunização, necessitando de aperfeiçoamento; o enfermeiro possui
dentro de várias atribuições da profissão a de realizar ações dentro da Estratégia Saúde da Família,
acompanhando o cumprimento do calendário de vacinação, verificando as contraindicações, eventos
adversos, aprazamentos ou adiamentos da vacinação infantil; os profissionais da ESF devem ter uma
participação ativa na comunidade ou município que atuam, precisam desenvolver ações, ter uma
comunicação clara com as famílias para prevenir a mortalidade infantil, assegurar melhorias da
situação de saúde ou promover qualidade de vida para as crianças.
Página 29
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Face às considerações levantadas, objetivou-se nesse estudo, analisar o conhecimento de
enfermeiros da Estratégia Saúde da Família no tocante à vacinação infantil; caracterizar os
enfermeiros, em relação à área de especialização, tempo de formação, capacitação sobre imunização
e experiência na ESF; verificar como os enfermeiros da ESF acompanham a evolução científica e
tecnológica das vacinas infantis oferecidas pelo Programa Nacional de Imunização; identificar o
conhecimento dos enfermeiros da ESF acerca do calendário de vacinação de crianças com até cinco
anos de idade, as contraindicações, aprazamentos e adiamentos da vacinação infantil.
O interesse pelo tema surgiu a partir da vivência acadêmica nos campos de estágios
localizados em postos de saúde. Observou-se a importância da correta monitoração vacinal para o
controle e erradicação das doenças imunopreviníveis, sendo que, nesse procedimento, o enfermeiro
exerce um papel fundamental, por ser o responsável pelas atividades em sala de vacina.
O conhecimento produzido através deste estudo, certamente será relevante cientificamente
para a Enfermagem, pois apresentará dados essenciais e aprofundará acerca do entendimento dos
enfermeiros em sua prática de imunização no contexto da ESF, permitindo uma reflexão da forma
como esta atividade é desenvolvida, auxiliando a aperfeiçoar a abordagem teórica e prática nesse
programa, além de servir como instrumento norteador em pesquisas futuras.
2 METODOLOGIA
Estudo descritivo, exploratório, pesquisa de campo e com abordagem quantitativa. Segundo
Gil (2007) as pesquisas descritivas têm como primordial a descrição das características de
determinada população, fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Essas pesquisas
vão além da simples identificação da existência de relações entre variáveis, e pretendem determinar
a natureza dessa relação.
A pesquisa foi realizada nas Unidades Básicas de Saúde dos Municípios de Altos – PI,
Demerval Lobão – PI e José de Freitas – PI, integrantes da Microrregião do Estado brasileiro do Piauí.
A população do estudo foi composta por 28 enfermeiros (as) que atuavam nas equipes da
ESF desses Municípios.
Ressalte-se que a escolha da categoria dos enfermeiros se deu, por serem considerados os
responsáveis técnicos e administrativos pela sala da vacina.
Adotou-se como critério de inclusão os enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde, que
estavam trabalhando no ESF. Utilizou-se como critério de exclusão os enfermeiros que não
possuíam, no mínimo, um ano de tempo de serviço junto à ESF e as pesquisas que não mostrarem
informações sobre o tema.
A produção de dados foi realizada, através da aplicação de um questionário semiestruturado com 09 perguntas fechadas sobre, dentre outros temas, idade, sexo, tempo de formação,
capacitação sobre imunização e experiência na ESF, além do conhecimento acerca do calendário
vacinal infantil, com suas contraindicações e adiamentos.
Inicialmente foi realizada a organização dos dados mediante a revisão manual dos
questionários. Em seguida, os dados foram organizados em planilhas do programa Microsoft Office
Excel 2010, sendo submetidos à avaliação conforme o preconizado pelos métodos da estatística
descritiva e posteriormente foram criados gráficos e tabelas para a apresentação.
Para a avaliação da correlação das frequências com as variáveis estabelecidas, os dados
foram submetidos ao Teste Qui-Quadrado, com intervalo de Confiança de 95%, sendo estabelecida a
significância em p<0,05*, os quais, após serem transferidos, para o programa estatístico R i386 3.2.2,
foram apresentados em Tabelas e gráficos freqüentistas.
O conhecimento foi classificado utilizando-se uma adaptação do estudo de Araújo (2005),
que avaliou os conhecimentos, atitudes e práticas da população de Teresina/PI sobre vacinação
infantil, bem como de Souza (2014), que fez pesquisa análoga em relação à região denominada
“Tabuleiro do Alto Parnaíba”, no Piauí. Assim, para determinar as porcentagens e o conhecimento,
Página 30
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
em relação à parte 2 do questionário (conhecimento vacinas/idade), as respostas foram categorizadas
em certas, erradas e em parte.
No tocante à parte 3 do questionário, havia a possibilidade de mais de um item correto em
cada questão. Desta forma, utilizando-se de semelhante metodologia adotada por Souza (2014),
apenas foi considerada correta a questão em que os participantes acertaram todas as alternativas.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A população de estudo constituiu-se de 28 enfermeiros vinculados a ESF, prevalecendo o
sexo feminino com 82,1%, sendo que 57,1% tinham idade superior a 25 anos, com variação de 25 a
60, média igual a 35,57, com desvio padrão de 6,92. A maior parte dos entrevistados tinha menos de
5 anos de formação (42,9%), com variação entre 02 a 20, média de 7,25 e desvio padrão de 5,27. Do
total, 64,3% possuíam especialização. Quanto à capacitação para atuar na sala de vacina, 64,3%
indicaram não possuir. Em relação à forma como os enfermeiros acompanhavam as evoluções
tecnológicas e avanços que acontecem, 71,4% responderam que seria através de notas técnicas
emitidas pelo Ministério da Saúde, 35,7%, por intermédio dos manuais do Ministério da Saúde e
32,1%, a partir de capacitação oferecida pelo Município (Tabela 1).
Tabela 1- Características demográficas e funcionais dos profissionais investigados,
Teresina/PI – 2016 (n=28)
Variáveis
N
%
5
23
17,90%
82,10%
X
±
IC 95%
Min-Max
35,57
6,92
33,3-38,3
25-60
7,5
5,27
5,5-9,5
2-20
Sexo
Masculino
Feminino
Idade
De 0 até 25
Acima 25 até 35
Acima de 35 até 50
Acima de 50
1
16
11
1
3,6%
57,10%
35,70%
3,60%
Não
Sim
10
18
35,70%
64,30%
Especialização
Saúde Pública
Saúde da Família
Outros
8
4
6
33%
22%
44%
Possui especialização
Tempo de formação
0 até 5 anos
5 até 10 anos
10 até 20 anos
8
12
8
28,60%
42,90%
28,60%
Sim
10
35,7%
Não
Como acompanha as evoluções
tecnológicas e avanços que
acontecem na vacinação infantil
Através de notas técnicas emitidas
pelo Ministério da Saúde
18
64,3%
Capacitação em Sala de vacina
20
71,4%
Página 31
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Cursos de capacitação oferecida pelo
9
Município
Manuais do Ministério da Saúde
10
Outros
3
32,1%
35,7%
10,7%
Legenda: x= média, ±= Desvio padrão, IC95%= intervalo de confiança, Min-Max= Mínima e máxima.
Fonte: Dados da pesquisa.
Fonte: Dados da pesquisa (2016).
Os resultados referentes ao conhecimento sobre as vacinas do calendário infantil dos
primeiros cinco anos de vida, indicaram que a maior parte dos profissionais da ESF não respondeu
de forma correta quais vacinas devem ser administradas nas respectivas idades (Tabela 2). Do
calendário vacinal, não houve a obtenção de um resultado satisfatório pela amostra da pesquisa nas
idades de seis meses (46,4%), doze meses e quinze meses (42,9%).
Tabela 2 - Conhecimento dos profissionais do estudo sobre as vacinas do calendário infantil
dos primeiros cinco anos de vida para as respectivas idades, Teresina/PI – 2016
Conhecimento vacinas/idade
n*
%
Ao Nascer (zero mês)
Certo
Errado
Em parte
Dois meses
24
4
85,7
14,3
Certo
22
78,6
Errado
1
3,6
Em parte
5
17,9
Certo
20
71,4
Errado
8
28,6
Em parte
-
-
Certo
21
75,0
Errado
2
7,1
Em parte
5
17,9
Certo
21
75,0
Errado
7
25,0
Em parte
-
-
Certo
13
46,4
Errado
1
3,6
Em parte
14
50,0
Certo
25
89,3
Errado
3
10,7
Em parte
-
-
Três meses
Quatro meses
Cinco meses
Seis Meses
Nove meses
Doze meses
Página 32
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Certo
12
42,9
Errado
7
25,0
Em parte
9
32,1
Certo
12
42,9
Errado
6
21,4
Em parte
10
35,7
Certo
15
53,6
Errado
4
14,3
Em parte
9
32,1
Quinze meses
Quatro anos
Fonte: Dados da pesquisa (2016).
Quando realizada a associação do conhecimento dos enfermeiros com a categoria idade,
tendo como primeira variável, a soma das respostas certas, erradas e em parte das idades de 6 meses,
12 meses e 15 meses e, como segunda variável, o resultado das respostas em relação a dois meses,
três meses, quatro meses, nove meses e quatro anos, verificou-se uma associação estatisticamente
significativa entre elas (p≤0,05) (Tabela 3).
Tabela 3 - Associação do conhecimento sobre o calendário vacinal dos cinco primeiros anos,
segundo a categoria idade, Teresina/PI – 2016
Conhecimento vacinas/idade
6 Meses
12 Meses
15 Meses
Outros
Meses
n
n
p valor*
<0,01
Certo
Errado
Em parte
37
14
33
133
21
14
* O p valor foi obtido pelo teste do Qui- quadrado. O nível de significância estatística foi fixado em p≤0,05
Fonte: Dados da pesquisa (2016).
Conforme a Tabela 4, somente 28,6% dos 28 enfermeiros, participantes da pesquisa,
conheciam adequadamente os motivos gerais de contraindicação de vacinas dos cinco primeiros anos
de vida. Os motivos mais indicados foram, o choque anafilático após receber a vacina (82,1%),
seguido das convulsões febris após ter recebido uma dose da mesma vacina anteriormente (57,1%).
Tabela 4 - Motivos para a contraindicação de vacinas dos primeiros cincos anos de vida pelos
enfermeiros, Teresina/PI – 2016 (n=28)
Motivos de contraindicação permanente
N
%
Convulsões febris após ter recebido uma dose
da mesma vacina anteriormente
Doenças neurológicas estáveis
16
57,1
04
14,3
História pregressa da doença contra qual vai
se vacinar
Choque anafilático após receber a vacina
01
3,6
23
82,1
Abscesso subcutâneo produzido pela vacina
03
10,7
Página 33
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Reações imunoalérgicas tardias após
recebimento da vacina.
Percentual geral de acertos e erros sobre
contraindicações das vacinas
Acertos
09
32,1
8
28,6
Erros
20
71,4
Fonte: Dados da pesquisa (2016).
No tocante aos motivos de adiamento permanente das vacinas dos cinco primeiros anos de
vida (Tabela 5), apenas 14,3% dos participantes conseguiram acertar a resposta. Nessa questão, o
destaque ficou com o usuário de dose imunossupressora de corticoide (53,6%), a prematuridade
(64,3%), seguida do uso de corticosteroide independente da dose (42,9%).
Tabela 5 - Motivos para o adiamento de vacinas dos primeiros cinco anos de vida pelos
enfermeiros, Teresina/PI – 2016 (n=28)
Motivos de adiamento geral
N
%
Usuário de dose imunossupressora de corticoide –
vacine 90 dias após a suspensão ou o término do
tratamento
Febre baixa
15
53,6
09
32,1
Desnutrição
09
32,1
Infecções respiratórias do trato superior
03
10,7
Uso de qualquer tipo de antimicrobiano
0
0,0
Aguardar 90 dias após recebimento de sangue ou
hemoderivados, para vacinas vivas
Uso de corticosteroide independente da dose
7
25
12
42,9
Prematuridade
18
64,3
Acertos
4
14,3
Erros
24
89,3
Percentual geral de acertos e erros sobre
adiamento das vacinas
Fonte: Dados da pesquisa (2016).
4 CONCLUSÃO
Os resultados da pesquisa carreiam importantes informações em relação ao conhecimento
de enfermeiros atuantes da ESF, sobre o calendário vacinal dos primeiros cinco anos de vida de uma
microrregião do Piauí.
Observou-se que a maioria (64,3%) dos profissionais relatou não ter recebido treinamento
em sala de vacina, e em consequência, verificou-se pouco conhecimento das vacinas preconizadas
para as crianças com até cinco anos, especialmente dos meses em que houve mudança do calendário
vacinal, 6, 12 e 15 meses, com percentual de acertos de 46,4%, 42,9% e 42,9%, respectivamente, o
que implicou em condutas equivocadas, quanto aos motivos de adiamento e contraindicações de
vacinação.
É incontroversa a relevância da educação permanente para a efetividade das ações de
vacinação para as crianças nos cincos primeiros anos de vida, sendo evidenciada, por intermédio da
literatura, a sua inter-relação com baixos níveis de vacinação, uma vez que profissionais poucos
capacitados cometem mais adiamentos e falsas contraindicações, o que aumenta as oportunidades
perdidas de imunização, reduzindo, desta forma, as taxas de coberturas vacinais e, por consequência,
deixando a população em geral exposta a contrair doenças que são evitáveis.
Página 34
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Por fim, este estudo indica para a necessidade de capacitar os enfermeiros, considerados
responsáveis técnico e administrativo, pelas atividades em sala de vacina, no sentido de garantir os
benefícios e qualidade da imunização das crianças. Espera-se que estes achados possam contribuir
para a prática dos enfermeiros da ESF no que concerne aos aspectos relacionados à vacinação nesse
grupo, fomentando-lhes o interesse para treinamentos constantes, notadamente quanto à imunização.
Além disso, auxilie na redução das OPV, secundário a isto, na mortalidade infantil através do alcance
das metas globais e nacionais de vacinação.
REFERÊNCIAS
ANDRADE, D. R. et al. Conhecimento sobre o Calendário de Vacinação e Fatores que levam ao
atraso vacinal infantil. 2014. Disponível: <www.ufpr.br>. Acesso: 15 de maio, 2015.
ARAÚJO, T. M. E. Vacinação Infantil: conhecimentos, atitudes e práticas da população da área
norte/ Centro de Teresina/PI. 2005. 132f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Programa de PósGraduaÇão em Enfermagem, UFRJ, Rio de Janeiro, 2005.
CARVALHO, A. M. C; ARAUJO, T. M. E. Fatores associados à cobertura vacinal em adolescentes.
Acta Paul Enferm 2010, v. 23, n. 6, p.796-802. Disponível em:
<
http://www.scielo.br/pdf/ape/v23n6/13.pdf>. Acesso em: 15 de abril de 2016.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
SOUZA, Isabela Bastos Jácome. Conhecimento de Profissionais da Estratégia Saúde da Família
Sobre a Vacinação Infantil.2014.
Tese
–
Uninovafapi.
Disponível:
<www.mestradouninovafapi.edu.br>. Acesso: 13 de janeiro, 2015.
Página 35
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL EM CAPITAIS DA
REGIÃO MEIO-NORTE DO BRASIL
EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF VISCERAL LEISHMANIASIS IN MID-NORTHERN
CAPITALS OF BRAZIL
Nataniel Sousa Santos Filho¹;
Augusto César Evelin Rodrigues²
RESUMO
Este estudo teve como objetivo analisar a relação entre o padrão de ocorrência de casos de
Leishmaniose Visceral (LV) nas cidades de São Luís-MA e Teresina-PI. Trata-se de uma pesquisa
quantitativa, descritiva e retrospectiva de dados secundários, cujos participantes foram os casos
diagnosticados com LV de pacientes que residiam em São Luís-MA e Teresina-PI durante 2007 a
2013 e estavam registrados nos seus respectivos departamentos de vigilância epidemiológica. Os
dados dos casos de LV nas duas cidades foram obtidos na Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão
no Departamento de Vigilância Epidemiológica, em São Luís – MA, e da Fundação Municipal de
Saúde, no Departamento de Vigilância em Saúde, em Teresina - PI, entre os anos de 2007 a 2013.
Esses dados foram agrupados e a análise foi realizada de acordo com a proposta quantitativa do
estudo. A apresentação dos resultados foi realizada através de tabelas de frequências, percentagem e
gráficos. Constatou-se que as duas cidades apresentam características semelhantes e propícias para o
favorecimento da infecção por LV, por apresentarem clima úmido, intensos períodos de chuva e
grande densidade populacional em regiões periurbanas. A faixa etária e o gênero mais relevantes
foram crianças menores que quatro anos do sexo masculino. A coinfecção de LV com HIV esteve
bastante presente, porém São Luís apresentou uma relação duas vezes maior comparada a Teresina.
Palavras chave: Leishmaniose. Capitais. Nordeste.
ABSCTRACT
This study aimed to analyze the relationship between the pattern of occurrence of visceral
leishmaniasis cases in São Luís - MA and Teresina - PI. This is a quantitative, descriptive and
retrospective in secondary data, whose participants were diagnosed with LV cases, patients who lived
in São Luís - MA and Teresina - PI, during 2007 to 2013 and were registered in their respective
epidemiological surveillance departments. The data of VL cases in both cities were obtained from the
Health State Department of Maranhão Health in the Epidemiological Surveillance Department, in
São Luís - MA and from the Municipal Health Foundation, in the Health Surveillance Department,
in Teresina-PI, throughout the years of 2007 to 2013. These data analysis was carried out according
to the proposed quantitative study. The presentation of the results was performed using frequency
tables, percentages and charts. It was found that both cities have similar characteristics favoring the
_____________________
¹ Aluno do Curso de Medicina da Faculdade Integral Diferencial / Devry Brasil.
E-mail: [email protected]
² Professor de Parasitologia do Curso de Medicina da FACID/Devry, Mestre em Saúde Pública.
E-mail: [email protected]
Página 36
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
LV infection because they had wet weather, heavy rain and high population density in peri-urban
regions. The most significant age and gender group were the male children under 4 years. The coinfection of HIV with LV was very present, but São Luís presented a report twice compared to
Teresina.
Key words: Leishmaniasis. Capital. Northeast.
INTRODUÇÃO
A Leishmaniose Visceral é uma zoonose que tem como agente etiológico o protozoário
tripanosomatídeo do gênero Leishmania, um parasita celular obrigatório das células do sistema
fagocítico. No novo mundo, a espécie mais comumente encontrada nos pacientes acometidos é a L.
Chagasi (BRASIL, 2006).
A doença tem apresentação clínica de variadas formas, desde a apresentação assintomática
até o quadro clássico da parasitose, evidenciado por febre, anemia, hepatoesplenomegalia. Com a
evolução da doença, outros sinais e sintomas clínicos são evidenciados, em especial a diarreia,
icterícia, vômito e edema periférico, que dificultam a identificação de forma precoce (OLIVEIRA et
al, 2010).
O Nordeste é a região do país mais afetada pela LV, respondendo por quase 50% de todos
os casos registrados no Brasil e onde são registradas as maiores incidências da doença. As taxas de
incidência da LV vêm aumentando não apenas na região Nordeste, mas também nas regiões Norte,
Centro-Oeste e Sudeste. Os casos entre crianças de 0 a 9 anos respondem por quase 50% do total
(ALVES, 2012).
Teresina, capital do Estado do Piauí, foi palco da primeira grande epidemia urbana do país,
com mais de mil casos notificados entre 1981 e 1986. Epidemias foram, posteriormente, descritas em
outras capitais da região Nordeste, como Natal - RN e São Luís - MA (BRASIL, 2003).
No município de São Luís - MA, Mendes et al. (2002), ao analisarem a expansão espacial
da Leishmaniose Visceral, constataram a relação da endemia com os fluxos migratórios decorrentes
da industrialização que se intensificou nas décadas de 1980 e 1990, atraindo grande contingente
populacional e, com isso, a expansão espacial de moradias, impactos ambientais e doenças.
A partir do exposto, elaborou-se o seguinte problema: qual a relação existente no padrão
epidemiológico de casos de Leishmaniose Visceral em capitais do Meio-Norte do Brasil?
Este estudo teve como objetivo geral analisar a relação entre o padrão de ocorrência de casos
de Leishmaniose Visceral nas cidades de São Luís - MA e Teresina-PI. Os objetivos específicos
foram: identificar os fatores que favorecem o aparecimento de casos de Leishmaniose nas duas
capitais; verificar a distribuição dos casos em relação à faixa etária e gênero, nas duas cidades;
verificar se a relação entre Leishmaniose Visceral e HIV nas duas cidades é a mesma.
O estudo se justifica pelo fato de a LV ser considerada a terceira enfermidade por vetores
mais relevante na atualidade. É uma doença que está em expansão e nos últimos vinte anos vem
sofrendo mudanças no seu perfil epidemiológico. Além disso, Teresina e São Luís são considerados
municípios endêmicos pelo agravo e os estudos realizados ainda não esclareceram a doença e fatores
ambientais envolvidos.
A pesquisa é de grande relevância por demonstrar se existe ou não relação no padrão de
casos de LV nas duas cidades e se existe algum fator significativo em uma delas que favoreça o
aparecimento da doença, possibilitando medidas de controle e prevenção do agravo, além de servir
como um referencial teórico para outros estudos sobre o tema.
Página 37
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
2 METODOLOGIA
O estudo foi realizado conforme a Resolução n° 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde,
e teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade Integral Diferencial
(FACID/Devry Brasil).
O método utilizado foi a pesquisa quantitativa de natureza descritiva e retrospectiva,
participando do estudo todos os casos diagnosticados com Leishmaniose Visceral no período de 2007
a 2013, constituindo uma amostra de 211 casos em São Luís - MA e 532 casos em Teresina - PI,
totalizando 743 casos.
Utilizaram-se como critério de inclusão os casos diagnosticados com LV, de pacientes que
residiam em São Luís - MA e Teresina - PI, durante o período de 2007 a 2013 e que estavam
registrados nos seus respectivos departamentos de vigilância epidemiológica.
Os dados dos casos de LV nas duas cidades foram obtidos na Secretaria Estadual de Saúde
do Maranhão, Departamento de Vigilância Epidemiológica, em São Luís - MA e da Fundação
Municipal de Saúde, Departamento de Vigilância em Saúde, em Teresina - PI, entre os anos de 2007
a 2013. Todos os dados foram colhidos em planilha do Excel® 2007 e identificados por data de
diagnóstico (mês e ano), no período do estudo.
A análise foi realizada de acordo com a proposta quantitativa do estudo. Os dados foram
tabulados no software TABWIN e posteriormente organizados no Excel® 2007. A apresentação dos
resultados foi realizada através de tabelas de frequências, percentagem e gráficos.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Utilizando os dados coletados, observou-se uma incidência 65,2 e 20,7 por 100.000
habitantes, respectivamente, em Teresina - PI e São Luís - MA, chamando atenção para a alta
incidência na capital do Piauí no período estudado, em relação à capital do Maranhão, representando
praticamente o triplo do coeficiente.
No Gráfico 1 observou-se a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes e percebeu-se que
em Teresina - PI, o resultado foi consideravelmente maior que em São Luís - MA. As séries
apresentam comportamento oposto, com exceção para os anos de 2011 a 2013 onde a taxa de
mortalidade apresenta o mesmo comportamento para ambas as cidades, embora em níveis maiores
em Teresina - PI.
Taxa de Mortalidade por 100 mil
Figura 1 - Taxa de Mortalidade por 100 mil hab: Comparação Teresina x São Luís, de 2007 a
2013
1,40
1,20
1,00
0,80
Teresina-PI
São Luís-MA
0,60
0,40
0,20
0,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Período
Fonte: S. E. S. - MA: Dep. de Vig. Epidemiológica (São Luís - MA) / FMS (Teresina - PI).
Página 38
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Em relação ao gênero, observou-se que (Figura 2 e 3), os pacientes do sexo masculino
representaram a maioria dos casos nas duas localidades em questão, com exceção para o ano de 2008
em São Luís - MA, em que a incidência foi igual para ambos os sexos e 2012, quando a incidência
foi maior para as pessoas do sexo feminino. Em Teresina - PI, todos os anos estudados apresentaram
o sexo masculino como a maioria dos casos.
Os resultados apresentados corresponderam com a literatura (BRASIL, 2006; PASTORINO
et al., 2002), pois o homem é mais exposto ao ambiente durante o dia, em que muitos dos casos são
de indivíduos que trabalham em áreas livres em regiões de peridomicílio, sem o uso de camisetas. As
mulheres são mais protegidas em relação às roupas, com hábitos de trabalho dentro do domicílio.
Porcentagem
Figura 2 - Casos de LV em São Luís segundo o gênero, de 2007 a 2013
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Ano/Total
Masculino
Feminino
Fonte: S. E. S. - MA: Dep. de Vig. Epidemiológica (São Luís - MA).
Figura 3 - Casos de LV em Teresina segundo o gênero, de 2007 a 2013
80%
70%
Porcentagem
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total
Ano/Total
Masculino
Feminino
Fonte: FMS (Teresina - PI).
Com relação à idade dos pacientes que contraíram LV, do total de pacientes entre os anos de
2007 e 2013, a incidência foi maior entre crianças de 1 a 4 anos de idade, representando em torno de
50% dos casos nas duas cidades, evidenciando a grande vulnerabilidade das crianças menores de
Página 39
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
quatro anos para o acometimento da doença. As pessoas na faixa etária de 10 a 19 anos e de 65 a 79
anos foram os que apresentaram menor incidência de LV. Foi possível notar que esse comportamento
foi similar em ambas as cidades (Gráficos 4 e 5).
Segundo Goes et al. (2012), a razão da maior suscetibilidade das crianças tem sido explicada
pelo estado de relativa imaturidade imunológica celular agravada pela desnutrição, tão comum nas
áreas endêmicas de LV no Nordeste.
Figura 4 - Casos de LV em São Luís segundo a faixa etária, de 2007 a 2013
45%
40%
Porcentagem
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
<1 Ano
1-4
5-9
10-14
15-19
20-34
35-49
50-64
65-79
Faixa Etária
Fonte: S. E. S. - MA: Dep. de Vig. Epidemiológica (São Luís - MA).
Figura 5 - Casos de LV em Teresina segundo a faixa etária, de 2007 a 2013
30%
Porcentagem
25%
20%
15%
10%
5%
0%
<1 Ano 1-4
5-9
10-14 15-19 20-34 35-49 50-64 65-79 80 e+
Faixa etária
Fonte: FMS (Teresina-PI).
Analisando a Figura 6, pode-se ver os casos confirmados de Leishmaniose com coinfecção
com HIV. Do total de casos confirmados de 2007 a 2013 nas duas cidades, a quantidade de casos em
Teresina - PI foi mais que o dobro dos casos confirmados em São Luís - MA. A quantidade de casos
com coinfecção com HIV segue o mesmo caminho, sendo maior em Teresina do que em São Luís.
Página 40
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Excluindo-se os casos ignorados, pôde-se perceber que a relação de coinfecção em São Luís (7,3) foi
2 vezes maior que em Teresina (3,7).
Figura 6 - Comparação Teresina x São Luís para casos com coinfecção HIV, de 2007 a 2013
400
358
Número de Casos
350
300
250
200
161
150
96
78
100
28
50
22
0
Teresina
São Luís
Ing/Branco
Sim
Não
Fonte: S. E. S. - MA: Dep. de Vig. Epidemiológica (São Luís - MA) / FMS (Teresina-PI).
Analisando-se os dados de distribuição por bairros nas cidades de Teresina e São Luís
(Figura 7), observou-se o predomínio de áreas que ainda não se tem uma delimitação do que é urbano
e do que é rural, sendo áreas de expansão e de ocupação recente, de constante desmatamento, sendo
estes possíveis fatores que favorecem a saída dos mosquitos de seu habitat por perderem sua fonte de
alimento (os marsupiais) utilizando então o homem e o cachorro como fontes de alimentos.
Sabemos também que estas áreas não apresentam condições ideais de saneamento básico por
se apresentarem zonas de invasão populacional, sem nenhum projeto habitacional de construção
durante sua ocupação, e que a imunidade de grande parte da população, principalmente crianças, é
baixa devido à subnutrição por fatores socioeconômicos.
Número de Casos
Figura 7 - Bairros com maior incidência de LV em Teresina, de 2007 a 2013
500
400
300
200
100
0
400
45
26
25
Santa
Maria da
Codipi
Zona
Rural
Angelim
19
16
Santo Promorar Outros
Antônio
Bairro
Fonte: FMS (Teresina-PI)
O total da Figura 7 conta apenas 531 casos, pois um registro na ficha não estava preenchido,
sendo que a quantidade geral de casos confirmados foi 532 do período de 2007 a 2013.
Em Teresina, os cincos bairros com maiores números de casos corresponderam a 24,6% do
total de casos registrados no período em estudo.
A Figura 8 mostra a distribuição geográfica por bairros em Teresina, evidenciando quatro
das cinco principais áreas descritas na Figura 3. Caracteristicamente, estas são áreas limítrofes do
município, com aspecto misto (urbano e rural) e de carência quanto ao saneamento básico.
Página 41
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Figura 8 - Mapa de Teresina segundo a distribuição por bairros e sensoriamento
remoto
Fonte: http://www.sefaz.pi.gov.br/mapas/index.htm
Figura 9 - Bairros com maior incidência de LV em São Luís, de 2007 a 2013
128
140
Número de casos
120
100
80
60
40
20
16
13
8
8
6
Santa
Barbara
Estiva
Pedrinhas
0
Maracana Quebra Pote
Outros
Bairros
Fonte: S. E. S. - MA: Dep. de Vig. Epidemiológica (São Luís - MA).
Página 42
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Observou-se que nos dados obtidos de São Luís não foram encontrados registros de zona
rural, não se podendo afirmar se existiu ou não casos durante o período em estudo.
Em São Luís, os cinco bairros com maior número de casos corresponderam a 24,1% do total
de casos registrados neste estudo, mostrando uma distribuição similar com Teresina.
A Figura 10 mostra a distribuição geográfica dos bairros em São Luís. Da mesma forma que
em Teresina, os bairros em destaque apresentam característica mista, ou seja, zona rural e urbana,
correspondendo áreas de crescimento da Ilha de São Luís. Vale ressaltar que os municípios vizinhos
apresentam características semelhantes (ruralização e ocupação recente de bairros nas periferias das
cidades).
Figura 10 - mapa de São Luís segundo a distribuição por bairros e sensoriamento remoto
Fonte: http://www.maramazon.com/pontos_turisticos.php?ptu_id=43
Em relação à distribuição temporal (por mês), pôde-se observar pelas Figura 10 e 11 que os
picos, isto é, a maior incidência de casos de LV de 2007 a 2013, aconteceram em agosto para São
Luís e julho para Teresina.
Página 43
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Número de Casos
Figura 10 - Número total de casos de LV ocorridos por mês em São Luís, de 2007 a 2013
40
35
30
25
20
15
10
5
0
34
27
29
23
19
10
10
20
13
11
6
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
9
Nov Dez
Mês
Fonte: S. E. S. - MA: Dep. de Vig. Epidemiológica (São Luís - MA).
Figura 11 - Número total de casos de LV ocorridos por mês em Teresina, de 2007 a 2013
76
80
69
Número de Casos
70
57
60
49
50
40
30
33
33
Fev
Mar
26
47
43
35
35
29
20
10
0
Jan
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov Dez
Mês
Fonte: FMS (Teresina-PI).
Segundo Viana et al. (2011), em um estudo realizado em São Luís entre 2002 e 2010, o
período de maior quantidade de casos correspondeu nos meses de junho, julho e agosto, período no
qual representa o fim da temporada de chuvas na região, que se inicia em janeiro. Um dos possíveis
fatores responsáveis por esta relação é a ocorrência de uma maior invasão de peridomicilio pelos
flebotomíneos em busca de sangue em seres humanos durante a estação chuvosa.
Em Teresina, o pico da incidência ocorreu com um mês de diferença (julho) comparado a
São Luís (agosto), o que corrobora com um estudo feito por Viana (2014) sobre a relação entre a
pluviometria, temperatura e a distribuição dos casos de Leishmaniose Visceral, tendo em vista que o
período de chuvas nas duas localidades é praticamente igual.
Tal fato está relacionado, segundo a literatura, ao período de incubação da doença, que gira
em torno de três meses, coincidindo assim com o estudo em questão.
4 CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos nesta pesquisa, pode-se constatar que Teresina e São Luís
apresentam características semelhantes para o favorecimento de infecção por Leishmaniose Visceral,
por apresentarem clima úmido, com períodos de chuvas intensas durante o primeiro semestre e
escassez durante o segundo semestre dos anos estudados, apresentando então um uma distribuição
Página 44
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
polarizada ao longo dos anos estudados, com pico do número de casos entre os meses de junho, julho
e agosto nas duas cidades. Tal fato apresenta estreita relação da pluviosidade com a incidência de
casos de Leishmaniose Visceral.
A incidência de casos em Teresina mostrou-se maior que em São Luís, correspondendo a
mais que o dobro de casos, o que nos faz indagar sobre a possível subnotificação dos casos na capital
do Maranhão, já que as populações absolutas apresentam praticamente a mesma quantidade em
números. Porém, vale ressaltar que muitos dos casos notificados na cidade de São Luís são de
municípios vizinhos e pertencentes à Ilha e que apresentam características rurais (São José de
Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar). Caso fossem registrados no presente trabalho, tal fato poderia
resultar em resultados não verídicos à pesquisa, de forma que foram excluídos os casos de residentes
naquelas cidades.
Quanto à faixa etária e o gênero, a distribuição apresentou-se conforme a literatura descreve,
tendo o foco em crianças com menos 4 anos, representando mais de 60% dos casos no período em
estudo nas 2 cidades, sendo a maioria do gênero masculino.
A coinfecção com HIV mostrou-se um importante problema de saúde pública, representando
grande porcentagem dos casos. Porém a relação de coinfecção entre LV e HIV mostrou-se duas vezes
maior em São Luís que em Teresina, apesar dos números absolutos de Teresina serem maiores tanto
em totalidade quando em coinfecção.
Portanto, a patologia em questão mostrou-se como um grande problema de saúde pública
nas localidades estudadas, fazendo-se necessárias intervenções pelos órgãos responsáveis pelo
controle dessa doença. O estudo teve como intuito revelar fatores e aspectos favoráveis para a
multiplicação da doença e quais bairros das referidas capitais merecem maior atenção para o agravo.
REFERÊNCIAS
ALVES, E. B. Fatores de risco para incidência de infecção por Leishmania infantum na cidade
de Teresina, Piauí. 2012. 53 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Instituto de Estudos em
Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância
Epidemiológica. Manual de vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral. Série A. Normas e
Manuais Técnicos. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância
Epidemiológica. Manual de vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral. Série A. Normas e
Manuais Técnicos. Brasília: Ministério da Saúde, 2003.
MENDES, W. da S. et al. Expansão espacial da leishmaniose visceral americana em São Luís,
Maranhão, Brasil. da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Uberaba, v. 35, n. 3, p. 227231, jun. 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003786822002000300005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 13 jan 2015.
OLIVEIRA, J. M. et al. Mortalidade por leishmaniose visceral: aspectos clínicos e laboratoriais. Rev.
Soc. Bras. Med. Trop., Uberaba, v. 43, n. 2, p. 188-193, abr. 2010. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003786822010000200016&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 28 março 2014.
PASTORINO, A. C. et al. Leishmaniose visceral: aspectos clínicos e laboratoriais. Jornal de
Pediatria,
Porto Alegre,
v. 78, n. 2, p. 120-127, abr.
2002. Disponível em:
Página 45
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S002175572002000200010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 10 mai. 2015.
VIANA, J. N. Análise temporal da distribuição dos casos de Leishmaniose Visceral em Teresina
- PI. 2014. 87 p. Trabalho de Conclusão de Curso. Graduação em Medicina - Faculdade Integral
Diferencial Devry Brasil, Teresina, 2014.
VIANA, G. M. C. et al. Relationship between rainfall and temperature: observations on the cases of
visceral leishmaniasis in São Luis Island, State of Maranhão, Brasil. Rev. Soc. Bras. Med.
Trop.,
Uberaba,
v.
44, n.
6, p.
722-724, dez.
2011.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003786822011000600013&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 14 nov. 2014.
Página 46
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
PROCESSO DE CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE DESINFECÇÃO DE TUBETES
ANESTÉSICOS
MICROBIOLOGICAL CONTROL OF THE PROCESS OF DISINFECTING
ANESTHETIC CARTRIDGES
Diego Dantas Lopes Santos1 ,
Sâmmea Martins Vieira2 ,
Márcia Socorro da Costa Borba3
RESUMO
Em toda atividade odontológica, tão importante quanto o aprimoramento técnico e científico é a
conscientização dos riscos de contaminação durante o atendimento odontológico, por isso,
realiza-se a desinfecção de materiais, estando incluso os anestésicos locais. O objetivo do estudo
foi obter dados a respeito de quais procedimentos e substâncias de controle microbiológico de
desinfecção de tubetes anestésicos são mais eficazes. Foi realizada a análise microbiológica de
desinfecção de tubetes anestésicos locais em diferentes embalagens e materiais, que foram
submetidos a diferentes tempos e métodos de desinfecção, utilizando as substâncias
desinfectantes Clorexidina 2%, Álcool a 70% e PVP-I (iodopolivinilpirrolidona), através dos
métodos de fricção e imersão. Foram colhidas amostras de um tubete de anestésico de cada
embalagem com cada solução (lidocaína e mepivacaína) para a verificação da possível
contaminação inicial, imergindo por 24 horas no caldo BHI (Brain Heart Infusion), sendo
semeadas após o crescimento em meio de cultura TSA (Tryptone Soya Agar). Após semeio, as
placas foram incubadas em estufa de aerobiose a 37°C durante 48 horas. Como análise final, as
colônias de bactérias foram incontáveis em todas as placas, mas por método visual, observou-se
que a clorexidina a 2%, tanto por fricção quanto por imersão, teve melhores resultados para a
ação desinfetante, em relação às demais substâncias utilizadas, sendo a de melhor escolha para
o cirurgião-dentista.
Palavras chave: Desinfecção. Anestésico. Controle de infecção. Odontologia.
ABSCTRACT
Throughout dental activity, as important as the technical and scientific improvement is the awareness
of the risks of contamination during dental care, carried out disinfection materials being included
local anesthetics. The objective was to obtain data about which procedures and microbiological
control of substances of anesthetic cartridges disinfection are more effective. It was conducted
microbiological analysis disinfecting local anesthetic cartridges in different containers and materials
that were submitted at different times and disinfecting methods of using disinfectant substances:
Chlorhexidine 2%, Alcohol 70% and PVP-I (iodopolivinilpirrolidona), through methods of friction
__________________________
Aluno do Curso de Odontologia da Faculdade Integral Diferencial (FACID|DeVry), Teresina – PI, e-mail: [email protected].
Aluna do Curso de Odontologia da Faculdade Integral Diferencial (FACID|DeVry), Teresina – PI, e-mail: [email protected].
3
Professora do Curso de Odontologia da FACID|DeVry, Teresina – PI, Doutora em Clínica Odontológica, e-mail: [email protected]
1
2
Página 47
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
and immersion. Samples an anesthetic cartridge of each package were taken with each solution
(lidocaine and mepivacaine) for verification of possible initial contamination by immersing for 24
hours in BHI broth (Brain Heart Infusion) and seeded after growth in culture media TSA (Tryptone
Soya Agar). After seeding the plates were incubated in greenhouse aerobically at 37 ° C for 48 hours.
As a final analysis, the bacterial colonies were countless in all plates, but for visual method, it was
observed that the 2% chlorhexidine either by friction or by immersion, had the best results for the
disinfectant action on other substances used and is the best choice for the dentist.
Key words: Disinfection. Anesthetic. Infection control. Dentistry.
INTRODUÇÃO
A cada dia pesquisas vêm demonstrando que, em todos os instrumentos odontológicos,
dos mais simples aos mais sofisticados, esconde-se um universo de microrganismos patogênicos
(BUHTZ, 1995; FERREIRA, 1995).
A biossegurança envolve um conjunto de condutas e medidas técnicas que devem ser
empregadas por profissionais da área de saúde ou afins, para prevenir acidentes e contaminação
cruzada em ambientes biotecnológicos, hospitalares e clínicas ambulatoriais (BRASIL, 1990;
GONÇALVES; TRAVASSOS; SILVA, 1996).
A prevenção da infecção cruzada é aspecto crucial na prática odontológica e o controle de
infecção tem se tornado uma preocupação cada vez mais frequente entre os profissionais da área
odontológica. De acordo com a Centers for Disease Control and Prevention (CDC), todos os
recursos disponíveis tem sido empregados para impedir a contaminação em consultórios
odontológicos. O problema é que qualquer tipo de descuido pode intensificar o ciclo de infeções
cruzadas (AUTIO, 1980; CRAWFORD; BRODERIUS, 1988; PALENIK; BURKE; MILLER,
2000; WARREN, 2001; SILVA; JORGE, 2002; GALVANI et al., 2004; KNACKFUSS;
BARBOSA; MOTA, 2010).
Um dos procedimentos de grande importância para o controle de infecção cruzada em
Odontologia tem sido a desinfecção, uma vez que é impossível realizar um procedimento de
esterilização em todos os equipamentos e matérias utilizados pelo cirurgião-dentista durante um
atendimento odontológico (GUIMARÃES UNIOR, 2001).
Mesmo com toda a preocupação de evitar a contaminação, a desinfecção de tubetes
anestésicos ainda é um fato de pouca importância para maioria dos odontólogos, seja por eles
acreditarem que a carpule (instrumento usado para aplicar anestesia local) já esteja estéril ou não
seja necessário a desinfecção dos tubetes anestésicos. Diante disso, existem dois tipos de
desinfecção: a desinfecção de imersão, através do qual os instrumentos ou peças são colocados
dentro dos desinfetantes; e a de superfície (fricção), pela qual os desinfetantes são aplicados nas
partes externas das área a serem desinfetadas (TEIXEIRA; SANTOS, 1999).
No Brasil são usados cerca de 250 milhões de tubetes anestésicos por ano. No comércio
brasileiro existem inúmeras soluções comerciais à base de lidocaina, mepivacaina, prilocaina,
bupivacaina e articaina. Muitas destas soluções anestésicas são, pela descrição contida em suas bulas,
idênticas em suas formulações, variando no seu fabricante o material, sendo tubetes de plástico ou
vidro e embalagem, seja caixa de papel ou Blister. Alguns autores mostraram que a forma de
armazenamento e o manuseio dos tubetes anestésicos podem alterar o seu desempenho (GERKE et
al., 1978; FRY; CIARIONE, 1980; COOLEY; LUBOW, 1981; BRENNAN; MORLEY;
LANGDON, 1987; BERTIFILD et al., 1992).
Assim, o propósito do estudo foi obter dados a respeito de quais procedimentos e
substâncias de controle microbiológico de desinfecção de tubetes anestésicos, são mais eficazes.
Página 48
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
2 METODOLOGIA
Para a análise microbiológica de desinfecção de tubetes anestésicos foi selecionado um
tubete de cada tipo de material (vidro ou plástico) e de cada tipo de embalagem (caixa de papel ou
blister). Os tubetes de cada embalagem e material foram submetidos a diferentes tempos e métodos
de desinfecção. As substâncias avaliadas como desinfetantes, foram: Clorexidina 2%, Álcool a 70%
e PVP-I (iodopolivinilpirrolidona).
A desinfecção dos tubetes anestésicos foi realizada através de dois métodos distintos: fricção
e imersão. Desta forma, foram avaliadas 3 substâncias desinfetantes em dois métodos de desinfecção
(fricção e imersão), totalizando 6 formas diferentes de desinfecção dos tubetes. Além disso, foram
feitos três procedimentos de controle: a fricção de uma gaze estéril seca (sem a adição de agentes
desinfetantes), a fricção de uma gaze estéril embebida em NaCl 0,9% e a imersão em soro fisiológico
(NaCl a 0,9%). A pesquisa foi realizada em uma Faculdade de Teresina.
Durante a abertura de cada embalagem, foram colhidas amostras de 1 tubete de cada
embalagem de cada solução (lidocaína e mepivacaína) para a verificação da possível contaminação
inicial. Um “swab” estéril, embebido em 0,1 mL de NaCl a 0,9%, foi friccionado de forma
padronizada contra um tubete. Imediatamente imergido por 24 horas no caldo BHI (Brain Heart
Infusion). Após transcorrido esse tempo, imediatamente após a colheita inicial dos tubetes, foram
submetidos a cada uma das seguintes condições:
1) imersão em 40 mL de clorexidina a 2%;
2) imersão em 40 mL de alcool a 70%;
3) imersão em 40 mL de PVP-I;
4) imersão em 40 mL de NaCI 0,9%;
5) fricção por gaze esterilizada contendo 1 mL de clorexidina a 2%;
6) fricção par gaze esterilizada contendo 1 mL de alcool a 70%;
7) fricção por gaze esterilizada contendo 1 mL de PVP-I;
8) fricção par gaze esterilizada contendo 1 mL de NaCI 0,9%;
9) fricção por gaze seca e esterilizada (SEM desinfetante).
Após a secagem cuidadosa em gaze estéril, os tubetes das condições 1 até 8 foram
submetidos a colheita de amostras, através de "swab" estéril, embebido em 0,1mL de NaCI a 0,9%.
Os “swabs” foram imediatamente imergidos por 24 horas em tubos com caldo BHI (Brain Heart
Infusion). Após esse tempo, alíquotas de 0,1 ml dos tubos onde houve crescimento, foram semeadas
em meio de cultura Tryptone Soya Agar, mediante a utilização de alça de Driklaski. Após semeio as
placas foram incubadas em estufa de aerobiose a 37°C durante 48 horas.
De acordo com os procedimentos descritos no item anterior, os tubetes destinados as
condições 1 a 4 foram imergidos por 4 minutos nas soluções descontaminantes e os itens 5 a 9 foram
friccionados por 15 segundos. Todo experimento foi repetido após duas semanas com os tubetes
restantes de cada embalagem.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram coletados, analisados e comparados os resultados de cada método de desinfecção
feitos nos tubetes anestésicos. As técnicas de desinfecção dos tubetes pela ação de fricção e de
imersão possuiam entre si diferença pouco significativa (Figuras de 1 a 9).
Página 49
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Figura 1 – Fricção por gaze esterilizada contendo 1ml de clorexidina a 2%
Figura 2 – Fricção por gaze seca e esterilizada sem desinfectante
Figura 3 – Fricção por gaze esterilizada contendo 1ml de NaCI 0,9%
Figura 4 – Fricção por gaze esterilizada contendo 1ml de Álcool 70%
Página 50
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Figura 5 – Fricção por gaze esterilizada contendo 1ml de PVP-I
Figura 6 – Imersão em 40ml de Clorexidina a 2%
Figura 7 – Imersão em 40ml de PVP-I
Figura 8 – Imersão em 40ml de NaCI 0,9%
Página 51
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Figura 9 – Imersão em 40ml de Álcool a 70%
As colônias de bactérias foram incontáveis em todas as placas com as diferentes substâncias
e técnicas diferentes. Contudo, observou-se por método visual que a clorexidina a 2%, tanto por
fricção quanto por imersão, tiveram melhores resultados quanto à ação desinfetante em relação as
demais substâncias utilizadas (Figuras 1 e 6).
A desinfecção consiste na destruição dos germes patogênicos ou na inativação de suas
toxinas ou de seu desenvolvimento, podendo ser afetada por diferentes fatores: a) limpeza prévia do
material; b) período de exposição ao germicida; c) concentração de solução germicida; d) temperatura
e pH do processo de desinfecção, estando relacionado ao dentista por um meio para proteção contra
a infecção cruzada (HOEFEL et al. 2003; CHUTTER, 2008).
Segundo Fantinato et al. (1994), a prevenção da infecção cruzada é parte fundamental na
conduta prática de um tratamento odontológico, sendo um dos procedimentos fundamentais para
manter a biossegurança nos consultórios odontológicos a realização da desinfecção de superfícies.
Guandalini, Melo e Santos (2000) afirmaram que a desinfecção deve ser realizada com
substâncias químicas desinfetantes de nível médio ou intermediário, empregando em locais que se
encontram microrganismos carregados pelos aerossóis ou pelas mãos da equipe odontológica, sendo
elas: chão, armários, paredes, equipamento, mocho e também os anestésicos locais, que muitos
dentistas ainda não levam em consideração.
Os tubetes são formados pelo cilindro de vidro ou plástico, o êmbolo, a cápsula de alumínio
e o diafragma de borracha, pelo qual líquidos podem ser difundidos contaminando a solução
anestésica. Isso comumente acontece pela imersão de tubetes em soluções com álcool 70%, tendo
como objetivo a desinfecção da superfície (MALAMED, 2013).
Diante do estudo realizado, pode-se confirmar que o álcool a 70% em processo de imersão
e fricção, assim como as outras substâncias utilizadas, não obtiveram resultados satisfatórios
comparado a clorexidinha a 2%. A clorexidina é uma substância química que foi introduzida há
muitos anos como anti-séptico de largo espectro contra bactérias Gram-positivas e negativas
(DAVIES et al., 1954). É uma biguandina com propriedades catiônicas. Quimicamente é classificada
como Digluconato de Clorexidina, é uma molécula estável, que quando ingerida é excretada pelas
vias normais, sendo que a pequena porcentagem retida no organismo não é tóxica. Quando em baixas
concentrações, provoca lixiviação de substâncias de pequeno peso molecular, como o potássio e o
fósforo, exercendo efeito bacteriostático e bactericida em altas concentrações, tendo grande eficácia
na desinfecção de tubetes anestésicos (SILVA; JORGE, 2002).
Tanto no método de imersão como no de fricção com Clorexidina a 2%, houve níveis
menores de colônias bacterianas. Mas, é recomendado, mediante esse estudo, que na rotina
odontológica seja de melhor eficácia a fricção com Clorexidina, por ser um método mais rápido e
com uma boa substância desinfectante (HORTENSE et al, 2010).
Para completar a eficácia dos resultados, mostrando grande eficiência da Clorexidina, foi
utilizado o meio de cultura Tryptone Soya Agar, que é usado para quantificação de bactérias não
Página 52
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
fastidiosas, sem que seja necessária a sua identificação. Presta-se também para conservação de cepaspadrão para controle de qualidade de meios de cultura e procedimentos em bacteriologia, podendo
observar um resultado melhor, juntamente com a solução de caldo BHI, que é um meio de utilização
geral, adequado para a cultura de uma grande variedade de tipos de organismos, incluindo bactérias,
leveduras e fungos filamentosos provenientes de amostras clínicas, sendo também de grande eficácia
para o resultado final do experimento desse estudo (DIFCO; BBL Manual, 2003; MURRAY, P. R. et
al., 2007; OPLUSTIL, 2000).
Obsevou-se, mediante essa pesquisa, que a Clorexidina a 2%, nas duas técnicas aplicadas, é
eficaz na desinfecção de tubetes anestésicos. Porém, levando em consideração os padrões de uma
Clínica Odontológica, a técnica de melhor escolha é a de fricção com Clorexidina, por ser um técnica
mais rápida, durante o atendimento e que satisfaz na eliminação de microrganismos patogênicos,
minimizando a infecção cruzada, possibilitando aos profissionais da área e aos pacientes, uma melhor
proteção nos procedimentos, se adequando as requisitos de biossegurança (BENTHEY;
BURKEHART; CRAWFORD, 1994; CARRANZA; NEWMAN, 1997; GJERMO, 1978;
TEIXEIRA; SANTOS, 1999; HORTENSE et al, 2010).
4 CONCLUSÃO
Comprovou-se, através dessa pesquisa, a eficácia da Clorexidina a 2% por meio das técnicas
de fricção e imersão na desinfecção de tubetes anestésicos.
Em relação ao dia-a-dia no atendimento na Clínica Odontológica, o melhor a se fazer para
um atendimento rápido e seguro, é com o uso da Clorexidina a 2% por meio da fricção. É importante
que o cirurgião-dentista conheça as substâncias que estará usando para desinfecção e também, se
adeque as normas de biossegurança propostas, para um melhor atendimento ao paciente, com
procedimentos seguros e proteção contra infecção cruzada.
REFERÊNCIAS
AUTIO KL. Studies on cross-contamination in the dental clinic. J Am Dent Assoc.,
v.100, n. 3, p. 358-361, 1980.
BARTFIELD, J. M. et al. Buffered lidocaine as a local anesthetic: investigation of shelf
life. Ann Emerg Med., v. 21, n.1, p. 16-19, 1992.
BENTHEY, C. D.; BURKEHART, N. W.; CRAWFORD, J. J. Evaluating spatter and aerosol
contamination during dental procedures. J Am Assoc., v.125, n.5, p.579-84, may,1994.
BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 set. 1990.
Acesso em: 15 setembro 2016.
BRENNAN, P. A.; MORLEY, M. R.; LANGDON, J. D. A study of the effectiveness of
dental 2% lignocaine local anaesthetic solution at different pH values. Br Dent J., v.163,
n. 5, p. 158-159, 1987.
BUHTZ, D. Possibilidades de los cuidados higiênicos de la desinfección y esterilización de turbinas,
contraángulos y piezas de mano (IyII). Quitessence, v. 8, n. 2, p. 73-85, 1995.
Página 53
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
CARRANZA, J. R.; NEWMAN, M. G. Periodontia clínica. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan; 1997.
CHUTTER, R. J. The Rationale and method for autoclaving anesthetic cartridges for surgical trays.
Oral. Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., St. Louis, v. 105, n. 2, p. e1-e4, jan.
2008.
COOLEY, R. L.; LUBOW, R. M. Effects of light on pH of local anesthetics. Mil Med.,
v.146, n.11, p. 788-791, 1981.
CRAWFORD, J. J.; BRODERIUS, C. Control of cross-infection risks in the dental
operatory: prevention of water retraction by bur cooling spray systems. J Am Dent
Assoc., v. 116, n.6, p. 685-687, 1988.
DAVIES, G. E et al. Laboratory investigation of a new anti-bacterial agent of a hight potence. British
J.pharmacol., v. 9, p. 192-196, 1954.
DIFCO & BBL Manual . Manual Of Microbiological Culture Media. Ed. United States of America,
2003.
FANTINATO. V. et al. Esterilização. In: FANTINO, A. Manual de esterilização e desinfecção em
Odontologia. São Paulo: Santos; 1994. p. 15-19.
FERREIRA, R. A. Barrando o invisível. Rev. Assoc. Paul. Cir. Dent., v. 49, n. 6, p. 417-427,
nov./dez. 1995.
FRY, B. W.; CIARIONE, A. E. Concentrations of vasoconstrictors in local anesthetics
change during storage in cartridge heaters. J Dent Res., v. 59, n.7, p. 1163, 1980.
GALVANI, L. R. et al. Utilização dos métodos de biossegurança nos consultórios odontológicos da
cidade de Porto Alegre-RS. Stomatos, v.10, n.1, p.7-13, jan/jun. 2004.
GERK, D. C. et al. The effect of irradiation and heat on the content of adrenaline in
commercially manufactured local anesthetic solutions - a pilot study. Aust Dent J., v.23,
n.4, p. 311-313, 1978.
GJERMO, P. A. Clorhexidina na prática odontológica. RGO, v.26, n.1, p.22-26, jan-mar. 1978.
GONÇALVES, A. C. S.; TRAVASSOS, D. V.; SILVA, M. Biossegurança do exercício da
odontologia. RPG: Revista de Pós-Graduação, São Paulo, v. 3, n. 3, p. 242-245, 1996.
GUANDALINI, S. L.; MELO, N. S. F. O.; SANTOS, E. C. P. Como controlar a infecção na
odontologia. Londrina: Gnatus, 2000.
GUIMARÃES JUNIOR, J. Biosseguranca e controle de infecção cruzada em
consultórios odontológicos. São Paulo: Santos; 2001.
HOEFEL, D. et al. Enumeration of water-borne bactéria using viability assays and flow
cytometry: a comparison to culture-based techniques. J.Microbiol.Methods, n.55,
p.585-597, 2003.
Página 54
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
HORTENSE.S.R. et al. Uso da clorexidina como agente preventivo e terapêutico na odontologia.
Revista de Odontologia da Universidade de São Paulo, v. 22, n. 2, p. 178-84, mai-ago. 2010.
KNACKFUSS, P. L.; BARBOSA, T. C.; MOTA, E. G. Biossegurança na Odontologia: uma revisão
da literatura. Rev. Grad., Porto Alegre, v.3, n. 1, p. 1-13, 2010.
MALAMED, S. Handbook of local anestesia. 5th ed. St. Louis: Mosby, 2013.
MURRAY, P. R. et al. (Eds) Manual of clinical microbiology. 9th Ed. Washington D.C.: ASM,
2007.
OPLUSTIL, C. P. et al. Procedimentos básicos em microbiologia clínica. São Paulo: Sarvier, 2000.
PALENIK, C. J.; BURKE, F. J.; MILLER, C. H. Strategies for dental clinic infection
control. Dent Update., v.27, n.1, p. 7-10, 12, 14-15, 2000.
SILVA, C. R. G.; JORGE, A. O. C. Avaliação de desinfetantes de superfície utilizados em
Odontologia. Pesqui Odontol Brás., v.16, n.2, p.107-114, abr/jun. 2002.
TEIXEIRA, M.; SANTOS, M. V. Responsabilidade no controle de infecção. Rev Assoc Paul Cir
Dent, São Paulo, v.53, n.3, p.177-189, mai./jun.1999.
WARREN, D. K. Fraser la Infection control measures to limit antimicrobial resistance.
Crit Care Med., v.29, n.4, p. 128-134, 2001.
Página 55
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
PREVALÊNCIA DE QUEILITE ACTÍNICA EM OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
EM TERESINA-PI
PREVALENCE OF ACTINAL QUEILITE IN CIVIL CONSTRUCTION OPERATORS IN
TERESINA-PI
Nathália de Maria Torres e Barros1 , Neiva Sedenho de Carvalho2
RESUMO
São várias as alterações provocadas pela exposição labial continuada e desprotegida da radiação
ultravioleta, com destaque para a queilite actínica. Os efeitos se manifestam, principalmente, no lábio
inferior e se apresentam como ressecamento, descamação, fissuras, edema, endurecimento do lábio,
perda do limite entre pele e semimucosa, entre esta e mucosa labial, ulcerações, áreas eritroplásicas,
leucoplásicas e crostas, podendo se malignizar. O objetivo desta pesquisa foi levantar a prevalência
de queilite actínica numa população de 131 operários de uma construção civil em Teresina-PI,
selecionados através de sorteio, sendo 45 de ambos os gêneros, acima dos 18 anos e sem restrição
quanto a cor de pele. Previamente ao sorteio, foi proferida palestra educativa, através de álbum seriado
seguida da distribuição de panfleto ilustrativo visando conscientizá-los sobre a necessidade da
proteção labial. Todos os participantes da amostra submeteram-se ao Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido, e aqueles que aceitaram, foram entrevistados e examinados em seu local de trabalho.
As alterações labiais diagnosticadas no exame clinico foram registradas em ficha clinica própria. Os
dados foram organizados em forma de tabelas e gráficos em planilhas Microsoft Excel 2013. As
variáveis foram tratadas e organizadas no programa SPSS Statistcs e transformadas em números e
percentagens. Pode-se concluir que 62,22% dos operários da construção civil foram acometidos por
queilite actínica (QA), enquanto que 37,78% não exibiam esta patologia; 50,0% dos participantes,
independente do gênero, que apresentavam a patologia, exibiam QA em grau leve, como também
50,0% apresentavam o grau severo; 63,6% dos homens e 75,0% das mulheres da amostra sofreram
exposição ao sol por tempo acumulado num período inferior a 10 anos; 26,9%, independente do
gênero, expuseram-se às radiações solares por um período de 10 a 20 anos; 71,11%, independente do
gênero, não faziam uso de proteção labial o que contribuiu para o aparecimento de alterações teciduais
no lábio inferior. É dever do Cirurgião Dentista prevenir, diagnosticar, tratar e proservar a queilite
actínica, pois a mesma acontece no âmbito de trabalho deste profissional.
Palavras chave: Queilite Actínica. Lábio inferior. Lesão cancerizável.
__________________________
1
Aluna do Curso de Odontologia da Faculdade Integral Diferencial (DeVryFACID)
Email: [email protected]
2 Professora do Curo de Odontologia da DeVryFACID, Mestre em Odontologia. Email: [email protected]
Página 56
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
ABSCTRACT
There are several changes caused by continued and unprotected lip exposure to ultraviolet radiation,
particularly actinic cheilitis. The effects are manifested mainly in the lower lip and appear as dryness,
flaking, cracking, swelling, lip hardening, loss of the boundary between skin and semimucosa,
between it and labial mucosa, ulceration, eritroplasic areas, leukoplakic areas and crusting, and may
worsen. The objective of this research was to identify the prevalence of actinic cheilitis in a population
of 131 workers of a construction site in Teresina-PI, selected by lottery, 45 of both genders, over 18
and without restriction as to skin color. Prior to the draw, educational lecture was given by a serial
album followed by illustrative flyer distribution aimed at making them aware about the need of lip
protection. All participants for the sample submitted to the FCTC and those who accepted were
interviewed and examined in their workplace. The lip changes diagnosed in clinical examination were
recorded on clinical record. The data were organized in tables and graphs in Microsoft Excel 2013
spreadsheets. The variables were treated and organized in the SPSS Statistcs progam and transformed
into numbers and percentages. It can be concluded that 62,22% of construction workers were afflicted
with actinic cheilitis, while 37,78% did not exhibit this disease; 50,0% of respondents, regardless of
gender, who had the disease, showed A.Q in mild degree, as well as 50,0% had severe degree; 63,6%
of men and 75,0% of the women sample were exposed to the sun for a cumulative time of less than
10 years; 26,9%, regardless of gender, were exposed to sunlight for a period of 10 to 20 years;
71,11%, regardless of gender, did not used lip protection, which contributed to the appearance of
tissue changes in the lower lip. It is the duty of the DS to prevent, diagnose, treat and observe the
actinic cheilitis, because it happens in the scope of work of this professional and should be considered,
also, that this condition displays high malignant potential.
Key words: Actinic cheilitis. Bottom lip. Malignantly injury.
INTRODUÇÃO
A queilite actínica é considerada lesão pré-maligna ou uma forma incipiente e superficial do
carcinoma de células escamosas do lábio inferior. É comumente encontrada em indivíduos cujas
atividades profissionais estão relacionadas à exposição solar crônica (PIÑERA-MARQUES et al.,
2010).
Arnauld et al.(2014) apontaram duas formas da queilite actínica: aguda e crônica. A forma
aguda caracteriza-se por edema e eritema discretos, fissuras e úlceras ocorrendo, geralmente, frente
à exposição excessiva ao sol, em curto espaço de tempo, com possível resolução dessas alterações.
Já a forma crônica ocorre quando o individuo se expõe prolongada e cumulativamente aos raios
ultravioleta com manifestações epiteliais mais severas e irreversíveis. Comumente, o lábio inferior
apresenta-se ressecado, fissurado, com aumento de volume discreto e difuso, perda do limite entre a
semi-mucosa labial e pele, bem como pápulas e/ou manchas leucoplásicas.
A queilite actínica (QA) tem como diagnóstico, o reconhecimento clínico. Contudo, os
estudos histopatológicos e a biópsia são necessários nos casos que forem detectadas áreas erosivas
persistentes ou inflamatórias. O indivíduo não apresenta sintomas, porém em alguns casos, pode
ocorrer a presença de descamação intensa do lábio inferior, assim como dor, prurido e queimação.
Segundo Vieira et al.(2012) as alterações vão depender do tipo, da dose, do tempo e da taxa
de exposição solar, bem como da sensibilidade da área afetada.A radiação solar é o mais importante
fator de risco para o desenvolvimento de lesões no lábio, contudo não é o único, pois alguns fatores
estão associados, exercendo assim um papel essencial na evolução da queilite actínica para o quadro
de carcinoma epidermóide.
Página 57
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
No momento atual questiona-se a prevalência de queilite actínica em operários da construção
civil, justificando-se a realização desta pesquisa, pois, de acordo com Segundo et al. (2004), 31% dos
casos de Q.A sofrem transformação maligna.
Este estudo objetivou verificar a prevalência da queilite actínica em operários da construção
civil em Teresina-PI, bem como realizar exames clínicos; identificar as alterações teciduais que, num
segundo momento, poderão sofrer malignização; estabelecer métodos terapêuticos; proferir palestra
educativa, distribuir panfleto ilustrativo e orientar a realização do autoexame da boca visando a
prevenção e/ou diagnóstico precoce de alterações presentes especificamente na semi-mucosa labial
inferior.
Os objetivos elencados nasceram da hipótese de que os operários da construção civil ficam
expostos ao sol por período de tempo prolongado, tendo maior possibilidade de apresentar queilite
actínica.
É dever do Cirurgião Dentista (CD) prevenir, diagnosticar, tratar e proservar esta patologia,
pois a mesma acontece na esfera de trabalho deste profissional.
2 METODOLOGIA
O projeto de pesquisa que originou este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) da Faculdade Integral Diferencial (DeVryFACID), sob o protocolo n°
51535315.7.0000.5211.
Inicialmente foi proferida palestra educativa intitulada “Prevalência de queilite actínica em
operários da construção civil em Teresina-PI”, através de álbum seriado ilustrativo, para todos os
operários da construção civil contratados pela Construtora Mota Machado, a obra selecionada para o
estudo. Todos os ouvintes da palestra receberam um panfleto, também de caráter educativo, sobre o
tema abordado.
Foram sorteados 45 operários da Construtora, dentre os 131 cadastrados junto ao Engenheiro
Civil responsável pela. Os operários eram de ambos os gêneros, acima dos 18 anos, de todas as cores
de pele, independente do grau de escolaridade e do estado civil.
Posteriormente, os operários foram esclarecidos quanto a sua participação neste estudo e
receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) a ser preenchido.
Após a devolução do Termo, devidamente preenchido e autorizado, foram realizados os
procedimentos inerentes ao exame clinico ou exame do paciente, constituído por anamnese, exame
físico e exames complementares, cujos dados obtidos foram registrados em uma ficha clínica.
Uma vez realizado minunciosamente o exame do paciente, com ênfase no lábio inferior, e
estabelecidos os diagnósticos, foram distribuídos batons de manteiga de cacau, bem como camisetas
com estampa referente ao projeto.
Os exames clínicos com ênfase no lábio inferior foram realizados em ambiente confortável
cuja iluminação foi complementada com o auxilio de lanterna manual. A pesquisadora seguiu as
normas de biossegurança preconizadas como a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs) constituídos de avental, gorro, luvas e máscara.
A palestra educativa, a distribuição do panfleto ilustrativo e os exames clínicos foram
realizados na sede do edifício em construção “Reserva do Horto” situado na Avenida Coronel Costa
Araújo, 2184, Horto Florestal, Teresina-PI.
Os dados foram organizados em forma de tabelas e gráficos em planilhas Microsoft Excel
2013. As variáveis foram tratadas e organizadas no programa SPSS Statistcs e transformadas em
números e percentagens. Os resultados obtidos foram analisados e discutidos com outros estudos
similares.
Página 58
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 1 apresenta a distribuição percentual da amostra de acordo com o gênero.
Figura 1 - Distribuição percentual da amostra de acordo com o gênero
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Ao analisar a Figura 1 verificou-se que a amostra foi constituída em sua maioria por homens,
ou seja, 80%, sendo o restante por mulheres, 20%. Isso deve-se ao fato de que a construção civil
concentra mais operários do gênero masculino, embora tenha uma participação cada vez mais
crescente de mulheres nesse mercado de trabalho.
Dorigon et al. (2006) estudaram a prevalência de alterações labiais em uma amostra
constituída exclusivamente por homens da ilha de Santa Catarina que desenvolviam atividade
pesqueira. Freitas (2007), ao avaliar a prevalência de queilite actínica em horticultores de TeresinaPI, encontrou 65,7% de casos no gênero feminino e 34,3% no masculino, visto que muitas donas de
casa, para complementar a renda família, desenvolviam essa ocupação.
A Tabela 1 exibe a distribuição em número absoluto e percentual da amostragem por gênero
segundo a faixa etária, estado civil e cor da pele.
Tabela 1 – Distribuição em número absoluto e percentual da amostra por gênero segundo a
faixa etária, estado civil e cor da pele
Faixa
Etária
Estado
Civil
Cor da
Pele
18 a 30 anos
31 a 50 anos
acima de 50
anos
Casado
Solteiro
Separado
Viúvo
Branco
Parda
Preta
Masculino
N
%
11
30,6
20
55,6
Gênero
Feminino
N
%
5
55,6
3
33,3
Total
N
%
16
23
35,6
51,1
5
13,9
1
11,1
6
13,3
18
17
1
4
29
3
50,0
47,2
2,8
11,1
80,6
8,3
2
7
1
7
1
22,2
77,8
11,1
77,8
11,1
20
24
1
5
36
4
44,4
53,3
2,2
11,1
80,0
8,9
Página 59
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Total
36
100,0
9
100,0
45
100,0
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Pode-se observar que a maioria dos participantes deste trabalho em relação à faixa etária,
apresentava em maior quantidade, considerando o gênero masculino, um total de 55,6% entre 31 a
50 anos e o feminino com um total de 55,6% entre 18 a 30 anos. No entanto, foi observado que
somente seis dos participantes de ambos os gêneros encontravam-se acima dos 50 anos, totalizando
13,3%.
Freitas (2007) observou que a maioria dos participantes de seu estudo, 52,2%, foi constituída
por mulheres de 51 a 60 anos e 50% por homens mais velhos com faixa etária compreendia entre 61
a 70 anos. Dorigon et al. (2006) constataram que a média de idade dos participantes da amostra foi
de 47,73 anos, tendo o pescador mais jovem 16 e o mais velho 86 anos.
Martins et al. (2007) afirmaram que a QA afeta, principalmente, homens variando entre 40
a 80 anos. A forma aguda acomete jovens que ficam expostos ao sol durante o verão e a crônica
atinge, principalmente, homens acima de 40 anos de idade, que no decorrer da vida permanecem
expostos aos raios UV por longo período de tempo.
Já em relação ao estado civil, constatou-se que 50% dos homens eram casados e 77,8% das
mulheres eram solteiras. Freitas (2007) constatou que 78,3% de mulheres e 75,0% de homens eram
casados.
O aparecimento da queilite actínica não tem conotação com o estado civil do indivíduo.
Considerando a cor da pele dos participantes, verificou-se que a maioria dos operários era
parda, sendo 80,6% do gênero masculino e 77,8% do feminino. Foi constatado, também, que cinco
dos indivíduos de ambos os gêneros, tinham a cor branca de pele, totalizando 11,1% e que quatro
dos trabalhadores eram da cor preta de pele, ou seja, 8,9%.
A maioria dos autores concorda que a QA ocorre mais em pessoas de pele clara, devido a
menor quantidade de melanina na pele das pessoas de cor branca ficando menos protegida da
exposição aos raios ultravioleta A e B, de menor comprimento de onda e grande poder de penetração
(NEVILLE et al., 2009; MARTINS et al., 2007; PIRES et al., 2001).
A Tabela 2 ilustra a distribuição em número absoluto e percentual da amostra por gênero
segundo a profissão exercida anteriormente.
Tabela 2 - Distribuição em número absoluto e percentual da amostra
por gênero segundo a profissão exercida anteriormente
Profissão
Anterior
Pedreiro
Ajudante
Camelô
Agricult
or
Outros
Total
Masculino
Nº
%
7
19,4
10
27,8
2
5,6
5
13,9
12
36
33,3
100,0
Gênero
Feminino
Nº
%
2
22,2
7
9
77,8
100,0
Total
Nº
7
12
2
%
15,6
26,7
4,4
5
11,1
19
45
42,2
100,0
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Página 60
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Na Tabela 2 observou-se que 19 dos participantes tinham outras profissões que não os
expunham demasiadamente as radiações actínicas, sendo 33,3% homens e 77,8% mulheres. Notouse que 12 dos operários, tinham como profissão anterior a de ajudante, sendo 27,8% do sexo
masculino e 22,2% do feminino. Foi observado, ainda, que 19,4% eram pedreiros, 5,6% camelôs e
13,9% agricultores, sendo todos do gênero masculino.
Em relação à profissão exercida anteriormente pelos horticultores de sua amostra, Freitas
(2007) constatou que a maioria era constituída por lavradores, onde 73,9% e 58,4% correspondiam,
respectivamente ao gênero feminino e masculino. Somente 8,3% dos homens haviam trabalhado
como operários da construção civil e jardineiros. Quanto às demais profissões exercidas
anteriormente, 26,1% das mulheres foram lavadeiras e 25,0% dos homens motoristas ou vigias.
Os resultados expostos concordam com Neville et al. (2009), Soares (2003), Martins et al.
(2007), Pires et al. (2001), Costa et al. (2000), Torres (2002); Nicolau e Balus (1964), Pindborg
(1981), Awde, Kogon e Morin (1996), ao afirmarem que a QA ocorre, principalmente, em pessoas
que se expõem continuamente aos raios solares, como marinheiros, agricultores, pescadores e
operários da construção civil.
A Tabela 3 evidencia a distribuição em número absoluto e percentual da amostra por gênero
segundo a profissão atual.
Tabela 3 - Distribuição em número absoluto e percentual da amostra
por gênero segundo a profissão atual
Gênero
Pedreiro
Profissão
Atual
Masculino
Nº
%
17
47,2
Feminino
Nº
%
-
Total
Nº
%
-
17
37,8
77,8
15
33,3
Ajudante
8
22,2
Camelô
Agricult
or
Outros
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
30,6
2
22,2
13
28,9
Total
36
100,0
9
100,0
45
100,0
7
Fonte: dados da pesquisa (2016).
A Tabela 3 mostra em maior número que o gênero masculino atua predominantemente nas
construções civis, sendo 47,2% como pedreiros. Já em relação aos ajudantes, os homens decaem para
22,2% e as mulheres predominam com 77,8%.
Mais uma vez os resultados deste trabalho estão em sintonia com Neville et al. (2009), Soares
(2003), Martins et al. (2007), Pires et al. (2001), Costa et al. (2000), Torres (2002), Nicolau e Balus
(1964), Pindborg (1981), Awde, Kogon e Morin (1996), quando afirmam que a QA ocorre,
predominantemente, em pessoas que se expõem frequentemente às radiações actínicas.
A Tabela 4 exibe a distribuição em número absoluto e percentual da amostra por gênero
segundo o tempo de exposição às radiações ultravioleta acumulado em anos.
Página 61
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Tabela 4 - Distribuição em número absoluto e percentual da amostra por gênero
segundo o tempo de exposição às radiações ultravioleta acumulado em anos
Gênero
Masculino
N
%
Tempo de
exposição
categorizada
Feminino
N
%
Total
N
%
Menos de 10
anos
14
63,6
3
75,0
17
65,4
10 a 20 anos
6
27,3
1
25,0
7
26,9
21 a 30 anos
1
4,5
1
3,8
1
4,5
1
3,8
Acima de 30
anos
Total
22 100,0
-
-
-
4
100,0
26 100,0
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Em relação à tabela 4 foram estabelecidas quatro faixas, ou seja, menos de 10 anos; 10 a 20
anos; 21 a 30 anos e acima de 30 anos. Constatou-se que 63,6% dos homens e 75,0% das mulheres
da amostra sofreram exposição ao sol por tempo acumulado num período inferior a 10 anos. Sete
participantes desta pesquisa, independente do gênero, ou seja, 26,9% expuseram-se às radiações
solares por um período de 10 a 20 anos. Apenas um homem relatou ter se exposto a esse fator de risco
por um período de 21 a 30 anos bem com ouve relato de um outro operário ter sofrido exposição solar
por tempo superior a 30 anos.
Freitas (2007) estabeleceu cinco faixas, ou seja, 10 – 20; 21 – 30; 31 – 40; 41 – 50 e acima
de 50, em relação aos anos de exposição às radiações ultravioleta por conta das atividades
profissionais desenvolvidas pelos horticultores de sua amostra. Constatou que 50% dos homens
sofrerão exposição solar por tempo superior a 50 anos, enquanto que 39,2% das mulheres labutaram
há 41 anos no mínimo e 50 anos no máximo, expostas aos raios ultravioletas.
Por outro lado, Dorigon et al. (2006) constataram que os pescadores de sua amostra
distribuíram-se uniformemente nas quatro faixas por ele adotadas, ou seja, 01 – 15; 15 – 30; 30 – 45;
45 – 65, segundo o tempo de exposição à radiação UV acumulado em anos.
Manganaro, Will e Poulos (1997), Pires et al. (2001), Neville et al. (2009); Cerri A., Soares
e Cerri R (2006), Costa et al. (2000) e Torres (2002) são unânimes em afirmar que a exposição
cumulativa à radiação solar, resulta em quelite actínica.
A Figura 2 dois ilustra a distribuição percentual da amostra em relação à proteção labial.
Página 62
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Figura 2 - Distribuição percentual da amostra em relação à proteção labial
Fonte: dados da pesquisa (2016).
A Figura 2, que ilustra a distribuição percentual da amostra em relação à proteção labial,
mostra que a maioria dos operários, 71,11%, independente do gênero, não faz uso de proteção labial
o que contribui para o aparecimento de alterações teciduais no lábio inferior.
A Construtora onde os operários estavam contratados no momento desta pesquisa, tem a
preocupação em ofertar protetor solar para a pele entre os seus contratados. Porém, por
desconhecimento da QA a mencionada empresa não oferta batom com fator de proteção solar ou
mesmo de manteiga de cacau. O uso de chapéu de aba larga não é permitido, visto que são utilizados
capacetes como um dos Equipamentos de Proteção Individual.
Dorigon et al. (2006) concluíram que 55,8% dos pescadores componentes da amostra faziam
uso de boné, chapéu ou protetor labial e, 44,1% não utilizavam nenhuma forma de proteção labial
Freitas (2007) constatou que 91,7% dos homens e 78,3% das mulheres não tinham cuidado
contra os raios solares, por desconhecerem os fatores de proteção para a queilite actínica. Apenas
21,7% do gênero feminino e 8,3% do masculino faziam uso do protetor labial e nem um dos
horticultores da amostra utilizavam chapéu como fator de proteção contra as radiações actínicas.
Pacca (1999), Pires et al. (2001), Birman, Marcucci e Weinfeld (2005), Neville et al. (2009)
são unânimes em recomendar o uso dos meios de proteção labial contra os raios solares através dos
fatores discutidos anteriormente.
A Tabela 5 e as Figuras 3 e 4 expõem, respectivamente, a distribuição em número absoluto
e percentual da amostra por gênero segundo o tabagismo, o percentual da amostra em relação ao
tabagismo, bem como o percentual em relação ao hábito do tabagismo no passado.
Tabela 5 - Distribuição em número absoluto e percentual da amostra
por gênero segundo o tabagismo
Gênero
Masculino
Feminino
N
N
%
%
Total
N
%
Sim
10
27,8
2
22,2
12
26,7
Não
Já fumou Sim
26
13
72,2
50,0
7
1
77,8
14,3
33
14
73,3
42,4
Fumantes
Página 63
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Não
13
50,0
6
85,7
19
57,6
Total
26
100,0
7
100,0
33
100,0
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Figura 3 - Distribuição percentual da amostra em relação ao tabagismo
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Figura 4 - Distribuição percentual da amostra em relação ao hábito do tabagismo no passado
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Considerando o tabagismo, verificou-se que apenas 10 dos homens faziam uso frequente do
cigarro industrializado no momento da coleta de dados e duas das mulheres também utilizavam
frequentemente a mesma forma de fumo, totalizando 26,7%.
Em relação ao hábito do tabagismo no passado, constatou-se que 14 dos componentes da
amostra eram ex-fumantes sendo 13 homens e uma mulher totalizando 42,4%.
Página 64
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Ainda considerando o tabagismo, Freitas (2007) verificou que somente 16,7% dos
horticultores faziam uso frequente do cigarro tanto industrializado como do confeccionado
artesanalmente. Já, 21,7% das horticultoras utilizavam somente o cigarro industrializado. Observou
ainda que 58,3% dos homens e 43,5% das mulheres de sua amostra já haviam deixado este hábito
nocivo.
Dorigon et al. (2006) concluíram que 33,3% dos pescadores fumavam frequentemente; a
mesma percentagem era de ex-úsuarios e de não usuários.
Segundo Arnoud et al. (2014) a malignização da QA tendem a se agravar caso estejam
associados aos fatores carcinogênicos, álcool e fumo.
A Tabela 6 e as Figuras 5 e 6 demonstram, respectivamente, a distribuição em número
absoluto e percentual da amostra por gênero segundo o etilismo, o percentual da amostra em relação
ao etilismo, bem como de acordo com a ingestão de bebida alcoólica no passado.
Tabela 6 - Distribuição em número absoluto e percentual da
amostra por gênero segundo o etilismo
Gênero
Etilismo
Já bebeu
Masculino
Feminino
N
N
Sim
Não
27
9
%
75,0
25,0
5
4
%
55,6
44,4
Sim
6
16,7
2
Não
3
8,3
Total
36
100,0
Total
N
32
13
%
71,1
28,9
22,2
8
17,8
2
22,2
5
11,1
9
100,0
45
100,0
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Figura 5 – Distribuição percentual da amostra segundo o etilismo
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Página 65
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Figura 6 – Distribuição percentual da amostra segundo a ingestão de bebida alcoólica no
passado
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Ainda sobre os hábitos nocivos, foi observado que 32 dos participantes, independente do
gênero, faziam uso frequente de bebida alcoólica, chegando ao total de 71,1%.
Em relação ao hábito de consumir bebida alcoólica no passado, constatou-se que seis dos
operários masculinos já haviam bebido anteriormente, bem como dois do gênero feminino,
totalizando assim 17,8%.
Na amostra de Freitas (2007), em relação ao etilismo, foi constatado que somente 41,7% dos
horticultores tinham o hábito de consumir frequentemente bebidas alcoólicas como cachaça e cerveja
e que 8,7% das horticultoras relataram, que consumiam esporadicamente as mesmas bebidas.
Já em relação aos estudos de Dorigon et al. (2006), os mesmos encontraram em sua amostra
14,4% para uso frequente, 47,7% relacionado ao uso esporádico, 16,2% aos ex-usuários e 21,6%
voltado para não usuários de bebidas alcoólicas, respectivamente.
Cerri A, Soares e Cerri R (2006), bem como Arnaud (2014), ressaltaram que a possível
evolução da QA está relacionada ao uso frequente de bebidas alcoólicas.
A Figura 7 ilustra a distribuição percentual da amostra segundo a prevalência de queilite
actína.
Figura 7 – Distribuição percentual da amostra segundo a prevalência de queilite actínica
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Página 66
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
A Figura 7 mostra que 62,22% dos operários, independente do gênero, são acometidos pela
QA e que somente 37,78% não apresentam tal patologia.
Acredita-se que a elevada percentagem de queilite actínica se deve ao fato do
desconhecimento dos participantes, em relação ao risco que a radiação UV pode causar no lábio
inferior, tanto que o gráfico dois, anteriormente discutido, evidenciou que 71,11% não faziam uso de
protetor labial o que resulta, a longo prazo em quadro clínico desta patologia.
Os resultados desta pesquisa são quase coincidentes com os obtidos por Freitas (2007) o qual
encontrou 65,7% do horticultores acometidos por QA, justificando que essa elevada percentagem
devia-se ao desconhecimento, por parte de sua amostra, de que as radiações actínicas constituem o
fator de risco principal para a referida alteração.
Já Dorigon et al. (2006) constataram que 43,2% dos pescadores exibiam QA em diversos
graus de severidade.
A diferença de aproximadamente 20% entre os resultados obtidos nesta pesquisa, 62,22%
por Freitas (2007), 65,7% e Dorigon et al. (2006), 43,2% confirmaram que a queilite actínica está
relacionada ao clima continental caracterizado por verão de longa duração, com média de temperatura
acima dos 30ºC e maior exposição a luz solar (NICOLAU; BALUS, 1964; PINDBORG, 1981;
AWDE; KOGON; MORIN,1996).
As informações anteriormente expostas ocorreram no nordeste brasileiro onde foram
desenvolvidas as pesquisas com operários da construção civil e horticultores, cuja temperatura pode,
às vezes, superar os 40ºC. Já no sul do pais onde, ocorreu o trabalho com pescadores as estações do
ano são mais definidas e o verão não apresenta temperaturas tão elevadas.
A Figura 8 evidencia a distribuição percentual da amostra segundo a prevalência de queilite
actínica e gênero.
Figura 8 – Distribuição percentual da amostra segundo a prevalência de queilite actínica e
gênero
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Analisando a Figura 8 observou-se que 66,67% das mulheres e 61,11% dos homens desta
pesquisa apresentavam algum grau de QA.
O que chamou a atenção foi que mais participantes do gênero feminino exibiam a patologia,
embora uma diferença não significativa de 5,56%, o que pode ser explicado, pois devido às atividades
laborais não permitirem reaplicação frequente do protetor labial.
Página 67
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Freitas (2007) encontrou 11,4% de casos de QA em mulheres a mais do que em homens e
justificou, à época, que a maioria das horticultoras não disponibilizava de recursos financeiros para
aquisição dos fatores de proteção solar como prevenção da patologia.
Dorigon et al. (2006) trabalharam exclusivamente com pescadores o que não permite
comparação de resultados entre os gêneros masculino e feminino.
A queilite actínica não tem conotação com o gênero da pessoa, mas sim com sua profissão
exercida sob as radiações acínicas e sem a devida proteção.
A Figura 9 expõe a distribuição percentual da amostra de acordo com os graus de severidade
da queilite actínica.
Figura 9 – Distribuição percentual da amostra de acordo com os graus de
severidade da queilite actínica
Leve
Severo
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Tendo como base os trabalhos desenvolvidos por Dorigon et al. (2006) e Freitas (2007),
nesta pesquisa os graus de severidade da QA foram classificados em leve, moderado e severo.
O grau leve ou inicial refere-se à presença de ressecamento e/ou descamação na
seminucosa labial inferior. O moderado exibe um quadro de ressecamento e/ou descamação mais
severos acompanhados de fissuras labiais. O severo mostra edema, endurecimento do lábio, perda do
limite entre pele e semimucosa, entre esta e mucosa labial, ulcerações, úlceras, áreas eritroplásicas ou
vermelhas, leucoplásicas ou brancas e crostas.
Soares (2003) não classifica os diversos aspectos clínicos da QA de acordo com o grau
de severidade, descrevendo o lábio como disforme, ressecado, friável e esbranquiçado, descamado,
com perda da linha úmida do lábio, com contorno alterado e com sobreposição de erosões, úlceras,
sulcos, fissuras e vermelhidões. A medida que a lesão vai evoluindo o lábio vai perdendo a
elasticidade, aumentando de volume com, o surgimento de placas brancas acompanhado de erosão
ou úlceras com facilidade de sangramento.
Os resultados encontrados nesta pesquisa apontam que 50,0% dos operários da
Construtora, independente do gênero que apresentavam a patologia, exibiam QA em grau leve, ou
seja, com presença de ressecamento e/ou descamação da semimucosa inferior, como também 50,0%
apresentavam o grau severo. Dentro desta classificação foi encontrado apenas o apagamento do limite
entre pele e semimucosa. Ainda em relação ao grau desta patologia não foi evidenciado nenhum
quadro de queilite actínica no estado moderado.
Freitas (2007) diagnosticou os três graus de severidade da queilite actínica sendo 28,6%,
14,3% e 57,10% para os homens nos graus leve moderado e severo respectivamente. Em relação às
mulheres, 13,30% no grau leve, 46,7% no quadro moderado e 40,0% na forma severa.
Foi proferida palestra educativa seguida de distribuição de panfleto ilustrativo sobre QA
para o universo de operários da construção civil cadastrado pela construtora em questão.
Página 68
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Todos os componentes da amostra foram agraciados com um batom de manteiga de cacau
com fotoprotetor. O mencionado batom serviu como método terapêutica ao portados de queilite
actínica nos graus leve ou inicial. Já para os operários com QA no grau severo foram reforçadas as
orientações quanto a adoção dos fatores de proteção, bem como afastamento do fator de risco
principal, ou seja, as radiações actínicas.
4 CONCLUSÃO
Após análise e discussão dos resultados obtidos acerca da prevalência de queilite actínica
em operários de uma Construtora em Teresina-PI, conclui-se que: 62,22% dos operários da
construção civil foram acometidos por queilite actínica, enquanto que 37,78% não exibiam esta
patologia; 50,0% dos participantes, independente do gênero, que apresentavam a patologia, exibiam
QA em grau leve, como também 50% apresentavam o grau severo; 63,6% dos homens e 75,0% das
mulheres da amostra sofreram exposição ao sol por tempo acumulado num período inferior a 10 anos;
26,9%, independente do gênero, expuseram-se às radiações solares por um período de 10 a 20 anos;
71,11%, independente do gênero, não faziam uso de proteção labial o que contribuiu para o
aparecimento de alterações teciduais no lábio inferior.
É dever do Cirurgião Dentista prevenir, diagnosticar, tratar e proservar a queilite actínica,
pois a mesma acontece no âmbito de trabalho deste profissional.
REFERÊNCIAS
ABREU, M. A. M. M. de, et al. Queilite actínica adjacente ao carcinoma espinocelular do lábio como
indicador de prognóstico. Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, v. 72, n. 6, p. 167-71, nov.
2006.
AWDE, J. D.; KONGO, S. L.; MORIN, R. J. Lip câncer: a rewiew. J Can Dent Assoc, v.62, n.8,
p.634-636, aug. 1996.
ARNAUD, R. R. et al. Queilite actínica: avaliação histopatológica de 44 casos. Revista Odontol
UNESP, v. 43, n.6, p. 384-389, nov. 2014.
BRIMAN, E. G.; MARCUCCI, G.; WEINFELD, I. Alterações de cor da mucosa bucal e dos dentes.
In: MARCUCCI, G. Estomatologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005, p. 92-3.
CERRI, A.; SOARES, H. A.; CERRI, R. A. Condutas atuais no diagnóstico e tratamento das lesões
cancerizáveis da mucosa bucal. In: DIB, L. L.; SADDY, M. S. Atualização clínica em odontologia.
São Paulo: Artes Médicas, 2006, p. 265-74.
COSTA, L. C. V. et al. Queilose actínica: revisão da literatura e relato de caso clínico. Revista do
Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, Belo Horizonte, v.6, n.3, p.184-190, set./dez.
2000.
DORIGON, F. S. et al. Estudo da prevalência de alterações labiais em pescadores da ilha de Santa
Catarina. Revista Odonto Ciência, Porto Alegre, v. 21, n. 51, p. 37 – 42, jan. / mar. 2006.
FREITAS, E. B. Prevalência de queilite actínica em borticultores da Vila Nova – Grande Pedra
Mole, Teresina – PI. 2007. 86f. Trabalho de conclusão de Curso (Graduação em Odontologia)
Faculdade Integral Diferencial, Teresina, 2007.
Página 69
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
MANGANARO, A. M.; WILL, M. J.; POULOS, E. Actinic cheilitis: a premalignant condition.
General Dentistry, Chicago, v. 45, n. 5, p. 492 – 4, sept./oct. 1997.
MARTINS et al. Queilite actínica: relato de caso clínico. ConScientiae Saúde, São Paulo, v. 6, n. 1,
p. 105-110, 2007.
NICOLAU, S. G.; BALLUS, L. Chronic cheilitis and cancer of the lower lip. Br J Dermotol, v. 76,
n.2, p.278-289, mar. 1964.
NEVILLE, B. W. et al. Patologia epitelial. In:______ Patologia oral e maxilofacial. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2009, p. 406 – 408.
PACCA, F. O. T. Queilite actínica: revisão da literatura e estado atual da questão. 1999. 75p.
Dissertação (Mestrado em Odontologia) – Faculdade de Odontologia, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 1999.
PIÑERA–MARQUES, K. et al. Actinic lesions in fishermen’s lower lip: clinical, cytopathological
and histopathologic analysis. Clinics, v. 65, 4, p. 363-7, 2010.
PINDBORG, J. J. Câncer e pré-câncer bucal. São Paulo: Panamericana, 1981.
PIRES, F. R. et al. Queilite actínica: aspectos clínicos e preventivos. Revista da Associação Paulista
de Cirurgiões Dentistas, São Paulo, v. 55, n.3, p. 200-3, maio/jun. 2001.
SEGUNDO et al. Queilite actínica com transformação maligna: relato de caso clinico. Revista
Internacional de Estomatoligia, Curitiba, v. 1, n.2, p. 66-9, 2004.
SOARES, H. A. Queilite actínica: características clínicas. Revista Odonto, São Paulo, ano 11, n.
22, p. 5-13, 2003.
TOMMASI, A. F. Diagnóstico em patologia bucal. 3 ed. São Paulo: Pancast, 2002. cap. 23. p. 377.
TORRES, S.C.M. Estudo epidemiológico das lesões de mucosa bucal mais frequentemente
diagnosticadas na região de Bragança Paulista. 2002. 161p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade
de odontologia, Universidade São Francisco, Bragança Paulista, 2002.
VIEIRA, R. A. M. A. R. et al. Actinic cheilitis and squamous cell carcinoma of the lip: clinical,
histopatholigical and immunogenetic aspects. An. Bras. Dermatol., Rio de Janeiro, v. 87, n. 1, p.
105-114, fev. 2012.
Página 70
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS HISTOMORFOMÉTRICOS DE FOLÍCULOS PRÉANTRAIS DE OVÁRIOS DE RATAS EXPOSTAS À FUMAÇA DE CIGARRO
HISTOMORPHOMETRIC ANALYSIS OF OVARY PREANTRAL FOLLICLES OF RATS
EXPOSED TO CIGARETTE SMOKE
Jadson Lener Oliveira dos Santos1 ,
Karinne Sousa de Araújo2
RESUMO
O tabagismo tem se tornado uma das grandes causas de doenças no mundo. Diante do exposto surgiu
o problema: a exposição à fumaça de cigarro promove alterações histomorfométricas nos folículos
pré-antrais de ovários de ratas? O objetivo deste estudo foi analisar a histomorfometria dos folículos
pré-antrais de ovários de ratas expostas ou não à fumaça de cigarro por meio da verificação da área
celular destes folículos. O projeto da pesquisa foi aprovada pelo CEUA/FACID sob protocolo 058/14.
Foram selecionados 14 animais da espécie Rattus norvegicus, fêmeas, com 60 dias de idade e peso
médio de 300g, divididos em dois grupo: experimental e controle, contendo sete animais cada. Os
animais do grupo experimental foram expostos à fumaça produzida pela combustão de quatro cigarros
por 30 minutos, duas vezes ao dia, seis dias semanais durante 60 dias. Os animais do grupo controle
não foram expostos. Após o período de 60 dias, os animais de ambos os grupos foram eutanasiados
e as amostras dos ovários foram dissecadas e encaminhadas para processamento laboratorial de rotina
para posterior análise por microsopia de luz. A área dos folículos pré-antrais foram calculadas com o
auxílio do software ImageJ. Em seguida, foram calculadas as médias das áreas e desvios-padrão de
cada subgrupo de animais, para posterior comparação histomorfométrica intergrupos. Os resultados
foram submetidos à análise estatística, utilizando-se teste T de Student, com nível de significância
estabelecido em 5% (p<0,05). A análise estatística dos dados demonstrou que a média da área celular
dos túbulos seminíferos do grupo não exposto foi significativamente maior do que a área celular dos
túbulos seminíferos do grupo exposto (p<0,05). Pode-se concluir que a exposição de ratos à fumaça
de cigarro desencadeou alterações histomorfométricas nos ovários, por promover redução da área
celular dos folículos pré-antrais.
Palavras chave: Ovários. Folículos pré-antrais. Fumaça de cigarro.
ABSCTRACT
Tabagism has become one of the great causes of diseases in the world. Against this, a problem arises:
does the exposition to cigarette smoke promote histomorphometric alterations in rats’ preantral
ovarian follicles? The objective of this work was to analyze the histomorphometric of preantral
ovarian follicles of female rats, exposed or not, by checking the cellular area of these follicles. The
research was approved by CEUA/FACID under the protocol 058/14. 14 female Rattus norvegicus
were selected, with 60 days old and average weight of 300g, divided in two groups: experimental and
____________________
1Aluno
do Curso de Medicina da Faculdade Integral Diferencial (DeVryFACID), Teresina, Piauí,
[email protected]
2Cirurgiã-Dentista.
Mestre. Professora da Faculdade Integral Diferencial (DeVryFACID), Teresina, Piauí,
[email protected]
E-mail:
E-mail:
Página 71
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
control, containing seven animals each. The animals of the experimental group were exposed to the
smoke produced by the combustion of 4 cigarettes, for 30 minutes, twice a day, six days a week
during 60 days. The animals of the control group weren’t exposed. After a period of 60 days, the
animals from both groups were euthanized and the ovaries’ samples were dissected and forwarded to
routine laboratory processing in order to further analysis by light microscopy. The area of preantral
follicles was calculated with the help of the software ImageJ. Then, the average of the areas and the
standard deviations of each animal subgroup were calculated, to further histomorphometric
comparison between groups. RESULTS: The results were submitted to statistical analysis. Test T of
Student was used, and the established level of significance was 5% (p<0,05). The data analysis
showed that, the average of the preantral follicles cellular areas of the non-exposed group was
significantly bigger than the preantral follicles cellular areas of the exposed group (p<0,05). It can be
concluded that the exposition of rats to cigarette smoke unleashed histomorphometric alterations in
the ovaries, reducing the preantral follicles cellular area.
Key words: Ovary. Preantral follicles. Cigarette smoke.
INTRODUÇÃO
O tabagismo tem se tornado uma das grandes causas de doenças no mundo, fator preocupante
na estratégia de saúde. Estudos já demonstraram associação do tabaco com doenças cardiovasculares,
pulmonares e cancerígenas, e sugerem doenças testiculares que podem promover infertilidade
(CORRAL et al., 2010). Justifica-se, portanto, a presente pesquisa, devido a importância crescente de
quadros patológicos ocasionados pelo tabaco, buscando atingir um maior número de pesquisas sobre
o tema e maior ação de logística de saúde para evitar as complicações.
Na queima de um cigarro há produção de 4.720 substâncias, das quais 60 apresentam
atividade cancerígena, e outras são reconhecidamente tóxicas. Além da nicotina, monóxido de
carbono e hidrocarbonetos aromáticos, citam-se amidas, imidas, ácidos carboxílicos, lactonas,
ésteres, aldeídos, cetonas, álcoois, fenóis, aminas, nitritos, carboidratos, anidritos, metais pesados e
substâncias radioativas com origem nos fertilizantes fosfatados (ROSEMBERG, 2004).
A nicotina é uma droga de alta toxicidade e que tem como consequências diretas:
hipertensão; aterosclerose; espaçamentos da parede das artérias e sua obliteração, provocando,
conforme as regiões, gangrena das extremidades (doença de Reynaud), impotência, doenças
coronárias, angina do peito, infarto do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais (NUNES;
CASTRO; CASTRO, 2011).
A inalação da fumaça resultante da queima de derivados de todo tipo de tabaco, por nãofumante, constitui o chamado tabagismo passivo, exposição involuntária ao tabaco ou à poluição
tabágica ambiental (PTA). O tabagismo passivo é considerado a terceira causa de morte evitável no
mundo, após o tabagismo ativo e o alcoolismo. Estima-se que metade das crianças do mundo
encontram-se expostas à PTA; dessas, 9 a 12 milhões com menos de cinco anos de idade são atingidas
em seus ambientes domiciliares (SBPT, 2010).
O tabagismo, por meio das reações celulares decorrentes das elevadas concentrações de
nicotina no tecidos celulares, pode antecipar em até oito meses a menopausa em mulheres (fumantes
ativas), dependendo do número de cigarros fumados por dia (ALDRIGHI et al., 2005). Outro estudo
mais recente mostrou, por meio de uma meta-análise, que o tabagismo é um fator com alta
interferência na antecipação da menopausa natural, aumentando o risco disso acontecer em até 26%
dos casos (SUN et al., 2012).
Considerando-se os pontos acima expostos, levantou-se o seguinte questionamento: a
fumaça de cigarro promove alterações morfométricas em ovários de ratas expostas a ela?
O objetivo geral dessa pesquisa foi verificar a histomorfometria dos folículos pré-antrais de
ovários de ratas expostas à fumaça de cigarro e as alterações provocadas.
Página 72
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
2 METODOLOGIA
Após aprovação do estudo pela Comissão de Ética no Uso em Animais (CEUA) da
Faculdade Integral Diferencial (DeVryFACID), sob protocolo 058/14, realizou-se o estudo no
Laboratório Multidisciplinar dessa Faculdade, respeitando os princípios éticos estabelecidos pela Lei
n. 11.794/2008, conhecida como Lei Arouca. Todo o experimento obedeceu aos princípios éticos em
experimentação animal, preconizados pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal
(CONCEA, 2013).
Foi realizado um estudo experimental, longitudinal, intervencionista, tipo caso-controle com
abordagem quantitativa.
O estudo foi realizado no laboratório multidisciplinar da DeVryFACID, localizada em
Teresina, Estado do Piauí, região nordeste do Brasil.
Foram utilizadas 14 fêmeas adultas de Rattus norvegicus da linhagem Wistar, pesando
aproximadamente 300g, mantidas no Biotério da Faculdade, confinadas em gaiolas plásticas, em
ambiente com temperatura, umidade, luminosidade e ruído controlados, em ciclo claro-escuro de 12
horas e alimentadas com ração balanceada tipo Purina e água ad libitum.
Os animais foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos: o grupo I (controle; n=7), foi
mantido com ração e água filtrada, oferecidos ad libitum, durante oito semanas (60 dias
consecutivos). O grupo II (com intervenção; n=7), além de receber sua alimentação habitual e água
filtrada, foram expostos à queima de 04 cigarros por cerca de 30 minutos, duas vezes ao dia, seis dias
semanais, por um período de 60 dias consecutivos.
Para a exposição dos animais à fumaça do cigarro foi utilizada uma câmara de inalação
(Figura 1), construída com madeira (100x44x44cm), hermeticamente fechada, com janelas de vidro
nas superfícies frontal e superior para a visualização dos animais e do processo de combustão dos
cigarros, dividida em dois compartimentos iguais (I e II) por uma tela de madeira (MDF) com orifícios
de 2,5cm de diâmetro. O Compartimento I foi utilizado para realizar a combustão dos cigarros, que
eram colocados em suportes de gesso, confeccionados para possibilitar um contato direto dos cigarros
com fluxo de ar lançado no interior da caixa, proporcionando uma combustão completa dos mesmos.
Figura 1 - Representação gráfica da caixa de madeira usada para exposição dos
animais à fumaça de cigarro
Uma fonte contínua de ar com vazão de 10 litros por minuto foi utilizada no compartimento
I, possibilitando uma combustão contínua dos cigarros, ao mesmo tempo que o fluxo de ar conduzia
a fumaça liberada pelos cigarros através do orifícios da tela de madeira existente entre os
compartimentos levando-a até o compartimento II, onde estavam os animais.
Página 73
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Todas as exposições dos animais à fumaça do cigarro foram realizadas no Laboratório da
Faculdade, com a caixa no interior de exaustão, evitando a inalação da mesma pelos pesquisadores
envolvidos no processo.
Os cigarros utilizados foram adquiridos comercialmente, produzindo em cada queima 8mg
de alcatrão, 0,7mg de nicotina e 7mg de monóxido de carbono (segundo o fabricante). Foi utilizada
uma marca de cigarro que está entre as mais consumidas pela população brasileira em virtude do
preço acessível, e também possui os maiores níveis de nicotina e outros compostos tóxicos.
Após um período de 60 dias, os animais foram eutanasiados de acordo com os princípios
éticos do CONCEA, para então ser realizada a dissecação das amostras que foram submetidas à
análise.
Os resultados obtidos referentes à análise morfométrica dos folículos ovarianos foram
expressos como médias ± desvios padrão (M ± DP). Esses resultados foram organizados por meio
de tabelas e gráficos e submetidos à análise estatística.
As variáveis obtidas no estudo foram analisadas com o auxílio do programa
GraphPadInStat® versão 3.1 (Figura 2). Realizou-se o teste T de Student para análise dos dados. O
nível de significância estabelecido foi de 5 % (p<0,05).
Figura 2 - Software Image J utilizado para calcular área do folículo pré-antral
Imagem 1. Analise histomorfométrica do folículo pre-antral do ovário de rata do grupo controle
realizada no Image J; Imagem 2- Análise histomorfométrica do folículo pre-antral do ovário de rata
do grupo experimental realizada no Image J. (Aumento de 200x, H.E.)
Os animais receberam uma aplicação via intracardíaca de anestésico Tiopental Sódico
(Cristália), na dose de 0,05 ml/100g. Após 5 minutos, foi realizada a aplicação de cloreto de potássio
19,1% (Equiplex), via intracardíaca em dose única de 0,4 ml/100g, seguindo as normas do Conselho
Federal de Medicina Veterinária.
Logo após a eutanásia dos animais, foram obtidas as amostras para análise com a excisão do
ovários das ratas e subsequente fixação em solução de formol a 10% por 48h. Em seguida, as amostras
foram encaminhadas para o processo laboratorial de rotina, para a inclusão em parafina. Obtido os
blocos, foram realizados cortes longitudinais com espessura de 5 µm em micrótomo rotativo,
resultando em cortes semi-seriados, que foram corados em hemotoxilina-eosina (H.E).
Para análise e escolha dos folículos pré-antrais foi utilizada a proposta de classificação de
oócitos e folículos em ovário já descrita em literatura.
Para a determinação da histomorfometria dos folículos pré-antrais, foi realizado o registro
fotográfico digital da imagem microcóspica do ovário de cada amostra, utilizando aumento padrão
de 400x. A imagem da fotografia foi importada para o software Image J, para o cálculo da área dos
folículos pré-antrais de cada animal. Com esse software foi possível delimitar a área do folículo,
através de uma escala que converte pixels da fotomicrografia em unidade métrica (micrometro), e
Página 74
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
assim calcular área do folículo em μm2. Em seguida foram calculadas, por meio do programa Excel®,
as médias das áreas e desvios padrão para cada subgrupo de animal, para posterior comparação
intergrupos (Figura 2).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados da análise histomorfométrica da área dos folículos pré-antrais dos ovários dos
animais do grupo controle e do grupo exposto à fumaça de cigarro, estão expressos na Figura 3.
Figura 3 - Médias e desvios padrão das áreas (μm2) dos folículos pré-antrais de animais
do grupo controle e experimental - Teresina, PI - 2014
ÁREA DO FOLÍCULO
90
80
70
Área (μm2)
60
50
40
30
20
10
0
GRUPO NÃO EXPOSTO
GRUPO EXPOSTO
Fonte: Dados da pesquisa (2015).
Após análise e comparação dos dados referentes à histomorfometria da área folículos préantrais ovarianos, pode-se observar que os animais do grupo controle e experimental apresentaram as
médias da área dos folículos pré-antrais de 58 ± 21 μm2 e 15 ± 12 μm2, respectivamente.
A análise estatística dos dados demonstrou que, após o período de exposição, a média da
área do folículos pré-antrais dos animais do grupo controle foi significativamente superior (p<0,05)
quando comparada à média da área do folículos pré-antrais dos ovários dos animais que foram
expostos à fumaça de cigarro.
Na presente pesquisa, estudou-se o efeito histomorfometrico em folículos pré-antrais de ratas
após exposição à fumaça de cigarro, com o objetivo de avaliar a alterações na área desses folículos.
Foi observada uma redução estatisticamente significativa nas áreas dos folículos pré-antrais
do grupo experimental, ou seja, nos animais que foram expostos à fumaça de cigarro. Estes dados
estão de acordo com um trabalho que demonstrou uma microanálise da matriz do tecido ovariano que
revelou um complexo mecanismo de ‘ovotoxicidade’ envolvendo genes associados com metabolismo
auto degenerativo, crescimento e desenvolvimento celular, morte celular, eliminação de radicais
livres, e respostas imunológicas (ZENZES; REED; CASPER, 1997). A análise histomorfológica
identificou redução do crescimento de folículos pré-antrais em ovários dos camundongos expostos e
aumento da atividade enzimáticas, causando danos no DNA em folículos antrais. Aumento dos níveis
de estresse oxidativo também foram detectados em ovários do animais expostos à fumaça de cigarro,
levando à redução do potencial de fertilização em oócitos.
Página 75
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Os resultados da presente pesquisa também corroboram com outro trabalho que avaliou os
efeitos de uma exposição breve e longa à fumaça de cigarro no número de células da granulosa, no
crescimento do oócito e no tamanho do folículo durante a puberdade em camundongos Swiss fêmeas
(PAIXÃO et al., 2012). Foram usados dez camundongos fêmeas com idade média de 35 dias os quais
foram expostos aos cigarros em uma máquina automática durante oito horas por dia, sete dias por
semana, durante 15 dias. Dez animais no grupo controles pareados por idade foram mantidos numa
sala diferente e expostos ao ar ambiente. No final de 15 dias, cinco animais em cada grupo foram
eutanasiados e os ovários foram analisados por morfometria folicular e contagem de células da
granulosa. Os demais animais foram mantidos por mais 30 dias para posterior análise. Verificou-se
que a fumaça do cigarro prejudicou o crescimento folicular antral, mesmo após a cessação da
exposição. Os animais que foram expostos à fumaça de cigarro apresentaram diâmetro do folículo
similar, mesmo aqueles que passaram 30 dias sem fumar, considerados “ex-tabagistas”. No entanto,
na mesma fase folicular, o número de células da granulosa foi menor no grupo de “ex-tabagistas” em
comparação com os animais “tabagistas”. Os autores concluíram que os efeitos negativos do
tabagismo parecem durar mesmo após da exposição ser interrompida. Além disso, uma breve
exposição durante a puberdade pode induzir perturbações oócito, o que poderia, por sua vez levar a
diminuição da taxa de fecundidade.
É sabido que o fumo passivo causa doenças sérias e até fatais em adultos e crianças, além de
contribuir para a diminuição na fertilidade de homens e mulheres (CORRAL et al., 2010).
Um estudo revelou que nas mulheres que desejam engravidar e que não usam métodos
contraceptivos hormonais, a presença do tabagismo diminui a taxa de fertilidade de 75% para 57%
(HOTHAM; GILBERT; ATKINSON, 2005).
4 CONCLUSÃO
Após a aplicação da metodologia proposta, análise e discussão dos resultados encontrados
neste estudo, pode-se concluir que a exposição de ratas à fumaça de cigarro provocou redução da área
dos folículos ovarianos pré-antrais, com consequente alterações histomorfométricas no ovários destes
animais.
REFERÊNCIAS
ALDRIGHI, J. M. et al. Tabagismo e antecipação da idade da menopausa. Rev Assoc Med Bras, São
Paulo, v. 51, n. 1, p. 51-53, 2005.
CONCEA - Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Diretriz brasileira para o
cuidado e a utilização de animais para fins científicos e didáticos - DBCA. Brasília, 2013.
CORRAL, T. et al. (Coord.) Manual para agentes de saúde: prevenção, caminho para saúde. 2. ed.
Rio de Janeiro: ACT, 2010.
HOTHAM, E. D.; GILBERT, A. L.; ATKINSON, E. R. Problemas associados ao tabagismo na
mulher. [S. I.]. Midwifery, jun. 2005.
NUNES, S. O. B.; CASTRO, M. R. P.; CASTRO, M. S. A. Tabagismo, comorbidades e danos à
saúde. Londrina: EDUEL, 2011.
PAIXAO, L. L. O. et al. Cigarette smoke impairs granulosa cell proliferation and oocyte growth after
exposure cessation in young Swiss mice: an experimental study. Journal of Ovarian Research, v.
5, n. 25, 2012.
Página 76
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
ROSEMBERG, J. Nicotina: droga universal. São Paulo: SES/CVE, 2004.
SBPT - Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Tabagismo: parte I. Rev. Assoc. Med.
Bras., São Paulo, v. 56, n. 2, p. 134-134, 2010.
SUN, L. et al. Meta-analysis suggests that smoking is associated with an increased risk of early natural
menopause. Menopause, v. 19, n. 2, p. 126-132, 2012.
ZENZES, M. T.; REED, T. E; CASPER, R. F. Effects of cigarette smoking and age on the maturation
of human oocytes. Hum Reprod., v. 12, n. 8, p.1736–1741, 1997.
Página 77
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO-DENTISTA
CIVIL LIABILITY OF THE DENTAL SURGEON
Rafaela Dias e Silva1 ,
Márcia Socorro da Costa Borba2
RESUMO
A responsabilidade civil do cirurgião-dentista tem sido tema de bastante discussão, devido o número
expressivo de ações judiciais envolvendo essa classe profissional. Este estudo teve como objetivo
geral, avaliar o conhecimento dos Cirurgiões-dentistas sobre a responsabilidade civil, considerando
os seguintes parâmetros: citação judicial por condutas decorrentes da profissão, formalização do
contrato de prestação de serviço, exigência do preenchimento e assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Ao mesmo tempo analisou-se o conhecimento dos
profissionais acerca da importância do prontuário odontológico, bem como do conhecimento do
seguro de responsabilidade civil. Para tanto, foram aplicados questionários a 97 cirurgiões-dentistas,
com perguntas fechadas, sobre o perfil do participante e sobre o tema proposto. Os resultados
demonstraram que nenhum cirurgião-dentista foi acionado judicialmente por conduta decorrente da
profissão; 46,4% dos profissionais têm conhecimento do seguro de responsabilidade civil e apenas
37,1% solicitavam o preenchimento e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Relacionado ao contrato de prestação de serviços odontológicos, 80,4% dos profissionais afirmaram
ter conhecimento e apenas 30,9% relataram formalizar o referido contrato. No que se refere ao
prontuário odontológico, 85,6% dos cirurgiões-dentistas afirmaram realizar o arquivamento e 96,9%
relataram ter ciência de sua importância legal. Com base nos resultados obtidos, foi observado que
os cirurgiões-dentistas têm conhecimento da responsabilidade civil, sabem da importância da
documentação odontológica, mas muitos desconsideram aspectos relevantes, e com isso
comprometem seu resguardo profissional.
Palavras chave: Cirurgião-dentista. Responsabilidade Civil. Odontologia legal.
ABSCTRACT
The liability of the dentist have been the subject of much discussion because of the significant number
of lawsuits involving this professional class. This study aimed to evaluate the knowledge of Dentists
on civil liability; if these professionals were triggered by judicially conduct arising from the
profession; if dentists formalized the contract to provide dental services and demanded their patients
completing and signing the Consent and Informed - IC, on the same occasion, also sought to examine
whether these professionals know the importance of dental records to defend themselves in potential
lawsuits and have knowledge of liability insurance. Therefore, 97 questionnaires were applied to 97
____________________
1
¬¬¬¬¬Aluna do Curso de Odontologia da Faculdade Integral Diferencial (DeVrryFACID).
Email: [email protected]
2 Professora do Curso de Odontologia da DeVrryFACID; Doutora em Clínica Odontológica pela Universidade Estadual de
Campinas.Email: [email protected]
Página 78
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
dentists, with twelve questions about the participant's profile and issues covering the theme. The
results showed that no dentist was sued for conduct arising from the profession, 46,4% of
professionals have knowledge of liability insurance, only 37,1% request completing and signing the
Consent and Informed 80,4% of professionals have knowledge about the dental services contract and
only 30,9 formalize this agreement. With regard to dental records, 85,6% of dentists filing this
document, but only 14,4% carry the archive indefinitely and 96,9% claim to have knowledge of their
legal significance. Based on these results, it was observed that dentists have limited knowledge of
what governs the liability, know the importance of dental records, but many ignore relevant aspects,
that compromise their professional guard.
Key words: Dental surgeon. Civil liability. Forensic dentistry.
INTRODUÇÃO
Com a evolução da sociedade, o número de processos judiciais em desfavor dos cirurgiõesdentistas está ocorrendo com maior frequência, devido a gama de informações que chegam à
população, além da facilidade de acesso à justiça (BARBOSA; ARCIERI, 2003; GUZELLA;
BARROS; SOUSA JÚNIOR, 2016).
O cirurgião-dentista está sujeito a obrigações de ordem civil, ética, penal e administrativa,
por consequência da responsabilidade pelas ações exercidas em sua atividade laboral. O profissional
que não cumprir com suas obrigações contratuais ou deveres legais e, por decorrência desse
descumprimento, causar dano ao paciente, poderá ser acionado judicialmente. Nesse sentindo, o
instituto da responsabilidade civil objetiva resgatar a harmonia das relações que imperavam
anteriormente a conjunção de fatos danosos, garantindo ao paciente lesado, o ressarcimento do
prejuízo pelo cirurgião-dentista que causou o dano (TERADA; GALO; SILVA, 2014).
Para falar em responsabilidade civil, é necessário a existência do dano, que pode ocorrer por
ação voluntária ou involuntária, no exercício da profissão. Para que haja o dever de reparar o dano,
há a necessidade de alguns pressupostos, como: ação ou omissão do sujeito; dolo ou culpa do sujeito;
nexo de causalidade entre a ação ou omissão; e prejuízo causado em decorrência de dano sofrido pela
vítima. O ato danoso que gera o dever de indenizar pode ocorrer não só por ação, como também por
omissão. Isto é, quando o agente tinha o dever de praticar determinado ato e deixou de fazê-lo
(GUZELLA; BARROS; SOUSA JÚNIOR, 2016; MEDEIROS; COLTRI, 2014).
Tendo em vista essa nova tendência, na qual a maioria das pessoas lesadas têm conhecimento
do seu direito de buscar reparação do dano que lhe foi causado, tornou-se a relação
paciente/profissional da área odontológica mais centrada na qualidade dos serviços, podendo os
cirurgiões-dentistas responderem pelos seus atos profissionais (BRITO, 2005).
A relevância deste estudo dá-se pelo crescente número de processos contra cirurgiõesdentistas, pois com o avanço da tecnologia e facilidade de informação, os pacientes mostram-se mais
exigentes com os resultados dos tratamentos contratados. Desta forma urge nos profissionais a postura
no que tange a informação sobre deveres, direitos e responsabilidade, como forma de prevenir e
antever possíveis ações judiciais movidas por pacientes.
A presente pesquisa teve como objetivo geral, avaliar o conhecimento dos cirurgiõesdentistas sobre a responsabilidade civil, considerando os seguintes parâmetros: citação judicial por
condutas decorrentes da profissão; formalização do contrato de prestação de serviço; exigência do
preenchimento e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Ao mesmo
tempo, analisou-se o conhecimento dos profissionais acerca da importância do prontuário
odontológico, bem como do conhecimento do seguro de responsabilidade civil.
Página 79
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
2 METODOLOGIA
O projeto desse estudo foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade
Integral Diferencial (DeVry FACID), de acordo com a Resolução nº 466/2012, sob protocolo
46099215.3.0000.5211, tendo obtido a aprovação necessária para a execução da pesquisa.
Foi solicitado por meio de ofício da FACID ao Conselho Regional de Odontologia Secção
Piauí (CRO-PI), a relação de cirurgiões dentistas (CDs) da cidade de Teresina-PI regularmente
inscritos no período de 2010 a 2015, tendo sido informado 97 profissionais.
Foi realizado um estudo de campo, de natureza descritiva e com abordagem quantitativa,
envolvendo procedimentos técnicos de levantamento. Os participantes foram os 97 cirurgiõesdentistas informados pelo CRO-PI. No momento da coleta de dados, a pesquisadora dirigia-se ao
cirurgião-dentista e o convidava para participar da pesquisa, cujo instrumento de coleta de dados foi
um questionário com 12 perguntas fechadas, onde constavam informações sobre o perfil do
participante e questões abrangendo o tema da pesquisa. Ao aceitar o convite, o participante recebia o
TCLE, lia e assinava, ficando com a segunda via, e em seguida respondia o questionário. Os
profissionais que aceitaram participar do estudo foram informados da garantia do sigilo em relação a
sua identificação e as informações dadas.
Os dados foram coletados no período de setembro de 2015 a março de 2016. Foram digitados
no programa Microsoft Excel 2010 e depois importados para o programa Statistical Package for the
Social Sciences - SPSS for Windows (versão 19.0). Foram realizadas análises descritivas e bivariadas.
Tratando-se de variáveis categóricas, o teste selecionado para observar a relação entre as variáveis do
estudo foi o Teste do Qui – quadrado. Após obtenção dos resultados, foram distribuídos em gráficos
e tabelas.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tabela 1- Distribuição das variáveis referentes às características das condutas
procedimentais
N=97
%
Sim
Não
Tem conhecimento a respeito do
seguro de responsabilidade civil, caso
seja acionado judicialmente por um
paciente
97
100,0
Sim
Não
Solicita do paciente o preenchimento e
assinatura do Termo de Compromisso
Livre e Esclarecido – TCLE
45
52
46,4
53,6
Sim
Não
Às vezes
Depende da especialidade
36
41
12
8
37,1
42,3
12,4
8,2
Variáveis
Foi acionado judicialmente por
alguma conduta profissional
Página 80
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Tem conhecimento a respeito do
contrato de prestação de serviços
odontológicos
Sim
Não
Formaliza contrato de prestação de
serviços odontológicos
Sim
Não
Às vezes
78
19
80,4
19,6
30
40
27
30,9
41,2
27,8
Fonte: dados da pesquisa (2016).
De acordo com dados observados na Tabela 1, nenhum cirurgião-dentista foi acionado
juridicamente por atos decorrentes da profissão. Rossi (2013), concluiu que a maioria dos
profissionais processados são aqueles que estão há mais tempo no mercado de trabalho.
Foi observado que o seguro de responsabilidade civil, ainda não é de conhecimento amplo
dos profissionais. Existe a necessidade de maior orientação e divulgação para os cirurgiões-dentistas
dessa forma de proteção, pois apenas 46,4% têm conhecimento desse meio de resguardo.
Diferentemente foram os estudos de Terada, Galo e Silva (2014), onde 72,0% dos pesquisados tinham
conhecimento do seguro de responsabilidade civil, mas apenas 45,0% faziam uso desse tipo de
apólice.
Foi identificado o notório o conhecimento por parte dos profissionais no que se refere ao
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, bem como sobre o contrato de prestação de serviços
odontológicos. Do total de participantes, 42,3% não solicitavam do paciente o preenchimento e
assinatura do TCLE e somente 37,1% cumpriam essa etapa documental. No entanto, 80,4%
informaram ter conhecimento do contrato de prestação de serviços odontológicos, enquanto apenas
30,9% faziam uso deste.
Brito (2005) concluiu que apenas 24,2% dos cirurgiões-dentistas solicitavam do paciente o
preenchimento e assinatura do TCLE, e apenas 11,3% formalizavam o contrato de prestação de
serviços odontológicos. Os resultados encontrados do presente estudo corroboram com o
entendimento de que muitos profissionais negligenciam o uso da documentação odontológica. No
entanto, os mesmo denotam conhecimento, mas omitem-se de utilizá-los, impossibilitando assim,
possível defesa caso sejam acionados judicialmente.
Na Tabela 2 as variáveis reportam sobre o arquivamento e conhecimento da
importância legal do prontuário odontológico.
Tabela 2 - Distribuição das variáveis referentes às características dos prontuários
odontológicos
Variáveis
N=97
%
Sim
83
85,6
Não
14
14,4
Arquiva o prontuário odontológico
Página 81
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Tem conhecimento da importância
legal do prontuário odontológico
Sim
94
96,9
Não
3
3,1
Fonte: dados da pesquisa (2016).
De acordo com a Tabela 2, observa-se que 85,6% dos profissionais afirmaram arquivar o
prontuário e 96,9% denotaram saber da importância legal do mesmo. O presente estudo apresenta
resultado semelhante ao de Silva et al. (2010), no qual 93,44% dos dentistas, afirmaram arquivar e
ter conhecimento da importância legal do prontuário. Esses dados são relevantes, pois sabe-se que o
prontuário odontológico é indispensável nos casos de lides judiciais, por acusações de erros,
iatrogênias ou outro fato que promova desentendimento entre o profissional e o paciente.
Diferente foi o resultado do estudo de Brito (2005), pois apenas 35,4%, dos profissionais
afirmaram arquivar e ter conhecimento da importância legal do prontuário. Diante da cronologia dos
estudos, percebe-se que o conhecimento dos profissionais tem avançado com o passar dos anos, sendo
resultante do aumento de ações judiciais movidas por pacientes envolvendo cirurgiões-dentistas.
Ao comparar os resultados encontrados em Franca-SP, por Latorraca, Flores e Silva (2012),
foi constatado que 66,0% dos cirurgiões-dentistas arquivavam o prontuário odontológico por tempo
indeterminado, corroborando com entendimento de que a guarda e conservação da documentação
odontológica deve ocorrer por tempo indeterminado, não somente para defender-se de possíveis ações
judiciais, como também para fins de identificação humana.
Tabela 3 - Tabela cruzada de distribuição das variáveis independentes do estudo
na variável solicita do paciente assinatura e preenchimento do TCLE (n= 97)
Solicita do paciente preenchimento
e assinatura do TCLE
Sim
Não/ Às
vezes/ Em
parte
n(%)
n(%)
Idade (em anos)
Menos de 30
30 e mais
Tempo de formação (em anos)
Até 2
Mais de 2 até 5
Tem especialidade
Sim
Não
p valor
0,05
30(42,9)
6(22,2)
40(57,1)
21(77,8)
6(33,3)
30(38,0)
12(66,7)
49(62,0)
26(37,1)
10(37,0)
44(62,9)
17(63,0)
0,71
0,99
Legenda: O p valor foi obtido pelo teste do qui- quadrado. O nível de significância estatística foi fixado em
p≤0,05.
Fonte: dados da pesquisa (2016).
A Tabela 3 mostra a distribuição da variável idade e da variável dependente do estudo,
(solicita do paciente preenchimento e assinatura e do TCLE), com p valor de 0,05, do qual, foi
observado que 42,9% dos profissionais que têm menos de 30 anos solicitam do paciente o
preenchimento e assinatura no TCLE, enquanto apenas 22,2% dos profissionais com mais de 30 anos
realizavam tal solicitação. As demais variáveis não apresentaram associação estatisticamente
significativa. Divergente em parte foram os estudos realizados por Brito (2005), com os cirurgiõesdentistas de Natal-RN, no qual 6,13% dos profissionais tinham menos de 30 anos de idade,
Página 82
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
porcentagem bem diferente ao presente estudo, contudo assemelha-se, a mesma faixa etária que mais
solicitou o TCLE.
Baseado nos dados obtidos pelo presente estudo fica evidente que os profissionais com
menos de 30 anos estão mais informados sobre a necessidade e a importância da documentação
odontológica. Destarte, é necessário que os cirurgiões-dentistas arquivem os prontuários
odontológicos contendo o TCLE preenchido e assinado pelo paciente, para que frente acusações de
negligência, imperícia, imprudência, erros, iatrogênias do dentista, seja cabível ao profissional,
provar que realizou de forma correta o procedimento questionado na lide.
Tabela 4 - Tabela cruzada de distribuição das variáveis independentes do estudo na
variável formalização dos contrato. (n= 97)
Formalização do contrato de
prestação de serviços odontológicos
Sim
Não/Às vezes
n(%)
n(%)
p valor
Idade (em anos)
0,10
Menos de 30
25(35,7)
45(64,3)
30 e mais
5(18,5)
22(81,5)
Tempo de formação (em anos)
0,05
Até 2
9(50,0)
9(50,0)
Mais de 2 até 5
21(26,6)
58(73,4)
Tem especialidade
0,07
Sim
18(25,7)
52(74,3)
Não
12(44,4)
15(55,6)
Legenda: O p valor foi obtido pelo teste do qui-quadrado. O nível de significância estatística foi fixado
em p≤0,05.
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Na Tabela 4, a variável que apresentou associação foi o tempo de formação, com p valor de
0,05, do qual, 50,0% dos profissionais com até 2 anos de graduação, formalizavam contratos de
prestação de serviço, em contraposição a apenas 26,6% da categoria acima de 2 anos – até 5 ano) de
graduação. A última categoria do presente estudo mostrou que aproximadamente ¼ dos profissionais
formalizavam contrato de prestação de serviços odontológicos, similar aos dados mencionados por
Latorraca, Flores e França (2012) em que 36,0% dos cirurgiões-dentistas cumpriam essa etapa
documental.
Observou-se no presente estudo a discrepância dos resultados obtidos com dentistas que têm
até 2 anos de graduação, pois 50% formalizavam o contrato de prestação de serviços odontológicos.
Esse achado difere do estudo realizado em Franca-SP por Latorraca, Flores e França (2012), emque
64,0% dos cirurgiões-dentistas com essa mesma faixa etária, negligenciavam essa etapa do
prontuário. Com os dados ora mencionados, compreende-se que os cirurgiões-dentistas participantes
dessa pesquisa, graduados em até 2 anos, estão mais comprometidos em cumprir com a
responsabilidade do prontuário odontológico, comparados com os graduados acima de 2 anos – até 5
anos. É de suma importância salientar, que o contrato deve ser elaborado pelo profissional e assinado
pelo paciente. Contratos verbais ou mesmo por escrito sem assinatura do paciente, são vulneráveis se
as informações forem levantadas judicialmente.
É de suma importância a formalização contratual com anuência por meio da assinatura do
paciente ou do seu responsável legal. Vale frisar também, que é necessário o conhecimento do
paciente ou do seu responsável legal sobre todas as alterações decorrentes do seu estado de saúde no
transcorrer do tratamento. Segundo o Código de Direito do Consumidor, no seu artigo 6º inciso III,
Página 83
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
“são direitos básicos do consumidor: a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos
incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
4 CONCLUSÃO
Com base nos resultados obtidos, foi observado que os cirurgiões-dentistas participantes
desse estudo têm conhecimento limitado do que rege a responsabilidade civil. Não obstante, há a
necessidade de maiores informações no que tange este instituto, sendo importante ressaltar que o
seguro de responsabilidade ainda não é de conhecimento amplo por parte dos profissionais.
Verificou-se que os profissionais participantes dessa pesquisa não foram acionados
judicialmente por conduta profissional.
De acordo com as informações prestadas, conclui-se que os cirurgiões-dentistas têm ciência
da importância da documentação odontológica, mas muitos desconsideram aspectos relevantes, como
preenchimento e assinatura do Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) e formalização
do contrato de prestação de serviços odontológicos, comprometendo, assim, seu resguardo
profissional.
Recomenda-se que haja um estudo mais otimizado, pertinente ao conhecimento dos
cirurgiões-dentistas no que tange os elementos que compõem o prontuário odontológico, seu
arquivamento e atualização.
REFERÊNCIAS
BARBOSA, F. Q.; ARCIERI, R. M. A responsabilidade civil do cirurgião-dentista: aspectos éticos e
jurídicos no exercício profissional segundo odontólogos e advogados da cidade de Uberlândia/MG.
Revista do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 9, n. 3, p. 163168, jul./set. 2003. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/95639562-1-PB.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2016.
BRITO, E. W. G. A documentação odontológica sob a ótica dos cirurgiões-dentistas de
Natal/RN. 2005. 63 f. Dissertação. (Mestrado em Odontologia) Universidade Federal do Rio Grande
do
Norte.
Natal,
Rio
Grande
do
Norte.
2005.
Disponível
em:
<ftp://ftp.ufrn.br/pub/biblioteca/ext/bdtd/EwertonWGB.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2016
GUZELLA, A. R. M.; BARROS, C. F. P., SOUSA JÚNIOR, F. S. S. Responsabilidade civil
odontológica: como prevenir erros. Revista da ABO, São Paulo, n. 20, p. 45-47, jan. 2016.
LATORRACA, M. M; FLORES, M. R. P; SILVA, R. H. A. Conhecimento dos aspectos legais da
documentação odontológica de Cirurgiões-dentistas do município de Franca, SP, Brasil Revista da
Faculdade de Odontologia, Passo Fundo, v.17, n.3, p. 268-272, set./dez. 2012.
MEDEIROS, U. V; COLTRI, A. R. Responsabilidade civil dos cirurgiões-dentistas. RBO - Rev.
bras. odontol., Rio de Janeiro, v.71, n.1, p.10-6, jan./jun.2014.
ROSSI, G. K. Responsabilidade civil do cirurgião dentista causas e consequências. 2013. 79 f.
Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Odontologia) - Universidade Federal de Santa
Catarina
Departamento
de
Odontologia,
Florianópolis
2013.
Disponível
em:
<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/100332/TCC%20Respons.%20Civil.pdf?se
quence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 10 abr. 2015.
SILVA, A. A. L. S. et al. Nível de conhecimento dos cirurgião-dentista sobre a qualidade dos
prontuários odontológicos para fins de identificação humana. Rev. Odontol Bras Central, v, 19,
n.51, 2010.
Página 84
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
TERADA, A. S. S. D.; GALO, R.; SILVA, R. H. A. Responsabilidade civil do cirurgião-dentista:
conhecimento dos profissionais. Arq. Odontol., Belo Horizonte, v. 50, n.2. jun. 2014. Diponível
em:
<http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151609392014000200006&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 13 abr. 2016.
Página 85
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
INCIDÊNCIA E FATORES RELACIONADOS AO CÂNCER COLORRETAL
OBSTRUTIVO EM UM SERVIÇO MÉDICO PRIVADO DE TERESINA-PI
INCIDENCE AND FACTORS RELATED TO OBSTRUCTIVE COLORECTAL
CANCERIN A PRIVATE SERVICE TERESINA -PI
Érica Patrícia Sousa Reis Meneses1 , Norma Maria de Cássia Lima Sarmento Veloso Martins2,
Walysson Toncantins Alves de Sousa3
RESUMO
O câncer colorretal é a principal neoplasia maligna mais prevalentes no trato gastrointestinal, sendo
caracterizada pela presença de tumores em cólon ou reto. Nesse estudo foram determinadas a
incidência de pacientes com câncer colorretal que foram diagnosticados em um quadro de obstrução
intestinal, identificada a faixa etária dos tumores obstrutivos e não obstrutivos, verificado o tipo
histológico do tumor e estadiado os tumores obstrutivos e não obstrutivos. A coleta das variáveis foi
realizada através da análise dos prontuários dos pacientes incluídos na pesquisa. Trata-se de um
estudo epidemiológico, retrospectivo, de levantamento e análise de prontuários. Foram estudados
dados de pacientes diagnosticados com câncer colorretal em situação de obstrução, entre janeiro e
dezembro de 2013. A incidência de câncer colorretal foi identificada através do diagnóstico\CID e
alterações histopatológicas registradas nos prontuários dos pacientes selecionados para o estudo.
Conclui-se que o câncer colorretal predomina em homens com idade acima de 60 anos, 22,5% dos
pacientes com câncer colorretal foram diagnosticados em situação de abdome agudo obstrutivo. Já
no câncer colorretal obstrutivo foram, em sua maioria, do sexo masculino, com média de idade acima
dos 60 anos e com doença avançada.
Palavras chave: Câncer colorretal. Obstrução. Incidência.
ABSCTRACT
Colorectal cancer is the leading most prevalent malignancy in the gastrointestinal tract. Characterized
by the presence of tumors in the colon or rectum. In this study, we determined the incidence of
colorectal cancer patients who have been diagnosed with a bowel obstruction, identify the age group
of obstructive tumors and unobtrusive; check the histological type of tumor staging and obstructive
and non-obstructive tumors. The collection of variables was performed by analyzing the records of
patients included in the study. It is an epidemiological study, retrospective survey and analysis of
medical records. We studied patients were diagnosed with colorectal cancer obstruction situation
between January and December 2013. The incidence of colorectal cancer has been identified by
diagnosing \ CID and histopathological changes recorded in the medical records of patients selected
for the study. It concludes that colorectal cancer predominates in men over the age of 60, 22.5% of
people with RCC patients were diagnosed in obstructive acute abdomen situation. CCR obstructive
were mostly male, with an average age above 60 years and with advanced disease.
Key words: Colorectal cancer. Obstruction. Incidence.
_____________________
1
Aluna do Curso de Medicina da Faculdade Integral Diferencial (DeVryFACID). Email: [email protected]
Aluna do Curso de Medicina da Faculdade Integral Diferencial (DeVryFACID).
Email: [email protected]
3 Professor do Curso de Medicina da FACID, Mestre em Medicina (Clínica Integrada). Email: [email protected]
2
Página 86
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
INTRODUÇÃO
Câncer colorretal (CCR) é uma afecção caracterizada pela presença de tumores em cólon ou
reto, sendo a neoplasia maligna mais comum do aparelho digestivo (DUARTE-FRANCO; FRANCO,
2004; ZANONI, 2005). Por ter sua incidência aumentada nos últimos anos, houve necessidade de
aprofundar os estudos das afecções colorretais tumorais e sua incidência relacionada a quadros de
obstrução intestinal.
A maioria dos casos de obstrução aguda do cólon é secundária ao câncer colorretal. Até 20%
dos pacientes com diagnóstico de câncer de cólon apresentam sintomas de obstrução aguda. A
cirurgia de emergência para obstrução aguda do cólon está associada a um risco significativo de
morbidade e mortalidade e com uma alta porcentagem de criação de estoma (temporário ou
permanente). A maioria dos CCR tem evolução lenta a partir de pólipos adenomatosos, através da
sequência adenoma-carcinoma oriunda de uma combinação de alterações genéticas e ambientais
(BRASIL, 2003; TAFNER, 2010; ZANONI, 2005).
Embora muito frequente na população, apenas uma pequena parcela destas lesões
precursoras progridem para câncer No entanto, mesmo com a progressão lenta, observa-se uma alta
incidência de câncer colorretal obstrutivo, os quais são diagnosticados em serviços de urgência por
queixas primárias de obstrução, hipótese que se quer comprovar (BRASIL, 2003; TAFNER, 2010;
ZANONI, 2005).
Acredita-se que alguns fatores possam estar envolvidos na incidência de câncer colorretal
obstrutivo. A partir do presente estudo objetivou-se analisar a incidência de câncer de colorretal
obstrutivo em um centro médico em Teresina-Piauí, bem como avaliar dentro do grupo dos tumores
obstrutivos, aspectos clínicos e epidemiológicos relacionados.
O câncer colorretal abrange tumores que acometem o intestino grosso (o cólon) e o reto. É
tratável e, na maioria dos casos, curável ao ser detectado precocemente. Sua elevada incidência
justifica a aplicação de programas de prevenção. No Brasil existem diversos determinantes que
dificultam a realização de uma efetiva política de preventiva para o CCR. Consequentemente existe
atraso no diagnóstico e tratamento das lesões (BRASIL, 2003; TAFNER, 2010; ZANONI, 2005).
Com este estudo pode-se contribuir com a melhora do perfil epidemiológico e evolutivo da doença,
assim como traçar metas para diagnóstico precoce e melhora do prognóstico da doença.
O câncer é uma das patologias de maior impacto social e psicológico, na sua maioria de
diagnóstico tardio. Com o surgimento de novas drogas e melhoria do tratamento, os pacientes estão
aumentando as chances de cura e\ou expectativa de vida. Deste estudo foi a necessidade de identificar
a incidência de (CCR obstrutivo) obstrução intestinal e dentre essas obstruções quais foram
diagnosticadas com câncer colorretal em um centro especializado de Teresina, procurando identificar
faixa etária de ocorrência, tipo histológico e estadiamento desses tumores, perfil este que certamente
trará relevantes informações sobre a epidemiologia desta afecção, bem como subsidiará melhorias em
sua prevenção e tratamento à comunidade médica e científica com interesse neste procedimento.
Os objetivos desse estudo foram: determinar a incidência de pacientes com câncer colorretal
que foram diagnosticados em um quadro de obstrução intestinal; identificar a faixa etária dos tumores
obstrutivo; verificar o tipo histológico do tumor; e definir o estadiamento dos tumores obstrutivos.
2 METODOLOGIA
O estudo foi iniciado após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade
Integral Diferencial DeVryFACID, respeitando os princípios éticos estabelecidos pela Resolução
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo, transversal de levantamento e análise
de prontuários. Os casos foram pesquisados a partir da busca ao sistema de gerenciamento de
prontuário eletrônico, através da digitação dos CIDs correspondentes ao câncer colorretal: C18, C19
e C20 que retornou um total de 129 prontuários dos quais, após pesquisa individual, foram
Página 87
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
confirmados 31 casos de CCR. A partir deste filtro inicial, foram selecionados os prontuários de
pacientes com câncer colorretal diagnosticados em um quadro de obstrução intestinal, sendo formado
dois grupos: Grupo I, de pacientes não obstruídos e Grupo II, de pacientes que entraram em obstrução
intestinal. Foram coletados os dados clinico - epidemiológicos em ficha específica: faixa etária, sexo,
tipo histológico do tumor e estadiamento dos tumores.
A amostra consistiu de prontuários de pacientes em tratamento e acompanhamento no
Serviço de Oncologia do Hospital Prontomed - Oncomédica no período de janeiro a dezembro de
2013. As informações foram obtidas a partir de informações registradas nos prontuários dos pacientes
selecionados para o estudo.
As variáveis estudadas foram: a idade de ocorrência, gênero, estadiamento e tipo histológico
dos tumores. Os dados foram agrupados em formulário elaborado e preenchido pelo autor principal
da pesquisa. Os dados foram apresentados em frequências, percentuais, médias, valores mínimos e
máximos. Os resultados foram organizados em tabelas e gráficos elaborados pelo Word da Microsoft
Office.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Incidência de Câncer Colorretal Obstrutivo
Do total de pacientes diagnosticados com CCR, sete apresentaram um quadro de obstrução
intestinal, o que representou 22,5 % do total de prontuários (Figura 1).
Figura 1 - Distribuição de pacientes com câncer colorretal obstrutivo e nãoobstrutivo em um hospital privado de Teresina, 2013
100
80
60
40
20
77,5
7
24
22,5
0
Câncer Colorretal obstrutivo
N
% Não Obstrutivo
Fonte: dados da pesquisa (2013).
Sexo
Os casos distribuíram-se entre sexo da seguinte maneira: no grupo 1: 5 homens (71,4%) e 2
mulheres (28,6%), já no grupo 2: 11 homens (45,8%) e 13 mulheres (54,2%) (Tabela 1).
Tabela 1 - Distribuição de sexo de pacientes com câncer colorretal obstrutivo e
não-obstrutivo em um hospital privado de Teresina, 2013
SEXO
HOMENS
MULHERES
OBSTRUTIVO
N (%)
5 (71,4%)
2 (28,6%)
NÃO-OBSTRUTIVO
N(%)
11 (45,8%)
13(54,2%)
TOTAL
N(%)
16 (100%)
15 (100%)
Fonte: dados da pesquisa (2013).
Página 88
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
O câncer colorretal é o terceiro câncer mais diagnosticado, tanto em homens, quanto em
mulheres. Com relação à mortalidade, o câncer colorretal fica também com a terceira colocação entre
as causas mais comuns de morte, por câncer, nos Estados Unidos (HABR-GAMA, 2005). Estatísticas
americanas mostram que 26.801 homens e 26.395 mulheres faleceram por câncer colorretal nos
Estados Unidos, em 2006. Na presente casuística, a média e a proporção por gêneros foram
comparáveis aqueles descritos na literatura relata.
Conforme os dados do INCA (2014) a incidência de câncer colorretal por 100 mil habitantes
do sexo masculino, no Nordeste, foi estimada de 6,48% e para o gênero feminino de 6,68%. Já nesse
estudo, em relação ao Grupo 1 houve predomínio do sexo masculino em relação ao feminino. Por
outro lado, no Grupo 2 Houve um equilíbrio na distribuição dos pacientes entre os dois sexos. Assim,
o Grupo 2 encontra-se em consonância com a literatura relatada.
Faixa etária
A média etária dos pacientes foi de 63 anos, com extremos de 30 e 83 anos, sendo as sexta
e sétima décadas responsáveis por 51,4% dos pacientes (Figura 2).
Segundo De Dombal et al. (2009), a mais comum causa de obstrução intestinal no paciente
idoso é, sem dúvida, o câncer, sendo que 60% das obstruções intestinais nessa faixa etária devem-se
ao câncer do intestino grosso, porém não há nada sugestivo que isso se deva à peculiaridade do tumor
relacionado à idade do paciente.
Figura 2 - Média de idade dos pacientes com câncer colorretal em um Hospital
privado de Teresina, 2013
Fonte: dados da pesquisa (2013).
A sugestão de que o paciente, em qualquer idade, com o carcinoma obstrutivo seja portador
de uma forma mais maligna da doença, com comportamento mais agressivo e de pior prognóstico
está alicerçada na observação de alguns autores, como Fitchett e Hoffman (2006) e Matheson
(2009), mas é necessário de comprovação científica definitiva. Tal como relatado por Enblad et al
(2010), soa como a sugestão do comportamento pior que teria o adenocarcinoma do intestino grosso
incidente no paciente jovem..
Comparativamente, o Grupo 1 apresentou média de 63,5 anos enquanto que o Grupo 2 de
65 anos. Tal fato, é justificado por Habr-Gama (2005) que afirmou que o câncer colorretal é
prevalente na sexta e sétima décadas de vida. Em razão disso, houve uma proporção equivalente nos
grupos do estudo.
Os pacientes apresentaram uma idade média de 63 anos ao diagnóstico, dados condizentes
com a literatura, pois há um aumento da incidência deste câncer com o aumentar da idade. Segundo
Way e Doherty (2004) alguns deles desenvolveram este câncer em idade jovem, mas apresentações
como essas são relativamente raras e têm um padrão mais agressivo. O aparecimento de câncer
colorretal em idade jovem apresenta um risco de desenvolvimento do mesmo câncer aos seus parentes
Página 89
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
próximos, sendo, portanto, recomendado nessas situações que a investigação nesses indivíduos seja
feita 10 anos antes do aparecimento de caso na família.
Localização dos tumores no intestino grosso
O local de comprometimento do tumor no cólon se distribuiu conforme Tabela 2. Com
relação à localização dos tumores, a maioria (66,2%) se localizava no reto e sigmoide. O exame
proctológico completo realizado no Brasil, que inclui a realização de retossigmoidoscopia rígida até
25 cm acima do ânus, pode ser útil na identificação de lesões nessas localizações. Tumores proximais
têm sido responsáveis por uma parcela maior dos casos na literatura. Rim et al. (2009) encontraram
tumores de cólon proximais, responsáveis por 42,3% dos casos de câncer colorretal, ficando à frente
dos tumores do cólon distal (25,3%) e do reto (27,4%)
Tabela 2 - Distribuição por localização dos tumores de pacientes portadores de
câncer colorretal, em um Hospital privado de Teresina, 2013
Câncer coloretal
Cólon direito
Transverso
Cólon esquerdo
Reto
N
9
3
14
5
%
29,0
9,68
45,1
16,1
Fonte: dados da pesquisa (2013).
De acordo com os dados do INCA (2014), no Brasil constataram-se 18,08% das lesões no
cólon direito, 21,98% no cólon esquerdo e 57,82% no reto. Nesse estudo, a proporção observa os
mesmo valores da literatura exposta, tanto para os obstrutivos quanto para os não-obstrutivo
predominando no cólon esquerdo (Tabela 3).
Tabela 3 - Distribuição por localização dos tumores de pacientes com câncer
colorretal obstrutivo e não obstrutivo, em um Hospital privado de Teresina, 2013
Câncer coloretal
obstrutivo
Cólon direito
Obstrutivo
N%
(valores absolutos) 26%
Não-obstrutivo
N%
30%
Transverso
7%
9%
Cólon esquerdo
55%
43%
Reto
12%
18%
Fonte: dados da pesquisa (2013).
Histologia
A exceção de um caso de tumor carcinoide, todos os demais casos tratavam-se de
adenocarcinoma (Tabela 4).
Página 90
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Tabela 4 - Tipo histológico dos tumores ressecados de pacientes com câncer
colorretal obstrutivo e não obstrutivo, em um Hospital privado de Teresina, 2013
TIPO
HISTOLÓGICO
OBSTRUTIVO
N%
Adenocarcinoma
Outros
NÃO-OBSTRUTIVO
N%
7 (100%)
0 ( 0%)
23 (96%)
1 (4%)
Fonte: dados da pesquisa (2013).
Assim, de acordo com Neto e Junior (2005), o adenocarcinoma é o tipo histológico mais
frequente, encontrado em até 90 % dos casos. Igualmente, o tipo histológico constitui variável de
significância semelhante na literatura.
Estadiamento
O estadiamento do câncer colorretal dos pacientes, pela classificação de TNM, no momento
do diagnóstico variou conforme representado na Figura 3.
Figura 3 - Distribuição do estadiamento dos tumores de pacientes com câncer
colorretal obstrutivo e não-obstrutivo em um Hospital privado de Teresina, 2013
Fonte: dados da pesquisa (203).
IIB; 0; 0%
IIA; 0; 0%
III; 0; 0%
IIC; 0; 0%
I; 0; 0%
INDEFINIDO
T2N0M0; 0; 0%
I
IIIB; 2; 29%
IIA
IIB
IIC
III
IIIC; 0; 0% IIIB
IV; 5; 71%
IIIC
IV
INDEFINIDO T2N0M0
Nesse estudo, a proporção no câncer colorretal obstrutivo correspondeu a 71,4% estágio IV
28,6% IIB. Enquanto que o câncer colorretal não obstrutivo apresentou proporções de I de 0%, IIA
de 25%, IIB de 4,2%, IIC de 4,2%, III de 12,5%, IIIB de 4,2% , IIIC de 12,5%, IV de 33,2% e
Indefinido de 4,2%. Dessa forma, é possível inferir que os tumores quando diagnosticados,
encontravam-se predominantemente em estádio avançado, tanto para os tumores obstrutivos e nãoobstrutivos.
Mortalidade
Houve 12 óbitos (16,2%), dois dos quais diretamente relacionados à cirurgia (um caso de
deiscência de anastomose e um de evisceração); três relacionados a complicações de ordem clínica
(dois casos de tromboembolismo pulmonar – TEP e um de broncopneumonia); e sete a comorbidades,
cinco das quais crônicas (um caso de obesidade com hipertensão e quatro casos de caquexia e
Página 91
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
desnutrição) e duas agudas (um paciente com abdome agudo perfurativo e outro com abdome agudo
obstrutivo). Destes, 8 óbitos eram pertencentes ao Grupo 1 dos câncer colorretal obstrutivo.
Em determinadas circunstâncias, que correspondem a 25% de todos os casos, o paciente com
câncer do intestino grosso obstrutivo recebeu um tratamento não planejado, em caráter de urgência
ou emergência, seja por causa de obstrução (18% dos casos) seja por causa de perfuração e peritonite
(7% dos casos).
Nesse sentido encontramos base nas palavras de Buechter et al. (2011) que relataram que
nessas situações, dentre outras complicações, a morte pode ter incidência de 20% ou mais,
aumentando quando a operação é paliativa, podendo atingir valor tão alto quanto 70% na dependência
da idade e do estado geral de desnutrição do paciente. Em geral, seriamente comprometido por causa
da eventual disseminação abdominal do câncer e, também, porque a solução tem um tratamento em
caráter de emergência.
Segundo Scott, Jeacock e Kingston (2005), o que mais sobressai desses casos, além da faixa
etária dos pacientes, é o fato deles serem mais doentes que os admitidos para tratamento eletivo, razão
porque os esforços empreendidos para diminuir a morbimortalidade, nesse grupo, são infrutíferos.
Por outro lado, não é incomum que os atendimentos de emergências fiquem a cargo de médicos
plantonistas (clínicos e cirurgiões gerais), nem sempre experientes e afeitos aos problemas especiais
representados pelas obstruções malignas do intestino grosso.
Portanto, o diagnóstico precoce é o ponto principal no tratamento e diminuição da
mortalidade do câncer colorretal. É feito através de exames de triagem, que devem ser oferecidos a
pacientes a partir dos 50 anos sem fatores de risco identificados ou 10 anos antes do diagnóstico em
indivíduos com história familiar positiva.
4 CONCLUSÃO
Neste estudo foi possível determinar que 22,5% dos pacientes portadores de câncer colorretal
foram diagnosticados em situação de abdome agudo obstrutivo.
Os casos de câncer colorretal obstrutivos foram, em sua maioria, do sexo masculino, com
média de idade acima dos 60 anos e com doença avançada.
REFERÊNCIAS
BRASIL, Ministério da saúde. Instituto Nacional do Câncer. Falando sobre câncer de intestino:
orientações úteis aos usuários fatores de risco e proteção. 1 ed. Rio de Janeiro: INCA, 2003.
Disponível
em
<http://www1.inca.gov.br/publicações/Falando_sobre_Cancer_de_intestino.pdf>acessado
em
20/03/14.
BUECHTER, K. J. et al. Surgical management of the acutely obstructed colon. A review of 127
cases. Am J Surg, n. 156, p.163-68, 2011.
DE DOMBAL et al. Presentation of cancer to hospital as "acute abdominal apin". Br J Surg., n.67,
p.413-16, 2009.
DUARTE-FRANCO, E.; FRANCO, E. L. Epidemiologia e fatores de risco em câncer colorretal. In:
ROSSI, B.M.et al. Câncer de cólon, reto e ânus. São Paulo: Lemar e Tecmedd Editora, 2004. p321
ENBLAD, G. et al. Relationship between age and survival in cancer of the colon and rectum with
special reference to patients less than 40 years of age. Br J Surg, n.77, p.611-16, 2010.
Página 92
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
FITCHETT, C. W.; HOFFMAN, G. C. Obstructing malignant lesions of the colon. Surg Clin North
Am., n.66, p.807-20, 2006.
HABR-GAMA, A. Câncer colorretal: a importância de sua prevenção. Arq. Gastroenteral, v.42,
n.1, jan/mar .2005.
INCA. Incidência de Câncer no Brasil. Estimativa de câncer no Brasil 2014. Disponível em:
http://www.inca.gov.br/estimativa/2014/index.asp. Acesso em: 26 março 2015.
MATHESON, N. A. Management of obstructed and perforated large bowel carcinoma. Baillieres
Clin Gastroenterol., n. 3, p.671-97, 2009.
NETO, J. A. R.; JUNIOR, J. A. R. Obstrução do intestino grosso. In: COELHO, J.C.U. Manual de
clinica cirúrgica: cirurgia geral e especialidades. São Paulo: São Paulo: Atheneu, 2009. p. 10951103.
SCOTT, N. A.; JEACOCK, J.; KINGSTON, R. D. Risk factors in patients presenting as an emergency
with colorectal cancer. Br J Surg., n. 82,p.321-23, 2005.
TAFNER, E. A colonoscopia com e sem auxílio de métodos de cromoscopia no diagnóstico das
lesões planas, deprimidas e elevadas do cólon e reto. Tese de Doutorado em clinica cirúrgica. São
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2010. Disponível em
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5132/tde-15062011-145410/pt-br.php> acessado em
25/03/14.
WAY, L.W.; DOHERTY, G. M. Cirurgia: diagnóstico e tratamento. 11.ed. São Paulo: Guanabara
Koogan; 2004.
ZANDONI, E. C. A. Colonoscopia com magnificação de imagem: correlação de imagens
endoscópicas com diagnósticos histopatológicos de pólipos e lesões planas. Tese de Doutorado em
clinica cirúrgica. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2005. Disponível
em <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5132/tde-12042006-140626/pt-br.php> acessado
em 25/03/14.
Página 93
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
EXPERIÊNCIA DE MULHERES NO PUERPÉRIO SOBRE O PARTO NORMAL EM
MATERNIDADES MUNICIPAIS DE TERESINA-PI
EXPERIENCE OF MOTHERS OF NORMAL BIRTH IN MUNICIPAL MATERNITY
HOSPITALS IN TERESINA-PI
Iziane Bispo de Sousa Leal1,
Maria de Jesus Lopes Mousinho Neiva2
RESUMO
Este estudo teve como objetivos conhecer as experiências vividas por mulheres que tiveram parto
normal em maternidades municipais, identificar o perfil de mulheres que tiveram o parto normal,
descrever as vantagens do parto normal, identificar os pontos positivos e negativos do parto
humanizado nas perspectivas das mulheres que tiveram parto normal. Trata-se de uma pesquisa
descritiva de abordagem quanti-qualitativa, com uma amostra de 41 puérperas, que no momento da
entrevista encontravam-se internadas nas três maternidades municipais de Teresina-PI. Os resultados
mostraram que o perfil das puérperas participantes do estudo em sua maioria são primíparas, jovens,
ensino médio completo, pardas, em união estável, e residentes no município de Teresina. As
puérperas foram internadas no período latente do trabalho com acesso ao acompanhante durante o
processo do parto, utilização de métodos não farmacológicos sendo utilizados com boa satisfação.
Foi possível verificar que de fato os preceitos da Rede Cegonha com a humanização do parto estão
se confirmando no âmbito do município de Teresina, o que torna a mulher mais emponderada do seu
papel no ato de parturição.
Palavras chave: Parto humanizado. Parto normal. Puerpério.
ABSCTRACT
This study aimed to understand the experiences of women who had normal birth in local hospitals,
identify the profile of women who had normal birth, describe the benefits of normal birth, identify
the strengths and weaknesses humanizing childbirth, by the perspectives of women who had normal
birth. This study deals with a quantitative and qualitative approach of descriptive research based on
the collection of information about the problem and the research objectives, it had as sample 41
postpartum women, who at the time of the interview were hospitalized in the three municipal hospitals
of Teresina-PI. The results showed that the profile of the participating postpartum women of the study
are mostly primiparae, young people, complete high school, of brown skin tone and in a stable
relationship, and living in the city of Teresina. The women of them had been admitted in the latent
period of labor with access to a companion during the birth process, the non-pharmacological methods
were satisfactory. Therefore it can be affirmed that in fact the precepts of the Rede Cegonha institution
related to the humanization of childbirth are being confirmed in the city of Teresina, which makes
the women more empowered at the parturition act.
Key words: Humanized childbirth. Normal birth. Puerperium.
______________________
1
Acadêmica do Curso de Enfermagem da Faculdade Integral Diferencial (DeVry FACID). Teresina, Piauí, Brasil. Email:
[email protected]
2Professora Mestre do Curso de Enfermagem da DeVry FACID. Email: [email protected]
Página 94
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
INTRODUÇÃO
Com o advento da ciência obstétrica, o parto normal foi incorporado ao espaço
institucionalizado e amparado pelas inovações tecnológicas, deixando o âmbito domiciliar e passando
a ser realizado no hospital. A experiência da parturição é um evento natural e fisiológico permeado
pelo medo e pela ansiedade (ALMEIDA; MEDEIROS; SOUZA, 2012).
A institucionalização do parto representa um grande avanço no que se refere à saúde da
mulher, contribuindo na redução das taxas de morbimortalidade materna e perinatal, entretanto o
modelo biomédico trouxe resultados negativos (SCHMALFUSS, et al., 2010).
Conforme dados da pesquisa Nascer, no Brasil (2014) é registrado o elevado número de
partos cesáreos, o que contraria as recomendações da Organização Mundial da Saúde. As
complicações decorrentes do parto normal em relação ao parto cesariano são menores, sendo um dos
principais fatores para a estimulação ao parto normal.
Levando em consideração que o parto normal é um procedimento doloroso e de muito
sofrimento, que por longos tempos foi realizado de forma desumanizada, e que com a implantação
do projeto Rede Cegonha em 2011, preconizando a importância do parto humanizado, com todos os
direitos assegurados, esta realidade vem mudando a cada dia, na qual a atenção humanizada à
parturiente é o ponto chave desse novo modelo de atenção à saúde. Vale ressaltar que os profissionais
de saúde, em especial os profissionais de enfermagem estão engajados nesse modelo, e estão
presentes durante todo o trabalho de parto, oferecendo à mãe o apoio psicológico e emocional, além
de técnicas de relaxamento e massagens, música ou quaisquer outras práticas alternativas que tragam
alívio e conforto à gestante durante o trabalho de parturição, e ainda, lhes garantindo a presença de
um acompanhante de livre escolha.
Neste contexto, com o presente estudo espera-se contribuir para incentivar as mulheres a
optar pelo parto normal e a importância e as vantagens do mesmo, tanto para a mãe como para o filho,
e mostrar que após a implementação do parto humanizado muitas tradições mudaram.
2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem quanti-qualitativa. A pesquisa foi
realizada em três maternidades municipais da cidade de Teresina - PI, localizadas, respectivamente,
na zona Sul, em que foram entrevistadas 13 puérperas, na zona Leste a pesquisa foi realizada com
de 13 mulheres no puerpério, na zona Sudeste foram realizadas entrevistas com 15 mulheres no
período puerperal, instituições vinculadas à Fundação Hospitalar de Teresina (FHT).
A amostra foi constituída por 41 puérperas, que no momento da pesquisa encontravam-se
internadas nas três maternidades municipais. Como critérios de inclusão consideraram-se as mulheres
que se encontraram em pós-parto de parto normal, internadas na maternidade, no dia da entrevista. Já
como critério de exclusão determinou-se que seriam adolescentes na faixa etária entre 15 a 17 anos
que se encontravam internadas na maternidade em pós-parto de parto normal.
A aplicação da entrevista ocorreu entre janeiro e março de 2016, em conformidade com a
Resolução CNS nº 466/2012, que trata de pesquisa com seres humanos.
Os dados coletados foram digitados em uma planilha Microsoft Office Excel® 2010. Para
avaliação da significância os mesmos foram submetidos ao teste qui quadrado com Intervalo de
Confiança de 95% e significância estabelecida em p<0,05. Posteriormente os dados foram
organizados em tabelas e gráficos e para tanto foram transferidos para o programa estatístico R 3 2.
As entrevistas foram transcritas e analisada na integra conforme a técnica de análise de
conteúdo. A caracterização dos sujeitos foi encerrada quando houve a saturação das respostas. Para a
identificação as puérperas foram nomeadas por flores (Orquídea, Lírio e Jasmim). Assim, a respectiva
análise dos dados resultou na formação de uma categoria temática: o conhecimento acerca do parto
humanizado.
Página 95
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este estudo buscou conhecer a experiência das puérperas que vivenciaram o parto normal
em três maternidades municipais de Teresina-PI no período de janeiro a março de 2016. Neste período
foram entrevistadas 41 mulheres que se encontravam no pós-parto de parto normal.
A Figura 1 apresenta o perfil de mulheres no período reprodutivo, em relação à idade, cuja
faixa etária mais significante foi a de puérperas entre 25 a 29 anos, que corresponde 31,7% da amostra,
seguida de 18 e 19 anos, com 29,3%, e amostras que se apresentaram iguais de puérperas com 20 a
24 anos e igual ou maiores de 30 anos, com 19,5%.
Figura 1 - Distribuição das classes de idade das mulheres puérperas avaliadas, Teresina, 2016
19,5%(8)
Igual ou maior a 30 anos
31,7%(13)
25 a 29 anos
19,5%(8)
20 a 24 anos
29,3%(12)
18 e 19 anos
0%
10% 20% 30% 40%
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Para Almeida, Medeiros e Sousa (2012), mulheres entre 18 e 31 anos apresentaram menor
risco obstétrico. De acordo com os dados, observa-se que as mulheres estão mais esclarecidas quanto
aos métodos contraceptivos e a própria gestação.
Outros autores afirmaram que a gestação em mulheres jovens é considerada um problema
de saúde pública, que muitas vezes está relacionado às características socioeconômicas desfavoráveis.
Já a gestação em mulheres de idade mais avançada vem se tornando cada vez mais frequente, o que
explica esse fato é que essas mulheres estão deixando para engravidar quando alcançam estabilidade
financeira. Nos extremos de idades para as mulheres, são encontrados os riscos obstétricos. Nas
gestantes mais jovens, pela imaturidade fisiológica, e em mulheres em idade avançada, estão
associados à própria idade materna e aumentada pela presença de doenças crônicas (SANTOS et al,
2009).
A Tabela 1 apresenta uma avaliação sócio demográfica das mulheres puérperas avaliadas.
Quando questionadas sobre a cor de sua pele, 61,0% se consideraram pardas, 19,5% negras,12,2%
brancas e 7,3% amarelas.
Página 96
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Tabela 1 - Avaliação sócio demográfico das mulheres puérperas avaliadas, Teresina, 2016
VARIÁVEIS
N
%
P
5
25
3
8
12,2%
61,0%
7,3%
19,5%
<0,001***
8
10
23
19,5%
24,4%
56,1%
0,01**
11
7
23
26,8%
17,1%
56,1%
0,006**
35
6
85,4%
14,6%
<0,001***
26
15
63,4%
36,6%
0,0858
Cor
Branca
Parda
Amarela
Negra
Escolaridade
Ensino fundamental incompleto
Ensino médio incompleto
Ensono médico completo
Estado civil
Solteiro
Casado
União estável
Zona da moradia
Urbano
Rural
Renda familiar
Até um salário mínimo
De 2 a 3 salários mínimos
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Dados semelhantes em relação à cor das puérperas foram discutidos por Gama et al. (2009)
em que os números significativos foram de puérperas que se consideravam de cor parda ou negra,
com maior predominância da cor parda. O que explica este número bem significativo, é a
miscigenação que ocorre no Brasil pela mistura de raças.
Quanto ao nível de escolaridade, 56,1% das mulheres entrevistadas concluíram o ensino
médio, 24,4% não concluiu o ensino médio, seguido de 19,5% que não concluíram o ensino
fundamental (Tabela 1). Dados semelhantes foram encontrados por Gama et al. (2009) em três
maternidades do Rio de Janeiro, no qual puérperas cursaram ensino fundamental e médio. Para
Ramos e Cuman (2009) o nível de escolaridade interfere nas condições de vida e saúde das pessoas,
ressaltando que quanto menor o nível de conhecimento, maior a dificuldade de entendimento de
cuidados durante o parto e puerpério e a própria gestação.
A Tabela 1 revela também o estado civil das entrevistadas, em que 56,1% das puérperas
mantinham união estável com seu parceiro, 26,8% relataram ser solteiras, 17,1% eram casadas. De
acordo com Ramos e Cuman (2009) a presente realidade mostra que está havendo uma grande
mudança na estrutura das famílias, que está sendo motivada pelas condições sociais, econômicas e
culturais, onde as puérperas não encontram o apoio de um companheiro.
Conforme se evidencia na Tabela 1, as parturientes residiam em zona urbana com um
percentual de 92,7% e 14,6% residiam em zona rural. Esses resultados revelam que os mesmos podem
estar relacionados ao acesso aos serviços de saúde, porém as puérperas que residiam em zona urbana
tinham acesso às unidades de saúde com mais facilidade, assim como mais informações sobre o que
preconiza o parto humanizado. As que residiam em zona rural, tinham restrições ao acesso dos
serviços de saúde e informações.
Quanto a renda mensal, 63,4% das puérperas sobreviviam com uma renda familiar de um
salário mínimo, e 36,6% recebiam entre 2 a 3 salários mínimos por mês (Tabela 1). Pode-se considerar
Página 97
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
que o baixo padrão sócio econômico está relacionado à baixa escolaridade, o que limita o acesso a
informações e orientações, com a difícil busca pelos direitos (RAMOS; CUMAN, 2009).
A Tabela 2 apresenta os dados relativos ao número de filhos das participantes do estudo. Os
resultados mostram que 53,7% tinham parido seu 1º filho, 29,3% possuiam apenas 2 filhos, 2,4%
tinham 4 filhos e 7,3% possuiam 3 ou mais de 4 filhos.
Tabela 2 - Avaliação das puérperas quanto a situação gestacional por quanto passou,
Teresina, 2016
Variáveis
Quantidade de filhos
1 filho
2 filhos
3 filhos
4 filhos
Mais de 4 filhos
Semanas de gestação
Até as 35 semanas
Até as 37 semanas
Até as 38 semanas
Até as 39 semanas
Até as 40 semanas
Até as 41 semanas
Não souberam responder
Atividade física durante a gestação
Sim
Não
Trabalho durante a gestação
Sim
Não
Complicações durante a gestação
Sim
Não
N
%
P
22
12
3
1
3
53,7%
29,3%
7,3%
2,4%
7,3%
<0,001***
1
6
8
11
9
3
3
2,4%
14,6%
19,5%
26,8%
22,0%
7,3%
7,3%
0,0319*
14
27
34,1%
65,9%
0,0423*
8
33
19,5%
80,5%
<0,001***
13
28
31,7%
68,3%
0,0192*
Legenda: n, frequência absoluta; %, frequência relativa; P, para teste qui-quadrado, com IC de 95% e significância de
p<0,05.
Fonte: dados da pesquisa (2016).
De acordo com os dados obtidos, observa-se que a maioria das puérperas eram primíparas,
o que mostra que, mesmo com pouca informação, as mulheres estão se conscientizando quanto ao
parir. Do total de participantes 2, 26,8% pariram com 39 semanas de gestação; 22,0% com 40 semanas
de gestação; 19,5% com 38 semanas de gestação; 14,6% com 37 semanas de gestação; 7,3% com 41
semanas de gestação; e 2,4% com 35 semanas de gestação. Uma puérpera não soube informar com
quantas semanas de gestação pariu.
A prematuridade pode ocorrer com mais frequência em mulheres com menos de 20 anos de
idade por conta da imaturidade física. Santos et al (2009), afirmaram que mulheres com idade entre
35 anos ou mais, têm um maior risco de prematuridade. Ximenes e Oliveira (2004) revelaram que a
prematuridade pode estar associada a complicações durante a gravidez, como hipertensão arterial e
infecção urinaria, dentre outras intercorrências clinicas.
Página 98
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
As onze puérperas que pariram com 39 semanas, tiveram o parto a termo, onde os mesmos
não apresentaram nenhuma intercorrência. A Tabela 2 indica que 65,9% das puérperas não
realizaram atividade física durante a gestação, enquanto 34,1% informaram que realizaram atividades
físicas durante a gestação.
Para Silva (2007), a prática de atividade física na gestação oferece uma grande vantagem
para a mulher, como no aspecto emocional, tornando a gestante mais confiante durante o seu trabalho
de parto. Os benefícios da atividade física durante o trabalho de parto são relevantes, porém permite
alterações endócrinas ocorridas no período gestacional, que incidem nas articulações e ligamentos
pélvicos, contribuindo com uma maior flexibilidade, facilitando o parto e a passagem do feto,
tornando o processo do parto mais rápido.
Quanto à atividade profissional, 80,5% das participantes informaram não terem trabalhado
durante a gestação. As mulheres mais jovens que não informaram ter trabalho remunerado, eram mais
dependentes financeiramente do companheiro, o que pode torná-las mais expostas a situações de risco
social pela falta de orientação.
Quanto a complicações na gestação, 68,3% das participantes informaram não ter tido
quaisquer complicação durante a gestação. Dentre as complicações mais encontradas durante a
gestação estão a hipertensão arterial, infecção urinária e a sífilis.
A sífilis é uma DST que pode ser transmitida pela relação sexual (sífilis adquirida) e vertical
(sífilis congênita) pela placenta da mãe para o feto. Uma pesquisa realizada no ano de 2014 mostra
que no Brasil a notificação atinge somente 32% dos casos de sífilis gestacional e 17,4% apenas de
sífilis congênita. Este resultado é ocasionado pela má qualidade de assistência no pré-natal ou a não
realização do mesmo, o uso de drogas ilícitas pela gestante, múltiplos parceiros, o baixo nível de
escolaridade e socioeconômico, acompanhado da falta de orientação (DAMASCENO et al., 2014).
Segundo Vettore et al. (2011), as síndromes hipertensivas são as principais causas de morte
materna levando a sérias complicações durante o trabalho de parto. Dados revelam que mulheres com
idade igual ou superior a 30 anos, que se apresentam de cor parda, são mais predispostas a ter
hipertensão gestacional.
A infecção urinaria é uma das complicações mais comuns durante a gestação, sendo um
problema de fácil e rápido tratamento. Se a infecção na gestante não for tratada, pode resultar em um
prognostico ruim tanto pata a mãe como para o bebê. Sabe-se que durante a gestação a diurese da
mulher se torna com o pH mais ácido, fazendo com que o trato urinário fique favorável para a
proliferação de bactérias (DUARTE, 2008).
A Tabela 3 apresenta dados sobre o momento do parto. Quanto à presença de acompanhantes
durante o trabalho de parto, 95,1% das participantes informaram que tiveram a presença de familiares.
De acordo com Oliveira et al. (2011), cabe ao profissional respeitar a escolha feita pela parturiente
com quem ela deseja dividir o momento lhe dando força, coragem, confiança e conforto
emocionalmente. Inserir o acompanhante na sala de parto faz parte dos métodos não farmacológicos
com o objetivo de redução da dor, seja ele escolhido pela parturiente, seja a pessoa treinada (doula).
A presença desse acompanhante é capaz de promover bem-estar emocional e físico.
No que diz respeito à alimentação durante o trabalho de parto, 34,1% das participantes se
alimentaram (Tabela 3). Segundo Velho, Oliveira e Santos (2010), o oferecimento de líquidos como
suco, mingau ou sopas durante o trabalho de parto, tem uma boa aceitação das parturientes. O
oferecimento de alimentos para as parturientes deve ser de preferência líquidos, substituindo a água
por isotônicos. A ingestão de alimentos para as parturientes é um dos métodos do parto humanizado,
que é preconizado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2001).
Página 99
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Tabela 3 - Avaliação das puérperas quanto ao momento do parto pelo qual passou, Teresina,
2016
Variáveis
Presença de familiares
Sim
Não
Alimentação durante as contrações
Sim
Não
Atividades durante as contrações
Caminhada
Bola
Agachamento
Banho
Não realizaram
Dilatação no momento do parto
De 1 a 3 centímetros
De 4 a 6 centímetros
De 7 a 10 centímetros
Não sabem informar
Parto em residência
n
39
2
14
27
13
4
4
6
14
12
10
8
9
1
%
P
95,1%
4,9%
<0,001***
34,1%
65,9%
0,042*
31,7%
9,8%
9,8%
14,6%
34,1%
29,3%
24,4%
19,5%
22,0%
2,4%
0,058
Legenda: n, frequência absoluta; %, frequência relativa; P, para teste qui-quadrado, com IC de 95% e significância de
p<0,05.
Fonte: dados da pesquisa (2016).
No que diz respeito ao uso dos métodos não farmacológicos, identificou-se que 31,7% das
puérperas realizaram caminhada durante o trabalho de parto; 34% relataram não ter feito nenhuma
atividade no momento do trabalho de parto; 14,6% realizaram o banho; 9,8% fizeram exercício com
a bola suíça; 9,8% fizeram o agachamento. Todos os exercícios foram realizados com a intenção de
tornar o parto mais rápido e promover o relaxamento.
Para Pinheiro e Bittar (2012) as estratégias não farmacológicas empregadas durante o
trabalho de parto, podem aliviar a dor oferecendo mais conforto e diminuindo o sofrimento,
preservando a integridade física e psíquica das parturientes. O profissional de saúde que assiste a
parturiente deve fornecer orientações de como saber lidar com a dor e o desconforto, realizando
adequadamente exercícios respiratórios, estimular a fazer o banho no chuveiro, a deambulação, a
praticar o agachamento, exercícios com a bola, banquinho cavalinho, massagem, enfim, fazer o uso
desses recursos para tornar o parto menos doloroso e fazendo com que a parturiente fique mais
relaxada e colaborativa, tornando o trabalho de parto mais rápido e diminuindo o sofrimento da
mulher
De acordo com o estudo, 29,3% das puérperas se internaram com dilatação de 1 a 3
centímetros; 24,4% de 4 a 6 centímetros de dilatação; 19,5% de 7 a 10 centímetros de dilatação; uma
puérpera pariu em casa, equivalente a 2,4%; 22% não souberam informar com quantos centímetros
de dilatação se internaram.
A dilatação ocorre em dois períodos: o de fase latente e fase ativa. A fase latente acontece
quando as contrações começam e chegam até os 4 centímetros de dilatação, já a fase ativa ocorre dos
5 centímetros até os 10 centímetros, quando acontece o parto propriamente dito. Muitas parturientes
se internam na fase latente assim como na fase ativa, no qual essas mulheres que recebem o
acolhimento nas instituições de saúde na fase latente se tornam beneficiadas pelo difícil acesso as
Página 100
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
maternidades a falta de acompanhante ou por apresentarem alguma complicação durante gestação,
sendo uma gravidez de alto risco (BRASIL, 2001).
Nesse estudo observou-se que houve um maior número de mulheres internadas na fase
latente, o que prolonga o tempo de internação fazendo com que a mulher fique mais exposta a
intervenções hospitalares desnecessárias. A fase ativa da internação é quando a mulher já entrou em
trabalho de parto e começa a ocorrer a dilatação cervical (SANTOS, 2009).
Figura 2 - Declaração das puérperas avaliadas quanto a informação sobre parto humanizado,
Teresina, 2016
Sim
41,5%(17)
Não
58,5%(24)
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Conforme observado na Figura 2, 58,5% das participantes relataram não ter tido qualquer
informação sobre o parto humanizado, enquanto 41,5% informaram ter conhecimento acerca do parto
humanizado. Isso pode ser visto nos depoimentos a seguir.
Não eu nunca ouvi falar sobre isso, nas minhas consultas nunca me disseram nada. (Orquídea)
Eu já tinha ouvido falar uma vez, mais eu não sabia como era, quando cheguei aqui me
mandaram ficar em cima de uma bola, caminhar, e me mandaram banhar também, eu acho
que diminuiu mais a dor né...(risos). (Lírio)
Eu sei tudo de parto humanizado, por que eu sempre procurava ler alguma coisa que falasse
disso, que eu sempre quis que meu parto fosse normal, e nas minhas consultas eu sempre
perguntava para a enfermeira, e na caderneta que a gente recebe da gestante fala tudo bem
direitinho também, e eu gostei acho que pari mais ligeiro por que o banho relaxa agente né,
e também caminhei muito aqui pelo corredor. (Jasmim)
Observou-se que teve uma pequena diferença entre as puérperas que tiveram e as que não
tiveram informações sobre o parto humanizado. Sabe-se que tais informações devem ser abordadas
durante o pré-natal, nas consultas mensais e nas reuniões que devem acontecer ao longo da gestação.
As gestantes devem ser orientadas quanto aos direitos que as asseguram durante o parto e o pós-parto.
A rede cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde que foi implementada pela Portaria
nº 1.459, de 24 de junho de 2011, cujo objetivo é assegurar às mulheres seus direitos e assistência
humanizada na gravidez, parto e puerpério, garantindo também às crianças um nascimento seguro e
sem distorcia, com crescimento e desenvolvimento saudável.
Página 101
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
4 CONCLUSÃO
Através desse estudo permitiu-se identificar o perfil sócio demográfico das mulheres que
tiveram parto normal, destacando-se que eram mulheres jovens, com idades entre 25 a 29 anos, com
ensino médio completo, viviam em união estável com seus companheiros, residiam na zona urbana
de Teresina e sobreviviam com renda familiar de um salário mínimo por mês.
Ao que preconiza o parto humanizado, as puérperas foram internadas no período latente do
trabalho de parto, o que diminui o sofrimento e a peregrinação dessas mulheres em maternidades. A
maioria dessas mulheres tiveram a presença de um acompanhante durante o processo do parto de sua
escolha minimizando o sentimento de solidão.
O uso de métodos não farmacológicos, como a deambulação, banho, bola suíça e
agachamento, reduziu a dor e promoveu relaxamento, diminuindo a ansiedade e fazendo com que o
tempo do trabalho de parto fosse reduzido.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, N. A. M; MEDEIROS, M; SOUZA, M. R. Perspectivas de dor do parto normal de
primigestas no período pré-natal. Texto Contexto Enfermagem, Florianópolis, v.21, n.4 p. 819-827,
out./dez., 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/tce/v21n4/12.pdf > Acesso em: 05 de mar
2015.
BRASIL. Ministério da Saúde. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher.
Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde, Área Técnica da Mulher. Brasília: Ministério
da Saúde, 2001.
BRASIL. Ministério da Saúde. Humanização do parto e do nascimento: Cadernos Humaniza SUS;
v. 4, Universidade Estadual do Ceará. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.
DAMASCENO, A. B. A. et al. Sífilis na gestação. Revista HUPE, Rio de Janeiro. v.13 n.3 p.88-94.
2014.
Disponível
em:
<http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/revistahupe/article/view/12133> Acesso em: 16 de maio de 2016.
DUARTE, G. et al. Infecção urinaria na gravidez. Revista Brasileira Ginecologica Obstetrica. v.
30, n. 2, p.93-100. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbgo/v30n2/08> Acesso em: 29
de mai. 2016
GAMA, A. S. et al. Representações e experiências das mulheres sobre a assistência ao parto vaginal
e cesárea em maternidades pública e privada Caderno Saúde Pública, Rio de Janeiro. v.25, n.11,
nov.,
2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2009001100017&lang=pt> Acesso em: 14 de mar.2015.
OLIVEIRA, A. S. S. et al. O acompanhamento no momento do trabalho de parto: percepção de
puérperas. Cogitare Enfremagem, v.16, n.2, p.247-253. abr./jun., 2011. Disponível em:
<http://revistas.ufpr.br/cogitare/article/viewArticle/20201>Acesso em: 16 de maio de 2016.
PINHEIRO, B. C; BITTAR, C. M. L. Percepções, expectativas e conhecimentos sobre o parto normal:
relatos de experiência de parturientes e dos profissionais de saúde. Aletheia, n.37, p. 212-227, abr.,
2012
Disponível:
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141303942012000100015> Acesso em: 15 de maio de 2015.
Página 102
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
RAMOS, M. A. C; CUMAN, R. K. N. Fatores de risco para prematuridade: pesquisa documental.
Esc. Anna Nery Ver Enfermagem. v.13, n.2, p.297-304. abr./jun., 2009. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/ean/v13n2/v13n2a09>Acesso em: 15 de maio de 2016.
SANTOS, G. H. N. et al. Impacto da idade materna sobre os resultados perinatais e via de parto.
Revista Brasileira Ginecológica Obstétrica. v.31, n.7, p.326-334, 2009. Disponível
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010072032009000700002> Acesso
em: 19 de maio de 2016
SILVA, F. T. Avaliação do nível de atividade física durante a gestação. Dissertação de Mestrado.
Universidade
Estadual
do
Ceará.
Fortaleza.
2007.
Disponível
em:
<http://www.uece.br/cmasp/dmdocuments/trindade_2007.PDF> Acesso em: 15 de maio de 2016.
SCHMALFUSS, J. M. et al. O cuidado à mulher com comportamento não esperado pelos
profissionais no processo de parturição. Ciência Cuidado Saúde. v.9, n.3, p.618-623, 2010.
Disponível
em:
<
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=BDENF&lang=p&nextActio
n=lnk&exprSearch=23424&indexSearch=ID > Acesso em: 15 de mai. 2015.
VELHO, M. B; OLIVEIRA, M. E; SANTOS, E. K. Reflexões sobre a assistência de enfermagem
prestada à parturiente. Revista Brasileira Enfermagem, Brasília. v.63, n.4. jul./ago., 2010.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672010000400023 > Acesso em: 15 maio de 2015.
VETTORE, M. V. et al. Cuidados pré-natais e avaliação do manejo da hipertensão arterial em
gestantes do SUS no Município do Rio de Janeiro, Brasil. Caderno Saúde Pública, Rio de Janeiro.
v.27,
n.5,
p.1021-1034,
maio,
2011.
Disponível
em:
<http://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/9671>Acesso em: 15 de maio de 2016.
XIMENES, F. M. A; OLIVEIRA, M. C. R. A influência da idade materna sobre condições perinatais.
RBPS 2004; v.17, n.2, p.56-60. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40817103>
Acesso em: 25 de maio de 2016.
Página 103
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES SOROPOSITIVOS PARA HIV
EM TERESINA-PI
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF HIV INFECTED PATIENTS IN
TERESINA -PI
Marina Aguiar Barreto Maia1 ,
Jonas Moura de Araújo2
RESUMO
O quadro da AIDS no Brasil evidencia uma epidemia que tem tido transformações na sua evolução e
distribuição geográfica. Realizou-se um estudo transversal, retrospectivo e prospectivo, documental,
de caráter descritivo com abordagem quantitativa, que teve como objetivo identificar o perfil clínico
e epidemiológico de pacientes soropositivos para HIV em um SAE (Serviço de Atendimento
Especializado) em HIV/AIDS de Teresina-PI. Dos 101 prontuários avaliados, foi possível verificar
que 68,3% eram do sexo masculino e 31,7% do sexo feminino. Predominaram indivíduos com idade
de 20 a 39 anos, com maior participação das mulheres na faixa etária dos 13 aos 19 anos e acima dos
50 anos. A raça parda foi predominante (68,3%). Prevaleceu a orientação heterossexual (54,5%),
sendo que 49,5% relataram ter múltiplos parceiros. Destes, 67,6% eram do sexo masculino. O estado
civil que sobressaiu foi o solteiro, com 60,4% dos casos. Observou-se baixo nível de escolaridade,
onde 27,7% tinham ensino fundamental incompleto e 39,6% ensino médio completo. Dentre as
doenças oportunistas diagnosticadas, a mais frequente foi a diarreia crônica (10,9%). Estes dados
encontram-se de acordo com o atual perfil epidemiológico brasileiro, porém mais estudos, com maior
número de participantes são necessários para melhores conclusões. O monitoramento contínuo das
pessoas vivendo com HIV/AIDS é necessário para implementação de novas propostas diagnósticas,
terapêuticas e profiláticas, bem como para diminuir a taxa de transmissão desse vírus.
Palavras chaves: AIDS. Epidemia. Doenças oportunistas.
ABSCTRACT
The studies of AIDS in Brazil shows a disease that has been through changes in its evolution and
geographical distribution. Thus, there was a documentary, retrospective and prospective, descriptive
and quantitative approach that evaluated 101 medical records of patients treated between January 1,
2014 and January 1, 2016. Through this study we found out that from the 101 patients, 68.3% were
male and 31.7% female. There’s prevalence among people aged 20 to 29 years (32.67%) and 30 to
39 years (40.59%). And the gender also varied according to age, with greater participation of women
in the age group 13 to 19 years and above 50 years. The prevalent race in the studied population was
the mulattos, with 68.3% of cases. With regard to sexual orientation, prevailed heterosexual way with
54.5% of the total, and marital status that stood out was the single with 60.4% of cases. We found a
low level of education, where 27.7% had incomplete primary education and 39.6% completed high
______________________
1
2
Aluna do Curso de Medicina da Faculdade Integral Diferencial (DeVry FACID). E-mail: [email protected]
Professor do Curso de Medicina da DeVryFACID, Mestre em Farmacologia. E-mail: [email protected]
Página 104
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
school. Among the opportunistic diseases diagnosed, the most common was chronic diarrhea
(10.9%). These data are in accordance with the current Brazilian epidemiological profile, but more
studies with a larger number of participants makes it necessary to better conclusions. Continuous
monitoring of people living with HIV / AIDS is necessary for implementation of new diagnostic
proposals, therapeutic and prophylactic as well as to reduce the rate of transmission of this virus.
Key words: AIDS. Epidemic. Opportunistic diseases.
INTRODUÇÃO
Os primeiros casos de AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) ocorreram na década
de 1970, sendo diagnosticados casos dessa epidemia inicialmente nos Estados Unidos da América
(EUA) em 1977, e no Haiti e África Central em 1978. No Brasil o primeiro caso aconteceu em 1980,
no Estado de São Paulo, mas a nova síndrome só foi classificada em 1982 (BRASIL, 2004).
Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 798.366 mil pessoas convivam com o HIV
no Brasil atualmente, ocasionando um importante impacto sobre o sistema de saúde e sobre a
qualidade de vida das pessoas que vivem com o vírus (BRASIL, 2004).
A epidemia representa fenômeno global, dinâmico e instável, cuja forma de ocorrência nas
diferentes regiões do mundo depende, entre outros determinantes, do comportamento humano
individual e coletivo. O perfil epidemiológico da doença sofreu modificações ao longo do tempo,
passando a ser disseminada por relações heterossexuais e, por conseguinte, contaminando as mulheres
(FONSECA; BASTOS, 2007).
O perfil epidemiológico observado nos últimos anos evidenciou distribuição dos casos de
Aids se expandindo para todo o território nacional, redução dos casos em mulheres e aumento em
homens, refletindo na razão entre os sexos de 19 casos de aids em homens para cada 10 mulheres, em
2014. A maior concentração dos casos está nos indivíduos com idade de 25 a 39 anos, e destaca-se o
aumento em jovens de 15 a 24 anos. A proporção de casos entre indivíduos autodeclarados como
pardos aumentou e houve diminuição na proporção entre brancos. Maior incidência entre aqueles
com ensino médio completo (BRASIL, 2015).
Atualmente, verifica-se o tipo de epidemia brasileira concentrada em populações-chave que
respondem pela maioria de casos novos do HIV em todo o país, como gays e homens que fazem sexo
com homens (HSH), travestis e transexuais, pessoas que usam drogas e profissionais do sexo
(BRASIL, 2015).
Nesse contexto, o monitoramento clínico das pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA) tornase essencial para se conhecerem os esforços necessários, a maximização dos efeitos das intervenções
e norteamento das ações para conter o avanço desta epidemia. Cerca de 130 mil indivíduos infectados
pelo HIV não conhecem seu diagnóstico e quase um terço das PVHA continuam sem terapia
antirretroviral - TARV (NOSYK et al., 2014; BRASIL, 2015).
Existe uma heterogeneidade epidemiológica dos portadores de HIV em cada região do país
e é necessário conhecer o perfil clínico e epidemiológico, para o surgimento de novas propostas de
intervenção diagnóstica, profilática e terapêutica, bem como traçar objetivos para a redução da
transmissão deste vírus e decréscimo da prevalência de pessoas com AIDS.
Esta pesquisa fez-se necessária para conhecer qual o perfil clínico e epidemiológico de
pacientes soropositivos para HIV em Teresina, pressupondo-se que são em sua maioria indivíduos do
gênero masculino, da raça parda, adultos jovens, heterossexuais e com baixa escolaridade. Já as
características clínicas podem ser variáveis, dependendo da fase em que se encontra a doença, além
de apresentarem infecções oportunistas responsáveis pela internação hospitalar e aumento da
morbimortalidade desses pacientes.
Esse estudo teve como objetivos identificar as características clínicas e epidemiológicas dos
pacientes soropositivos para HIV atendidos em um serviço de atendimento especializado (SAE) em
Página 105
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
HIV/AIDS em Teresina-PI, além de verificar as doenças oportunistas mais frequentemente associadas
no decorrer da infecção.
2 METODOLOGIA
A pesquisa realizou-se respeitando os princípios éticos estabelecidos pela nº466/2012, do
Conselho Nacional de Saúde (CNS), que define as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas
envolvendo seres humanos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da
Faculdade Integral Diferencial (DeVryFACID) e pela Fundação Municipal de Saúde. Foi solicitada
a autorização do fiel depositário.
Não houve necessidade de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), visto que
as informações foram coletadas em prontuários dos pacientes. A pesquisa não causou quaisquer
riscos, prejuízos, desconforto ou lesões aos pacientes envolvidos, uma vez que somente os prontuários
foram consultados. Os resultados obtidos poderão auxiliar o desenvolvimento de estratégias
preventivas.
Tratou-se de um estudo transversal, retrospectivo e prospectivo, documental, de caráter
descritivo com abordagem quantitativa. Foram analisados 101 prontuários de pacientes soropositivos
para HIV atendidos em um ambulatório do Serviço de Assistência Especializada em HIV/AIDS
(SAE) em Teresina-PI, que iniciaram seu atendimento no período de 01 de janeiro de 2013 a 01 de
janeiro de 2016. Foram analisadas as características clínicas e epidemiológicas destes pacientes.
Para realização desse estudo foi necessária a confecção de um formulário específico para a
coleta de dados provenientes dos prontuários analisados, a fim de obter informações suficientes para
o desenvolvimento da pesquisa. O formulário tinha as seguintes variáveis: idade; raça; estado civil;
gênero; profissão; escolaridade; orientação sexual; uso de drogas injetáveis; presença de múltiplos
parceiros; naturalidade; cidade de residência; data do diagnóstico; doenças oportunistas
diagnosticadas.
Os dados coletados foram organizados em planilha eletrônica no Excel 2007, em seguida
analisados pelo programa estatístico SPSS 20.0 para Windows e por meio deste foram confeccionados
os gráficos e tabelas.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da análise dos dados obtidos, observou-se que a população estudada reforça a
caracterização sociodemográfica no Brasil. Verificou-se que 68,3% eram do sexo masculino e 31,7%
do sexo feminino, com uma proporção de casos entre homens e mulheres de 2 para 1,
respectivamente. Tais dados refletem a tendência de queda na participação das mulheres na epidemia
da Aids observada nos últimos dez anos (Figura 1).
Figura 1- Distribuição dos pacientes segundo gênero, Teresina-PI, 2016
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Página 106
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
De acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde 2015 (BRASIL, 2015),
com o aumento da transmissão da doença em relações heterossexuais, no período de 1980 a 2008,
houve aumento da participação das mulheres nos casos de Aids. Entretanto, a partir de 2009, observase um aumento do número de casos em homens e redução dos casos em mulheres. Atualmente a
proporção é de 1,9 homens acometidos para cada caso em mulheres no Nordeste. Esses dados diferem
do observado no estudo realizado por Morais e Amaral (2013), cuja proporção entre os sexos
encontrada foi de cerca de um homem acometido para cada mulher.
Na Figura 2 observa-se a distribuição dos pacientes segundo a faixa etária. Houve maior
incidência entre os indivíduos com idade de 20 a 29 anos (32,67%) e 30 a 39 anos (40,59%). Segundo
dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), observa-se maior concentração da AIDS no Brasil
entre os indivíduos de 25 a 39 anos para ambos os sexos, coincidindo com os dados obtidos neste
estudo. Predomina o acometimento de adultos jovens em idade fértil, talvez por serem um grupo
vulnerável por conta da intensa atividade sexual com diferentes parceiros, bem como a inconsistência
no uso do preservativo.
Figura 2- Distribuição dos pacientes segundo a faixa etária, Teresina-PI, 2016
Fonte: dados da pesquisa (2016).
A Figura 3 representa a distribuição dos pacientes segundo idade e gênero. Observou-se
prevalência de mulheres entre os 13 aos 19 anos, e acima dos 50 anos. Diferindo dos dados do
Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), nos quais foi observado um aumento da taxa de detecção entre
os homens com 15 a 19 anos, 20 a 24 anos e 60 anos ou mais nos últimos dez anos. Como a amostra
de 13 a 19 anos e acima dos 60 anos foi pequena, o resultado talvez tivesse sido diferente com uma
amostra maior. Sugere-se estudos com maior número de participantes para melhores esclarecimentos.
Página 107
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Figura 3- Distribuição dos pacientes segundo idade e gênero, Teresina-PI, 2016
Fonte: dados da pesquisa (2016).
A Figura 4 é referente à distribuição dos pacientes segundo raça/cor. Houve predomínio da
raça parda (68,3%) na população estudada, seguido da raça branca (15,8%), negra (14,9%). Não
foram observados indivíduos autodeclarados como amarelos e indígenas. Esta distribuição está de
acordo com os casos notificados pelo SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação),
no qual, a maioria são da raça parda, seguida pela branca, com proporção de 46% e 42,9%,
respectivamente. Uma minoria dos indivíduos é da raça amarela e indígena. Tem se observado
aumento na proporção de casos entre indivíduos da raça parda e uma queda na proporção entre
brancos no Brasil (BRASIL, 2015).
Figura 4- Distribuição dos pacientes segundo raça/cor, Teresina-PI, 2016
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Em relação à orientação sexual, 54,5% referiram-se heterossexuais, 38,6% homossexuais, e
6,9% bissexuais, sugerindo que a via de transmissão heterossexual constitui a mais importante
característica da dinâmica da epidemia, justificando talvez aumento da participação feminina ao longo
dos anos (Figura 5).
Página 108
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Figura 5 - Distribuição dos pacientes segundo a orientação sexual, Teresina, 2016
Fonte: dados da pesquisa (2016).
No início da epidemia, o segmento populacional constituído por homens que fazem sexo
com outros homens — homossexuais e bissexuais — foi o mais atingido. No ano de 1984, 71% dos
casos notificados eram referentes a homossexuais e bissexuais masculinos. Com a mobilização social
e a mudança de comportamento no sentido de práticas sexuais mais seguras, houve redução na
participação desta subcategoria de exposição. Entretanto, estudos recentes demonstram que este
grupo responde pela maioria dos novos casos de HIV diagnosticados no país (SZWARCWALD,
2000; BRASIL, 2015).
Atualmente, é imprescindível que a dicotomia sexo-prática segura seja desmistificado no
casal. É necessário haver campanhas que integrem o casal num debate franco e de mútua cooperação
sobre o sexo seguro, além de fortes ações sociais e governamentais na população em situação de
maior risco e vulnerabilidade (SCHAURICH; FREITAS, 2011).
Quanto à presença de múltiplos parceiros, observou-se que 50,5% relataram ter único
parceiro, ao passo que 49,5% relataram ter múltiplos parceiros, sendo que destes, 67,6% eram do sexo
masculino (Figura 6). Isto talvez justifique o aumento da prevalência de HIV em homens nos últimos
dez anos, levando-se em consideração que a principal forma de transmissão do HIV atualmente é
sexual.
Figura 6- Distribuição dos pacientes segundo a presença de múltiplos parceiros e gênero,
Teresina-PI, 2016
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Página 109
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
A Figura 7 refere-se à distribuição dos pacientes segundo o uso de drogas injetáveis.
Observou-se que 95% não usaram drogas injetáveis, ao passo que 5% eram usuários desses tipos de
drogas. Porém, atualmente, os usuários de drogas injetáveis estão entre os indivíduos que respondem
pela maioria dos casos novos do HIV no Brasil, juntamente com os HSH, gays, travestis, transexuais
e profissionais do sexo. Diferindo, portanto, do atual cenário brasileiro (BRASIL, 2015).
Figura 7- Distribuição dos pacientes segundo uso de drogas injetáveis, Teresina, 2016
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Quanto ao grau de instrução, pôde-se observar que a maioria dos pacientes possuíam ensino
médio completo (39,6%) e ensino fundamental incompleto (27,7%). Apenas 9,9% possuíam ensino
superior completo. Entre as ocupações, pôde-se verificar que 93% não tem ocupação qualificada, ou
seja, para exercício de tal, não necessitou de formação superior, enquanto apenas 7% tem ocupação
qualificada. Os indivíduos estudados apresentaram baixo nível de escolaridade e ocupações não
qualificadas (Figura 8). Esses dados são concordantes com os dados do Boletim Epidemiológico do
Ministério da Saúde, 2015, onde uma maior concentração de casos de AIDS encontra-se entre aqueles
com ensino médio completo (23,9%) e ensino fundamental incompleto (21,1%).
Figura 8- Distribuição dos pacientes segundo grau de escolaridade, Teresina-PI, 2016
Fonte: dados da pesquisa (2016).
A principal arma preventiva para combater epidemias é a conscientização da população
quanto a comportamentos de riscos que facilitam a transmissão do vírus. A educação tem um papel
Página 110
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
fundamental na assimilação de campanhas informativas e na propensão a mudanças de hábitos e
comportamentos sociais (IRFF; SOARES; DESOUZA, 2010).
Walque (2006) observou que a educação tanto é condizente com um comportamento mais
seguro como com o uso de preservativo ou uso de conselhos e experiências.
Observou-se que 82,2% dos pacientes não apresentaram doenças oportunistas
diagnosticadas. Dentre as complicações, a mais frequente foi a diarreia crônica (10,9%), seguida pelo
herpes zoster (2%), candidíase esofagiana (1%), tuberculose ganglionar (1%), tuberculose pulmonar
(1%), meningite criptocócica (1%), neurotoxoplasmose (1%) (Figura 9).
Figura 9- Distribuição dos pacientes segundo infecções oportunistas diagnosticadas, TeresinaPI, 2016
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Segundo dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), a pneumocistose é a doença
oportunista mais frequente, seguida pela toxoplasmose do sistema nervoso central e tuberculose
pulmonar atípica ou disseminada. Neste estudo não foram encontrados pacientes que apresentaram
pneumocistose. A incidência de neurotoxoplasmose e tuberculose pulmonar atípica foi de apenas 1%
cada. Dessa forma, pode-se inferir que a diarreia crônica foi mais prevalente na população estudada
do que a pneumocistose. O mesmo foi observado por Morais e Amaral (2013).
A causa parasitária mais comum de diarreia crônica nos pacientes com AIDS é a
criptosporidiose, uma infecção causada pelo protozoário do gênero Cryptosporidium spp., que infecta
células epiteliais do trato gastrointestinal dos seres humanos e dos animais, cuja transmissão decorre
da ingestão de água ou alimentos contaminados (NAVIN, 1984 apud NETO et al., 1998). Sugerindo
a falta de saneamento básico e de medidas de higiene pessoal na população estudada, talvez pela
maioria apresentar baixos níveis socioeconômicos e de instrução.
4 CONCLUSÃO
Os resultados encontrados neste estudo apontam que os indivíduos mais acometidos eram
homens, jovens, em plena idade reprodutiva. A participação das mulheres ainda persiste, porém,
menos expressiva. Dentre os jovens de 13 a 19 anos e adultos acima dos 50 anos, observou-se maior
prevalência das mulheres. Entre a raça/cor houve predomínio dos indivíduos autodeclarados como
Página 111
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
pardos. Com relação à orientação sexual, predominaram os casos em heterossexuais, talvez por essa
ser a principal via de transmissão do vírus atualmente.
Dentre os indivíduos que declararam ter múltiplos parceiros, a maioria era do sexo
masculino, justificando talvez o aumento da prevalência de HIV nesse gênero. Prevaleceram
indivíduos que não eram usuários de drogas injetáveis. A maioria dos pacientes estudados tinha baixo
nível de escolaridade, uma vez que apenas 10% possuíam ensino superior completo. Isto sugere a
dificuldade de conscientização da população quanto aos comportamentos de risco.
A infecção oportunista mais comumente encontrada foi a diarreia crônica. Talvez pelo fato
de ser uma doença transmitida por água ou alimentos contaminados, sugerindo-se assim, a falta de
saneamento básico e de medidas de higiene pessoal na população estudada, justificada pela
apresentação de baixos níveis socioeconômicos e de instrução da maioria dos indivíduos.
Este estudo é importante para o surgimento de novas propostas de intervenção diagnóstica,
profilática e terapêutica, bem como para traçar objetivos para a redução da transmissão do vírus, e
decréscimo da prevalência de pessoas com AIDS.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de DST/AIDS. Boletim epidemiológico de
Aids. Brasília, ano I, n. 01, jan/jun., 2004.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim epidemiológico
Aids/DST.
Brasília,
2015.
Disponível
em:
<
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2015/58534/boletim_aids_11_2015_w
eb_pdf_19105.pdf>. Acesso em: 09 mai. 2015.
FONSECA, M. G. P.; BASTOS, F. I. Twenty-five years of the AIDS epidemic in Brazil: principal
epidemiological findings, 1980-2005. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2007. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2007001500002&script=sci_arttext>.
Acesso
em: 17 mai. 2015.
IRFF, G.; SOARES, R. B.; DESOUZA, S. A. Fatores Socioeconômicos, Demográficos, Regionais e
Comportamentais que Influenciam no Conhecimento sobre HIV/AIDS. Revista Economia, Brasília,
2010. Disponível em: http://www.anpec.org.br/revista/vol11/vol11n2p333_356.pdf. Acesso em: 15
mai. 2016.
MORAIS, J. G. C. L.; AMARAL, E. J. L. S. Características clínicas e epidemiológicas de pacientes
soropositivos para HIV na ocasião do diagnóstico. 2013. 80 f. Trabalho de Conclusão do Curso
(Graduação em Medicina) – Faculdade Integral Diferencial, Teresina, 2013.
NETO, A. F. C. et al. Criptosporidiose e diarréia persistente. Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro,
1998. Disponível em: http://www.jped.com.br/conteudo/98-74-02-143/port.pdf. Acesso em: 17 mai.
2016.
NOSYK, B. et al. The cascade of HIV care in British Columbia, Canada, 1996-2011: a populationbased retrospective cohort study. Lancet Infect. Dis., [S.l.], v. 14, n. 1, p. 40-9, 2014. Disponível em:
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4017913/>. Acesso em: 05 mai. 2015.
SCHAURICH, D.; FREITAS, H. M. B. O referencial de vulnerabilidade ao HIV/AIDS aplicado às
famílias: um exercício reflexivo. Revista de Enfermagem da USP, 2011. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0080- 62342011000400028&script=sci_arttext. Acesso em:
13 mar. 2016.
Página 112
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
SZWARCWALD, C. L. et al. A disseminação da epidemia da AIDS no Brasil, no período de 19871996: uma análise espacial. Cad. Saúde Pública [online], v. 16, 2000. Disponível em:<
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2000000700002>. Acesso em:
16 mai. 2016.
WALQUE, D. Who gets AIDS and how? The determinants of HIV infection and sexual behaviors in
Burkina Faso, Cameroon, Ghana, Kenya and Tanzania. World Bank in its series Policy Research
Working
Paper
Series
3844,
2006.
Disponível
em:
<
http://wwwwds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/02/03/000016406_2006020310491
1/Rendered/PDF/wps3844.pdf>. Acesso em: 15 mai, 2016.
Página 113
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
RELAÇÃO ENTRE A DEFICIÊNCIA, INSUFICIÊNCIA E NÍVEIS NORMAIS DE
VITAMINA D E RESISTÊNCIA INSULÍNICA EM PACIENTES DE UM CENTRO
MÉDICO DE TERESINA-PI
RELATIONSHIP BETWEEN DISABILITY , IMPAIRMENT AND NORMAL VITAMIN D
LEVELS AND INSULIN RESISTANCE IN PATIENTS OF THE MEDICAL CENTER OF
TERESINA, PI
Manoel Ítalo Pinheiro Néri1 ,
Jonas Moura de Araújo2
RESUMO
A vitamina D é formada basicamente através da irradiação solar (raios UVB) sobre a pele em uma
substância derivada do colesterol, originando uma substância chamada provitamina D3 na pele, a qual
ganha à circulação e chega ao fígado sendo hidroxilada e transformada em 25 – hidroxivitamina D3
(25(OH)D3) pelo citocromo P450S. A demonstração de uma forte correlação inversa entre glicemia
e níveis de 25(OH)D3, sugere um papel direto e importante da deficiência dessa vitamina na ação
insulínica. O objetivo geral foi identificar incidência de deficiência e insuficiência de vitamina D, e
resistência insulínica e sua correlação, em pacientes de um Centro Médico de Teresina-PI. Os
objetivos específicos foram analisar os níveis de vitamina D, de insulina sérica, glicemia de jejum,
Idade, Gênero e IMC, identificando a incidência de deficiência e insuficiência de vitamina D e
resistência insulínica; correlacionar a deficiência, insuficiência de vitamina D com a resistência
insulínica, Idade, Gênero e IMC. Tratou-se de um estudo transversal, prospectivo, observacional, de
caráter descritivo com abordagem quantitativa, relacionando a deficiência, insuficiência e níveis
normais de vitamina D com a resistência insulínica em pacientes de ambulatório em um Centro
Médico de Teresina-PI. Foram coletadas amostras de sangue de 99 pacientes atendidos no referido
Centro. Os dados foram coletados e correlacionados a fim de se identificar alguma relação direta ou
indiretamente entre os níveis de vitamina D e Resistencia Insulínica. Os resultados obtidos apontaram
que existe uma alta incidência nos níveis de insuficiência e deficiência de vitamina D na amostra
estudada em Teresina-PI, bem como a resistência insulínica avaliada pelo HOMA-IR. Concluiu-se
houve uma maior insuficiência e deficiência de vitamina D no gênero feminino, contrariamente ao
gênero masculino, que apresentou maior suficiência desta. Os pacientes que possuem deficiência e
insuficiência de vitamina D, apresentaram também resistência insulínica.
Palavras chave: Vitamina D. Resistência à insulina. HOMA-IR.
___________________
1Aluno
do Curso de Medicina da Faculdade Integral Diferencial (DeVry FACID). Email : [email protected]
do curso de Medicina da DeVry FACID, Mestre em Farmacologia. Email: [email protected]
2Professor
Página 114
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
ABSCTRACT
Vitamin D is basically formed by solar irradiation (UVB) on the skin in a derived cholesterol
substance, yielding a substance called Provitamin D3 in the skin, which gains movement and reaches
the liver being hydroxylated and converted into 25 - hydroxyvitamin D3 (25 (OH) D3) by cytochrome
P450s. The demonstration of a strong inverse correlation between blood glucose and levels of 25
(OH) D3, suggests a direct and important role of this vitamin deficiency in insulin action. The overall
objective was to identify the incidence of deficiency and vitamin D insufficiency and insulin
resistance and its correlation in a medical center of Teresina-PI. The specific objectives were to
analyze the vitamin D levels, serum insulin, fasting glucose, Age, Gender and BMI; Identifying the
incidence of disability and lack of vitamin D and insulin resistance; Correlate the deficiency, vitamin
D insufficiency with insulin resistance, age, gender and BMI. The work dealt with is a cross-sectional,
prospective, observational study of descriptive with quantitative approach, relating to disability,
impairment and normal vitamin D levels with insulin resistance in patients of a clinic in a medical
center of Teresina-PI. Blood samples were collected from 99 patients treated at that center. Data were
collected and correlated in order to identify any direct or indirect relationship between vitamin D
levels and Resistencia Insulin. The results obtained in this study showed that there is a high incidence
in insufficient levels and vitamin D deficiency in the sample studied in the city of Teresina, PI, and
that insulin resistance measured by HOMA. The female was concluded that there was a greater failure
and vitamin D deficiency, contrary to males with the highest sufficiency of this. In conclusion that
patients have deficiency and vitamin D deficiency, also have insulin resistance.
Key words: Vitamin D. Resistance to insulin. HOMA-IR
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, um vigoroso interesse em vitamina D por parte de todo o mundo veio à
tona, tanto no meio médico, quanto entre as pessoas leigas. A partir de dados divulgados pelo National
Health and Nutrition Examination Survey - NHANES (2004), que quando comparado com o
NHANES de 1998, verificou-se um aumento significativo no número de pessoas com níveis de
vitamina D (25 Hidroxivitamina D3) inferior a 30ng/ml.
Muitos estudos nos dias de hoje têm demonstrado a expressão do receptor de vitamina D em
vários tecidos corporais como o cérebro, pele, intestino, gônadas, próstata, mamas e células do
sistema imune e do pâncreas, revelando a interação dessa vitamina em distúrbios associados ao
sistema imunológico e ao metabolismo da glicose. Nos últimos anos a vitamina D e seus precursores
têm sido alvo de um número crescente de pesquisas, demonstrando sua função, além do metabolismo
do cálcio e da formação óssea (MARQUES et al., 2010).
A vitamina D atua em inúmeros sistemas como, secreção de insulina, cérebro, coração e
sistema imune, entre outros, além de promover o aumento da absorção de cálcio e fosfato pelo
intestino, sendo essencial para o desenvolvimento dos ossos e dentes. Portanto, em seu estado de
deficiência, a vitamina D pode favorecer a uma maior mobilização do cálcio dos ossos, piorando a
estrutura óssea. A função primitiva da vitamina D3 se dá na geração de citocinas produzidas por
macrófagos/monócitos que protegem o hospedeiro contra ataques de invasores (QUARLES, 2008).
Em condições de baixa exposição solar, a vitamina D é considerada um micronutriente
essencial, obtida pela síntese cutânea na presença da luz ultravioleta, quando o composto 7deidrocolesterol se transforma em colecalciferol (vitamina D3). Além de ser obtida de forma exógena,
essa vitamina possui também etapa de síntese endógena, onde é absorvida para a corrente sanguínea,
pois precisa ser metabolizada chegando ao fígado onde sofre ação da enzima do grupo P450S até 1,25
(OH)2D3, sua forma biologicamente ativa (CAPRIO; MAMMI; ROSANO, 2012).
Página 115
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
O interesse cresceu não só pela queda mundial nos níveis séricos de vitamina D, mas também
pela associação entre obesidade e diminuição da sensibilidade à insulina, que já está bem estabelecida.
Estudos demonstram que obesos têm prevalência aumentada de hipovitaminose D, o que
possivelmente se deve à eventual menor exposição solar e ao maior sequestro do tecido adiposo,
diminuindo sua biodisponibilidade (AZOURY et a., 2003). A demonstração de uma forte correlação
inversa entre glicemia e níveis de 25(OH)D, sugere um papel direto e importante da deficiência dessa
vitamina na patogenia da doença. Parece que níveis adequados de vitamina D no organismo são
essenciais no processo de sensibilidade à insulina, como apontam algumas pesquisas (WITHAM et
al., 2010).
Quanto à participação da vitamina D no diabetes, a deficiência desta vitamina diminui a
síntese e liberação de insulina, pois atua na função das células ᵝ do pâncreas e na ação periférica desse
hormônio, sugerindo sua participação na patogênese dessa doença crônica. Muitas pesquisas recentes
sugerem que os mecanismos envolvidos na fisiopatologia de doenças cônicas, como diabetes mellitus,
câncer e doenças cardiovasculares, podem estar relacionadas com a deficiência e as novas funções
fisiológicas da vitamina D (BELL, 2011).
A vitamina D participa da resposta insulínica ao estímulo da glicose direta ou indiretamente.
Seus efeitos diretos são mediados pela ligação da 1,25(OH)2D3 ao receptor VDR da célula ᵝ,
enquanto o efeito indireto é mediado pelo fluxo de cálcio nessas células. Mediante esses resultados
esta vitamina atua por meio da interação de seu receptor (VDR) com as células ᵝ e com a proteína
ligadora de cálcio dependentes de vitamina D no tecido pancreático (BARENGOLTS, 2010).
Segundo Holick et al. (2011), a deficiência de vitamina D é definida em pessoas com níveis
de 25 hidroxivitamina D3 menores que 20 ng/ml e insuficiência de vitamina D como valores de 25
hidroxivitamina D3 entre 21-29 ng/ml. Portanto, valores maiores que 30 ng/ml são considerados
suficientes. Contudo essa vitamina não apresenta definição quanto a doses tóxicas.
O presente estudo teve como pergunta norteadora: “qual a incidência de deficiência e
insuficiência de vitamina D em pacientes de um centro médico da cidade Teresina e suas relações
com a resistência insulínica?”. A compreensão dessa relação possibilita um melhor acompanhamento
clínico dos pacientes, pois existe uma alta incidência de deficiência e insuficiência de vitamina D na
cidade de Teresina-PI, compatíveis com a população mundial, e pelo fato de existir uma possível
relação inversa entre níveis de vitamina D e a resistência insulínica a qual é um fator de risco
independente para desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
Há uma importância crescente da vitamina D em muitas ações do organismo,
principalmente, em pacientes com níveis insulínicos alterados, pois além de suas ações calciotrópicas,
vale ressaltar que esta vitamina possui ação anti-obesidade, ação antioxidante, ação sobre o controle
da Pressão Arterial Sistêmica, influencia na ação e no controle do sistema renina angiotensina
aldosterona, tem função protetora contra doenças cardiovasculares e está relacionada com uma
redução do risco de câncer em indivíduos com níveis insulínicos normais e alterados.
Nesse contexto, buscou-se como objetivo geral identificar incidência de deficiência e
insuficiência de vitamina D, e resistência insulínica e sua correlação, em um Centro Médico de
Teresina-PI. Como objetivos específicos: analisar os níveis de vitamina D, de insulina sérica,
glicemia de jejum, Idade, Gênero e IMC em pacientes de um Centro Médico da cidade de Teresina –
PI, identificando a incidência de deficiência e insuficiência de vitamina D, bem como identificar a
resistência insulínica, na mesma população; correlacionar a deficiência, insuficiência de vitamina D
com a resistência insulínica, Idade, Gênero e IMC.
2 METODOLOGIA
O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Integral
Diferencial e também à Comissão de Ética da Instituição na qual a pesquisa foi realizada. O projeto
foi submetido à Plataforma Brasil em 10 de maio de 2016 com o protocolo de número
54412716.1.0000.5211.
Página 116
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
A execução da pesquisa foi feita de acordo com a Resolução nº 466/2012 do Conselho
Nacional de Saúde, que define as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo
principalmente seres humanos. Foram solicitadas as devidas autorizações através do termo de
consentimento institucional e assinatura do Termo de Fiel Depositário pelo responsável.
Trata-se de um estudo transversal, prospectivo, observacional, de caráter descritivo com
abordagem quantitativa (Níveis de vitamina D, Níveis de Insulina, Glicemia de Jejum, Idade, Gênero,
IMC e Índice de HOMA), para determinar a suficiência, deficiência e insuficiência de vitamina D
além da resistência insulínica em pacientes atendidos em um serviço de ambulatório privado da
cidade de Teresina - PI.
O estudo foi realizado com 99 (noventa e nove) pacientes de um Centro Médico
Ambulatorial na cidade de Teresina – PI. Os critérios de inclusão foram: ser pacientes, de ambos os
gêneros, atendidos no referido Centro Médico; pacientes que tinham planos de Saúde. Critérios de
exclusão: pacientes que fazem reposição de vitamina D, em uso de medicações hipoglicemiantes e/ou
que possuem patologias que alterem o metabolismo da mesma (insuficiência renal ou insuficiência
hepática já em tratamento), Diabetes tipo I e II.
A coleta de dados foi realizada por único pesquisador, durante o período de agosto de 2015
a maio de 2016, no qual foram avaliados através de dados coletados de prontuários que mostraram
exames realizdos em laboratórios da cidade de Teresina – PI. Não houve distinção de gênero, raça,
idade e/ou outro parâmetro e os pacientes foram distribuídos, foram anotados os seguintes parâmetros
como gênero, idade e os níveis de 25 hidroxivitamina D3, Níveis de Glicemia de Jejum e Níveis de
Insulina em Jejum.
Foi realizado avaliação da resistência insulínica através do modelo HOMA-IR (Homeostasis
Model Assessment – Insulin Resistance) e a classificação de vitamina D em suficiência, deficiência e
insuficiência segundo escala de Holick.
Após coletados, os dados foram organizados em uma tabela do Excel, 2007 em seguida
analisados através do programa estatístico SPSS 13.0 para Windows e posteriormente os resultados
foram apresentados em forma de gráficos e tabelas.
Os dados foram coletados por meio do resultado das amostras de sangue de cada paciente.
Todos os participantes tiveram seus nomes substituídos por números para que assim a pesquisa se
tornasse mais segura quanto ao risco de exposição dos participantes. Eem seguida foram analisados
e organizados em uma tabela contendo as variáveis: idade, gênero, IMC, e por fim foram
correlacionados quanto à escala de Holick (deficiência, suficiência ou insuficiência). A literatura atual
mostra que o índice de HOMA, é o método mais aceito para diagnosticar resistência insulínica. Este
critério consiste na fórmula (glicemia de jejum mg/dL X insulina de jejum mUI/mL/405). Apesar de
muitas variações, aceita-se como resistência insulínica valores acima de 1,7, sendo considerados sem
resistência insulínica os valores abaixo de 1,7.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a análise dos dados obtidos em prontuários de pacientes de um centro médico da cidade
de Teresina-PI, foram selecionados uma amostra total de 99 pacientes, e coletados dados sobre idade,
gênero, IMC, níveis de vitamina D, glicemia de jejum e insulina. A média de idade foi 47 ± 9,81 anos,
a do IMC foi 28,7 ± 5,2 Kg/m², a dos níveis de vitamina D foi 31,31 ± 18,4 ng/dL, a de glicemia foi
84,5 ± 10,9 mg/dL. Já a média dos níveis de insulina de jejum foi 13,9 ± 13,1 mUI/ml.
Tabela 1 - Médias de idade, gênero, IMC, níveis de vitamina D, glicemia de jejum e insulina
N
Válido
Ausente
Níveis de Vit
D
99
0
Glicemia
Jejum
99
0
Idade
99
0
Insulina
Jejum
99
0
IMC
99
0
Página 117
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Média
Desvio Padrão
Percentis 25
50
75
31,3182
18,49722
21,3000
28,0000
35,4000
84,562
10,9234
77,000
83,000
92,000
47,11
9,814
37,00
46,00
53,00
13,9742
13,12101
6,6000
9,8000
15,7000
28,728
5,2814
24,600
27,900
31,600
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Os dados da Figura 1 mostram a classificação da amostra quanto ao gênero. De um total de
99 indivíduos analisados, 51,52% (n=50) eram do gênero masculino e 48,48% (n=49) do gênero
feminino, o que demonstrou uma equidade na amostra quanto a variável analisada.
Os cálculos estatísticos mostraram que não houve correlação estatisticamente significativa
entre a idade e os níveis de vitamina D (dados não mostrados).
Figura 1 - Classificação quanto ao gênero dos participantes
Fonte: dados da pesquisa (2016).
O risco de desenvolver diabetes é aumentado mesmo com níveis de glicemia de jejum
considerados normais. Estudos relataram que, em um grupo de jovens israelenses, o risco de diabetes
incidente aumentou progressivamente com uma glicemia de jejum plasmática ≥ 85 mg/dl comparada
com uma glicemia de jejum < 80 mg/dl (QUARLES, 2008).
Matthews (2001), discutiu sobre a manutenção da glicemia normal, na qual a mesma
depende principalmente da capacidade funcional das células-ᵝ pancreáticas (BcC) quanto a sua
sensibilidade tecidual à ação da insulina (SI) e em secretar insulina. A disfunção das células-b e a
resistência insulínica (RI) são anormalidades metabólicas, o que evidencia uma forte inter-relação
aos casos descritos na etiologia do diabetes melito do tipo 2.
A Figura 2 aponta os níveis de vitamina D devidamente classificados quanto à escala
segundo Holick. Baseado nesta referência proposta, 39,39% (n=39) dos pesquisados obtiveram os
níveis de vitamina D considerados suficientes (> 30 ng/ml), sendo que 39,39% (n=39) apresentaram
níveis insuficientes de vitamina D (entre 21-29 ng/ml) e 21,21% (n=21) estão com seus níveis de
vitamina D deficientes (< 20 ng/ml).
Página 118
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Figura02 - Níveis de vitamina D de acordo com a escala de Holick
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Segundo Holick et al. (2011, este resultado mostrou-se compatível com a literatura, que
existe uma epidemia de deficiência e insuficiência de vitamina D a nível mundial. Baseado nos dados
gerais que a população do estudo nos mostra, os indivíduos envolvidos não estão com níveis de
vitamina D satisfatórios, o que pode ser um fator prejudicial para a saúde dos mesmos. Desta forma,
de acordo com os resultados obtidos, verificou-se uma grande incidência tanto de deficiência como
de insuficiência de vitamina D na amostra estudada no Centro Médico em Teresina-PI. Mesmo com
as diferentes intensidades de radiações ultravioletas na cidade, os dados estão de acordo com a
tendência brasileira, que é praticamente a mesma em todas as regiões.
Segundo Saraiva et al. (2007), um estudo realizado, com idosos, na cidade de São Paulo,
demonstrou que concentrações inadequadas de vitamina D foram encontradas em uma amostra de
43,8% da população envolvida no estudo.
Portanto, apesar de os raios solares se fazerem presentes em praticamente todas as estações
do ano e de maneira mais vertical, a cidade de Teresina possui uma localização onde os dados
apontam que há um considerável índice de deficiência e insuficiência de vitamina D o que caracteriza
uma hipovitaminose D na maioria dos envolvidos no estudo. Pode-se pressupor que a população seria
mais propensa a se proteger, permanecendo a maior parte do tempo em ambientes protegidos, devido
as altas temperaturas e a incidência de raios solares na maior parte do ano em Teresina.
Os dados da Figura 3 mostram a distribuição dos pacientes quanto ao índice HOMA. De
acordo com eles, 62,63% (n=62) apresentaram índice HOMA >1,7, sendo portanto classificados com
resistência insulínica enquanto que 37,37%(n=37) aprestaram índice HOMA < 1,7, sendo
classificados como sem resistência insulínica. Portanto houve um predomínio de Rrsistencia
insulínica segundo este critério.
Página 119
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Figura 3 - Níveis de resistência insulínica do subgrupo A e subgrupo B, segundo os critérios de
HOMA
Fonte: dados da pesquisa (2016).
A resistência à insulina, embora francamente estudada e reconhecida, ainda não dispõe de
um método de investigação laboratorial que preencha todos os critérios para que seja universalmente
aceita e utilizada. O método ideal de investigação da RI deveria preencher os seguintes critérios:
valores obtidos com razoável esforço, em um tempo limitado e com um risco mínimo para o paciente,
medida suficientemente precisa para comparar a RI entre indivíduos, medida podendo ser obtida
independentemente da glicemia na qual está sendo obtidos (hipoglicemia, normoglicemia ou
hiperglicemia), dados obtidos dentro da faixa fisiológica de ação insulínica, possibilidade
de insight sobre os mecanismos celulares responsáveis pela sensibilidade insulínica, baixo custo e
possibilidade de aplicação clínica.
Por se aplicar mais facilmente, o índice de HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment of
Insulin Resistance), é uma das alternativas para a avaliação da RI nos estudos epidemiológicos e por
apresentar correlação forte com o clamp euglicêmico-hiperinsulinêmico (VASQUES et al., 2008).
Analisados juntos, os dados demonstram, uma alta incidência de deficiência e insuficiência
de vitamina D e uma alta incidência de resistência insulínica avaliada pelo índice de HOMA. Isto
levou a sugerir uma correlação entre estas variáveis. O índice HOMA relaciona níveis de glicemia e
Insulina em jejum e quanto maior forem os valores destes, maior será o HOMA. Portanto, quanto
maior for o valor de insulina maior será o valor do HOMA que demonstrará aumento da resistência
insulínica.
A Figura 4 compara a classificação dos níveis de vitamina D (deficiência, insuficiência e
suficiência) correlacionados com a insulina de jejum dos indivíduos pesquisados. Assim, analisando
os dados da Figura, estes mostraram que há uma tendência a um aumento dos níveis de Insulina no
nosso corpo à medida que os níveis de vitamina D diminuem. No entanto, não houve uma correlação
estatisticamente significativa entre essas variáveis, baseado no Test t de student que demonstrou um
(p>0,05). Isto sugere que a vitamina D possa estar relacionada com a ação insulínica. Porém mais
estudos fazem-se necessários para melhor elucidar tal correlação. Talvez uma amostra maior e com
mais variáveis tais como estilo de vida, composição corporal, possa esclarecer tal relação.
Página 120
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Figura 4 - Níveis de deficiência, insuficiência e suficiência de vitamina D³, relacionados a
resistência insulínica
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Essa tendência observada está de acordo com um estudo publicado por Schuch, Garcia e
Martini (2009) mostrando que a hipovitaminose D nos indivíduos com IMC aumentados não seria
apenas consequência da menor exposição solar, mas também pelo fato dos depósitos de vitamina D
concentrarem nos adipócitos, diminuindo, assim, a sua biodisponibilidade.
Os dados da Figura 5 mostram a correlação da resistência insulínica através do índice
HOMA e a deficiência, insuficiência e suficiência de vitamina D, mostram também que que há um
predomínio de resistência insulínica na deficiência e insuficiência de vitamina D. Pacientes com
deficiência apresentaram 22,58% (resistência insulínica), enquanto 18,92% (sem resistência
insulínica); já os pacientes que apresentaram níveis insuficientes de vitamina D, apresentaram
41,94% (resistência insulínica) e 35,14%(sem resistência insulínica); nos pacientes com suficiência
desta vitamina houve um predomínio de paciente (sem resistência insulínica) 45,95%, enquanto que
35,48% apresentaram (resistência insulínica). No entanto os cálculos não apresentara correlação
estatisticamente significativa (p>0,05).
Página 121
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Figura 5 - Classificação dos Níveis de Vitamina D³ (deficiência, insuficiência e suficiência),
relacionados à Resistência Insulínica
Fonte: dados da pesquisa (2016).
O índice HOMA, mais conhecido como Modelo de Avaliação da Homeostase, representa
uma das alternativas à técnica de clampe para avaliação da RI e da capacidade funcional das célulasb pancreáticas. Fornece uma medida indireta da RI ao avaliar, em condições de homeostase e jejum,
a insulina endógena e a glicemia.
Durante as últimas décadas, métodos alternativos para a avaliação da RI e da BcC
(capacidade funcional das células-b pancreáticas) têm sido propostos. Portanto este método vem
sendo amplamente utilizado, principalmente, em estudos envolvendo um grande número de
participantes, por ser um método de fácil aplicação, rápido e de menor custo (BONORA et al., 2007).
A Figura 6 compara a classificação dos níveis de vitamina D correlacionados com o gênero
dos indivíduos pesquisados. Os dados mostraram que indivíduos do gênero masculino apresentaram
maior percentual de suficiência (45,1%) do que os gênero feminino (45,1% contra 33%,
respectivamente). Já os indivíduos do gênero feminino apresentaram um maior número de
insuficiência de vitamina D 43,75%, enquanto os do gênero masculino 35,29%. Os níveis de
deficiência de vitamina D também mostraram que o gênero feminino apresenta 22,92%, enquanto os
do gênero masculino 19,61%, embora os dados não tenham sido estatisticamente significativos.
Página 122
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Figura 6 - Níveis de vitamina D (deficiência, insuficiência e suficiência) correlacionados com o
gênero
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Um estudo, realizado por Diniz et al. (2012), mostrou que, relativamente, os indivíduos do
gênero feminino apresentaram hipovitaminose D. Outro estudo realizado por Saraiva et al. (2007),
mostrou que os resultados encontram-se de acordo com a afirmativa de que o gênero feminino
apresenta uma maior tendência a valores de níveis séricos de vitamina D mais baixos. Talvez, exista
uma correlação quanto aos dados deste estudo, que possam ser justificados pela maioria das mulheres
sofrer menos exposição ao sol, quando comparados aos indivíduos do gênero masculino, uma vez
que estas possuem hábitos mais frequentes de cuidados com a exposição e passam boa parte do tempo
protegidas dos raios solares.
Alguns questionamentos são importantes destacar, pois não foi aplicado nenhum inquérito
quanto ao local de trabalho, alimentação, tempo de exposição solar e uso de protetores solares, fator
esse que se apresenta de grande importância na influência sobre os níveis de vitamina D no corpo.
4 CONCLUSÃO
Os resultados obtidos no presente estudo apontaram que existe uma alta incidência nos níveis
de insuficiência e deficiência de vitamina D na amostra estudada na cidade de Teresina-PI, bem como
que a resistência insulínica avaliada pelo HOMA se evidenciou com um grau de incidência alto.
Outro dado de relevância acerca do tema, chama atenção para a questão de gênero e suas
implicações, aqui diferencialmente apresentadas, entre gênero masculino e feminino. Isso se
confirmou, pois ao analisar os dados coletados do gênero feminino conclui-se que houve uma maior
insuficiência e deficiência de vitamina D, contrariamente ao gênero masculino, que apresentou
suficiência desta, evidenciando, pois a correlação antagônica entre os gêneros nos dados aqui
coletados.
Diante desses resultados foi possível observar também que não houve uma correlação
estatisticamente significativa entre os níveis de vitamina D e a resistência insulínica avaliada pelo
HOMA, o que implica dizer que foram evidenciados dados que apontam que houve somente uma
tendência entre os níveis de resistência insulínica e a deficiência e insuficiência de vitamina D.
Deste modo, conclui-se que dentre os pacientes estudados, os que possuem deficiência e
insuficiência de vitamina D, apresentaram também resistência insulínica. Destarte, é necessário
ressaltar que embora essa tendência tenha se evidenciado nas amostras aqui estudadas, não descartaPágina 123
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
se a necessidade de maiores estudos e com uma amostra maior de pacientes para que se obtenha uma
análise mais ampla dos dados.
REFERÊNCIAS
AZOURY, M. et al. Effects of a short-term calcium and vitamin D treatment on serum cytokines,
bone markers, insulin and lipid concentrations in healthy postmenopausal women. J Endocrinol
Invest., n. 26, v.8, p.748-53, 2003.
BARENGOLTS, E. Vitamin D and use for pre-diabetes. Endocr Pract., n. 16, p. 476-485, 2010.
BELL, D. S. Protean manifestations of vitamin D deficiency, part 2: deficiency and its association
with autoimmune disease, câncer, infection, asthma, derkmopathies, insulin resistance, and type 2
diabetes. South Med J. n.104, p.335-339, 2011.
BONORA, E. et al. Insulin resistance as estimated by homeostasis model assessment predicts
incidente symptomatic cardiovascular disease in caucasian subjects from the general population: The
Bruneck Study. Diabetes Care, n. 30, p.318-24, 2007.
CAPRIO, M.; MAMMI, C.; ROSANO, G. M. C. Vitamin D: a novel plater in endothelial funtion and
dysfunction. Arch Med Sci., n. 8, p.4-5, 2012.
DINIZ, H. F. et al. Insuficiência e deficiência de vitamina D em pacientes portadores de doença renal
crônica. J. Bras. Nefrol. [online]. vol.34, n.1, pp. 58-63, 2012.
HOLICK et al. Evaluation, Treatment, and Prevention of Vitamin D Deficiency: an Endocrine
Society Clinical Practice Guideline. Journal Clinic Endocrinology Metabolism.n.96, p.1911–1930,
2011.
MARQUES, C.D. A importância dos níveis de vitamina D nas doenças autoimunes. Rev Bras
Reumatol., n. 50, p.67-80, 2010,
MATTHEWS DR. Insulin resistance and b-cell function – a clinical perspective. Diabetes Obes
Metab. N. 3, p.28-33, 2001.
NATIONAL Center for Hearlth Statistics. Centers for Disease control and prevention. National
Health
and
Nutritional
Survey
(NHANES).
Disponível
[on
line]:
www.cdc.gov/nchs/about/major/nhanes/hdlfem.pdf. Acesso em: 28 de março de 2015.
QUARLES, L. D. Endocrine functions of bone in mineral metabolism regulation. J Clin Invest.,
n.118, p.3820–3828, 2008.
SARAIVA, G. L. et al. Prevalência da deficiência, insuficiência de vitamina D e hiperparatiroidismo
secundário em idosos institucionalizados e moradores na comunidade da cidade de São Paulo,
Brasil. Arq Bras Endocrinol Metab., v.51, n.3, p. 437-442, 2007.
SCHUCH, N. J.; GARCIA, V. C.; MARTINI, L. A. Vitamina D e doenças
endocrinometabólicas. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia, v.53, n.5, p.625633. 2009.
Página 124
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
VASQUES, A. C. J. et al. Análise crítica do uso dos índices do Homeostasis Model Assessment
(HOMA) na avaliação da resistência á insulina e capacidade funcional das células-b pancreáticas.
Arq Bras Endocrinol Metabol., n. 52, p.32-9, 2008.
WITHAM, M. D. et al. The effect of different doses of vitamin D(3) on markers of vascular health in
patients with type 2 diabetes: a randomised controlled trial. Diabetologia, v.10, n.53, p.2112-9, 2010.
Página 125
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
COMPOSIÇÃO CORPORAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE
BIOIMPEDÂNCIA ELÉTRICA TETRAPOLAR
BODY COMPOSITION OF EDUCATION PROFESSIONAL THROUGH TETRAPOLAR
ELECTRIC BIOIMPENDENCE
Aldinês de Sousa Almeida1 ,
Jonas Moura de Araújo2
RESUMO
O papel da avaliação da composição corporal tem recebido importância cada vez maior devido ao
impacto que as alterações dos componentes corporais provocam na saúde humana. O presente estudo
trata-se de pesquisa de abordagem quantitativa, de caráter exploratório e descritivo. A amostra foi
composta por 24 funcionários com maiores de 18 anos de uma instituição privada de ensino superior
(12 professores e 12 servidores administrativos). Para coleta de dados utilizou-se uma ficha com
dados pessoais, antropométricos, percentual de gordura corporal, dentre outros, com o objetivo de
analisar a composição corporal de profissionais da área da educação através da técnica de
bioimpedância elétrica. Buscou-se também classificar e mensurar o peso, altura, IMC, massa magra
corporal, massa gorda corporal e percentual de gordura e realizar análise comparativa dos dados entre
os profissionais professores com os servidores administrativos da mesma instituição. Verificou-se
que 58,33% dos professores eram do gênero masculino e 41,67% feminino, enquanto 50% dos
servidores administrativos eram do gênero masculino e 50% feminino. Metade dos professores
apresentaram IMC dentro da normalidade, 33,3% com sobrepeso e 16,7% com baixo peso, enquanto
66,7% dos servidores administrativos apresentaram IMC dentro da normalidade, 25% sobrepeso e
8,3% obesidade. Com relação ao percentual de gordura, 66,7% dos professores mostraram excesso e
33,3% estavam normais. Dos servidores administrativos 58,3% estavam em excesso e 41,7% normais.
Comparando os dois grupos pesquisados com relação à média do IMC, altura, peso corporal, massa
magra, massa gorda, percentual de gordura e gordura abdominal, os dados apresentaram médias muito
próximas
Palavras chave: Composição corporal. Bioimpedância elétrica. Gordura corporal.
ABSCTRACT
The role of body composition assessment has received increasing importance due to the impact that
the alterations of body components cause in human health. This study deals with a quantitative
approach research, and with an exploratory and descriptive character. The sample consisted of 24
employees over the age of 18 in a private institution of higher education (12 professors and 12
administrative staff). For data collection was used an anamnesis form with personal data,
anthropometric (weight, height), body fat percentage (BF%), among others, with the aim of analyzing
the body composition of professionals in the field of education through bioelectrical impedance
technique. It sought to classifying and measuring weight, height, BMI, lean body mass, body fat mass
and percentage fat and perform comparative analysis of data among professional professors with
_____________________
1
Aluna do Curso de Medicina da Faculdade Integral Diferencial (DeVryFACID), Teresina, Piauí. E-mail: [email protected].
Professor do Curso de Medicina da Faculdade Integral Diferencial (DeVryFACID), Mestre em Farmacologia, Teresina, Piauí. Email: [email protected]
2
Página 126
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
administrative staff from the same institution. It was found that 58.33% of professors were male and
41.67% female, while 50% of the administrative staff were male and 50% female. Half of the
professors had normal BMIs, 33.3% were overweight and 16.7% underweight, while 66.7% of the
administrative staff had BMI within the normal range, 25% were overweight and 8.3% obese. With
respect to the percentage of fat, 66.7% of the professors have shown been overweight and 33.3% were
normal. The administrative servers were 58.3% overweight and 41.7% were normal. Comparing the
two groups surveyed in relation to the mean BMI, height, body weight, lean mass, fat mass, fat
percentage and abdominal fat, the data have very close averages.
Key words: Body composition. Electric bioimpendance. Body fat.
INTRODUÇÃO
O papel da avaliação da composição corporal tem recebido importância cada vez maior
devido ao impacto que as alterações dos componentes corporais provocam na saúde humana. A
gordura corporal em excesso tem participação direta no surgimento de várias doenças e o tratamento
desses agravos determina elevados custos financeiros para o sistema de saúde, além de causar danos
à qualidade de vida da população atingida (BAHIA; ARAÚJO, 2014).
Indivíduos com elevado índice de massa corporal (IMC) estão mais propensos a desenvolver
hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, doença coronária, insuficiência cardíaca, embolia
pulmonar, acidente vascular encefálico, asma, doença biliar, câncer de mama, colorretal, renal,
prostático, ovariano, endometrial, pancreático e esofágico (GUH et al., 2009).
Além do IMC, existem outros métodos comumente utilizados na avaliação da composição
corporal em nível populacional. Dentre eles a Bioimpedância Elétrica (BIA) é um método que se
caracteriza por não ser invasivo, rápido na aquisição das informações, prático, baixo custo, não é
operador dependente e avalia a composição, com ênfase no cálculo da massa magra, massa gorda, o
que lhe proporciona vantagens adicionais sobre os outros métodos (EICKEMBERG et al., 2011)
Essa técnica fundamenta-se no princípio de que os tecidos corporais oferecem diferentes
oposições à passagem da corrente elétrica. Através das medidas da impedância, resistência e
reactância dos tecidos, é possível discriminar a composição corporal de um indivíduo (KYLE et al.,
2004).
A informação sobre a composição corporal é de grande interesse em relação à regulação
energética, hidratação, podendo variar em virtude de influências biológicas como idade, sexo e estado
de saúde (WILMORE; COSTILL, 2010). Sabe-se que indivíduos fisicamente ativos e atletas possuem
maior conteúdo mineral ósseo, densidade mineral óssea e tecido muscular esquelético (CARBUHN
et al., 2010). Dessa forma, estilos de vida inadequados decorrentes do exercício profissional, da má
alimentação, da ausência da prática de exercício físicos em virtude da jornada de trabalho, favorecem
ao sobrepeso e à obesidade.
Este estudo teve como problema de pesquisa se os profissionais da área da educação
possuem níveis inadequados de composição corporal e excesso de peso. Justifica-se este estudo a
partir da importância de avaliar a composição corporal dos indivíduos, em virtude da relação existente
entre o excesso de gordura e a distribuição da gordura corporal com o surgimento de doenças como
o diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, câncer, entre outras, associado à influência que
algumas profissões podem ter no acúmulo excessivo de gordura corporal em decorrência de variações
no gasto energético inerentes à própria atividade laboral, ao estresse diário e à jornada de trabalho
cumprida pelos diferentes tipos de profissionais.
O estudo teve como objetivo geral analisar a composição corporal de profissionais da área
da educação em uma instituição de ensino superior, através da técnica de bioimpedância elétrica
tetrapolar. Os objetivos específicos foram: determinar a composição corporal entre as diferentes
classes profissionais (professores e servidores); classificar e mensurar o peso, altura, IMC, massa
Página 127
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
magra corporal, massa gorda corporal e percentual de gordura; realizar análise comparativa dos dados
entre os profissionais professores com os demais profissionais desta mesma instituição.
Como os profissionais avaliados costumam desempenhar atividades com menor nível de
gasto energético, foi esperado que eles apresentassem maior nível de gordura corporal.
2 METODOLOGIA
Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Faculdade Integral
Diferencial (DeVry FACID), sendo aprovado em conformidade às diretrizes e normas
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos propostos na Resolução nº 466/2012, do
Conselho Nacional de Saúde.
A coleta de dados foi iniciada após autorização da instituição campo da pesquisa, mediante
declaração garantindo aos pesquisadores acesso às dependências. O termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE), contendo todas as informações referentes à pesquisa realizada, foi oferecido a
cada participante voluntário.
Os participantes do estudo foram submetidos a riscos mínimos de possível constrangimento
diante da solicitação à participação da pesquisa, assim como a ideias negativas referentes ao sigilo
das informações registradas na ficha de análise de dados a ser utilizado pelo pesquisador durante a
consulta. No entanto, estes eventos foram minimizados através de informações detalhadas sobre as
dúvidas referentes a cada quesito no início da avaliação, além da garantia de sigilo absoluto dos dados
obtidos.
Trata-se de um estudo de campo que visa descrever características de uma população ou
problema e utilizou-se de ficha de análise de dados e observação sistemática. A presente pesquisa foi
um estudo de abordagem quantitativa, de caráter exploratório e descritivo. A análise foi elaborada a
partir de dados adquiridos durante a avaliação da composição corporal dos indivíduos envolvidos no
estudo.
O tamanho da amostra foi de 24 indivíduos, divididos em dois grupos. O grupo 1 foi
constituído por professores escolhidos em uma amostra espontânea e o grupo 2 por funcionários da
Faculdade, através de coleta espontânea e aleatória. Porem foram feitas 43 coletas, sendo que, para
efeito de comparação, foram excluídas 19 amostras escolhidas aleatoriamente, para que se fizesse
uma comparação equitativa entre os dois grupos.
Foram incluídos nesse estudo os funcionários da Faculdade acima referida (professores e
servidores administrativos), maiores de 18 anos, de ambos os sexos. Foram excluídos indivíduos
sabidamente portadores de insuficiência cardíaca, renal ou hepática ou outra condição que poderia
interferir na coleta de dados, segundo as recomendações da Sociedade Européia de Nutrição Enteral
e Parenteral (KYLE et al., 2004). Além de indivíduos que utilizaram bebidas alcoólicas, bem como
os que realizaram atividades físicas no dia do exame.
A estimativa da composição corporal foi feita com a utilização de um único aparelho
bioimpedância tetrapolar, modelo In Body R20, que calculou os dados baseados na resistência e
reactância corporal oferecida pelos diferentes tecidos corporais durante o exame, fornecendo dados
como IMC, massa magra corporal, massa gorda corporal, massa de músculo esquelético, percentual
de gordura, água corporal total, relação cintura-quadril e taxa de metabolismo basal. Os cálculos
também foram feitos levando-se em conta o peso, a idade e altura dos indivíduos que foram obtidos
através de uma ficha desenvolvido pelos pesquisadores.
Os dados referentes à profissão, o gênero, se fazia o uso do tabaco, se consumiam bebidas
alcoólicas foram coletados através de ficha de coleta de dados.
As medidas de bioimpedância foram executadas seguindo as recomendações da Sociedade
Européia de Nutrição Enteral e Parenteral (KYLE et al., 2004): o aparelho devidamente calibrado, os
eletrodos conservados em sacos fechados, protegidos do calor. O exame foi executado em um mesmo
local, somente pelo pesquisador e supervisionado pelo técnico no exame, com os indivíduos em
posição supina, se colocando em uma mesma posição, em um mesmo turno da tarde. Os indivíduos
Página 128
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
foram orientados a esvaziar a bexiga antes do exame. A distribuição e normalidade dos resultados
foram calculadas com o teste Kolmogorov-Smirnov para análise de variância. Os dados foram
coletados no mês de fevereiro de 2016.
Nesse estudo, a avaliação da composição corporal foi descrita a partir da coleta dos dados
obtidos através da bioimpedância tetrapolar, como massa magra, massa gorda, percentual de gordura,
dados pessoais de peso, altura, IMC, se etilista e se tabagista, classificação do IMC e classificação do
percentual de gordura.
A classificação do IMC foi de acordo com a norma Diretriz da Abeso 2009/2010, que
classifica os indivíduos como: Abaixo do peso se IMC< 18,5 kg/m2; Peso normal se 18,5 > IMC <
25; Excesso de peso ou sobrepeso se 25 > IMC< 29,9; obesidade se IMC > 30 kg/m2.
O percentual de gordura foi considerado de acordo com a Associação Brasileira de
Nutrologia e Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, onde classificou-se da seguinte
maneira: percentual de gordura normal menor que 20% para homens e menor que 24 % para mulheres.
Valores acima disto foram considerados excesso de gordura corporal. Os dados foram registrados em
uma ficha de coleta de dados. Após coleta, os dados foram agrupados em frequências absolutas e
relativas, em medidas de tendência central, como média e desvio-padrão, através do software
Microsoft Excel 2010 e organizados em gráficos e tabelas.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este estudo compreendeu a análise da composição corporal de profissionais da área da
educação em uma instituição de ensino particular, em Teresina. Foram analisadas 24 pessoas, sendo
12 (50%) professores e 12 (50%) servidores administrativos, que preencheram os critérios de inclusão
e exclusão. A idade dos professores variou de 27 a 68 anos e dos servidores, de 18 a 49 anos.
Entre os professores, 58,33% eram do gênero masculino, enquanto 41,67% eram do gênero
feminino (Figura 1). Já entre os servidores administrativos, 50% eram do gênero feminino e 50% do
gênero masculino (Figura 2).
Figura 1 – Distribuição dos professores avaliados segundo gênero, Teresina-PI, 2016
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Página 129
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Figura 2 – Distribuição dos servidores administrativos avaliados segundo gênero, Teresina-PI,
2016
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Com relação ao consumo de álcool, 33,3% dos professores e 41,7% dos servidores
administrativos eram etilistas, enquanto 66,7% dos professores e 58,3% dos servidores não
consumiam álcool (Figura 3). O etanol é uma fonte energética intermediária em relação às proteínas
e aos carboidratos, fornecendo 7,1 kcal/g calorias em seu metabolismo, enquanto proteínas e
carboidratos fornecem 4,0 kcal/g e os lipídios 9,0 kcal/g. Fatores como o estado nutricional, a
frequência e modo de consumo irão definir como o organismo do indivíduo irá aproveitar a energia
fornecida pelas bebidas alcoólicas. Sendo assim, indivíduos com consumo moderado de álcool podem
tornar-se obesos ou com sobrepeso, e etilistas crônicos podem tornar-se desnutridos.
Lahti-Koski et al. (2000) observaram associação positiva entre o alto consumo de bebida
alcoólica com IMC. Os que consumiam a partir de 80ml de bebida alcoólica por dia apresentaram
maior relação cintura/quadril do que aqueles com consumo de bebida alcoólica menor que 80 ml por
dia. O consumo de no mínimo 30g de etanol/dia já afeta o metabolismo do ser humano, alterando a
homeostosase energética, aumentando o apetite e provocando ganho de peso corporal.
Figura 3 – Distribuição dos professores e servidores administrativos avaliados segundo
consumo de álcool, Teresina-PI, 2016
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Página 130
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
No estudo de Tolstrup et al. (2005), foi observado que a frequência de consumo de bebidas
alcoólicas teve maior associação com o aumento da circunferência da cintura do que a quantidade
ingerida de álcool. Além das calorias provindas do consumo, a ingestão de bebidas alcoólicas
influencia no aumento da secreção de cortisol que, por sua vez, está relacionado ao acúmulo de
gordura abdominal.
Todos os professores avaliados não eram tabagistas, assim como a maioria dos servidores
administrativos (91,7%) também negaram o uso de tabaco, e apenas 8,3% dos servidores eram
fumantes (Figura 4). De acordo com Chatkin e Chatkin (2007), é comum que tabagistas apresentem
menores índices de massa corporal, quando comparados a não fumantes. Além disso, já foi observada
uma significativa relação inversa entre o uso regular de tabaco e o peso corporal, sendo que este tende
a ser menor entre os fumantes quando comparados aos não fumantes.
Figura 4 – Distribuição dos professores e servidores administrativos avaliados segundo
consumo de tabaco, Teresina-PI, 2016
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Os dados da Tabela 1 mostram as médias dos dois grupos pesquisados com base nos
parâmetros estudados como IMC, altura, peso corporal, massa magra, massa gorda, percentual de
gordura e gordura abdominal. Os referidos dados apresentaram médias muito próximas quando se
comparou professores com funcionários.
Tabela 1 – Médias de IMC, altura, peso corporal, massa magra, massa gorda, percentual de
gordura e gordura abdominal dos professores e servidores administrativos, Teresina-PI, 2016
Função
N
Erro padrão da
média
Média
Professor
12
23,82
1,10
Funcionário
12
24,44
1,09
Professor
12
1,66
0,02
Funcionário
12
1,64
0,02
Professor
12
66,37
4,41
Funcionário
12
65,47
2,28
IMC (kg/m²)
Altura (m)
Peso (kg)
Página 131
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Professor
12
26,77
2,07
Funcionário
12
26,88
1,32
Professor
12
18,10
2,23
Funcionário
12
17,22
2,28
Professor
12
26,85
2,64
Funcionário
12
25,90
3,04
Professor
12
9,44
1,31
Funcionário
12
8,87
1,29
Massa magra (kg)
Massa Gorda (kg)
Percentual de gordura (%)
Gordura abdominal (kg)
Fonte: dados da pesquisa (2016).
A média do IMC de ambos os grupos estavam dentro da normalidade, os professores com
media 23,82 e servidores administrativos com 24,44. A OMS utiliza os pontos de corte no IMC de
18,5 e 25 para definir, respectivamente, os indivíduos em baixo, médio e elevado risco de morbidades
(ABESO, 2009). De acordo com a Associação Brasileira de Nutrologia e Sociedade Brasileira de
Nutrição Parenteral e Enteral, o percentual de gordura normal varia de 16 a 20% para homens e
mulheres de 20 a 24 %. Nesse estudo, tanto professores quanto servidores administrativos
apresentaram média superiores ao valor considerado normal. Os professores obtiveram media de
26,85 de percentual de gordura e 9,44 de gordura abdominal, enquanto os servidores administrativos
tiveram media de 25,90 para percentual de gordura e 8,87 para gordura abdominal.
Segundo Kaplowitz (2008), o uso do IMC como único parâmetro para avaliação do excesso
de gordura corporal em meninos e meninas pode levar a uma má interpretação, pois a relação entre
IMC e gordura corporal é menor em meninos do que em meninas. Durante a puberdade o aumento
da massa muscular relacionada ao efeito anabólico do aumento dos níveis de testosterona nos meninos
pode causar um aumento de peso e do IMC independente do aumento da gordura corporal. Nesse
estudo o IMC também não pôde ser considerado um parâmetro seguro, pois apesar de uma maior
porcentagem dos profissionais ter apresentado IMC normal, seu percentual de gordura encontrou-se
elevado.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1997), a classificação do IMC
compreende <18,5 baixo peso, entre 18,5 - 24,9 normal, de 25-29,9 sobrepeso e acima de 30
obesidade.
Como mostra a Figura 5, metade dos professores apresentaram IMC dentro da normalidade,
33,3% com sobrepeso e 16,7% com baixo peso. Um maior número de servidores administrativos
apresentou IMC normal (66,7%), 25% sobrepeso e 8,3% obesidade. Esses dados foram condizentes
com o estudo de Silva et al. (2007), que observaram em seu estudo a prevalência de excesso de peso
(classificada pelo IMC) em 30,5% de sua amostra. Esses dados são preocupantes, devido à
significante associação entre a adiposidade corporal elevada e doenças metabólicas e
cardiovasculares, como diabetes e hipertensão e a associação entre sobrepeso e obesidade com a
mortalidade do indivíduo
Gigante (1997), encontrou 21% de obesidade e de 40% de sobrepeso na população adulta do
sul do pai. Em estudo realizado por Ell (1999), foi encontrado 6,4% de obesidade e 27,8% de
sobrepeso. Através desses estudos é possível observar uma inversão nas prevalências de
sobrepeso/obesidade e baixo peso nas últimas décadas.
Página 132
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Figura 5 – Distribuição dos professores e servidores administrativos avaliados segundo IMC,
Teresina-PI, 2016
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Com relação ao percentual de gordura (Figura 6), na classe dos professores 66,7% mostrou
excesso e 33,3% estavam normais. Dos servidores administrativos 58,3% estavam em excesso e
41,7% normais. Esse elevado percentual de gordura pode acarretar futuramente no surgimento de
inúmeras outras doenças crônicas não transmissíveis, ficando assim evidente a importância de
investigar quais os motivos desse elevado percentual, seja pela falta de atividade física ou pela
alimentação inadequada dos profissionais estudados.
No estudo de Glaner (2005), 320 moças (46,12%) e 207 rapazes (28,87%) apresentaram
gordura acima do recomendado, porém o IMC classificou-os dentro do padrão ideal. Diante disso,
é evidente a limitação do IMC como parâmetro para verificação do nível de gordura corporal
adequado em relação à saúde, já que um indivíduo com IMC normal pode apresentar nível de
gordura corporal excessivo, ou apresentar um IMC abaixo do ideal enquanto a quantidade de gordura
corporal é classificada como normal.
Figura 6 – Distribuição dos professores e servidores administrativos avaliados segundo
percentual de gordura, Teresina-PI, 2016
Fonte: dados da pesquisa (2016).
Página 133
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
A rotina de trabalho de professores e servidores administrativos não costuma incluir
atividades que exijam elevado esforço físico, caracterizando essas profissões como sedentárias. Isso
colabora para o aumento de peso e gordura corporal, provocando um maior risco de obesidade e
doenças cardiovasculares. Diversos estudos mostram que essas profissões apresentam muitos
indivíduos acima do peso.
No estudo de Oliveira et al. (2011) foi verificado que 51,04% dos professores de uma
universidade pública de Minas Gerais estavam com excesso de peso. Segundo Berria et al. (2013),
entre os servidores de uma universidade pública do distrito Federal, mais da metade (63,60%) dos
homens e 49,70% das mulheres encontravam-se acima do peso. Diante desses dados, é evidente a
relação entre as profissões incluídas nesse estudo e o aumento de peso e gordura corporal.
4 CONCLUSÃO
A maioria dos professores e funcionários apresentaram IMC dentro da normalidade. Porém,
quando se analisou o percentual de gordura tanto os professores quanto os servidores administrativos,
demonstraram um excesso.
Não houve diferença estatística entre percentual de gordura e IMC dos professores e
servidores administrativos.
É importante lembrar que o IMC, embora seja um método de fácil aplicação, pode provocar
uma interpretação equivocada, pois em grupos como atletas a massa muscular pode superestimar os
valores, enquanto em pessoas sedentárias o IMC pode estar dentro da normalidade mesmo com um
elevado percentual de gordura. Assim, para melhor análise, o IMC deve ser associado a outro método,
como por exemplo, a bioimpedância, para que os valores de massa corporal sejam quantificados e as
medidas para otimizar a saúde do indivíduo sejam realizadas corretamente.
REFERÊNCIAS
BAHIA, L. R.; ARAÚJO, D. V. Impacto econômico da obesidade no Brasil. Revista HUPE, v.13,
n. 1, p.13-17, jan/mar, 2014.
BERRIA, J et al. Excesso de peso, obesidade abdominal e fatores associados em servidores de uma
Universidade Federal Brasileira. Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum, v. 15, n. 5, p. 535550, 2013.
CARBUHN, A. F., et al. Sport and traininig influence bone and body composition in women
collegiate athletes. The Journal of Strenght and Conditioning Research, v. 24, n. 7, p. 17101717, 2010.
CHATKIN, L.; CHATKIN, R. Tabagismo e variação ponderal: a fisiopatologia e genética podem
explicar esta associação? J Bras Pneumol, v. 33, n. 6, p. 712-719, 2007.
EICKEMBERG, M., et al. Bioimpedância elétrica e sua aplicação em avaliação nutricional. Rev.
Nutr. Campinas, v. 24, n. 6, p. 883-893, nov./dez., 2011.
ELL, E. et al. Perfil Antropométrico de funcionários de banco estatal no Estado do Rio de
Janeiro/Brasil: i – índice de massa corporal e fatores sócio demográficos. Revista de Saúde
Pública, v. 15, n. 1, p. 113-121, 1999.
GIGANTE, D. P. et al. Prevalência de obesidade em adultos e seus fatores de risco. Rev. de Saúde
Pública, v. 31, n. 2, p. 236 – 46, 1997.
Página 134
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
GLANER, M. F. Índice de massa corporal como indicativo da gordura corporal comparado às dobras
cutâneas. Rev Bras Med Esporte, v. 11, n. 4, p: 243-246. Jul/Ago, 2005.
GUH, D. P., et al. The incidence of co-morbidities related to obesity and overweight: A systematic
review and meta-analysis. BMC Public Health, v. 9, n. 88, 2009.
KAPLOWITZ, P. Link Between Body Fat and the Timing of Puberty. Pediatrics, v. 121, n. 3, p.
5208- 17, 2008.
KYLE U.G., et al. Bioelectrical impedance analysis - part I: review of principles and methods.
Clinical Nutrition, v. 23, p. 1226-46, 2004.
LAHTI-KOSKI, M, et al. Trends in waist-to-hip ratio and its determinants in adults in Finland from
1987 to 1997. Am J Clin Nutr, v. 72, n. 6, p. 1436-44, dec, 2000.
OLIVEIRA, R. A. R. et al. Prevalência de sobrepeso e obesidade em professores da Universidade
Federal de Viçosa. Fisioter Mov., v. 24, n. 4, p. 603-12, out/dez, 2011.
SILVA, A. B. et al. Avaliação do perfil dos freqüentadores de academia do plano piloto profile
evaluation of gymnastic academies users in brasília. Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e
Emagrecimento. São Paulo, v. 1, n.2, p. 47-54, mar./abr., 2007.
TOLSTRUP, J. S. et al. The relation between drinking pattern and body mass index, waist and hip
circumference. Int J Obes, v.29, p. 490-7, 2005.
WILMORE, J. H., COSTILL, D. L. Fisiologia do exercício e do esporte. 4 ed. São Paulo: Manole,
2010.
World Health Organization Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a
WHO consulation of obesity. Geneva, 1997.
Página 135
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Página 136
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
NORMAS EDITORIAIS
Página 137
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Página 138
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
NORMAS EDITORIAIS DA REVISTA FACID CIÊNCIA & VIDA
A Revista FACID Ciência & Vida objetiva a divulgação da produção científica e técnica dos
professores, alunos e técnicos da Faculdade Integral Diferencial, bem como de profissionais da
comunidade.
A Revista tem periodicidade semestral e está aberta à publicação de trabalhos na forma de
ARTIGOS, ENSAIOS e RESENHAS, os quais devem falar sobre temas nas áreas da Saúde,
Ciências Humanas, Ciências Sociais, Tecnologia, dentre outros, fomentando a análise e reflexão de
idéias, experiências e resultados de pesquisas, experiências de vida e manifestações artísticoculturais,
contribuindo para o desenvolvimento científico e cultural do País.
ARTIGOS – Texto que discute um tema investigado para publicação de autoria declarada, que
apresenta título em português e em inglês, nome dos autores, resumo e abstract do texto, palavraschave e key-words, introdução, material e métodos, resultados e discussão, conclusão, referências ,
apêndices e anexos (opcionais). Serão considerados “artigos de revisão” os textos que discutam temas
com base em informações já publicadas. Quando se tratar de artigo de revisão esta deverá ser,
preferencialmente, do tipo sistemática e deverá apresentar: título, autor, resumo, palavras chave,
abstract, key-words, introdução, discussão do tema com base na pesquisa bibliográfica, conclusão, e
referências.
O artigo não deve ultrapassar 15 (quinze) laudas.
Título - Deve ser conciso, claro e objetivo, evitando-se excesso de palavras ou expressões como:
“Avaliação de...,” “Considerações acerca de.....” “Estudo sobre ....”. Deve ter no máximo 15 palavras.
Apenas a primeira letra da primeira palavra deve ser maiúscula.
Título em inglês - Transcrição do título em português.
Nome dos autores - Devem ser apresentados os nomes completos, sem abreviatura, abaixo do título
com somente a primeira letra maiúscula, um após outro, separados por vírgula e centralizados. Em
nota de rodapé na primeira página deve-se apresentar de cada autor a afiliação completa (Titulação/
vinculação, instituição, cidade e Estado, endereço eletrônico). O número de autores não deverá ser
maior que cinco. Os autores pertencentes a uma mesma instituição devem ser mencionados em uma
única nota, utilizando o sobrescrito correspondente.
Resumo e Abstract - Devem ter no máximo 250 palavras, descrevendo o objetivo, material e
métodos, resultados e conclusão em um só parágrafo. O Abstract deve ser a transcrição do resumo.
Palavras-chave e key words - Devem ser no mínimo três e no máximo cinco termos para indexação,
que identifiquem o conteúdo do artigo, os quais não deverão constar no título. Para a escolha dos
termos para indexação (descritores) na área de saúde, deve-se consultar a lista de “Descritores em
Ciências da Saúde – DECS” , elaborado pela BIREME (disponível em http://decs.bus.br) ou na lista
da “Mesh-Medical Subject Headings” (disponível em http:// nlm.nih.gov/mesh/mbrowser.html).
Introdução - Deve ser compacta e objetiva, definindo o problema estudado, demonstrando sua
importância e lacunas do conhecimento que serão abordadas no artigo. As citações presentes devem
ser atualizadas e pertinentes ao tema, adequadas à apresentação do problema, sendo empregadas para
fundamentarem a discussão. Os objetivos e hipóteses deverão ser contextualizados nesta sessão. Não
deve conter mais de 550 palavras.
Página 139
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Material e Métodos - Os métodos bem como os materiais devem ser detalhados de modo que possam
ser confirmados, incluindo os procedimentos utilizados, universo e amostra. Indicar os testes
estatísticos utilizados. As questões éticas devem ser apresentadas nesta sessão.
Resultados e Discussão podem conter figuras e/ou tabelas, contudo os dados nesta forma não devem
ser repetidos no texto. Os resultados devem ser apresentados em uma sequência lógica. As tabelas e
figuras devem trazer informações distintas ou complementares entre si. Os dados estatísticos devem
ser descritos nesta sessão. A discussão deve ser pertinente apenas aos dados obtidos, evitando-se
hipóteses não fundamentadas nos resultados. Deve-se relacionar-se aos conhecimentos existentes e
aos apresentados por outros estudos relevantes. Deve, sempre que possível, incluir novas perspectivas
de pesquisas.
Conclusão - Deve estar fundamentada nas evidências disponíveis e pertinentes ao objeto de estudo.
As conclusões devem ser claras e precisas. Deve-se relacionar os resultados obtidos com as hipóteses
apresentadas. Podem ser apresentadas sugestões para outras pesquisas que complementem o estudo
ou para outros problemas surgidos no desenvolvimento.
Referências - O artigo deverá apresentar no máximo 25 citações, sendo a maioria, preferencialmente,
em periódicos dos últimos cinco anos. No caso de artigos de revisão, deverão ser apresentadas no
máximo 35 citações. Devem incluir todos os autores referenciados no texto.
Apêndice - Informações complementares produzidas pelo autor, como o questionário aplicado, termo
de consentimento livre e esclarecido, roteiro de entrevistas. É opcional.
Anexos - Informações complementares, como documentos e ilustrações, retiradas da bibliografia.
Ítem opcional.
ENSAIOS – Texto que expõe estudos realizados com as conclusões a que se chegou. Pode ser de
caráter informal, no qual se destaca a liberdade e emoção criadora do autor e pode ser caracterizado
como formal, onde a brevidade, serenidade e o uso da primeira pessoa podem ser utilizados. Neste
tipo de publicação é marcante a presença do espírito problematizador, sobressaindo o espírito crítico
e a originalidade do autor. Deve apresentar temas atuais e de interesse coletivo. Pode ter até 10 (dez)
páginas.
RESENHAS – resumo crítico de livros publicados ou no prelo que podem suscitar no leitor o desejo
de ler a obra integralmente. Este texto deve ter, no máximo 5 laudas e deve ser escrito informando o
título da obra, nome completo do autor, editora e ano publicado.
Instruções aos Colaboradores
1 Os trabalhos devem ser preferencialmente inéditos e redigidos em língua portuguesa, sendo seu
conteúdo de inteira responsabilidade dos autores.
2 Os textos para publicação devem ser acompanhados de uma correspondência ao Editor solicitando
que o texto seja publicado. Uma vez recebidos, os textos serão submetidos à apreciação do Conselho
Editorial e dois conselheiros, no mínimo, decidirão sobre sua aprovação para publicação, podendo
ocorrer que o texto seja devolvido ao seu autor para alterações e/ou correções.
3 O texto deve ser digitado na fonte Times New Roman tamanho 12, espaço 1,5 entre linhas, margens
superior e esquerda de 3 cm, margem inferior e direita de 2 cm, papel formato A-4. No resumo e
abstract o espaçamento deverá ser simples.
Página 140
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
4 As tabelas para apresentação de dados devem ser numeradas consecutivamente com algarismos
arábicos, encabeçadas pelo título, com indicação da fonte após a linha inferior. Todas as tabelas
inseridas devem ser mencionadas no texto. O texto deve ser em fonte Times New Roman, estilo
normal e tamanho 12.
5 Para a inserção de ilustrações (quadros, gráficos, fotografias, esquemas, algoritmos etc), deve-se
numerá-las consecutivamente com algarismos arábicos, com indicação do título na parte superior e
da fonte após o seu limite inferior e indicadas no texto em que devem ser inseridas. Gráficos,
fotografias, esquemas e ilustrações devem ser denominados como figuras. O texto deve ser em fonte
Times New Roman, estilo normal e tamanho nove. Devem ser inseridas logo abaixo do parágrafo em
que foram citadas pela primeira vez. As figuras agrupadas devem ser citadas no texto como: Figura
1A; Figura 1B; Figura 1C; etc. As figuras devem ter no mínimo 300dpi.
6 As citações no texto devem ser organizadas de acordo com as normas vigentes da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT - 10520) - formato autor-data.
7 A lista de referências deve ser organizada em ordem alfabética e de acordo com as normas ABNT
– 6023 (espaço simples entre linhas e um espaço simples entre uma referência e outra).
Modelos de referências bibliográficas
Livros (um autor)
SOARES, L. S. Educação e vida na República. 4.ed. São Paulo: Letras Azuis, 2004.
Livros (dois autores)
ROCHA, B.; PEREIRA, L. H. Cuidando do enfermo. São Paulo: Manole, 2001.
Livros com mais de três autores
POUPART, J. et al. A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Rio de
Janeiro: Vozes, 2008.
Capítulos de livros
OLIVEIRA, A. A. S. de; VILLAPOUCA, K. C. Perspectivas epistemológicas da bioética brasileira
a partir da teoria de Thomas Kuhn. In: GARRAFA, V.; CORDÓN, J. (Orgs.). Pesquisa em bioética:
bioética no Brasil hoje. São Paulo: Gaia, 2006. p.35-50.
Artigos de periódicos empressos com mais de três autores
PEREIRA, Q. L. C. et al. Processo de (re)construção de um grupo de planejamento familiar: uma
proposta de educação popular em saúde. Texto e Contexto Enferm, Florianópolis, v. 16, n. 2, p. 3205, abr/jun. 2007.
Teses
ABBOTT, M.P. Modificações oxidativas de proteínas em presença de complexos de cobre(II).
2007. 130f. Tese de doutorado (Programa de Pósgraduação em Química) Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2007.
Artigo de jornal assinado
DIMENSTEIN, G. Escola da Vida. Folha de São Paulo, São Paulo, 14 jul. 2002. Folha Campinas,
p. 2.
Página 141
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Artigo de jornal não assinado
FUNGOS e chuva ameaçam livros históricos. Folha de São Paulo, São Paulo, 5 jul. 2002. Cotidiano,
p. 2.
Artigo de periódico formato eletrônico
VRAKEN, M. V. Prevention and treatment of sexuality transmitted diseases: an updates. American
Family Physican. v. 76, n. 12, p. 1827-1832, dez. 2007. Disponível em: < www.aafp.org/afp>.
Acesso em: 29 de março de 2010.
Decretos, Leis
BRASIL. Decreto n. 2.134, de 24 de janeiro de 1997. Regulamenta o art. 23 da Lei n. 8.159, de 8 de
janeiro de 1991, que dispõe sobre a categoria dos documentos públicos sigilosos e o acesso a eles, e
dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, n. 18, p.
1435- 1436, 27. jan. 1997. Seção 1.
Constituição Federal
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF:
Senado Federal, 1988.
Trabalho publicado em Anais de Congresso
MARTINS, I. S.; SILVA FILHO, F. J. V.; ALVES NETO, F. E. Abordagemcirúrgica em
ginecomastia gigante em pseudo-hermafrodita masculino. In: I JORNADA DE MEDICINA DA
FACID, 2005, Teresina. Anais da I Jornada de Medicina da FACID. Teresina, Gráfica do Povo,
2006, p.212.
8 Acompanha o texto uma folha com o título e nome completo do autor e/ou autores com a filiação
profissional e a qualificação acadêmica do(s) autor(es), os endereços postal e eletrônico, inclusive o
telefone (folha modelo).
9 O original do trabalho a ser publicado deve ser entregue em uma via impressa e em CD (processador
Word for Windows), pelos correios ou via e-mail: [email protected]. Ao Conselho Editorial é
reservado o direito de publicar ou não o trabalho.
10 A publicação do trabalho não implicará na remuneração de seus autores. O autor responsável pela
submissão do artigo receberá um exemplar do fascículo por artigo publicado.
11 A revista não se obriga a devolver os artigos recebidos, publicados ou não.
12 O artigo a ser publicado deve ser entregue na FACID. O autor responsável pela submissão do
artigo deverá anexar e assinar os seguintes documentos: Declaração de Responsabilidade e
Transferência de Direitos Autorais.
Página 142
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
Modelos de páginas (em separado) que devem acompanhar o artigo
Página 143
Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016
OBS: As submissões que não atenderem às normas acima apresentadas não serão encaminhadas para
análise dos consultores, sendo imediatamente recusadas para publicação na Revista FACID Ciência
& Vida.
Conselho Editorial da Revista FACID Ciência & Vida
A/C Esp. Maria Helena Chaib Gomes Stegun
Rua Veterinário Bugyja Brito, 1354 - Horto Florestal.
Cep: 64052-410/ Teresina-PI.
Tel.: 3216-7931 • Email: [email protected]
Página 144