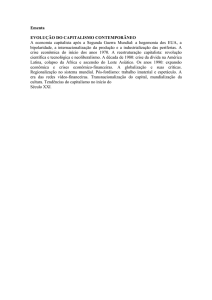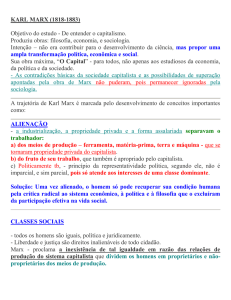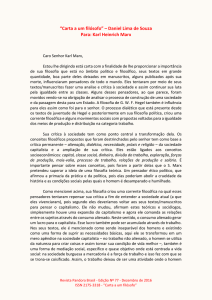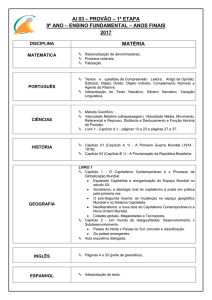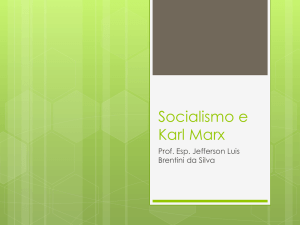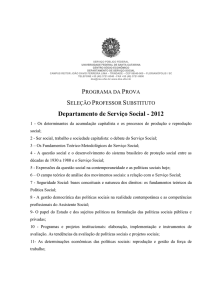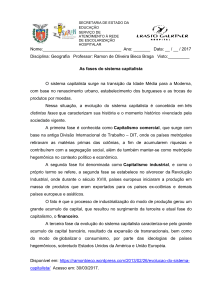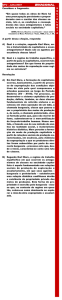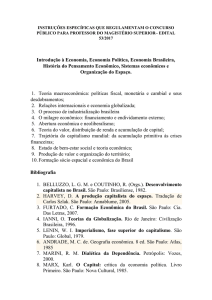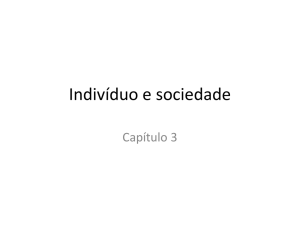IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657
1
CAPITALISMO, RELAÇÃO HOMEM-NATUREZA E EDUCAÇÃO:
REFLEXÕES SOBRE A CRISE SOCIOAMBIENTAL
Viviane Almeida Rezende1 - UFS – [email protected]
Débora Evangelista Reis Oliveira2 - UFS – [email protected]
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo fazer uma discussão em torno da interação homemnatureza, refletindo como esta relação, mediada pelo trabalho, é construída
historicamente e como o modo de produção capitalista interfere nesse processo
produzindo a crise socioambiental. Esta crise requer um repensar sobre a forma como
está estruturada a sociedade capitalista, buscando caminhos para a sua transformação.
Este artigo desenvolve ainda uma reflexão sobre o importante papel do processo
educativo, a partir de uma educação ambiental de caráter crítico, na construção de um
novo patamar societário, superando as formas de expropriação que propiciam a
dicotomia sociedade-natureza.
Palavras-chave: capitalismo, relação homem-natureza, educação.
ABSTRACT
This work aims to make a discussion about human-nature, reflecting how this
relationship mediated by work, is historically constructed and how the capitalist mode
of production intervene in the process producing the socio-environmental crisis. This
crisis requires a rethinking of how capitalist society is structured, looking for ways for
its transformation. This article also develops a reflection on the important role of the
educational process, from an environmental education of criticality in the construction
of a new corporate level, overcoming the forms of expropriation that provide the
dichotomy between society and nature.
Keywords: capitalism, relation between man and nature, education.
1
Mestranda em Educação –UFS; Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental de
Sergipe (GEPEASE).
2
Mestre em Ensino de Ciências e Matemática; Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação
Ambiental de Sergipe (GEPEASE).
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657
2
INTRODUÇÃO
Para compreender a relação que se estabelece entre natureza e sociedade, faz-se
necessário abordar o que interliga essas duas esferas. Nesse sentido, Karl Marx traz
contribuições significativas quando revela a idéia de que o ponto de partida para a
atividade humana organizada em sociedade se inicia pelo contato direto com os recursos
provenientes da natureza. Ou seja, a base da produção humana, onde o trabalho surge
como a atividade estruturante de organização das sociedades humanas, repousa,
inicialmente, no meio natural tal como ele se apresenta aos seres humanos.
Segundo Loureiro (2007), qualquer indivíduo, independente das suas motivações
e necessidades, reconhece o meio ambiente como dimensão indissociável da vida
humana e base para a manutenção e perpetuação na vida terrestre.
No entanto, no modo de produção capitalista a relação homem/natureza e
sociedade/natureza têm tomado novas configurações, sendo estas conflituosas, de
exploração dos recursos disponíveis. Em decorrência dessa relação, integração x
exploração, é que se observa o início da acumulação de bens e que aos poucos vão se
tornar valores com vistas à acumulação de capital, resultando numa complexa divisão
social do trabalho.
As relações conflituosas ente o homem e a natureza (crise socioambiental)
aparecem sob a forma de catástrofes e impactos ambientais exacerbados motivados pelo
uso demasiado dos recursos disponíveis, bem como de técnicas poluentes que agridem
sobremaneira a natureza, na medida em que o capital se renova.
Este artigo procura discutir a questão da relação homem-natureza, mostrando
como ela se dá (dialeticamente) e como o modo de produção capitalista interfere nessa
relação. Discute-se ainda sobre o papel da educação ambiental crítica no processo de
formação de indivíduos com foco na transformação societária e no questionamento
radical aos padrões industriais e de consumo consolidados no capitalismo.
A relação homem-natureza e sua unidade dialética: elementos para se pensar a
questão ambiental
A natureza e a sociedade estão mutuamente interligados, sendo que a primeira é
a base da segunda, pois corresponde às condições prévias e primárias para a produção
de qualquer forma social. Nas palavras de Marx (2004, p. 106-107), “a sociedade é a
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657
3
unidade essencial completada (vollendete) do homem com a natureza, a verdadeira
ressurreição da natureza, o naturalismo realizado do homem e o humanismo da natureza
levado a efeito”.
A relação homem/natureza tem como mediação o trabalho, expresso no conceito
marxiano de trabalho concreto "como criador de valores de uso, como trabalho útil, é
indispensável à existência do homem – quaisquer que sejam as formas de sociedade – é
necessidade natural e terna de efetivar o intercâmbio material entre o homem e a
natureza e, portanto, de manter a vida humana" (MARX, 1982, apud FRIGOTTO, 2002,
p.68).
O pensamento marxista vê no trabalho o instrumento de humanização do ser
humano, diferenciando-o dos outros seres vivos, tal como expressou Engels, "o
trabalho, por si mesmo, criou o homem”. Dessa forma, aponta de forma clara que o
elemento diferenciador entre os homens e os animais seria a capacidade humana em
transformar a natureza.
Essa dialética homem/natureza é vista, ao mesmo tempo, como naturalização do
homem e humanização da natureza. Toda a ação do homem sobre o meio natural é uma
ação de humanização da natureza, porém, é também uma naturalização do homem, pois
ele deve desenvolver suas potencialidades internas para criar tudo a partir do trabalho. É
a transformação do homem e, ao mesmo tempo, da natureza através do trabalho.
Essa abordagem precisa ser entendida mediante a dialética entre objetivação e
apropriação, como aquela que sintetiza, na obra de Marx, a dinâmica essencial do
trabalho e, por decorrência, a dinâmica essencial do processo de produção e reprodução
da cultura humana (DUARTE, 2003). Nesse sentido,
O processo de apropriação surge, antes de tudo, na relação entre
homem e natureza. O ser humano, pela sua atividade transformadora,
apropria-se da natureza incorporando-a à prática social. Ao mesmo
tempo, ocorre também um processo de objetivação: o ser humano
produz uma realidade objetiva que passa a ser portadora de
características humanas, pois adquire características socioculturais,
acumulando a atividade de gerações de seres humanos. Isso gera a
necessidade de uma outra forma do processo de apropriação, já agora
não mais apenas como apropriação da natureza, mas como
apropriação dos produtos culturais da atividade humana, isto é,
apropriação das objetivações do gênero humano (entendidas aqui
como os produtos da atividade objetivadora). (DUARTE, 2003, p. 24).
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657
4
A partir das colocações de Duarte, fica claro que “a relação entre os indivíduos e
a história social é mediatizada pela apropriação das objetivações produzidas
historicamente” (DUARTE, 2003, p. 31).
Diante disso, as relações homem/natureza e sociedade/natureza são mediadas
pelo trabalho. A sociedade passa a ser concebida como sistema de relações entre
indivíduos pertencentes a classes sociais, estruturadas a partir das suas relações de
produção, constituintes da base de sustentação da vida material. (LOUREIRO, 2008, p.
16).
Essa reflexão é vital para a teoria marxista onde as relações sociais envolvem
não apenas as interações entre os indivíduos, grupos ou classes, mas também as relações
destes com a natureza. A análise marxista dessa relação é fundamental para o
entendimento de como a espécie humana se apropria da natureza para satisfazer as suas
necessidades e produzir a vida social. Porém, cada fase da humanidade construirá um
tipo específico de relação com o mundo natural. Dessa forma, é importante historicizar
a relação sociedade/natureza, tendo em vista que a forma como os seres humanos
interagem com o meio natural não foi a mesma em todas as épocas e lugares, aliás, de
um ponto de vista dialético, é a forma histórica de relação da sociedade/natureza que vai
determinar a estrutura de uma sociedade e o modo de domínio da natureza para
satisfazer as necessidades humanas produzidas socialmente.
As condições decorrentes da atuação dos indivíduos na natureza são definidas
“em função de cada modo de vida social, em interação dialética com as condições
ecológicas de sustentação. A visão que se tem da humanidade é que esta é a unidade
dialética com a natureza.” (LOUREIRO, 2008, p. 16-17).
Ao se discutir a relação entre sociedade/natureza, um ponto que também merece
destaque é a importante contribuição da teoria da alienação, onde esta era vista por
Marx como o lado negativo do trabalho. A alienação resulta
no afastamento da natureza, não como totalidade fixa e imutável, mas
como realidade que se modifica ao longo da história. Logo, a
“desarmonia” vivenciada no mundo contemporâneo é resultado das
relações sociais determinadas no capitalismo e não um problema de
ordem psicológica ou existencial. Sob esse enfoque, a emancipação
humana, o livre manifestar das potencialidades humanas e o
enriquecimento espiritual que resultem no “reencontro com o natural”
dependem da emancipação material e do fim da alienação.
(LOUREIRO, 2008, p. 19).
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657
5
De acordo com Quintaneiro et al. (2003, p. 52), “em condições de alienação, o
trabalho faz com que o crescimento da riqueza objetiva se anteponha à humanização (do
homem e da natureza), sirva crescentemente como meio de exploração (ao transformarse em capital), e só se realize como meio de vida”.
Esse debate em torno do processo de alienação e da exploração capitalista tornese extremamente relevante para se entender a crise socioambiental contemporânea, cuja
discussão tem se ampliado a partir da década de 60 em todo o mundo.
O capitalismo e as novas formas da relação homem-natureza: pressupostos para
uma crise socioambiental
A crise socioambiental caracteriza-se por uma nova forma de relação do homem
com a natureza que passa a funcionar dentro da lógica do capitalismo, onde a
transformação da natureza através do trabalho é subsumida às necessidades da
acumulação de capital. Aliás, nessa lógica, o trabalho menospreza o valor de uso em
detrimento do valor de troca. Dessa forma, a sociedade capitalista passa a incrementar a
exploração do trabalho operário desconsiderando os ritmos da natureza circundante.
Diante disso, o entendimento das causas da degradação ambiental e da crise na
relação homem/natureza passa também por um conjunto de variáveis que estão
interligadas, derivadas de categorias como capitalismo, modernidade, industrialismo,
urabanização, tecnocracia, alienação.
Aspectos importantes da dialética em Marx ajudam a compreender que esta é
perfeitamente compatível com que o ambientalismo trouxe na década de 60. Apesar do
foco de atenção de Marx não ter sido os problemas ambientais, afinal, estes não eram
postos tal como o é nos dias atuais, pode-se dizer que “ao pensar a unidade natural e as
singularidades por relações dialéticas, ao esmiuçar as relações que definem o
capitalismo e suas conseqüências destrutivas para a vida, traz contribuições
indispensáveis aos debates e problemas da nossa época”. (LOUREIRO, 2007, p. 76).
É interessante, então, discutir como a cisão entre homem e natureza se deu (dá)
na lógica da sociedade capitalista. De acordo como Potásio (2008, p. 67), “o processo de
produção social da mais-valia e de acumulação/reprodução do capital nos últimos
trezentos anos de capitalismo, colocou a humanidade e todo o planeta diante de grandes
desafios ambientais”.
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657
6
Com a Revolução Industrial, deu-se a consagração do capitalismo como modo
de produção fundamental e dominante. Nesse processo, a natureza não fugiu do
mecanismo de incorporação por parte do capitalismo. Ao contrário, o processo de
“expropriação-apropriação-mercadorização” do meio natural foi uma grande vantagem
para esse novo modo de produção. A natureza foi reduzida a um patamar de
subordinação no capitalismo, onde homem e natureza passam a ser vistos como pólos
excludentes, tendo subjacente a concepção de uma natureza objeto, fonte ilimitada de
recursos à disposição do homem (BERNARDES; FERREIRA, 2003).
A degradação ambiental e a crise da sociedade do trabalho, a conseqüente queda
na qualidade de vida, bem como o aumento da desigualdade e exclusão social, exigem
uma discussão que aprofunde a articulação entre trabalho, meio ambiente e o modo de
produção capitalista, pois se questiona até que ponto os recursos naturais e a
humanidade suportarão o modelo hegemônico de produção, trabalho e consumo.
Segundo Loureiro (2006), “o processo de desdobramento do capitalismo mundial, cuja
base se assenta na produção de mercadorias para sua reprodução e não para a satisfação
das necessidades materiais básicas socialmente definidas, conduziu ao ápice de nossa
história de rompimento e de degradação da qualidade de vida e do ambiente” (p.28).
Dessa forma, as relações sociais baseadas na lógica capitalista geraram
condições para que a atividade humana aliene ao invés de humanizar. É interessante
perceber como o processo de alienação (do homem) de si mesmo e da natureza colocase a favor do capitalismo e contra o ser humano emancipado e a própria natureza. De
acordo com Iasi (2007),
Ao viver o trabalho alienado, o ser humano aliena-se da sua própria
relação com a natureza, pois é através do trabalho que o ser humano se
relaciona com a natureza, a humaniza e assim pode compreendê-la.
Vivendo relações em que ele próprio se coisifica, onde o produto de
seu trabalho lhe é algo estranho e que não lhe pertence, a natureza se
distancia e se fetichiza. (p. 21).
Iasi (2007) coloca ainda que nesse processo o homem aliena-se da atividade que
o humaniza, sendo assim, ele aliena-se de si próprio, tornando-se coisa, perdendo a sua
referência enquanto espécie.
A contradição capitalista em seu sistema de alienação está na origem da
desrealização dos seres humanos e também na origem da separação homem-natureza, o
que vem contribuindo significativamente para o agravamento da crise socioambiental.
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657
7
Aliado a tudo isso ainda está o processo de globalização que tem atendido às
demandas do próprio capitalismo. Porto-Gonçalves (2006), chama a atenção para esta
questão no debate ambiental quando traz a discussão em “A Globalização da Natureza e
a Natureza da Globalização”. Segundo esse autor, “estamos diante, nesses últimos 30-40
anos de globalização neoliberal, de uma devastação do planeta sem precedentes em toda
história da humanidade, período em que, paradoxalmente, mais se falou de natureza e
em que o próprio desafio ambiental se colocou como tal” (PORTO-GONÇALVES,
2006, p. 18). O referido autor ainda aponta que
[...] o processo de globalização traz em si mesmo a globalização da
exploração da natureza com proveitos e rejeitos distribuídos
desigualmente. Vê-se, também, que junto com o processo de
globalização há, ao mesmo tempo, a dominação da natureza e a
dominação de alguns homens sobre os outros, da cultura européia
sobre outras culturas e povos, e dos homens sobre as mulheres por
todo o lado. (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 25).
Assim, a globalização neoliberal é “uma resposta de superação capitalista a essas
questões para o que, sem dúvida, procura, à sua moda, se apropriar de reivindicações
como o direito à diferença e com ele justificar a desigualdade e, também, assimilando à
lógica do mercado a questão ambiental” (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 52). Além
disso, a globalização neoliberal “tira vantagens dos processos históricos de globalização
para valorizar certas receitas econômicas sobre como operar a economia (através do
livre-comércio, desregulamentação, e assim por diante) – e, por implicação, receitas
sobre como transformar a educação, a política e a cultura” (BURBULES; TORRES,
2004, p. 18).
As discussões à cerca da relação homem/natureza, trabalho, alienação, crise
socioambiental, capitalismo e globalização, apontam para a necessidade de
compreensão e de transformação do entorno social, político, econômico, cultural e
ambiental, buscando a superação das contradições impostas pelo modelo capitalista de
produção e suas conseqüências desastrosas para o mundo natural e social. O processo
educativo tem papel preponderante para as necessárias transformações com vistas à
superação da crise socioambiental
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657
Educação
Ambiental
Crítica
como
campo
de
ação
8
político-pedagógico:
contribuições para a superação do modo de produção capitalista e da crise
socioambiental
Em 1962, Rachel Carson, com o livro “Primavera Silenciosa”, registrou
inúmeros casos de alterações ambientais decorrentes do total descaso do sistema
capitalista, principalmente do setor industrial. A partir de então, foram intensificadas as
discussões envolvendo o meio ambiente e os seres humanos. Inicialmente as discussões
eram políticas e econômicas, sem foco na educação. Porém, a partir da década de 1980,
tem-se intensificado a inserção da problemática ambiental nos sistemas educativos.
É interessante observar uma forte tendência em reconhecer o processo educativo
como uma possibilidade de provocar mudanças e alterar o atual quadro de degradação
do ambiente com o qual a humanidade se depara. Para Lima (1999), a opção de
articular a educação e meio ambiente deve-se a uma série de motivos associados. O
referido autor coloca
a importância da educação enquanto instrumento privilegiado de
humanização, socialização e direcionamento social. Está claro que,
como toda prática social, ela guarda em si as possibilidades extremas
de promover a liberdade ou a opressão, de transformar ou conservar a
ordem socialmente estabelecida. Nesse sentido, embora não seja o
único agente possível de mudança social, é um dentre outros
processos onde essa potencialidade se apresenta. (LIMA 1999 p. 26)
É importante ressaltar que a educação não deve ser entendida como um processo
que é capaz de resolver todos os problemas socioambientais, entretanto, não dá para
pensar e exercitar a mudança social e ambiental sem a integração com a dimensão
educacional.
Segundo Mochcovitch (2001), a maioria dos estudiosos dos problemas
educacionais que segue a orientação marxista tem afirmado que à escola está reservada
a função de reproduzir desigualdades sociais, na medida em que contribui para a
reprodução da ideologia das classes dominantes. Alguns chegaram a admitir que a
escola é imprescindível para a reprodução do sistema capitalista.
Embora a crença de que a escola contribua para a disseminação da ideologia das
classes dominantes, segundo o pensador marxista Antonio Gramsci, ela cumpre também
o papel de instituição que, dentro de certas condições, pode trazer um esclarecimento
que contribui para a elevação cultural das massas, levando os indivíduos das mais
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657
9
diferentes classes sociais, a uma condição de conhecimento dos seus direitos e deveres.
É a possibilidade das classes subalternas, em posse dos códigos das classes dominantes,
transmitidos por uma escola eficiente, de saber agir contra a ordem dominante (contrahegemonia). Para Gramsci, só uma escola autenticamente formativa pode proporcionar
o acesso a essa cultura:
[...] uma escola em que seja dada à criança a possibilidade de formarse, de tornar-se um homem, de adquirir os critérios gerais que sirvam
ao desenvolvimento do caráter. [...] Uma escola que não hipoteque o
futuro da criança e constranja a sua vontade, sua inteligência, sua
consciência em formação a mover-se dentro de uma bitola. [...] Uma
escola de liberdade e de livre iniciativa e não uma escola de
escravidão e mecanicidade.
(GRAMSCI, 1958 apud
MOCHCOVITCH, 2001 p. 57)
Fazendo uma análise do pensamento de Gramsci, é possível perceber como o
processo educativo pode gerar transformações na sociedade. Ainda sobre a função
transformadora da educação, Marx e Engels acreditavam em uma educação que pudesse
dar à classe trabalhadora “um controle operário sobre o processo de trabalho, em
particular, e sobre o processo de produção, em geral” (NOGUEIRA, 1993, p. 115). Para
Marx e Engels, a educação se coloca como um dos fatores em jogo na luta de classes.
Segundo Cassin (2008, p. 151), no “Manifesto do Partido Comunista”, escrito, em 1848,
por Karl Marx e Friedrich Engels, a questão do ensino público, gratuito e unido ao
trabalho e à formação do homem onilateral já aparece como proposta de superação da
educação burguesa que se sustenta na divisão do trabalho, na propriedade privada e na
formação do homem unilateral, pois segundo Marx e Engels (1983),
[...] Se as cisrcunstâncias em que este indivíduo evoluiu só lhe
permitem um desenvolvimento unilateral, de uma qualidade em
detrimento de outras, se estas circunstâncias apenas lhe oferecem os
elementos materiais e o tempo propícios ao desenvolvimento desta
única qualidade, este indivíduo só conseguirá alcançar um
desenvolvimento unilateral e mutilado. (p.28)
Diante disso, torna-se importante as reflexões sobre o papel da escola nas
transformações sociais, bem como na implementação de uma educação voltada para o
meio ambiente, problematizando e politizando os debates ambientais, pois, segundo
Loureiro (2007, p. 13), “a ausência de crítica política e análise estrutural dos problemas
que vivenciamos possibilita que a educação ambiental seja estratégia na perpetuação da
lógica instrumental do sistema vigente, ao reduzir o “ambiental” a aspectos gestionários
e comportamentais”.
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657
10
As colocações de Loureiro (um dos defensores da educação ambiental
crítica/transformadora/emancipatória) apontam para a necessidade de uma educação
ambiental de caráter crítico, que compreenda a sociedade em suas múltiplas
determinações, não bastando transformações apenas individuais, mas, necessariamente,
transformações na sociedade. Esse é um dos problemas centrais sobre o qual a educação
ambiental deve se debruçar, entendendo como se estrutura o modelo capitalista de
produção e como sua dinâmica é intermediada pelas relações desiguais. A questão está,
portanto, em compreender o modelo de sociedade que
se globaliza pela força hegemônica e que carrega valores
fragmentários; modelo reducionista, individualista, consumista,
concentrador de riqueza pela competição extremada e exploratória,
que se volta para a degradação; antagônico às características de uma
natureza que é complexa, coletiva, sistêmica, sinergética, que recicla,
que se volta para a vida na dialogicidade da cooperação-competição.
(GUIMARÃES, 2004, p. 84)
Uma proposta de uma educação ambiental que se pretende crítica e
transformadora deve estar atrelada aos interesses das classes populares que, em uma
situação histórica, buscam romper com as relações de dominação. Essa educação
ambiental em construção é claramente antagônica a uma educação instrumentalista e
funcionalista aos interesses do capital. (GUIMARÃES, 2004, p. 83)
Com o caráter funcionalista, a educação torna-se instrumento ideológico de
reprodução das condições sociais, já que se destina a manter inalteradas as relações
sociais. Essa educação “implica na ausência de transformações radicais. Além disso, a
explicação funcionalista supõe a presença determinante de uma finalidade que
transcende os motivos e as ações dos membros da sociedade e que é sua própria
manutenção e sobrevivência, minimizando com isso o papel de qualquer ação
consciente de sua parte”. (SILVA, 1992, p. 41)
Superando esse caráter instrumentalista e funcionalista, uma educação ambiental
crítica deve apontar para transformações radicais nas relações de produção, nas relações
sociais, nas relações homem-natureza, na relação do homem com sua própria
subjetividade. Trata-se, portanto, de uma educação política de caráter transformador.
Reigota (2009), aponta para esse caráter político da educação ambiental quando afirma
que
[..] o que deve ser considerado prioritariamente na educação ambiental
é a análise das relações políticas, econômicas, sociais e culturais entre
a humanidade e a natureza e as relações entre os seres humanos,
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657
11
visando a superação dos mecanismos de controle e de dominação que
impedem a participação livre, consciente e democrática de todos”.
(REIGOTA, 2009, p. 13)
Como atividade da prática social, a educação ambiental é eminentemente
política, sendo que seu caráter crítico se dá pela possibilidade de transformação social.
Por essa característica, a educação ambiental crítica está pautada na teoria crítica da
educação e na pedagogia crítica.
Na análise e interpretação da realidade histórica em que se insere a educação e a
busca da emancipação e transformação, a pedagogia crítica em EA lança mão do
Materialismo Histórico Dialético formulado por Karl Marx como referencial teóricometodológico. Nesta perspectiva, as categorias essenciais para compreensão e para a
ação educativa são a totalidade, a concreticidade, a historicidade e a contraditoriedade.
Estas categorias, num movimento dialético, orientam a compreensão dos processos
educativos, permitindo a superação da compreensão empírica da educação pela a
compreensão concreta. Trata-se, portanto, de um caminho epistemológico para a
interpretação da realidade histórica e social onde se insere a educação e o tema
ambiental (TOZONI-REIS, 2007).
Nesse sentido, cabe ressaltar a importância da epistemologia materialista-história
para as reflexões e proposições em EA. A começar pela própria idéia de uma
transformação social necessária, a partir de um entendimento crítico e contextualizado
da realidade. De acordo com Loureiro (2004), as proposições de EA que se apóiam
nesta epistemologia, criticam as concepções idealistas, pois as bases da sustentabilidade
não estão só na esfera ideal, mas na material (no modo de produção capitalista e nas
relações sociais).
Portanto, movimentar dialeticamente o pensamento requer uma reflexão sobre a
realidade socioambiental. Nessa perspectiva, a educação deve ser considerada como
formação humana, buscando o desenvolvimento pleno do indivíduo. Nesse sentido,
a relação homem-natureza - categoria síntese de múltiplas
determinações para a compreensão da educação ambiental - é
construída pelo trabalho. Se o trabalho define a natureza humana, a
concepção de homem no pensamento marxista exige compreender o
conceito de trabalho, compreendendo a essência humana no
desenvolvimento histórico (TOZONI-REIS, 2004, p. 187).
Dentro do sistema capitalista, a educação crítica e transformadora diz respeito,
portanto, à superação, concreta e histórica, da condição de alienação dos homens,
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657
12
resultante da divisão do trabalho. Significa passar da unilateralidade para a
omnilateralidade que é, segundo Tozoni-Reis (2007),
[...] resultado da superação da alienação e da ideologia como parte do
processo de formação humana, resulta também na articulação radical
da teoria com a prática social – a práxis. Fundamentada no
pensamento marxista, a educação crítica preocupa-se em articular a
consciência da alienação e da ideologia com a ação transformadora
das relações sociais que as produzem, ou seja, a educação crítica
voltada para a formação humana plena, compromete-se com a prática
social transformadora, com a construção de relações sociais plenas de
humanidade. Trata-se, portanto, de educar para a transformação, não
do sujeito individual, mas das relações sociais de dominação (p. 190).
Assim,
podemos
compreender
a
educação
ambiental
crítica
como
essencialmente política, democrática, emancipatória e transformadora. Porém, trabalhar
nesta perspectiva é uma tarefa muito desafiadora para a sociedade moderna. Requer
uma mudança de paradigma que implica em uma outra maneira de realizar o trabalho
educativo, onde os indivíduos possam “estabelecer novas relações, podemos estar
iniciando a construção de um novo patamar da consciência humana” (IASI, 2007, p.
43).
Assim, a educação, como mediadora da atividade humana e da articulação entre
teoria e prática, é fundamental para a mudança dos indivíduos e das circunstâncias. Com
vistas à construção de uma sociedade sobre novas bases, comprometida com a formação
humana plena, com uma prática socioambiental justa e com a construção de relações sociais
plenas de humanidade. Este é um desafio que está posto para todos nós.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das constatações dos impactos ambientais negativos resultantes das
ações do ser humano sobre o meio ambiente, sobretudo com o advento do
industrialismo e de suas contradições, o debate em torno das questões ambientais foi
bastante intensificado em todo o mundo.
Ao longo das últimas décadas, os problemas ambientais vêm demonstrando a
irracionalidade do modelo de desenvolvimento capitalista que ainda hoje é hegemônico
e que vem interferindo significativamente na relação homem/natureza. No contexto do
modo de produção capitalista, esta relação é rompida, pois a natureza, antes um meio de
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657
13
subsistência do homem, passa a integrar o conjunto dos meios de produção do qual o
capital se beneficia.
Uma conseqüência desastrosa da relação entre o homem e a natureza, guiada
pelo sistema de produção capitalista, é a crise socioambiental, que deve ser entendida
envolvendo não apenas os aspectos físicos, biológicos e químicos que vêm sendo
alterados no planeta, mas também as questões sociais, éticas e culturais que envolvem
as relações humanas.
No entanto, essa crise requer um repensar sobre a forma como está estruturada e
como funciona a sociedade capitalista, buscando caminhos para a sua transformação. O
processo educativo tem um importante papel nesse contexto, pois através de uma
educação ambiental de caráter crítico, os indivíduos podem compreender a totalidade
das manifestações e práticas políticas, educacionais, sociais e ambientais, levando-os a
construir um novo patamar societário, superando as formas de expropriação que
propiciam a dicotomia sociedade-natureza. Nesse sentido, a educação ambiental crítica
tem um papel preponderante como práxis social transformadora. No entanto, é
importante lembrar que não é possível transformar a sociedade apenas a partir do
processo educativo. No entanto, sem ela o processo de transformação necessário não
seria possível, visto que existe uma relação dialética entre educação e sociedade.
REFERÊNCIAS:
BERNARDES, J.A. FERREIRA, F.P.M. Sociedade e Natureza. In: CUNHA, S.B.
GUERRA, A.J.T. (Orgs.) A Questão Ambiental: Diferentes Abordagens. Bertrand
Brasil: Rio de Janeiro, 2003.
BURBULES. Nicholas C. TORRES, Carlos Alberto. Globalização e Educação:
perspectivas críticas. Porto Alegre: Artmed Editora, 2004.
CASSIN, Marcos. Sociedade capitalista e educação: uma leitura dos clássicos da
Sociologia. Revista HISTEDBR, Campinas, SP, n.32, p.150-157, dez/2008.
DUARTE, Newton. Sociedade do conhecimento ou sociedade das ilusões?: quatro
ensaios crítico-dialéticos em filosofia da educação. Campinas, SP: Autores Associados,
2003.
FRIGOTTO, Gaudêncio. Estruturas e Sujeitos e os Fundamentos da Relação Trabalho e
Educação. In: LOMBARDI, José Claudinei. SAVIANI, Dermeval. SANFELICE, José
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657
14
Luís (org.). Capitalismo, Trabalho e Educação. Campinas, SP: Autores Associados,
HISTEDBR, 2002.
GUIMARÃES, Mauro. A formação de educadores ambientais. Campinas, SP:
Papirus, 2004.
IASI, Mauro Luis. Ensaios sobre consciência e emancipação. São Paulo: Expressão
Popular, 2007.
LIMA, Gustavo Ferreira Costa. Questão ambiental e educação: contribuições para o
debate. Ambiente e Sociedade. Campinas, SP: NEPAM/UNICAMP, 1999
LOUREIRO. Carlos Frederico B. Teoria social e questão ambiental. In: LOUREIRO,
Carlos Frederico B. LAYRARGUES, Philippe Pomier. CASTRO, Ronaldo Souza de
(org). Sociedade e Meio Ambiente: a educação ambiental em debate. São Paulo:
Cortez, 2008.
___________. Carlos Frederico B. Educação Ambiental e “Teorias Críticas”. In:
GUIMARÃES, Mauro (org.). Caminhos da educação ambiental: da forma à ação.
Campinas, SP: Papirus, 2004.
____________, Carlos Frederico B. Problematizando conceitos: contribuição à práxis
em educação ambiental. In: LOUREIRO, Carlos Frederico B. LAYRARGUES,
Philippe Pomier. CASTRO, Ronaldo Souza de (org). Pensamento complexo, dialética
e educação ambiental. São Paulo: Cortez, 2006.
____________. A questão ambiental no pensamento crítico: natureza, trabalho e
educação. Rio de Janeiro: Quartet, 2007.
MARX. Karl. A origem do capital: a acumulação primitiva. 2 ed. São Paulo: Centauro,
2004.
MARK, Karl & ENGELS, Friedrich. Textos sobre Educação e Ensino. São Paulo:
Moraes, 1983.
MOCHCOVITCH. Luna Galano. Gramsci e a escola. São Paulo: Ática, 2001.
NOGUEIRA, Maria Alice. Educação, saber e produção em Marx e Engels. São
Paulo: Cortez, 1993.
PORTO-GONÇALVES. A globalização da natureza e a natureza da globalização.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
POTÁSIO, Alexandre Reinaldo. O conceito de natureza em Gramsci: contribuições
para a educação ambiental. (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-graduação em
Educação Ambiental. Universidade do Rio Grande – FURG, 2008.
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657
15
QUINTANEIRO, Tania. BARBOSA, Maria Ligia de Oliveira. OLIVEIRA, Maria
Gardênia de. Um toque de clássicos: Marx, Durkheim e Weber. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2003.
REIGOTA, Marcos. O que é educação ambiental. São Paulo: Brasiliense, 2009.
SILVA, Tadeu Tomaz da. O que produz e o que reproduz em educação: ensaios de
sociologia da educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992.
TOZONI-REIS, M. F. C. Contribuições para uma pedagogia crítica na educação
ambiental: reflexões teóricas. In: LOREIRO, C. F. B. (org.). A questão ambiental no
pensamento crítico: natureza, trabalho e educação. Rio de Janeiro: Quartet, 2007.