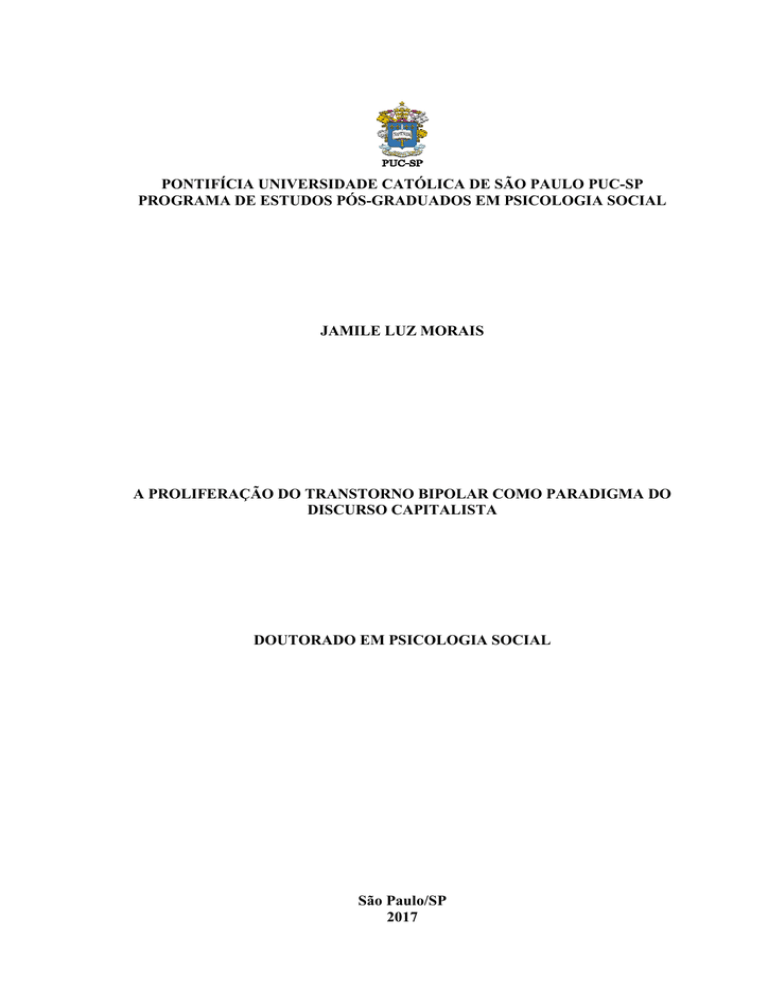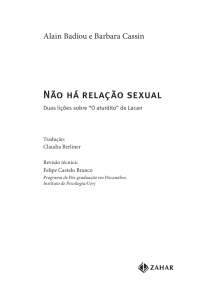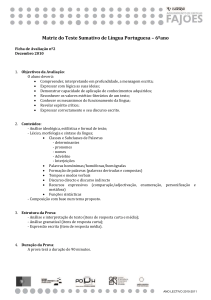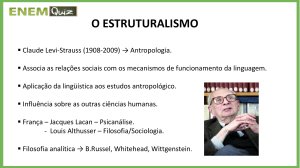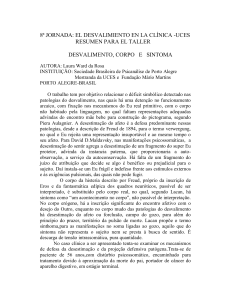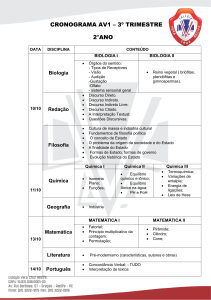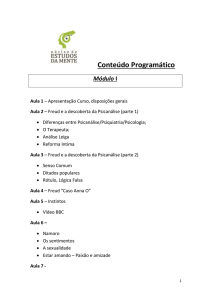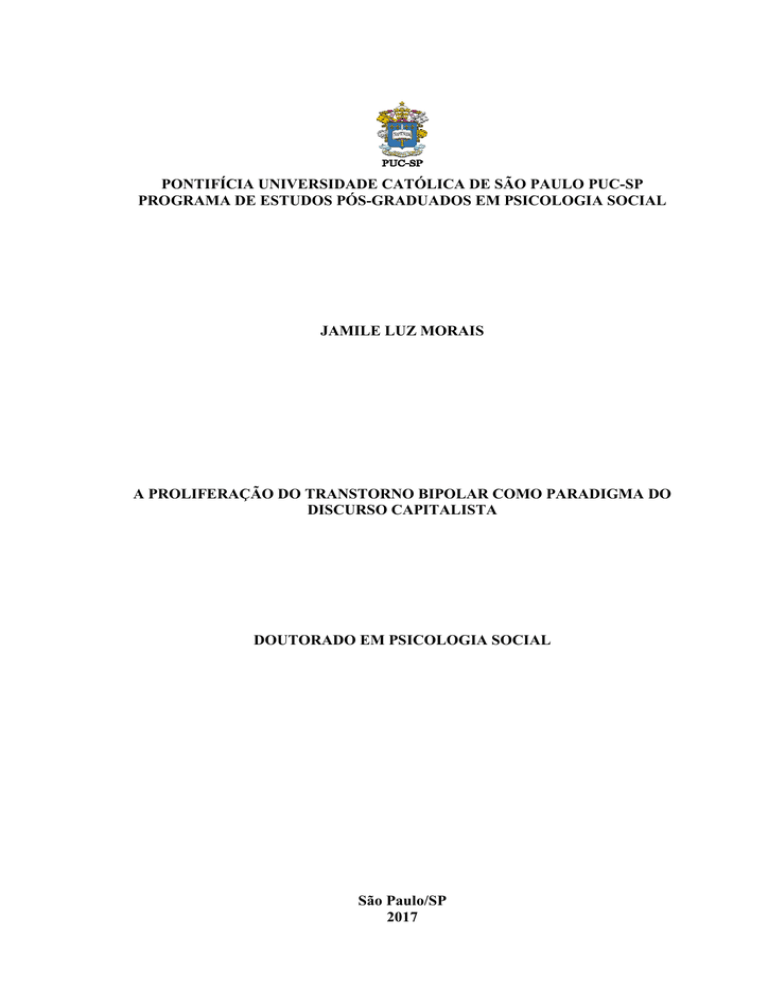
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC-SP
PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM PSICOLOGIA SOCIAL
JAMILE LUZ MORAIS
A PROLIFERAÇÃO DO TRANSTORNO BIPOLAR COMO PARADIGMA DO
DISCURSO CAPITALISTA
DOUTORADO EM PSICOLOGIA SOCIAL
São Paulo/SP
2017
JAMILE LUZ MORAIS
A PROLIFERAÇÃO DO TRANSTORNO BIPOLAR COMO PARADIGMA DO
DISCURSO CAPITALISTA
Tese de doutorado apresentada ao Programa de
Estudos Pós-graduados em Psicologia Social da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
como requisito parcial para obtenção do título
Doutora em Psicologia Social.
Orientador: Prof. Dr. Raul Albino Pacheco Filho
São Paulo/SP
2017
Autorizo exclusivamente para fins acadêmicos e científicos a reprodução total ou parcial desta
Tese de Doutorado por processos de fotocopiadoras ou eletrônicos.
Assinatura: __________________________________________________________________
Data: ____/01/2017
E-mail:
Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
________________________________________________________________
Morais, Jamile Luz.
A proliferação do transtorno bipolar como paradigma do discurso capitalista /
Jamile Luz Morais. – São Paulo: [s.n.], 2017.
297 f. : il. ; 30 cm.
Orientador: Raul Albino Pacheco Filho.
Tese (Doutorado em Psicologia Social) – Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social, São Paulo,
2017.
1. Transtorno bipolar. 2. Discurso capitalista. 3. Psicanálise. 4. Sujeito. 5.
Saber. I. Pacheco Filho, Raul Albino, orient. II. Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo. Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social. III.
Título.
__________________________________________________________________
JAMILE LUZ MORAIS
A PROLIFERAÇÃO DO TRANSTORNO BIPOLAR COMO PARADIGMA DO
DISCURSO CAPITALISTA
Tese de doutorado apresentada ao Programa de
Estudos Pós-graduados em Psicologia Social da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
como requisito parcial para obtenção do título
Doutora em Psicologia Social.
Conceito: _____________________
Data de aprovação ____/____/____
Banca Examindora:
________________________________________________ - Orientador
Doutor Raul Albino Pacheco Filho
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
________________________________________________
Doutor Mario Eduardo Costa Pereira
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
________________________________________________
Doutora Paula Regina Peron
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
________________________________________________
Doutora Roseane Freitas Nicolau
Universidade Federal do Pará (UFPA)
________________________________________________
Doutora Teresa Cristina Endo
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
________________________________________________
Doutor Antonio Luiz Quinet de Andrade
Universidade Veiga de Almeida (UVA)
Membro Suplente
________________________________________________
Doutora Bader Burihan Sawaia
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
Membro Suplente
AGRADECIMENTOS
Começo meus agradecimentos lembrando primeiramente dos meus pais, Sandra e
Jaime. Sem eles, certamente não teria chegado e nem permanecido em São Paulo. Eles que
sempre acreditaram e apostaram em mim e nesse desejo impetuoso de fazer doutorado em
outra cidade e de continuar nesse percurso tortuoso da psicanálise, a despeito de tudo de
todos! Amo vocês mais que tudo. Dedico a vocês esse árduo trabalho.
Ao professor Raul Albino Pacheco Filho, que gentilmente me acolheu em seu
Núcleo de Pesquisa “Psicanálise e Sociedade” e, depois, aprovou-me como sua doutoranda.
Com isso, permitiu que entrasse em contato com as preciosas discussões psicanalíticas do
Núcleo de Pesquisa, além de proporcionar importantes diálogos através de suas orientações,
confiando-me o lugar de quem pode concluir uma tese.
À professora Paula Peron, que além de ter participado do processo de qualificação
desse trabalho, contribuindo significativamente para seu desenvolvimento, também permitiu
que eu fizesse o estágio em docência sob sua preceptoria.
À professora Teresa Endo, por ajudar a compor a banca de arguição desta tese, bem
como pelo diálogo possibilitado pelo estágio em docência no segundo semestre e pela
oportunidade de troca ímpar no que tange ao atendimento psicanalítico com crianças. Sem
dúvida, foi uma experiência nova e inspiradora.
Ao professor Mario Eduardo Costa Pereira, pela disponibilidade em contribuir
com seu admirável percurso e experiência para com esse trabalho.
À professora Roseane Freitas Nicolau, a quem devo o início do meu percurso não
só na teoria lacaniana, mas na minha trajetória acadêmica propriamente dita e que, desde o
primeiro encontro, de uma forma ou de outra, sempre esteve presente na minha vida. Feliz por
poder participar de mais esse momento.
Ao Ricardo Monteiro Guedes de Almeida, meu presente de São Paulo, meu
parceiro no trabalho e na vida, meu amor, você foi a peça fundamental nesse processo todo!
Ao Conrado Ramos, pelo acolhimento e interlocução teórica proporcionada em um
momento fundamental no desenvolvimento desta tese.
Ao Luís Guilherme Mola, testemunho do que se construiu e caiu até aqui e para
além da escrita, sem palavras!
Aos colegas do Núcleo de Pesquisa “Psicanálise e Sociedade” que, com certeza,
estão presentes nas linhas deste trabalho. Foi um encontro frutífero, inesquecível e divertido.
Entretanto, gostaria de agradecer especialmente algumas pessoas que contribuíram
diretamente para a concretização deste projeto:
Ao Isaias Ferreira, a quem hoje chamo de “amigo”, pelas excelentes interlocuções e
apontamentos lacanianos em relação ao tema da minha tese.
Ao Milton Neto, pelos importantes apontamentos Canguilheanos.
Ao Vinícius de Azevedo Silva, pelos diálogos e conversas sempre proveitosas sobre
o Seminário 16 e a mais-valia.
Não poderia deixar de lembrar os meus irmãos: Breno, Bruno e Rogério que, de um
jeito ou de outro, sempre estiveram disponíveis em me ajudar no que preciso fosse.
À Mariza e Carla Miranda, minha madrinha e irmã de coração, pelo apoio
incondicional.
À Rita Martins, pela amizade que se originou na psicanálise e se sustentou além
dela, pela torcida sincera.
À Marlene Camargo, Secretária do Programa de Estudos Pós-graduados em
Psicologia Social, pela disponibilidade de sempre em contribuir para que tudo corresse bem!
Agradeço à Capes pelo financiamento desta pesquisa.
“A felicidade, é preciso dizê-lo,
ninguém sabe o que é”.
(LACAN, 1969-1970/1992, p. 76)
RESUMO
MORAIS, Jamile Luz. A proliferação do transtorno bipolar como paradigma do discurso
capitalista. 2017. 297 p. Tese (Doutorado em Psicologia Social) – Programa de Estudos Pósgraduados em Psicologia Social, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Esta tese teve como objetivo central compreender, a partir da perspectiva psicanalítica
lacaniana, o aparelhamento do laço no discurso capitalista, tomando como referência a
proliferação de sujeitos que, conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos
Mentais (DSM) são enquadrados na categoria que engloba o Transtorno Afetivo Bipolar
(TAB). Buscamos tecer uma crítica em torno da razão diagnóstica que sustenta e determina
não só o diagnóstico do transtorno, mas também sua crescente banalização. Partimos da ideia
segundo a qual o discurso em voga no DSM, em sua copulação com o capital, tenta forjar um
enquadramento de laço que foraclui o sujeito do desejo, expropriando-o, assim, da
possibilidade de construir um saber acerca do seu próprio mal-estar. Concebemos o fenômeno
da proliferação diagnóstica em torno do TAB como um fato no campo do social que, por
assim dizer, acarreta impactos sobre o sujeito do desejo e nos laços que estabelece,
trabalhando com a tese de que a dita propagação pode ser entendida como um paradigma do
discurso capitalista. Discutimos como o significante bipolar, tomado do discurso
pseudocientífico, surge como uma das máscaras do sofrimento do sujeito na sociedade e como
a multiplicação do referido transtorno mascara a cisão produzida entre o sujeito ($) e o saber
(S2) no discurso capitalista. A presente tese visou, antes de tudo, restituir não só a
importância da clínica psiquiátrica no tratamento do que hoje se chama “os transtornos
mentais” (especialmente em relação ao transtorno bipolar), mas também como a psicanálise,
dirigida ao sujeito do desejo (sujeito do inconsciente), insere-se nesse contexto, de um
discurso dominado pela lógica do DSM. Entendemos que o diagnóstico em psiquiatria deve
ser visto como um instrumento e não como uma meta, pois, se assim for, ele servirá mais
como uma especialidade serva de uma normalização e do capital, rotulando sujeitos que
fogem a uma regra pretensamente bem estabelecida, do que trabalhando a favor de (re)inserir
esses sujeitos na sociedade.
Palavras-chave: Transtorno bipolar. Discurso capitalista. Psicanálise. Sujeito. Saber.
ABSTRACT
MORAIS, Jamile Luz. The proliferation of bipolar disorder as a paradigm of capitalist
discourse. São Paulo. 2017. 297 p. Thesis (PhD in social psychology) – Postgraduate
Program in Social Psychology, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
This thesis main objective was to understand, from the Lacanian psychoanalytic perspective,
the instrumental use of the bond in the capitalist discourse, taking as a reference the
proliferation of subjects that, according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM), fall into the category that encompasses the Bipolar Affective Disorder. We
seek to build a critique around the diagnostic reason that supports and determines not only the
diagnosis of the disorder, but also its increasing trivialization. We start from the idea that the
popular discourse in the DSM, in its copulation with the capital, tries to frame the bond
foreclosing the subject of desire, thus taking away from them the mere possibility of building
a knowledge about their own uneasiness. We conceive the phenomenon of the proliferation of
the bipolar disorder diagnostic as a fact in the social field that has impacts on the subject of
desire and on the bonds they establish, working with the idea that the said propagation can be
understood as a paradigm of the capitalist discourse. We discuss how the bipolar signifier,
taken from the pseudoscientific discourse, arises as one of the masks of the subject's suffering
in society and how the multiplication of that disorder disguises the scission between subject
($) and knowledge (S2) in the capitalist discourse. The present thesis aimed, above all, to
restore not only the importance of the psychiatric clinic in the treatment of what is now called
"mental disorders" (especially bipolar disorder), but also how psychoanalysis, addressed to
the subject of desire (subject of the unconscious), stands in the context of a discourse
dominated by the logic of the DSM. We understand that the diagnosis in psychiatry should be
seen as an instrument rather than a goal, lest it will serve as a specialty in the service of
standardization and capital, labeling subjects who escape a presumably well-established rule,
more than actually work to reinsert these subjects into society.
Keywords: Bipolar disorder. Capitalist discourse. Psychoanalysis. Subject. Knowledge.
RÉSUMÉ
MORAIS, Jamile Luz. La prolifération du trouble bipolaire comme paradigme du
discours capitaliste. São Paulo. 2017. 297 p. Thèse. Doctorat en psychologie sociale.
Programme d'Études Supérieures en Psychologie Sociale. Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo.
Cette thèse a eu comme objectif principal de comprendre, à partir d'une perspective
psychanalytique lacanienne, l'usage instrumental du lien dans le discours capitaliste, par
référence à la prolifération des sujets qui, selon le Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux (DSM), sont classés dans la catégorie qui comprend le trouble bipolaire.
Nous cherchons à faire une critique autour de la raison du diagnostic qui étaye et détermine
non seulement le diagnostic de la maladie, mais aussi sa banalisation croissante. Nous partons
de l'idée selon laquelle le discours en vogue dans le DSM, dans le cadre de sa copulation
avec la capitale, essaye d'encadrer le lien de manière à provoquer la forclusion du sujet du
désir, l'expropriant ainsi de la possibilité de construire un savoir concernant son propre
malaise. Nous concevons le phénomène de la prolifération de diagnostic de trouble bipolaire
comme un fait du domaine social qui, pour ainsi dire, entraîne des impacts sur le sujet du
désir et sur les liens que celui-ci établit, et nous travaillons avec l'idée selon laquelle ladite
propagation peut être comprise comme un paradigme du discours capitaliste. Nous
questionnons comment le signifiant bipolaire, issu du discours pseudo-scientifique, surgit
comme l'une des masques de la souffrance du sujet dans la société et comment la
multiplication de ce trouble dissimule la scission produite entre le sujet ($) et le savoir (S2)
dans le discours capitaliste. Cette thèse vise surtout à rétablir non seulement l'importance de la
clinique psychiatrique dans le traitement de ce qu'on appelle aujourd'hui « les troubles
mentaux » (en particulier en ce qui concerne le trouble bipolaire), mais aussi de quelle
manière la psychanalyse, adressée au sujet du désir (sujet de l'inconscient), est insérée dans ce
contexte d'un discours dominé par la logique du DSM. Nous comprenons que le diagnostic en
psychiatrie doit être considérée comme un outil et non pas comme un but, de peur que la
psychiatrie ne fonctionne comme une spécialité au service de la normalisation et du capital, en
cataloguant les personnes fuyant une règle prétendument bien établie, au lieu de travailler
dans le but de (ré)intégrer ces sujets dans la société.
Mots-clés: Trouble bipolaire. Discours capitaliste. Psychanalyse. Sujet. Savoir.
LISTA DE SIGLAS
ABRATA Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos
Afetivos
APA
Associação Psiquiátrica Americana
CID
Classificação Internacional de Doenças
DSM
Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais
IBGE
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IMAOS
Inibidores de Monoaminoxidase
NIMH
National Institute of Mental Health
OMS
Organização Mundial de Saúde
PMD
Psicose Maníaco-Depressiva
TAB
Transtorno Afetivo Bipolar
TAG
Transtornos de Ansiedade Generalizada
TB
Transtorno bipolar
TDAH
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
TOC
Transtorno Obsessivo Compulsivo
UFPA
Universidade Federal do Pará
SUMÁRIO
1
INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 13
2
A CONCEPÇÃO CLÁSSICA DA LOUCURA E O SURGIMENTO DA
PSIQUIATRIA ......................................................................................................... 33
2.1
2.2
2.3
2.4
2.11
A mania e a melancolia na Grécia Antiga ............................................................. 36
A loucura na Idade Média e na Renascença ......................................................... 38
O século XVII: a grande internação e a loucura como desrazão ........................ 42
O século XVIII: “o louco no jardim das espécies”, o isolamento da loucura e
as bases para a constituição da psiquiatria ........................................................... 44
A instituição asilar: o retiro de Tuke e o asilo de Pinel ........................................ 51
Pinel, o tratamento moral e o surgimento da psiquiatria .................................... 58
Esquirol e o aprofundamento das ideias de Pinel ................................................. 66
Guislain e as formas psicopatológicas combinadas .............................................. 71
Griesinger e as origens da psiquiatria orgânica .................................................... 72
As raízes da psicose maníaco-depressiva: contribuições de Falret e
Baillarger .................................................................................................................. 75
Kahlbaum: a ciclotimia e a distimia ....................................................................... 78
3
DA PSICOSE MANÍACO-DEPRESSIVA AO TRANSTORNO BIPOLAR .... 81
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
Kraepelin e a psicose maníaco-depressiva ............................................................. 88
99
A psiquiatria pós-kraepelin: o DSM e o desaparecimento da psicopatologia
O DSM-III e a supressão da categoria psicose maníaco-depressiva ......................... 102
O DSM-IV e o DSM-V: a abordagem dimensional e a noção de espectro no
Transtorno bipolar ..................................................................................................... 109
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
O transtorno bipolar e o seu caráter normativo “ideal”: uma discussão a
partir de Georges Canguilhem ............................................................................... 116
Auguste Comte e a pretensão métrica ....................................................................... 118
Claude Bernard e a fisiologia experimental ............................................................... 123
René Leriche e a fisiologia sob a ótica do doente ..................................................... 127
A anomalia psíquica e uma norma singular aplicada à psiquiatria ............................ 131
A norma como tipo ideal versus a normatividade vital e individual ......................... 135
4
O DIAGNÓSTICO EM PSICANÁLISE E O SEU SUJEITO ............................ 149
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
O sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência ....................................................... 154
O objeto a causa de desejo e o seu estatuto no processo de constituição do
sujeito ........................................................................................................................ 167
4.3
O complexo de Édipo como estruturante para o sujeito e o diagnóstico
diferencial em psicanálise: neurose, psicose e perversão ..................................... 183
A melancolia e a mania: um percurso em Freud e Lacan .................................... 193
4.4
4.4.1 A melancolia, o supereu e a pulsão de morte: a concepção freudiana ...................... 193
4.1
4.2
4.4.2 Lacan e a melancolia: a foraclusão do Significante Nome-do-Pai e o
desvelamento do objeto a .......................................................................................... 208
5
O SUJEITO NO LAÇO SOCIAL: A PSICANÁLISE E OS DISCURSOS ....... 219
De um discurso sem palavras: os quatros discursos ............................................. 225
O discurso do mestre e a produção de mais-de-gozar ............................................... 232
O discurso da histérica e a fabricação de um desejo de saber ................................... 240
O discurso do analista e a verdade de um saber não-todo ......................................... 245
O discurso universitário e a pretensa totalização do saber ........................................ 249
O Discurso Capitalista e a recusa da castração .................................................... 256
5.2
5.2.1 A proliferação do transtorno bipolar como paradigma do discurso capitalista e a
cisão entre o Sujeito ($) e o Saber (S2) ..................................................................... 265
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
6
PARA CONCLUIR ................................................................................................. 278
REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 283
13
1 INTRODUÇÃO
Esta tese teve como objetivo central investigar, a partir da perspectiva psicanalítica
lacaniana, o aparelhamento do laço no discurso capitalista, tomando como referência a
proliferação de sujeitos que, conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos
Mentais (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014), são enquadrados na
categoria que engloba o Transtorno Afetivo Bipolar (TAB). Buscamos tecer uma crítica em
torno da razão diagnóstica que sustenta e determina não só o diagnóstico do transtorno, mas
também sua crescente banalização. Partimos da ideia segundo a qual o discurso em voga no
DSM, em sua copulação com o capital, tenta forjar um enquadramento de laço que foraclui o
sujeito do desejo, expropriando-o, assim, da possibilidade de construir um saber acerca do seu
próprio mal-estar.
Sobre o fenômeno da proliferação do TAB, vale lembrar um artigo publicado na
revista Piauí, denominado A Epidemia da doença mental. Neste artigo, Márcia Angell (2011)
nos mostra, através de um estudo patrocinado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos
Estados Unidos, que entre os anos de 2001 e 2003, um percentual surpreendente de adultos
(em torno de 46%) encaixavam-se nos critérios para algum tipo de transtorno mental,
estabelecidos pelo DSM, confeccionado pela então Associação de Psiquiatria Americana
(APA). Este estudo demonstrou que a referida porcentagem de adultos foram acometidos, em
algum momento de suas vidas, por pelo menos uma doença mental, destacando quatro
categorias. Entre essas categorias, estavam os “transtornos de ansiedade”, que englobam as
fobias e o estresse pós-traumático; os “transtornos de controle dos impulsos”, referentes aos
problemas de comportamento e de déficit de atenção/hiperatividade; os “transtornos causados
pelo uso de substâncias”, como o abuso de álcool e drogas e os “transtornos de humor”, como
a depressão e o transtorno bipolar. Para a autora, a maioria dos pesquisados enquadrava-se em
mais de um diagnóstico.
No ritmo em que crescem os transtornos mentais, observa-se também um
crescimento no consumo de medicamentos para tratá-los. O antidepressivo fluoxetina,
conhecido comercialmente como prozac, teve seu consumo aumentado. De 2007 para 2011,
observou-se um aumento de quase 50% em seu consumo, segundo a consultoria farmacêutica
IMS Health do Brasil.
De acordo com outro levantamento, apontado pela revista Economia, o brasileiro
gasta R$ 1,8 bilhões com antidepressivos e estabilizadores de humor. Esses dados, segundo
Castro e Choucair (2013), foram coletados para o Estado de Minas Gerais, também pelo IMS
14
Health do Brasil. Para a então consultoria farmacêutica, foram vendidas, no ano de 2012,
42,33 milhões de caixas de remédios que vão desde os antidepressivos, passando por
ansiolíticos até estabilizadores de humor. É como se um a cada cinco brasileiros consumisse
uma caixa de antidepressivo ou estabilizador de humor por ano. Para as autoras da
reportagem, embora a comercialização desses medicamentos tenha crescido mais de 200%
nos últimos seis anos, tal crescimento vem desafiando os especialistas em saúde.
Segundo Perez e Passos (2014), as companhias brasileiras são as que mais faturam
no mercado de medicamentos. Considerando o balanço divulgado pela Associação dos
Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, há uma superioridade das fabricantes de
medicamentos nacionais em relação às empresas estrangeiras. As companhias brasileiras
chegaram a faturar R$ 15,7 bilhões entre janeiro e junho de 2014, ou 51% do montante
comercializado. O uso de antidepressivos e reguladores de humor estão entre os cinco
principais medicamentos responsáveis por essa alta. Diante disso, cabe interrogar: O que
estaria por trás dessa “epidemia dos transtornos”, também evidenciada pelo aumento do
consumo de antidepressivos e estabilizadores de humor? Estaríamos na era de uma razão
diagnóstica que, uma vez pautada em um movimento expansionista das categorias mentais,
supervaloriza o patológico?
Ora, quando nos confrontamos com esses dados alarmantes, vemos que a dita
“epidemia dos transtornos” coloca-se como um fato curioso no campo do social, o que nos
leva a pensar como os transtornos, em especial o TAB, inserem-se na contabilidade do
discurso capitalista e, decerto, articulam-se com a economia de gozo do sujeito. Dito de outra
maneira, poderíamos nos questionar quais os efeitos de tal epidemia inserida no discurso
capitalista para a própria estrutura do sujeito, considerando os laços que ele passa a
estabelecer.
Sobre o aspecto que toca na questão da estrutura do sujeito e sua articulação com a
dimensão social, é importante ressaltar que o interesse de pesquisar sobre este tema foi
suscitado desde o ano de 2007, momento em que tive a oportunidade de participar do Grupo
de pesquisa O Sintoma do Corpo, na Universidade Federal do Pará (UFPA).
Nesta instituição, desenvolvi a dissertação de mestrado intitulada Corpo, feminino e
subjetivação: uma análise a partir de sujeitos portadores de Lúpus Eritematoso Sistêmico,
defendida em 2010. No contexto desta pesquisa, na Clínica-Escola de Psicologia da
Universidade, tínhamos nos deparado com um considerável número de pacientes,
encaminhados geralmente por médicos do Hospital Universitário, para atendimento
psicológico. Esses pacientes chegavam à Clínica diagnosticados como portadores do que a
15
medicina denominava “Transtorno Somatoforme”1, posto que manifestavam sintomas no
corpo resistentes a uma intervenção médica específica. Este fato causava significativo
sofrimento e prejuízo na vida do sujeito, que geralmente passava a apresentar sintomas
ansiosos em reação à dita “doença sem causa”, isto é, em função de uma enfermidade que não
portava uma causa orgânica geral para seu aparecimento.
Os sujeitos encaminhados à clínica de psicologia, chegavam, muitas vezes, ingerindo
determinada medicação ansiolítica ou antidepressiva e, ao mesmo tempo, mostravam-se
fixados na situação de que possuíam um diagnóstico médico, explicação que, para eles, já
justificava o fato de estarem ali. Notávamos, nesses casos, certa dificuldade na direção do
tratamento analítico, pois dificilmente se permitiam deslizar na associação livre, colocando-se
em uma posição de identificação com o diagnóstico médico, agarrados a ele como uma
“válvula de escape”. Isso, por sua vez, impossibilitava os mesmos de construir um saber sobre
seu sintoma, em outras palavras, de produzir um saber sobre o seu inconsciente.
Verificávamos que o referido diagnóstico, vindo do campo médico, acabava fechando as
portas para qualquer encontro com o saber sobre o qual trabalha a psicanálise: um saber
referente à Outra cena, a cena inconsciente.
Por outro lado, analisando além dos casos singulares e da dificuldade na direção do
tratamento analítico, observávamos a criação de uma discursividade que tinha por finalidade
objetivar o que é da ordem da subjetividade. Havia um discurso que sustentava a quantidade
de sujeitos diagnosticados como “psicossomáticos”, os quais chegavam ao nosso
conhecimento, através da clínica da Universidade. O significante psicossomática, apontado
por Valas (2004), como um verdadeiro fetiche para os ignorantes, tamponava tanto o furo no
saber médico, que não sabia nomear esses fenômenos do corpo, como também a falha no
saber desses pacientes que, com efeito, sentiam-se aliviados com o diagnóstico. Sob outra
ótica, também era pela via desse significante, apresentado como um diagnóstico, que se abria
a possibilidade para a entrada do discurso analítico. Era pelo furo no campo médico que o
1
O “Transtorno Somatoforme”, assim classificado na época da 4ª versão do Manual Diagnóstico e Estatístico
dos Transtornos mentais, o DSM-IV, responde agora, no DSM-V (2014), pelo nome de “Transtorno de
Sintomas Somáticos e Transtornos Relacionados”. Considera-se atualmente como critério crucial para o
diagnóstico do transtorno a “presença de sinais e sintomas somáticos positivos (sintomas somáticos
perturbadores associados a pensamentos, sentimentos e comportamentos anormais em resposta a esses
sintomas)” (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, p. 309), ao invés somente da ausência de
uma explicação médica para sintomas somáticos. Entre as afecções que faziam parte deste transtorno,
destacavam-se: a psoríase, a dermatite, a fibromialgia, o lúpus, alergias de modo geral resistentes ao
tratamento, como urticárias, a síndrome do intestino irritável, entre outras.
16
tratamento analítico podia se fazer possível, acolhendo o que o próprio discurso da medicina,
até então, excluíra: a dimensão do sujeito.
Nesse sentido, se antes, na dissertação de mestrado, o objeto de estudo teve seu foco
no caso clínico do sujeito singular sob transferência, agora, nosso interesse girou em torno do
aspecto social em torno daquilo que, do sujeito, remete à estrutura do laço. Deste modo, nossa
atenção voltou-se para a conexão existente entre a alienação estrutural do sujeito no discurso
do Outro e sua alienação histórica, analisando como as mudanças históricas interferem na
forma como este sujeito se posiciona no discurso. Afinal, aprendemos com a psicanálise o
quanto a clínica não pode ser vista separada do social, ou seja, o quanto existe entre esses dois
campos uma continuidade moebiana de tal modo que é impossível delimitar o que é interno e
externo ao sujeito. Como ressaltou Freud (1921/2011) em Psicologia das massas e Análise do
Eu, toda psicologia social é individual, pois o sujeito se estrutura em um discurso social,
estando, portanto, assujeitado a ele.
Askofaré (2009), ao discutir sobre o sujeito visado pela psicanálise, afirma que ele
marca um lugar estrutural, uma trans-historicidade, tendo em vista se estruturar no campo do
Outro, isto é, da linguagem, submetido às transformações deste campo. O autor nos diz:
O inconsciente é estrutura, é certo, quer dizer, é lugar do Outro; mas ele é também
saber, dito de outro modo, o que dessa estrutura se desenrola, se articula no discurso,
no discurso do Outro. Esse Outro, do qual o inconsciente é o discurso, não se reduz
aos pais; é o Outro do discurso universal que determina o inconsciente como
transindividual. Ora, o Outro, entendido nesse sentido, ou seja, o simbólico, se ele é
invariável em sua estrutura – aquela da linguagem –, é também submetido às
mudanças, às mutações, às rupturas, às subversões. Quem pode contestar as
mudanças induzidas no Outro pelo advento do monoteísmo, a invenção da escrita, a
emergência da ciência moderna e, mais recentemente, das biotecnologias e da
informática?! (ASKOFARÉ, 2009, p. 169).
Ao entender o sujeito por este prisma, o trans-histórico, não somos partidários da
ideia de que nos deparamos na contemporaneidade com um “novo sujeito”, mas sim que, ao
se estruturar no campo do Outro da linguagem, ele está submetido às mudanças deste campo
que, por conseguinte, obedecem a um determinado enquadramento de laço social. Assim, não
compartilhamos do princípio segundo o qual existiria um ponto de ruptura histórica onde teria
surgido esse “novo sujeito”. Sobre esse ponto, afirma Pacheco Filho (2012, p. 185, grifo do
autor):
17
Desde então, muitos outros psicanalistas ou pensadores inspirados na Psicanálise
têm trazido reflexões a respeito das transformações que se observariam, da época de
Freud até nossos dias, nos sujeitos da sociedade ocidental capitalista e nos laços
sociais estabelecidos entre eles. E o que vou tomar como foco de atenção crítica aqui
é um conjunto determinado de formulações, a esse respeito, que incidem no mesmo
erro comum de pretenderem delimitar um ponto de ruptura, a partir do qual teria
emergido um 'novo sujeito'. Novo sujeito que poria em xeque as formulações
teóricas e conceituais desenvolvidas para a compreensão do sujeito de períodos
históricos precedentes, ou, no mínimo, exigiria uma utilização radicalmente distinta
dos conceitos e proposições anteriormente empregados. Refiro-me as concepções
como "queda do simbólico", "declínio da função paterna", "sujeito pós-moderno",
"perversão generalizada", "condição pós-humana" e "substituição de um supereu
repressivo por um supereu que convoca ao gozo".
Nessa direção, dizemos que não existe um “novo sujeito” porque ele é estrutural e
trans-histórico, mas sim que existem mutações no discurso onde esse sujeito se estrutura.
Assim, podemos dizer que existe uma conexão entre o aspecto estrutural do sujeito e a
dimensão histórica onde ele se encontra inserido e, nesta medida, falamos, novamente, de uma
relação moebiana entre o sujeito e Outro do discurso, de tal maneira que o sujeito que nos
chega à clínica não pode ser concebido senão articulado à dimensão social.
Nessa perspectiva, no intuito de pensar sobre o estatuto do sujeito no laço social na
contemporaneidade, é importante questionar: qual é o discurso social a que ele está
submetido? E quais seriam os efeitos deste discurso nos laços sociais que estabelece?
Ao falar sobre o que chamou o “discurso capitalista”, Lacan (1969-1970/1992, p.
103) afirmou: “Não se esperou, para ver isso, que o discurso do mestre tivesse se
desenvolvido plenamente para mostrar sua clave no discurso do capitalista, em sua curiosa
copulação com a ciência”. Lacan nos remete aqui ao aparecimento do mestre moderno, a um
giro discursivo, onde o saber universitário não somente tomou o lugar de agente no discurso,
mas também aliou-se ao capital. Acontece que tal giro discursivo, especialmente no campo da
psiquiatria, trouxe impactos para o sujeito.
Askofaré e Alberti (2011), ao apontarem questões e problemas concernentes ao
diagnóstico na psiquiatria e na psicanálise, apontam para um sujeito esmagado pelas
objetivações do discurso científico. Este sujeito, que comumente chega à clínica psicanalítica
com um diagnóstico médico, encontra-se consideravelmente alienado na civilização científica,
como afirmam: “o eu do homem moderno acabou apostando na comunicação da ciência e nos
empregos que ela comanda na civilização universal” (ASKOFARÉ; ALBERTI, 2011, p. 11).
O homem moderno, ao estabelecer uma conexão de seus conflitos interiores com significantes
universais oferecidos pela ciência, permite que uma objetivação ocupe o lugar de sua
subjetividade. A ciência, ao proliferar significantes totalitários capazes de nomear o mal-estar,
18
muitas vezes impede a emergência da fala do sujeito, isto é, do que ele tem a dizer sobre o
sofrimento que porta. Com isso, acaba fazendo barreira ao aparecimento do que há de mais
intrínseco a este sujeito, ao furo estrutural que lhe é próprio, à sua divisão irredutível, nunca
proporcional ao objeto que o causa: o objeto a.
Esta alienação profunda do sujeito na civilização científica acarreta efeitos não só na
clínica psicanalítica, mas também nos laços que o sujeito passa a estabelecer, considerando
“as mutações simbólicas, as mudanças nos saberes e nas práticas, as metamorfoses ou as
emergências nos modos de gozo” (ASKOFARÉ; ALBERTI, 2011, p. 12).
Lacan (1966/2001), na conferência O lugar da psicanálise na medicina, denominou
de falha “epistemo-somática” o fenômeno da cisão entre o corpo e o desejo de saber
promovido pelo discurso médico-científico, o qual, conectado ao capital, agencia um
aparelhamento de gozo capaz de deixar o sujeito ignorante com relação à sua história
subjetiva e inconsciente. Uma vez cindido do saber inconsciente que o constituiu como sujeito
do desejo, o sujeito fica alienado a um saber que pretende ser totalitário e sem furos,
sustentado pela ideia de que pode aparar todas as arestas e imperfeições. Mascarando uma
contradição que é própria ao sujeito, este saber pretensamente hegemônico, oferece
diagnósticos e remédios que supostamente dariam conta de suprimir o seu mal-estar
fundamental e, portanto, impossível de eliminar.
Prates Pacheco (2009, p. 240) afirma que “com a aliança cada vez mais forte entre a
ciência e o capitalismo, o corpo passou a ocupar um lugar central”, localizando a biologia no
topo da hierarquia científica. Já Alberti (2008, p. 153-154), ao discorrer acerca dos efeitos do
discurso da ciência sobre o sujeito, salienta que a perpetuação da noção de um indivíduo
cerebral, determinado plenamente por reações neurais e cerebrais, leva-nos “a crer que é o
cérebro que produz o que há de mais genuíno, independente do corpo e independente do
sujeito enquanto efeito de linguagem”. Sobre esse aspecto, aponta Quinet (2006) que o
entendimento de um sujeito neuronal, marcado por condições neuroquímicas e biológicas, no
campo da psiquiatria, traz consigo não só a produção de psicofármacos cada vez mais
variados, mas também de categorias diagnósticas que os justifiquem. Fato este que, por assim
dizer, torna explícita a estreita relação do discurso científico com o discurso capitalista.
Verifica-se, assim, uma ciência em parceria quase perfeita com o capital, que se
apropria do conhecimento produzido por ela para produzir um enquadramento de laço onde o
sujeito do desejo é achatado em sua particularidade. Ao receber um diagnóstico qualquer e se
identificar com ele, o sujeito permite que um conhecimento científico se sobreponha ao saber
que o constituiu como um sujeito do desejo. A consequência disso é a negligência do sujeito
19
com relação a sua própria história. Ao classificar o seu sofrimento, o discurso científico
produz generalizações, massifica e objetiva o que é mais subjetivo. Ora, para este discurso
pseudocientífico e totalitário não importa se o sujeito tem um nome ou algo a dizer sobre o
sintoma que sofre. O importante é que ele tem uma patologia que precisa ser tratada e
eliminada. Ansioso, depressivo, hiperativo, doente psicossomático, bipolar, não importa o
diagnóstico que ele receba do Outro dominante do discurso, o relevante é que sempre existirá
uma tecnologia que vai nomear e tratar esse sujeito.
No terreno da diagnóstica do DSM (especialmente desde a sua terceira edição),
estamos na era dos transtornos. Tudo é transtorno! Transtornos somatoformes e dissociativos,
transtorno obsessivo compulsivo (o TOC), transtorno de déficit de atenção e hiperatividade
(TDAH), transtornos de ansiedade generalizada (TAG), transtornos alimentares, transtornos
psicóticos, pós-traumáticos, transtornos do humor e por aí vai.
Com relação ao TAB, afirma Leader (2015, p. 7): “Se o período pós-guerra foi
chamado de ‘era da ansiedade’, e as décadas de 1980 e 1990 de ‘era dos antidepressivos’,
vivemos agora em tempos bipolares”. O TAB, antes aplicado a menos de 1% da população,
teve um aumento drástico. Nos Estados Unidos, estima-se que quase 25% dos norteamericanos sofram de algum tipo de bipolaridade. De acordo com National Institute of Mental
Health (NIMH), o transtorno bipolar, afeta aproximadamente 5,7 milhões de adultos
americanos. O resultado disso é um aumento progressivo da prescrição de estabilizadores de
humor tanto para adultos como para crianças, que também já estão entrando no rol dos
bipolares: “As receitas para crianças aumentaram 400% desde meados dos anos 1990,
enquanto diagnósticos globais tiveram alta de 4.000%” (LEADER, 2015, p. 7).
No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de
Transtornos Afetivos (ABRATA), o transtorno bipolar atinge 4% da população brasileira. O
censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), informa que em
2010, o Brasil tinha uma população de 190.732.694 pessoas diagnosticadas com transtorno
bipolar2.
Na era dos transtornos, ambiciona-se que o TAB, de alguma forma, remeta a então
Psicose Maníaco-Depressiva (PMD) proposta psiquiatra alemão Emil Kreapelin. No DSM-V
(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014), a PMD de Kraepelin foi isolada na
categoria transtorno afetivo bipolar tipo I (TAB tipo I). Para o manual, o TAB diferencia-se
2
Dados disponíveis no site da ABRATA: http://www.abrata.org.br.
20
do transtorno depressivo maior pela presença de episódios maníacos, os quais não precisam,
obrigatoriamente, vir acompanhados de critérios para sintomas psicóticos.
O TAB manifesta-se de várias formas, considerando sua gravidade. Nesse panorama,
é relevante salientar que o conceito de hipomania foi crucial para esta atual divisão, na
medida em que o sujeito não precisa manifestar sintomas de mania clássica para ser
diagnosticado como bipolar.
No mesmo caminho da racionalidade diagnóstica do DSM, destaca-se a existência de
um movimento dentro da psiquiatria, liderado especialmente pelo psiquiatra americano Hagop
Akiskal, de expansão do diagnóstico de bipolaridade. Este movimento defende o pressuposto
conforme o qual o TAB é concebido ao longo de um espectro de sintomas, que varia ao longo
de um continuum, a considerar principalmente o aspecto quantitativo e epidemiológico, ao
invés de uma abordagem categórica. Neste sentido, a noção de hipomania ganha destaque,
principalmente, porque, vista como uma mania “controlável”, mais sujeitos podem cair na
régua do espectro bipolar.
Em um artigo publicado na Revista Argentina de Psiquiatria intitulado Una
expansión de las fronteras del transtorno bipolar: una validación del concepto de espectro,
Akiskal e Vázquez (2006) chamam atenção justamente para a hipomania. Afirmam sua
importância na expansão dos critérios diagnósticos do TAB e na consequente identificação do
espectro bipolar. Apontam, inclusive, para a existência de um temperamento bipolar quando
tocam no conceito de hipomania:
O estado hipomaníaco é um ponto crítico para a definição das condições bipolares
do espectro que se encontram sob o umbral da mania. A maioria dos estudos sobre
hipomania derivam de pacientes nos quais se acham presentes traços ciclotímicos ou
hipomaníacos breves recorrentes. É neste ponto que o conceito de espectro bipolar
toma uma de suas matrizes mais interessantes (AKISKAL; VÁZQUEZ, 2006, p.
342, tradução nossa).
A hipomania, como um grau de mania leve, pode até mesmo passar despercebida na
vida do sujeito e ao exame clínico, sendo considerada também no nível de temperamento. Os
autores afirmam com relação ao estado hipomaníaco: “Estes estados podem manter-se durante
a vida dos indivíduos sem progredir para episódios afetivos maiores” (AKISKAL;
VÁZQUEZ, 2006, p. 342, tradução nossa).
Alcântara et al (2003) localiza que o aumento da prevalência do transtorno bipolar
seja consequência de uma mudança de abordagem dentro da própria psiquiatria e encontra na
noção de espectro tal mudança. Pontua que a introdução desta noção baseia-se na perspectiva
21
dimensional, a qual concebe a doença mental como uma disfunção única, expressando-se de
maneira variada, a depender da gravidade. A própria expressão spectrum, usada pelos
psiquiatras para definir uma disfunção única do transtorno, traduz a metáfora do fenômeno
físico da decomposição da luz que, ao passar por um prisma, assume cores diversificadas
(MATOS; MATOS; MATOS, 2005).
Nessa linha de pensamento, a antiga psicose maníaco-depressiva de Kraepelin se
colore, não podendo mais acontecer de forma categórica: “ou preto, ou branco”. Dessa forma,
considerando ou não a ideia do espectro, não se trata mais de saber se é ou não é, tendo em
vista que a facilidade de ser diagnosticado como bipolar hoje é maior do que na época de
Kraepelin, onde, categoricamente, ou se era psicótico maníaco-depressivo ou não se era. Esta
transformação na abordagem para definir o TAB, com efeito, faz com que a prevalência do
transtorno aumente de 1% para 5% da população geral. Além disso, verifica-se a
predominância da prescrição dos estabilizadores de humor em detrimento da prescrição de
antidepressivos, entre outros fármacos (ALCÂNTARA et al, 2003).
Atualmente, fala-se em temperamento bipolar para se referir ao sujeito que possui
um temperamento forte. Muito em breve, poucos escaparão de ser enquadrados como tendo
alguma forma de transtorno bipolar. No senso comum, o adjetivo “bipolar” parece “cair como
uma luva” na linguagem popular, servindo geralmente de adjetivo pessoal. De tão presente na
sociedade, em todos os anos, no dia 30 de março, o transtorno bipolar é lembrado
mundialmente, segundo a ABRATA. Sobre isso, Bogochvol (2014) salienta que o adjetivo
bipolar entrou na série dos significantes da moda e a sua vulgarização acaba forjando uma
concepção de homem sobre si mesmo, figurando como um modo privilegiado de nomear seu
mal-estar na civilização. Dito isto, outro questionamento aqui se impõe: estaríamos, portanto,
diante de uma sociedade de “sujeitos bipolares”?
É fato e não podemos esquecer que o advento desse sujeito, que adota o adjetivo
bipolar como uma das máscaras de seu mal-estar na contemporaneidade, é produto de uma
mudança na discursividade científica, referente ao modo de enxergar o homem e seu
sofrimento. Mas, que mudanças foram essas? O que aconteceu, no âmbito do saber
psiquiátrico, para que o sofrimento humano passasse a ser visto de modo tão objetivo,
baseado na lógica dos transtornos?
De início, faz-se necessário apontar que a modificação de paradigma no
entendimento das doenças mentais possibilitou certo enquadramento do sofrimento do sujeito,
caminhando na direção de excluir, cada vez mais, sua particularidade. Esta mudança no
entendimento da doença mental deve seu marco crucial à criação do DSM-III. O DSM-III, ao
22
partir de uma pretensão atéorica, operacional e pragmática, dominada pelo significante
transtorno (disorder), baseou-se especialmente na epidemiologia para a criação de categorias
diagnósticas. Na tentativa de objetivar e unificar ao máximo sua nosografia e se autoafirmar,
de maneira progressiva como uma disciplina essencialmente médica, o DSM-III suprimiu a
rica e heterogênea psicopatologia clássica (PEREIRA, 1996; PAOLIELLO, 2001; DUNKER;
KYRILLOS NETO, 2011a).
No compasso do DSM-III, sua quarta versão, o DSM-IV, marchou no sentido de dar
prosseguimento na exclusão de toda e qualquer a psicopatologia do manual. Dito de outra
forma, quando afirmamos que o DSM expurgou a psicopatologia, referimo-nos justamente às
diferentes teorias e métodos que a psiquiatria clássica edificou em torno da loucura, em suas
variadas manifestações.
Neste aspecto, considerando Pereira (2000), acreditamos que a psicopatologia é um
modo de produzir conhecimento sobre a loucura que não se fundamenta em um único
pressuposto, mas sim utiliza as mais variadas metodologias e epistemologias. Para o autor,
cada uma das disciplinas que se dedica ao registro psicopatológico lança um olhar específico
sobre seu objeto de estudo, o qual classifica como intuitivamente delimitado.
Assim sendo, embora fortemente marcada pelo saber psiquiátrico, a psicopatologia
caracteriza-se como um terreno responsável por descrever sistematicamente as formas clínicas
e os mecanismos patogênicos das doenças mentais. Nesse sentido, podemos encontrar várias
maneiras de se realizar uma incursão sobre o objeto psicopatológico e, realmente, é isso que
encontramos na história do desenvolvimento do saber psiquiátrico, a exemplo da
psicopatologia orgânica de Kraepelin, da psicopatologia existencial de Jaspers, da
psicopatologia psicodinâmica, entre outras. O modelo ateórico e operacional adotado a partir
do DMS-III, ao preço de uma suposta homogeneidade, acabou negligenciando toda essa
multiplicidade de produção de saberes em torno da loucura.
No que concerne à psicopatologia clássica, sua base estava focada na descrição
minuciosa da entidade mórbida, acompanhada de uma busca pela etiologia desta mesma
entidade (PEREIRA, 2000). O nascimento da psiquiatria como um campo médico específico
de saber, inaugurada por Pinel e Esquirol vem explicitar isso e, mesmo depois, Kraepelin deu
prosseguimento neste projeto. Sustentando-se em uma psiquiatria biológica, suas pesquisas
ainda estavam voltadas para a busca de um fator etiológico nas doenças mentais. Ao mesmo
tempo, preocupava-se em distinguir, apoiando-se nos dados clínicos, as diversas modalidades
da doença mental. Já os ditos neokraepelinianos, apesar de se dizerem seguidores da
psicopatologia de Kraepelin, não se preocupam mais com a etiologia da doença mental, mas
23
sim as abordam apenas descritivamente, por meio de dados meramente estatísticos. Isso com
uma finalidade: catalogar e proliferar categorias diagnósticas.
Deste modo, com a introdução de uma metodologia meramente descritiva, ateórica,
com caráter estritamente pragmático, o DSM-III e consequentemente o DSM-IV e V, acabou
massificando padrões de comportamento, deixando de lado não só a singularidade do sujeito
que sofre, mas também o fator etiológico e filosófico que, durante tanto tempo, caracterizou a
psiquiatria clássica, centrada especialmente na experiência clínica. Categorias como a
melancolia, a mania, a paranóia e a angústia que, antes eram estudadas à luz de uma
psicopatologia, foram ganhando outras roupagens, sob a égide dos transtornos e desordens
(PEREIRA, [2000]).
O DSM-III marca, para usar as palavras de Lacan (1968-1969/2008), a
homogeneização do saber no campo psiquiátrico, visando sua absolutização no mercado, pois
sabemos que, até a 2ª sua versão, alguma psicopatologia e a própria psiquiatria dita
psicodinâmica se fazia presente (DUNKER; KYRILLOS NETO, 2011b).
Entretanto, nesse contexto onde se vê o aumento de pessoas diagnosticadas com
transtorno bipolar interrogamos: e a psicanálise, como ela se posiciona frente esse fenômeno e
à presença de tantas categorias diagnósticas? Pois, o aumento de categorias diagnósticas e, em
especial, o aumento de sujeitos diagnosticados como bipolares exige de nós, psicanalistas, um
posicionamento firme, principalmente no sentido de resgatar a peculiaridade de cada sujeito
que surge em nossos consultórios.
Em primeiro lugar, cabe afirmar que a nosografia psicanalítica vai na contramão da
atual nosografia dos manuais psiquiátricos. Ao invés de se comprometer com uma abordagem
meramente descritiva, massificadora e ateórica, a psicanálise realiza seu diagnóstico de forma
estrutural, considerando a realidade psíquica de cada sujeito, sob transferência, a partir da fala
dirigida ao analista. Para a psicanálise, o importante é o que o sujeito tem a dizer sobre o
sintoma de que se queixa, independentemente se ele chega com um diagnóstico médico
determinado. Não importa se o sujeito já vem nomeado, isso para a psicanálise não entra em
questão, na medida em que é ele mesmo, com sua fala dirigida ao analista em transferência,
quem vai construir um saber sobre o seu sintoma, saber este que nos leva à Outra cena, a uma
realidade própria ao inconsciente. É por meio do discurso do sujeito que se pode identificar o
lugar que ele ocupa no campo do Outro, estruturado por uma linguagem e lógica própria.
Para Lacan, seguindo Freud, o sintoma reflete o mal-estar do sujeito ao entrar no
mundo da civilização, alienando-se ao discurso social compartilhado. Ao se submeter à
linguagem, o sujeito é lançado em um malogro, estando condenado a “ex-sistir”, porque uma
24
vez imerso neste universo, ele também se vê castrado em tudo dizer e representar, inclusive a
si mesmo. A entrada no universo da linguagem castra este sujeito, porque no momento em
que se torna falante, um falasser, ele deixa para trás a possibilidade de se obter uma satisfação
pulsional plena. Esta alienação à linguagem impõe uma falta ao sujeito que, a partir de então,
só poderá satisfazer-se parcialmente. Nesta perspectiva, entrar na linguagem implica em
perder gozo, separar-se de uma parte do seu corpo. Esta perda produz um resto, o objeto a,
objeto para sempre perdido, cujo acesso direto torna-se impossível: o sujeito só será capaz de
ter algum acesso a ele, indiretamente, pela via dos significantes e da pulsão, meio pelo qual
pode recuperar uma parcela de gozo perdido na castração.
É através da castração operada pela imersão na linguagem e separação do objeto que
o sujeito passa a ser desejante. Estruturado no campo do Outro da linguagem, o sujeito se
ampara em um modo particular de se obter satisfação com este objeto, ou seja, opera-se uma
modalidade de gozo própria deste sujeito. Sob transferência, pelo discurso do sujeito dirigido
ao analista, é possível identificar o lugar que ele ocupa no registro do Outro e, portanto, como
se estruturou sua posição fantasmática. A partir disso, realiza-se um diagnóstico estrutural
com a finalidade de dirigir o tratamento analítico. Em psicanálise, considerando o aporte
lacaniano assentado em Freud, fala-se somente em três tipos clínicos, a saber: neurose,
psicose e perversão.
No cenário atual, governado pelo discurso capitalista, convém nos debruçarmos e
pensarmos nos efeitos que este tem sobre o sujeito que chega a nossos consultórios, dado que
a psicanálise em intensão3 possui estreita relação com a psicanálise em extensão. Como se
falou anteriormente, o sujeito não está separado da dimensão do social e por isso
concordamos com Soler (2011, p. 57) quando afirma que a psicanálise “não se limita, como
normalmente se acredita, a ocupar-se dos indivíduos somente um a um”, ou seja, na intensão
mesma da psicanálise, mas também com o que acontece ao redor dela e sua conexão com a
dimensão estrutural do sujeito.
Com este fim, nossa proposta foi estudar o fenômeno da proliferação diagnóstica em
torno do Transtorno afetivo bipolar concebendo-o como um fato no campo do social que, por
assim dizer, acarreta impactos sobre o sujeito do desejo e nos laços que estabelece.
Trabalhamos com a tese de que a proliferação do transtorno bipolar pode ser concebida como
um paradigma do discurso capitalista. Discutimos como o significante bipolar, tomado do
3
Ressalta-se a grafia intensão ao invés de intenção, segundo consta no escrito lacaniano “Proposição de 9 de
outubro de 1967 sobre o psicanalista na Escola”, apontando para o sentido denotativo do termo que se refere ao
aumento de tensão, veemência.
25
discurso pseudocientífico, surge como uma das máscaras do sofrimento do sujeito na
sociedade e como a proliferação do referido transtorno mascara a cisão produzida entre o
sujeito ($) e o saber (S2) no discurso capitalista.
O discurso capitalista, ao se ancorar na paixão da ignorância do sujeito, tende a
oferecer objetos que ilusoriamente solucionarão seu mal-estar. Sobre o discurso capitalista,
pontua Pacheco Filho (2015, p. 37):
No avesso do discurso do analista, orientado pela experiência do impossível
(experiência do inconsciente e do núcleo do real), nosso sujeito mergulhado no
discurso capitalista é aquele que nada quer saber da experiência do impossível. Com
seu desejo governado-ordenado-causado pelos objetos/mercadorias- pelas latusas
cuja construção é viabilizada pela ciência- ele é aquele para quem não existe nem
real nem o inconsciente; aquele que ‘não quer saber disso’; aquele que constrói ao
redor disso a barreira de sua “paixão da ignorância: ‘um potente Napoleão’ que tapa
seus ouvidos e fecha os olhos’.
De fato, o discurso capitalista se aproveita da paixão da ignorância do sujeito de “não
querer saber nada disso” para ofertá-lo objetos-mercadorias, deixando-o cada vez mais
distante de se deparar com um saber furado do Outro, mas que, mesmo assim, diz mais sobre
ele do que um diagnóstico vindo do discurso do Manual. De posse disto, nosso problema de
pesquisa colocou-se da seguinte maneira: seria a proliferação do transtorno bipolar um
paradigma do discurso capitalista, uma vez aparecendo para mascarar a cisão entre o sujeito
($) e o saber (S2) produzida por esse discurso?
Em nossa pesquisa, é válido mencionar que tomaremos o DSM como um norteador,
um modelo, para pensar sobre uma modalidade discursiva que enquadra o laço social e que,
assim, representa um marco na história da psiquiatria. Sua primeira edição, em 1952,
coincidiu com a sexta edição da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) da
Organização Mundial de Saúde (1997), também muito usada hoje. No entanto, a escolha pelo
DSM é pela sua especificidade no campo da saúde mental e por entender que seu surgimento
não deixou simbolizar uma atitude da psiquiatria de autoafirmar no campo médico-científico.
De modo algum, não é nossa intenção restringir a psiquiatria ao DSM. Para além
dele, estamos cientes das particularidades de cada fazer psiquiátrico, inclusive, de muitas
críticas que os próprios psiquiatras fazem quanto ao DSM, particularmente à sua quinta
versão, o DSM-V. Allen Frances, psiquiatra que dirigiu durante anos a confecção do DSM, é
um grande exemplo. Em seu livro Saving Normal, na versão brasileira, intitulado Voltando ao
normal, Frances (2016) denuncia a medicalização da vida, relatando que milhões de sujeitos
sadios são prejudicados por diagnósticos equivocados, sendo submetidos a tratamentos
26
medicamentosos muitas vezes desnecessários, por manifestarem sintomas que, para ele, fazem
parte da experiência humana.
Além de Frances, é interessante mencionar a existência de um movimento de
psiquiatras compromissados em adotar uma postura teórica e filosófica para pensar a aspecto
do diagnóstico em psiquiatria e da patologia mental, tal como Tim Thorton (2007), que baseia
seus trabalhos na filosofia da psiquiatria, retomando especialmente a psicopatologia de
Jaspers. Outro personagem importante neste movimento de resistência à concepção ateórica
do DSM é o psiquiatra e filósofo da psiquiatria John Sadler. Na mesma direção que Thorton,
no livro Values and psychiatric diagnosis, Sadler (2005) fornece uma análise aprofundada dos
métodos de diagnóstico psiquiátrico, atentando para o fato de como a confecção dos
diagnósticos é influenciada por julgamentos de valor. Outro livro, escrito por Sadler e a
professora de filosofia Radden, publicado em 2010, denominado The Virtuous Psychiatrist,
parte da perspectiva que a prática médica deve ser norteada por considerações éticas que
transcendem as exigências impostas pela prática biomédica.
Da mesma maneira, reconhecemos a importância da medicação não só para os casos
em que se pode prevenir o suicídio, como também para deixar a vida do paciente mais
suportável. Na fase maníaca, sabemos da eficácia do Lítio, que ainda apresenta evidências
mais favoráveis na fase de manutenção. Outros medicamentos como o Valproato, a
Carbamazepina e os antipsicóticos atípicos, como a Olanzapina também mostram ser eficazes
na estabilização do humor (MORENO; MORENO; RATZKE, 2005).
Sem a evolução científica medicamentosa, de fato, esses pacientes teriam uma
qualidade de vida pior. Muitos deles, aliás, só conseguem se submeter ao tratamento
psicanalítico depois que começam a ingerir essas medicações. Nossa crítica gira em torno da
banalização diagnóstica e respectivamente medicamentosa, a qual acreditamos ser produto de
um discurso que supervaloriza o patológico, na medida em que expande as categorias. Isso
traz como resultado um aumento de pessoas diagnosticadas com o transtorno e,
consequentemente, induz um consumo maior de medicamentos e, de carona, uma alienação
do sujeito.
Acreditamos que o DSM, se não usado com o devido cuidado, produz um tipo de
laço hegemônico, que tende a massificações e generalizações. Certamente, sabemos que o
DSM é um manual e por isso não podemos esperar dele grandes teorizações psicopatológicas,
até porque, seus organizadores deixam claro que esse não foi seu objetivo. Porém, o perigoso
é o que se faz com ele e a serviço de quê se presta, mais especificamente, a que discurso ele é
servo.
27
Elegemos o DSM por pensar que ele pode ser concebido como um modelo de
apropriação do discurso universitário pelo capital. O DSM figura, desse modo, como um
discurso diferente com o qual Freud e Lacan puderam dialogar em suas épocas, como a
psiquiatria de Kraepelin e de Clérambault, respectivamente. Ao se apoiar na neurobiologia e
na estatística, o diagnóstico psiquiátrico passa a estar orientado pelos efeitos dos
psicofármacos. Nesta acepção, o conhecimento produzido pelas pesquisas se torna submetido
ao capital, e não vice-versa. Agenciado pelo discurso capitalista, o DSM excluiu até mesmo o
antagonismo, existente dentro da psiquiatria, entre as correntes baseadas na organogênese e na
psicogênese. O desaparecimento desse dualismo deveu-se a retomada (ou não seria melhor
dizer, pseudoretomada!) dos princípios de Kraepelin pelos denominados neokraepelinianos,
com a publicação do DSM-III. Acontece que a pretendida retomada acabou subtraindo até
mesmo as próprias ideias de seu mestre. Nesse sentido, nossa crítica reside no que se faz com
o DSM o lugar que ele ocupa dentro do discurso capitalista.
Cada psiquiatra deveria, além de consultar o DSM, ter sua teoria de base. Vimos que
não podemos generalizar, uma vez que estamos cientes das particularidades de cada fazer
psiquiátrico. Contudo, considerando os dados alarmantes e o fenômeno da “epidemia dos
transtornos”, observamos que existe algo que se refere a um discurso totalitário que tem
consequências para o sujeito. É nesse ponto que se dirige nossa investigação.
No que diz respeito ao método, nossa pesquisa se insere no campo psicanalítico
lacaniano e, assim, freudiano, pois foi como um leitor de Freud que Lacan se apresentou.
Afirma Mariguela (2006) que Lacan, nesse aspecto, sempre fora categórico, mostrando-se
como aquele determinado pela obra freudiana. “O retorno a Freud, definido por Lacan como
seu estandarte no movimento psicanalítico francês” (MARIGUELA, 2006, p. 203), ilustra
bem a posição de Lacan com relação a Freud. De acordo com Politzer, Freud e a psicanálise
promoveram não só uma ruptura com a psicologia clássica, mas também um descentramento
da subjetividade (BIRMAN, 2003). Por esse motivo, Politzer considerou Freud um
instaurador de uma discursividade (MARIGUELA, 2006).
Por outro lado, Freud foi influenciado e se viu, no seu tempo, a ter que preencher os
requisitos de uma ciência ideal, esta que foi pautada em certa representação “do que deve ser a
ciência”, como nos acentua Milner (1996, p. 30, grifo do autor). Freud procurou enquadrar
seu ideal de ciência à ciência considerada ideal, exigindo para a psicanálise “o status de
Naturwissenschaft, equivalente ao das ciências hard” (FIGUEIREDO; VIEIRA, 2002, p. 1516, grifo dos autores).
28
Segundo Milner (1996, p. 30), a existência de uma teoria da ciência em Freud
consiste no que ele chama de cientificismo, visto que buscou enquadrar a psicanálise aos
moldes da ciência ideal, como afirma: “Freud a ele se entrega, retomando a fisiologia da
ciência ideal de outros, a seus olhos mais qualificados que ele próprio. Citemos aqui
Helmholtz, Mach e Boltzmann, para nos atermos aos maiores”. Para Freud, a física era
concebida como um modelo da ciência ideal, de tal maneira que foi, decerto, orientado por ela
no caminho de constituição da psicanálise. Isso, por outro lado, não impossibilitou Freud de
provocar uma subversão no campo científico de sua época. Com efeito, apesar das influências
que sofreu no início de seu percurso, Freud sustentou e se posicionou sobre o que ele queria
que fosse a sua psicanálise.
Lacan, assentado em Freud, posicionou a psicanálise em um lugar onde esta não
precisa, necessariamente, aderir à ciência ideal para operar, mesmo sabendo que a pesquisa e
o tratamento psicanalítico precisem de certos critérios advindos de um ideal de ciência. Lacan
não acreditava que a psicanálise deveria se encaixar em uma ciência ideal. Para ele, embora o
nascimento da ciência moderna com Galileu e Descartes tenha sido fundamental para a
emergência da psicanálise, esta não se restringe a ela e, assim, não é tomada como uma
ciência ideal.
A ciência, portanto, não se coloca como exterior à psicanálise, mas sim se “estrutura
de maneira interna a própria matéria de seu objeto” (MILNER, 1996, p. 31). Por esse viés,
não é possível falar em uma ciência ideal para a psicanálise, pois ela encontra em si mesma
“os fundamentos de seus princípios e métodos” (MILNER, 1996, p. 31). Por esta razão, o
autor sugere que ao invés de nos questionarmos se a psicanálise se enquadra ou não na
categoria de uma ciência, seria melhor nos interrogarmos: “O que é uma ciência que inclui a
psicanálise?” (MILNER, /1996, p. 31). Ora, a ciência que inclui a psicanálise, segundo Lacan
(1966/1998), é aquela que inclui o sujeito do desejo e do inconsciente no seu campo, pois para
ele não existe ciência do homem, mas apenas seu sujeito. Daí Lacan afirmar que o sujeito
sobre o qual opera a psicanálise é correlato ao sujeito da ciência. Trata-se do sujeito excluído
da ciência moderna, daquilo que ficou de fora do pensamento consciente sem qualidades, a
saber: os chistes, os sonhos, os sintomas, o irreal, as ilusões, ou seja, tudo aquilo que do
sujeito não comportava o âmago da razão cartesiana.
Galileu, com a física matematizada, fundou a ciência moderna no instante em que
rompeu com o pensamento dominante teológico e escolástico do mundo medieval. Descartes,
na mesma direção, instituiu no terreno da filosofia a fórmula da subjetividade: “Penso, logo
existo”. Foi somente por meio desse axioma cartesiano é que se deu o surgimento da
29
psicanálise. Ela nasce com Freud do que foi excluído do pensamento racional. Logo é
possível dizer que a psicanálise, além de moderna, só aparece no momento deste corte
imposto pela ciência de seu tempo. Daí Lacan (1964/1998a) dizer que o sujeito freudiano é,
de fato, o sujeito cartesiano, sendo este o motivo pelo qual a psicanálise se posiciona em um
lugar de exclusão interna à ciência dita ideal. Sobre esse aspecto, afirmam Alberti e Elia
(2008, p. 787, grifo dos autores):
Descartes distinguiu um mundo em que as coisas existem através de sua
representação conceitual, deixando de fora outro mundo, onde as coisas não são
conceituadas. Era, então, a criação de um novo discurso: o da ciência [...] O cogito
cartesiano inaugura uma cisão do objeto da ciência e, por conseguinte, no discurso:
de um lado, o objeto real – por exemplo, a estrela do céu -, de outro o objeto
constituído enquanto conceito, ou seja, a simbolização do objeto, a estrela formulada
no papel do astrônomo fazendo-a existir no cálculo científico, substituindo
metaforicamente aquela do céu. O Cogito ergo sum é, fundamentalmente, a
possibilidade de dar existência ao objeto do pensamento, distinto da imagem que
todos temos dele e distinto do real.
Descartes, ao preconizar que o campo da ciência é aquele que só pode prescindir das
representações simbólicas, abriu espaço para a psicanálise poder operar da mesma maneira.
Quando elabora sua teoria dos sonhos e das psiconeuroses, por exemplo, Freud alude às
representações simbólicas do que era aparentemente contraditório nos sintomas. Mas, por
outro lado, também se deparou com o impossível de simbolizar plenamente: as pulsões.
Lacan, posteriormente, em sua releitura à Freud, avançou no sentido de incluir não só o
conceito de estrutura no discurso psicanalítico, como também a noção de objeto a e do gozo.
Isso significa que além de conceber o sujeito como efeito da linguagem e da combinação
significante, Lacan operou na direção de dar vazão ao que era irredutível ao simbólico,
incluindo-o na dimensão estrutural desse sujeito. Em outras palavras, o sujeito não se reduz à
condição significante, pois existe algo nele que não cessa de não se inscrever: o real. Neste
ponto é que a psicanálise faz sua exclusão interna da ciência, porque ela, nos diz Lacan
(1966/1998), nada quer saber da castração e, neste sentido, não intenta em se ocupar do
impossível de conceituar, a não ser na esperança que um dia conseguirá fazê-lo. Com efeito,
“a psicanálise se distingue da ciência na medida em que não se restringe a estudar o pensável,
o dizível e o conceituável, ela também se ocupa do impensável, do indizível e do impossível
de conceituar” (ALBERTI; ELIA, 2008, p. 790).
Destarte, ancorados nessas bases metodológicas é que iremos pautar nossa pesquisa,
dirigindo-nos ao que é de universal na psicanálise com Lacan: ao discurso do Outro onde o
30
sujeito está submetido (em nosso caso o discurso capitalista), e aos efeitos que ele tem sobre o
sujeito do desejo, este determinado por um objeto que o causa a recuperar gozo: o objeto a.
Uma vez nossa pesquisa inserida no terreno psicanalítico lacaniano, e com o objetivo
de discutir o problema proposto, esta tese seguiu o seguinte caminho metodológico: no
capítulo 1, intitulado A concepção clássica da loucura e o surgimento da psiquiatria,
buscamos fazer uma trajetória acerca da consciência da loucura, desde à Grécia Antiga até o
nascimento da psiquiatria como um campo específico de saber da medicina, procurando
delinear as mudanças discursivas em torno da loucura, especialmente as concepções da mania
e melancolia, ao longo da história no Ocidente. Apresentamos, fundamentando-se
especialmente no filósofo francês Michel Foucault (1961[1972]/2014) e sua obra História da
loucura na Idade Clássica as diferentes concepções de loucura no decorrer da história, com
vistas a compreender o próprio surgimento da psiquiatria moderna. Com Foucault,
procuramos entender o autor e seu movimento que Haddock-Lobo (2008) chama de
“inversão”, posto que o filósofo buscou empreender uma história do saber psiquiátrico às
avessas. Como um arqueólogo, ele buscou escavar suas diferentes mutações no discurso,
desde a Idade Média e o Renascimento até à modernidade com Pinel e a instituição do
Tratamento Moral.
Partimos do pressuposto conforme o qual o discurso psiquiátrico moderno foi fruto
de um movimento histórico e descontínuo. Localizamos que tal descontinuidade se deu a
partir de Descartes, que veio aprofundar o pensamento de Galileu. Segundo Milner (1996),
Descartes reforçou a ideia de que os objetos do conhecimento deveriam ser despidos de
qualidades sensíveis, por meio do empirismo e da matematização. O Cogito cartesiano
evidencia o pensamento moderno científico, norteado pela matematização da razão, que passa
a ser transmutada em fórmulas, letras e números. Ao tecer os princípios baseados em um
pensamento sem qualidades, Descartes anuncia “uma revolução intelectual, cuja consequência
toma a forma de revolução científica” (SANTOS; LOPES, 2013, p. 45). Esta revolução tem
efeitos no modo como a loucura será concebida a partir de então, pois esta se torna excluída
do campo da experiência sensível do sujeito, sendo apropriada ao campo da razão moderna.
De Foucault e História da Loucura chegamos aos primórdios da psiquiatria com
Pinel, Esquirol e Griesinger e, depois aos fundamentos da nosologia clássica com J. P. Falret,
Kahlbaum, Guislain, Baillarger, como propõe Bercherie (1985/1989) em Fundamentos da
Clínica: história e estrutura do saber psiquiátrico. Neste capítulo, fizemos um recorte sobre
as influências em torno do desenvolvimento da categoria psicose maníaco-depressiva,
proposta por Kraepelin.
31
No capítulo 2: Da psicose maníaco-depressiva ao transtorno bipolar, prosseguimos
no terreno do empreendimento psiquiátrico até então constituído, destacando as elaborações
psicopatológicas do psiquiatra alemão Emil Kraepelin, enfatizando o famoso conceito da
psicose maníaco-depressiva, formulado por ele na sexta edição de seu Tratado. Depois,
abordamos como o desenvolvimento do saber psiquiátrico seguiu depois de Kraepelin e a
pretensa retomada de seus conceitos, especialmente a partir do DSM-III, cujo
empreendimento se deu por um grupo de psiquiatrias americanos, denominados
neokraepelinianos. Este grupo, com a instauração do DSM-III agenciou uma mudança
discursiva no território psiquiátrico, que então passou a ser dominado pelo significante
transtorno (disorder). Caminhamos no sentido de entender como se deu essa mutação
discursiva em relação à categoria psicose maníaco-depressiva, destacada por Kraepelin.
Apresentamos como a questão do transtorno bipolar passou a abarcar todo um conjunto de
classes, incluindo aí a referida categoria kraepeliniana.
Ainda no segundo capítulo, realizamos uma incursão no projeto Spectrum dentro da
psiquiatria, elucidando a razão diagnóstica que sustenta não só a questão do espectro em
psiquiatria, bem como os atuais manuais diagnósticos. Em seguida, visitamos a obra de
Georges Canguilhem (2009) O normal e o patológico para discutir sobre o aspecto normativo
em voga na razão diagnóstica dos referidos manuais psiquiátricos atuais. Propomos uma
reflexão que gira em torno da existência de uma ideologia científica que sustenta esta razão
diagnóstica ateórica e pragmática da psiquiatria. Esta, uma vez ancorada em um projeto
político, forja a instauração de uma relação de poder, que tem como resultado a
supervalorização do patológico.
No capítulo 3: O diagnóstico em psicanálise e o seu sujeito, adentramos no campo
psicanalítico para demonstrar, primeiramente, como se configura o diagnóstico em psicanálise
e como ela concebe os fenômenos maníacos e melancólicos. Chamamos atenção para o
diagnóstico estrutural psicanalítico, desenvolvido particularmente por Lacan a partir de Freud.
Ao dizer que o diagnóstico em psicanálise é estrutural, não falamos em categorias
diagnósticas restritas à dimensão descritiva fenomenológica, mas sim, além disso, aludimos a
uma estrutura de linguagem e os “diferentes efeitos de sujeito que, numa primeira abordagem,
caracterizam o que Freud aponta como a ‘escolha’ seja da neurose, psicose ou perversão”
(FIGUEIREDO; MACHADO, 2000, p. 79). Apresentamos como se dá cada estrutura desta,
mas não sem antes mostrar o conceito de sujeito para psicanálise, sua relação com a ciência e
o objeto causa: o objeto a. Só assim é que, posteriormente, foi possível tecer considerações
sobre o que Freud e Lacan construíram acerca da mania e melancolia. Considerando o
32
diagnóstico estrutural em psicanálise, compreendemos a melancolia e seu pólo oposto, a
mania, dentro do tipo clínico da psicose, tal como Freud e depois Lacan a entenderam.
A fim de compreender o aparelhamento de gozo no discurso capitalista, fez-se
necessária uma discussão em torno da teoria lacaniana dos discursos. Por esta razão, no
último e quarto capítulo: O sujeito no laço social: a psicanálise e os discursos, realizamos um
percurso pelo Seminário 16: De um Outro ao outro (1968-1969/2008) e pelo Seminário 17: o
avesso da Psicanálise (1969/1992). Lacan, assim como fez Freud (1930/1996) em O malestar na civilização, procurou teorizar como a psicanálise poderia conceber o sujeito no laço
social. Ao propor sua teoria dos discursos, Lacan pôde afirmar que os laços sociais, ao serem
tecidos por uma estrutura de linguagem, sustentam-se em uma impossibilidade por sempre
deixar como resto uma renúncia de gozo. Os atos de governar, educar analisar e o fazer
desejar foram expressos por ele, respectivamente, através do discurso do mestre, da
universidade, do analista e da histérica. Essas quatro formas de estabelecimento de laço
social, indicam o impossível da relação sexual e o enquadramento da pulsão, visto que
promovem uma perda real de gozo.
Depois desse percurso, foi possível discutir em torno do problema de nossa pesquisa,
mostrando as formulações de Lacan acerca do discurso capitalista que, como corruptela do
discurso do mestre, faz semblante de que tudo é possível. Neste discurso, ocorre a inversão do
significante mestre que, ao ocupar o lugar da verdade, denuncia “uma verdade sem falha,
portanto totalitária” (FINGERMANN, 2005, p. 78). O sujeito, neste contexto, reduz-se à
posição de puro consumidor dos objetos de consumo oferecidos pela ciência. Em outras
palavras, o sujeito é reduzido ao seu gozo. Nessa perspectiva, sua satisfação pulsional fica à
deriva, pronta para se ligar a um objeto que ilusoriamente vai tamponar sua falta, na tentativa
de forjar uma relação sexual. Elucidamos como este aparelhamento de gozo se articula com a
proliferação do transtorno bipolar.
Além da obra de Lacan, elegemos como apoio o livro de Pierre Bruno (2011), em sua
versão espanhola Lacan, pasador de Marx, principalmente para compreender o aspecto que
toca ao Romance explorado por ele O estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de Robert
Louis Steveson, originalmente publicado em 1886. Tomamos este romance e a apropriação
que Bruno (2011) faz dele para discutir a questão da cisão entre o sujeito ($) e o saber (S2),
produzida pelo discurso capitalista, nossa tese em questão.
33
2 A CONCEPÇÃO CLÁSSICA DA LOUCURA E O SURGIMENTO DA
PSIQUIATRIA
Foi com o psiquiatra alemão Emil Kraepelin que a entidade clínica denominada
psicose maníaco-depressiva teve seu nascedouro, fornecendo algumas bases para a
configuração do Transtorno bipolar na contemporaneidade. Todavia, é necessário mencionar
que as contribuições de Kraepelin se devem a um caráter histórico e, por sua vez, carregam
raízes oriundas desde a antiguidade com Hipócrates e Areteu da Capadócia, passando por
figuras importantes no período que Bercherie (1985/1989) considera como a primeira
psiquiatria clínica com destaque para Pinel, Esquirol, Griesinger.
Depois dessa importante tríade que ajudou a psiquiatria a se constituir como um
campo específico de saber da medicina, apareceram outras figuras essenciais que não só
delimitaram lugares importantes na história da psiquiatria clássica, mas, especialmente,
impulsionaram, direta ou indiretamente, o desenvolvimento da categoria psicose maníacodepressiva, proposta por Kraepelin. Falamos especialmente dos psiquiatras Jean-Pierre Falret,
Baillarger, Guislain e Karl L. Kahlbaum. Todos, cada um a sua maneira, elaboraram
teorizações sobre o objeto psicopatológico, a loucura, em seus diferentes modos de
manifestação e, com isso, deixaram sua marca na história do saber psiquiátrico.
Acreditamos que retomar o surgimento da psiquiatria e o desenvolvimento deste
campo de saber é algo fundamental para o desenvolvimento de nossa pesquisa. A rica e
heterogênea psiquiatria clássica, esquecida e negligenciada em prol de uma pretensa
homogeneidade nosográfica dos manuais de psiquiatria, merece ser destacada, especialmente
porque foi com ela que Freud dialogou para construir sua teoria, trazendo à tona,
paralelamente à psicose maníaco-depressiva empreendida por Kraepelin, outra maneira de
pensar a loucura, por meio de suas elaborações em torno da melancolia (QUINET, 2006).
Segundo Bercherie (1985/1989, p. 23), o desenvolvimento do saber psiquiátrico não
ocorreu de maneira homogênea, pois a clínica não caminhou em um movimento “igual e
unificado”, sendo estimulado por disputas entre escolas. Tais disputas foram tecidas
principalmente no espaço franco-alemão, “tendo as duas grandes escolas estado em
comunicação e em oposição constantes” (BERCHERIE, 1985/1989, p. 23). Pode-se dizer,
entretanto, que foi justamente essa heterogeneidade de saber sobre o objeto psicopatológico
que trouxe para a psiquiatria uma quantidade rica de produções psicopatológicas, as quais
permitiram o progresso da disciplina psiquiátrica, tal como afirma Pereira (1996, p. 50-51):
“[...] Não se pode esquecer que a própria possibilidade de progresso de uma disciplina
34
científica depende de sua capacidade de construir, teórica e formalmente, seu objeto e
métodos próprios”.
Sabemos que a psiquiatria nasceu com o psiquiatra francês Philippe Pinel, no
entanto, ela caminhou construindo seu edifício de modo não linear, sendo marcada por
rupturas e transformações, onde novos conceitos e métodos foram surgindo e se expandindo.
Nesse movimento, a disciplina psiquiátrica convivia com uma pluralidade de métodos
psicopatológicos. Não existia, portanto, a necessidade de uma linguagem comum como hoje
observamos, através dos Manuais psiquiátricos, particularmente desde a terceira edição do
Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, (o DSM-III).
Considerando a relevância de resgatar esta diversidade de teorizações sobre a
loucura, revisitaremos as considerações dos psiquiatras da época clássica supracitados, os
quais elegemos por pensarmos que, de alguma forma, obtiveram sucesso em produzir um
saber não apenas em torno da mania e a melancolia, mas também, em relação aos métodos
que utilizaram e introduziram na delimitação do objeto psicopatológico, influenciando
Kraepelin na constituição da entidade psicose maníaco-depressiva. Não é nosso objetivo,
portanto, tentar empreender uma totalização da história do saber psiquiátrico. Isso seria uma
tarefa infértil. Procuraremos fazer um recorte na história do campo do saber psiquiátrico,
priorizando o que nos interessa: as teorizações acerca da mania, da melancolia e dos
psiquiatras que influenciaram o aparecimento da categoria psicose maníaco-depressiva. Neste
aspecto, concordamos com Lantéri-Laura4 (1989, p. 15) quando afirma:
[...] não existe uma história da psiquiatria, tomada no sentido de uma obra global
que preste contas em seu passado e seu presente, em sua presumida totalidade. Só é
possível produzir obras parciais, que esclarecem um certo número de aspectos e que
podem se completar, sem jamais realizar um saber inteiro e absoluto.
Por outro lado, tentar compreender a história da psiquiatria e suas respectivas
formulações sem levar em consideração a própria história da loucura é um contrassenso, na
medida em que a práxis psiquiátrica revela-se herdeira de discursos e práticas anteriores ao
seu nascimento como um campo específico de saber. Por esta razão, é imperativo recorrermos
à obra angular de Michel Foucault intitulada A História da Loucura na Idade Clássica.
Nesta obra inicialmente publicada em 1961, Foucault (1961[1972]/2014) apresenta a
transfiguração histórica da loucura em doença mental. Propondo uma arqueologia da loucura
no Ocidente, desde a Idade Média, passando pela Renascença até a modernidade, poderemos
4
Como consta no Prefácio do Livro de Paul Bercherie (1985/1989).
35
entender como o que pôde se constituir como os primórdios da psiquiatria no século XIX
encontra sua fundamentação no desenvolvimento histórico e descontínuo da consciência da
loucura. De acordo com Amarante (1995, p. 23), esta obra de Foucault representa um marco
nas histórias tanto da psiquiatria quanto da loucura, afirmando que através dela é possível
observar uma passagem de uma visão trágica para uma visão crítica da loucura, a qual
desemborca na própria inauguração da ciência psiquiátrica:
Acompanhamos, assim, a passagem de uma visão trágica da loucura para uma visão
crítica. A primeira permite que a loucura, inscrita no universo da diferença
simbólica, se permita um lugar social reconhecido no universo da verdade, ao passo
que a visão crítica organiza um lugar de encarceramento, morte e exclusão para o
louco. Tal movimento é marcado pela constituição da medicina mental. Tal
passagem tem no dispositivo de medicalização e terapeutização a marca histórica de
constituição da prática médica psiquiátrica.
O breve percurso na obra de Foucault nos permitirá, desde já, afirmar que as formas
de mal-estar hoje apresentadas na contemporaneidade ganham apenas outra roupagem, no
plano de certa racionalidade científica. A proliferação de diagnósticos e o afrouxamento dos
critérios no estabelecimento de categorias psicopatológicas tendem a negligenciar isso que
Foucault (1961[1972]/2014) chamou de dimensão trágica da loucura, onde o louco era capaz
portar um saber sobre a sua experiência. A transformação da loucura em patologia mental,
oportunizada pelo aparecimento de uma visão crítica e cartesiana da loucura, expropriou o
louco de todo e qualquer saber, tornando assim um objeto da percepção humana. Nessa
direção, citamos Birman (2001, p. 25):
A psiquiatria deu à concepção crítica da loucura formas discursivas em que o saber
do louco sobre sua experiência está ausente. Em outras palavras, a concepção
trágica da loucura constituída na Antiguidade e ainda existente no Renascimento,
na qual existe um saber sobre a subjetividade e sobre o mundo produzido pelos
loucos, foi esvaziada pelo projeto psiquiátrico contemporâneo e restringida seja pela
produção literária, poética e dramatúrgica, seja às dimensões pictórica e filosófica.
Veremos que, a partir de Descartes, a loucura a ser concebida como desrazão,
trazendo ao mesmo tempo uma negatividade (a loucura como ausência de obra) e uma
positividade, quando se torna objeto de investigação, apropriada pelo campo da razão e
submetida ao olhar daquele que observa (FOUCAULT, 1961[1972]/2014). Isso não significa
dizer que o surgimento da psiquiatria não foi importante, pelo contrário, partimos do
pressuposto que ela trouxe efeitos tanto positivos, no momento em que, pela sua diversidade
pesquisa psicopatológica, construiu teorias e terapêuticas capazes de aliviar o sofrimento
36
humano, quanto negativos, quando passou a conceber o louco como expropriado de sua
experiência de ser louco.
Acreditamos que, desde a ocorrência da psiquiatria moderna (e particularmente com
o surgimento do DSM-III), ocorre um movimento progressivo de uma expropriação de saber
do sujeito que sofre, excluindo cada vez mais, o que Foucault chamou de concepção trágica
da loucura e o que Freud apontou como a existência do sintoma em seu aspecto sintomal:
aquele portador de uma verdade que, por si só, aponta para uma falha no saber. Antes de
começar nossa incursão na referida obra de Foucault, faremos uma rápida apresentação da
noção de loucura na Grécia Antiga, ressaltando a mania e a melancolia.
2.1 A mania e a melancolia na Grécia Antiga
O conceito moderno da psicose maníaco-depressiva e, depois, do que veio a se
constituir como o Transtorno Afetivo Bipolar, tem sua origem ainda na Grécia antiga com
Areteu da Capadócia (em torno de 150 d.C), a quem se atribui ter sido o primeiro a falar da
mania, vinculada à melancolia. Assim, afirmou em seu livro intitulado A etiologia e a
sintomatologia das doenças crônicas: “[...] Parece-me que a melancolia é o começo e parte da
mania [...] o desenvolvimento de um estado maníaco é mais um aumento da doença
(melancolia) do que a mudança para um outro estado” (ROCCATAGLIATA, 1973 apud
WANG, 2008, p. 32).
No entanto, Pereira (2002) ressalta que antes de Areteu os termos “mania” e
melancolia já faziam parte da nosologia grega. Hipócrates (século IV a. C) descrevia a
melancolia, definindo-a “como um estado de tristeza e medo de longa duração” (SCLIAR,
2003, p. 68). Ela encontrava seu fundamento na teoria dos humores, sendo um resultado de
um desequilíbrio entre os quatro humores (o sangue, a bílis amarela, a bílis negra e a linfa),
oriundos e presentes, respectivamente, no fígado, baço, cérebro e coração. O equilíbrio entre
os humores proporcionava bem-estar, enquanto que seu desequilíbrio levaria à doença. Eram
os quatro humores os responsáveis por regular as emoções e, portanto, todo o caráter. O que
caracterizava os doentes era a dominância de um dos humores, podendo ser
predominantemente colérico, fleugmático, sanguíneo ou melancólico. A melancolia era,
assim, uma ação desmedida da bílis negra e causava os seguintes sintomas: “afetividade
sombria, insônia, irritabilidade derivada de uma combinação de um temperamento
melancólico” (PEREIRA, 2002, p. 125).
37
Segundo Teixeira (2005, p. 44), o surgimento da expressão “melancolia” foi efeito da
teoria da bílis negra, a qual deriva do grego melas (negro) e Kholé (bile), “que corresponde a
transliteração latina melaina-kole”. Aristóteles também se referiu à melancolia a fim de tecer
uma relação entre ela, à genialidade e a loucura. Atribuiu o termo “exceção” à condição
melancólica em seu célebre texto intitulado O problema XXX para se referir a posição do
melancólico diante de seus semelhantes.
Para Aristóteles, assim como para Hipócrates, a excepcionalidade do melancólico era
um resultado do excesso da bílis negra, “responsável pela predominância dos ventos sobre
outros elementos que compõe o corpo” (KEHL, 2009, p. 63, grifo do autor). Seriam eles os
motivadores da inconstância da melancolia, ou seja, da predisposição ao furor, ligada à
rapidez do pensamento e criatividade. Por este motivo, Aristóteles destacou a condição de
genialidade do melancólico.
Dotado de capacidades distintas, o melancólico era propenso não só à filosofia e às
artes, como também a grandes trabalhos intelectuais. A melancolia criava homens tristes e
excepcionais por natureza. Entretanto, afirma Kehl (2009, p. 63): “nem todo homem tomado
pela bile negra é melancólico, assim como nem todo melancólico deve ser considerado um
doente”. A instabilidade do caráter do melancólico e a disposição de “tornar-se outro”
(KEHL, 2009, p. 63) que o habilitava às artes, fazia dele um ser volúvel que oscilava
perigosamente entre o gênio e a loucura, o que refletia dois estados que variavam não em
qualidade, mas em grau. Já a mania era também referida aos artistas, chamada por Platão
(428-348) como a “fúria divina dos poetas”, designando loucura ou demência, insensatez,
força ou élan inspirador (PEREIRA, 1969 apud WANG, 2008).
O tratamento para a melancolia tinha como objetivo livrar o corpo do paciente do
excesso humoral da bile negra e consistia no “método expectante”, onde:
O médico deve abster-se ao máximo de qualquer intervenção que venha a perturbar
o ciclo da natural doença. Quando o organismo tiver desenrolado sua reação,
sobrevirá a crise por meio da qual a doença chegará ao fim, através da eliminação da
matéria morbífica (BERCHERIE, 1985/1989, p. 45).
Todavia, cabia ao médico uma função no decorrer do ciclo mórbido: acompanhar o
doente, podendo oferecer medicamentos com o intuito de ajudar o organismo a eliminar o
agente patógeno, entre eles destacavam-se: as ervas com propriedade purgativas e eméticas,
os antiespasmódicos, os banhos frios ou mornos, as sangrias e as dietas alimentares. Na Idade
38
Média, veremos que a loucura será atribuída às “trevas”. A partir de então, o louco não será
mais excepcional, mas sim um marginal.
2.2 A loucura na Idade Média e na Renascença
De acordo com Foucault (1961[1972]/2014), a loucura na Idade média passa a
ocupar o lugar da lepra, tornando-se assim marginalizada no cenário social. A lepra deveria
ser erradicada, de modo que desaparecesse por completo da civilização Ocidental. Com
relação à lepra, o autor afirma que desde o início da Idade média até as Cruzadas, esta
representou o grande mal da civilização, sendo alvo de segregação e medo até mesmo depois
que ela se retira e praticamente desaparece do ambiente ocidental. Fato, aliás, ocorrido de
maneira estranha e curiosa, como ressalta: “Estranho desaparecimento, que sem dúvida não
foi o efeito, longamente procurado, de obscuras práticas médicas, mas sim o resultado
espontâneo da segregação e a consequência, também, após o fim das Cruzadas, da ruptura
com os focos orientais de infecção” (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 6).
Nota-se, desse modo, os dois fatores responsáveis pela diminuição da lepra na
Europa ocidental: 1) a erradicação da doença com a retirada e segregação dos leprosários,
medidas que vieram a evitar seu contágio e 2) a ruptura com o Oriente, fazendo com que a
enfermidade não se espalhasse de modo tão vertiginoso. Entretanto, embora a lepra
diminuísse drasticamente seu acometimento na atmosfera Ocidental Européia, outros
elementos vieram a ocupar o espaço deixado por ela, entre os quais estavam os pobres, os
vagabundos, os presidiários bem como as “cabeças alienadas” que:
[...] assumirão o papel abandonado pelo lazarento, e veremos que a salvação se
espera dessa exclusão, para eles e aqueles que os excluem. Com um sentido
inteiramente novo, e numa cultura bem diferente, as formas subsistirão –
essencialmente essa forma maior de uma partilha rigorosa que é a exclusão social,
mas reintegração espiritual (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 6-7).
As “cabeças alienadas” e as outras figuras segregadas socialmente, uma vez
ocupando o lugar dos leprosos, estariam nesta condição pelos desígnios de Deus, como forma
de punição divina. No entanto, antes, outra doença veio a ocupar o lugar da lepra ao final do
século XV: a doença venérea, “como por direito por herança”, assinala Foucault
(1961[1972]/2014, p. 7). Todavia, a doença venérea ocupou o lugar da lepra por pouco tempo,
pois logo se posicionaram ao lado de outras doenças, sendo, automaticamente, recebida nos
hospitais e, diferentemente da lepra, tornou-se um assunto a ser tratado por médicos.
39
Por esta razão, a doença venérea agregou-se no século XVI ao grupo de doenças que
precisavam receber tratamento médico, não sem estar acompanhada de um conjunto de juízos
morais. Neste sentido, Foucault nos diz que o verdadeiro legado deixado pela lepra foi a
loucura, a qual o saber médico se apropriaria de fato posteriormente, pois, em um momento
anterior, ela esteve vinculada às experiências do renascimento, período este marcado por
profundas transformações socioculturais, econômicas, políticas, religiosas e, especialmente,
artísticas, científicas e filosóficas.
A propósito do Renascimento, cabe mencionar com Foucault a representação da
loucura através do que ele considera o cenário imaginário da Renascença: A Nau dos Loucos.
Na ficção européia do século XVI, a Nau dos Loucos servia para transportar os insanos em
uma viagem por um estranho barco ao longo dos rios da Renânia e dos canais flamengos.
Tal composição literária de fato se presentificou concretamente, na medida em que se
fez presente neste período na sociedade européia, com o intuito de carregar os insanos de uma
cidade para outra, sem paradeiro. Era certo que nenhuma cidade queria sujar suas ruas
recebendo os insanos: “Os loucos tinham então uma existência facilmente errante. As cidades
escorraçavam-se de seus muros; deixava-se que corressem pelos campos distantes, quando
não eram confiados a grupos de mercadores e peregrinos” (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p.
9).
Por certo, a Nau dos loucos encerra um sentido simbólico sobre a loucura e,
concomitantemente, aplaca uma prática social real. O louco era um prisioneiro de passagem,
posto que nenhuma cidade os recebia, sendo um sujeito sem destino, não bem-vindo, pois
atrapalharia a bela ordem. Por outro lado, embarcar os loucos em uma “viagem sem fim”
instituiu uma relação que, segundo Foucault (1961[1972]/2014), permaneceria por muito
tempo nos sonhos do homem europeu: a relação entre a água e a loucura. Ao mesmo tempo
em que levava os insanos para longe, a água tinha o poder de purificação. No tocante a este
aspecto, Frayse-Pereira (1984, p. 51) afirma que a embarcação dos loucos representava uma
segurança segundo a qual estes “partirão para longe e serão prisioneiros de sua própria
partida”. Tratava-se de uma “purificação e uma passagem para a incerteza da sorte. A água e a
navegação asseguravam essa posição altamente simbólica da loucura: encerrado no navio
onde não se escapa” (FRAYSE-PEREIRA, 1984, p. 51).
40
Além do mais, a navegação entrega o homem à incerteza da sorte: nela, cada um é
confiado a seu próprio destino, todo embarque, é potencialmente, o último. É para o
outro mundo que parte o louco em sua barca louca; é do outro mundo que ele chega
quando desembarca. Esta navegação do louco é simultaneamente a divisão rigorosa
e a Passagem absoluta. Num certo sentido uma geografia semi-real, semiimaginária, a situação liminar do louco no horizonte das preocupações do homem
medieval – situação simbólica e realizada ao mesmo tempo pelo privilégio que se dá
ao louco de ser fechado às portas da cidade: sua exclusão deve encerrá-lo; se ele não
pode e não deve ter outra prisão que o próprio limiar, seguram-no no lugar de
passagem. Ele é colocado no interior do exterior, e inversamente. Postura altamente
simbólica e que permanecerá sem dúvida a sua até os nossos dias, se admitirmos que
aquilo que outrora foi fortaleza visível da ordem tornou-se agora castelo de nossa
consciência (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 12, grifo do autor).
Contudo, é lícito salientar que a prática de embarcação dos insanos não se estendia a
todas as cidades da Europa, sem exceção. Existiam aquelas que acolhiam e tratavam os loucos
ou, simplesmente, os jogavam nas prisões. A cidade de Nuremberg, por exemplo, chegou a
receber uma quantidade considerável de loucos, onde ficavam em alojamentos sustentados
pelo orçamento da própria cidade, mas sem receber qualquer tipo de tratamento. Outros
municípios importantes eram tidos como lugares de passagem e de feiras, onde os loucos
eram deixados pelos mercadores e marinheiros ficando por lá, “perdidos”. Estas cidades
acabavam se tornando um centro de peregrinação. Desses centros, os loucos convergiam de
vários pontos da Europa a procura de uma purificação, de uma cura milagrosa para seu mal. A
aldeia de Ghell possivelmente desenvolveu-se dessa maneira: “lugar de peregrinação que se
tornou prisão, terra santa onde a loucura espera sua libertação, mas onde o homem realiza,
segundo velhos temas, como que uma partilha ritual” (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 11).
Sobre a Nau dos Loucos, afirmam Passos e Barboza (2009, p. 48):
No Renascimento, o mundo está povoado pelo Diabo, por seres imaginários
tenebrosos. Nessa barca louca o louco parte para um destino incerto.
Simbolicamente ele parte para outro mundo (“todo embarque é potencialmente o
último”), e é de outro mundo que chega o louco que desembarca na cidade.
Observa-se que a presença dos centros de peregrinação eximia as cidades de origem
dos loucos da responsabilidade de tratá-los ou prendê-los. Por esta razão, a Nau dos Loucos
desempenhou importante papel no controle e regulação dos insanos entre os séculos XIV e
XVI.
Também vale ressaltar a presença de duas experiências da loucura na renascença,
como já destacado por Amarante (1995): uma trágica, representada pela Nau dos Loucos,
como também por meio dos quadros de Bosh, Brueghel, Thierry Bouts e Dürer no século XV
e, a outra, uma experiencia crítica da loucura, baseada na vivência do homem consigo mesmo.
41
A experiencia trágica, pode-se dizer, foi bastante acolhedora com a loucura, pois oportunizou
tanto a Cervantes como a Shakespeare, por exemplo, a darem testemunho dessa loucura não
submetida à verdade e à razão. Já a experiência crítica estava ancorada nos saberes racionais e
nas críticas morais que colocaram a loucura no lugar da ilusão, do sonho e do onirismo.
A experiência crítica da loucura esteve baseada em um diálogo com a razão, mas à
distância. Machado (2000), ao tecer considerações sobre ambas às experiências da loucura no
renascimento fala que a vivência trágica da loucura, no contexto artístico, seria a própria
loucura falando. Em um sentido metafísico, a loucura fala livremente o que ela deseja falar:
do irreal ou do real modificado, do fantástico, do onírico ou do irrisório. Já a consciência
crítica da loucura se mostrou a partir do homem letrado, submetendo sua experiência trágica
ao registro da razão e da moral:
[...] a consciência crítica subordina uma experiência trágica do homem no mundo a
um saber que já privilegia a verdade e a moral. Para Erasmo, por exemplo, a loucura
faz o homem aceitar o erro como verdade, a mentira como realidade, a violência
como justiça, a feiura como beleza (MACHADO, 2000, p. 28-29).
Esta afirmação converge para o fato de que por trás da genialidade de grandes
pensadores como Erasmo de Roterdã (1466-1536) e Montaigne (1533-1592), a dúvida, a
incerteza, a ilusão e o irreal que permeava a concepção de loucura agregava um valor de
verdade. Nas palavras de Frayse-Pereira (1984, p. 59):
[...] até o final do século XVI não havia fundamento para a certeza de não estar
sonhando, de não ser louco. Sabedoria e loucura estavam muito próximas. E a
grande via de expressão dessa proximidade era a linguagem das artes: a pintura, a
literatura, sobretudo o teatro que, no final do século, vai desenvolver a sua verdade,
isto é, a de ser ilusão: “algo que a loucura é, em sentido estrito”.
Identifica-se nesta época do renascimento um entrecruzamento nas duas experiências
da loucura, uma em pleno diálogo com a outra, mas, posteriormente, a experiência trágica vai
perdendo seu espaço. Veremos como o lugar de reconhecimento que a loucura tinha no
Renascimento se esvai em nome da predominância dessa experiência crítica da loucura que,
ao enquadrar a loucura em um campo de racionalidade e, portanto, da normalidade, exclui a
mesma do âmbito do pensamento. Uma vez situada no campo da desrazão, a loucura foi
banida de qualquer possibilidade de portar uma verdade e tida, portanto, como ausência de
obra, pois nada poderia dizer nem mesmo no campo artístico.
No século XVII, os hospitais gerais na França, as Workhouses na Inglaterra e de
Zuchthäusern na Alemanha representaram os grandes agentes de exclusão social da loucura.
42
Além disso, é de se mencionar também a influência do pensamento de Descartes para o
desenvolvimento de uma consciência da loucura como desrazão. Descartes funda um discurso
que dirigirá, por assim dizer, a consciência que se terá da loucura na modernidade.
2.3 O século XVII: a grande internação e a loucura como desrazão
Não é por acaso que Foucault (1961[1972]/2014, p. 45) inicia o capítulo A grande
internação falando de Descartes. Diz o autor: “A loucura, cujas vozes a Renascença acaba de
libertar, cuja violência porém ela já dominou, vai ser reduzida ao silêncio pela era clássica
através de um estranho golpe de força”. Este estranho golpe de força é dado justamente por
Descartes. Ao excluir a loucura do âmbito do pensamento, o filósofo instaura uma nova
discursividade sobre ela no Ocidente. Produz-se assim uma nova consciência da loucura, não
mais pautada em seu aspecto humano, artístico e social, mas sim concebida como desrazão: o
louco passa a ter um lugar marginal, não podendo, portanto, falar em nome próprio, já que
fora expropriado de sua experiência de ser louco.
Birman (2010), ao fazer uma releitura de Foucault, aponta que a inauguração do
campo da razão com Descartes teve como efeito uma correlata exclusão da dimensão da
desrazão, tendo em vista que em sua demonstração do Cogito empreendida na primeira
“Meditação”, ele excluiu a experiência da loucura do campo do sujeito. No momento em que
considera a experiência sensível, o sono e o sonho como assimétricas em relação ao eu
pensante, ele acaba colocando a experiência da loucura também no mesmo patamar, a saber:
no registro fora da razão e do pensamento.
A dúvida, como método libertador de todo e qualquer prejuízo, teria a função de
preparar o espírito humano no sentido de livrar-se dos sentidos e percepções capazes de
induzir ao erro. As sensações, oriundas dos órgãos dos sentidos e da sensibilidade, não eram
elementos confiáveis, vistos que poderiam levar o espírito humano ao engodo. Assim, fazia-se
necessário desconfiar e duvidar de todo conhecimento sensível (FREITAS, 2010).
Ao ser incluída no campo da desrazão, a loucura passa a ser banida do convívio
social: chega o momento em que a loucura precisa ser enclausurada, fechada entre os muros
do internamento clássico. Neste sentido, o século XVII, segundo Foucault (1961[1972]/2014,
p. 44), “é estranhamente hospitaleiro com a loucura”. Este século foi um período marcado
pela presença de várias casas de internamento. Para ele, o internamento foi a estrutura mais
explícita na experiência clássica da loucura, tornando-se uma forma hegemônica de lidar com
ela.
43
A loucura só terá hospitalidade doravante entre os muros do hospital, ao lado de
todos os pobres. É lá que encontraremos ainda ao final do século XVIII. Com
respeito a ela, nasceu uma nova sensibilidade: não mais religiosa, porém moral. Se o
louco aparecia de modo familiar na paisagem humana da Idade Média, era como que
vindo de outro mundo. Agora, ele vai destacar-se sobre um fundo formado por um
“problema de polícia”, referente à ordem dos indivíduos na cidade. Outrora ele era
acolhido porque vinha de outro lugar; agora será excluído porque vem daqui mesmo,
e porque seu lugar é entre os pobres, os miseráveis, os vagabundos. A hospitalidade
que o acolhe se tornará, num novo equívoco, a medida de um saneamento que o põe
fora do caminho. De fato, ele continua a vagar, porém não mais no caminho de uma
estranha peregrinação: ele perturba a ordem do corpo social (FOUCAULT,
1961[1972]/2014, p. 63).
Antes preso nas embarcações na Nau dos loucos, neste momento o louco se vê preso
a um confinamento institucional. Podemos conceber a era da grande internação como sendo
resultado de um processo que, como vimos, estava ocorrendo no continente europeu, desde
quando se contavam com os leprosários para isolar os leprosos. De maneira gradual,
verificamos que as casas destinadas aos leprosos deram lugar aos considerados fora da razão
ou mesmo aos marginalizados e segregados. Os loucos passaram, então, a se concentrar
nessas referidas casas de internamento, utilizadas também como um local para reabsorver ou,
pelo menos, para ocultar os problemas sociais mais visíveis, como uma espécie de remédio
para a crise econômica que assolava a Europa ocidental.
Em 1656, foi decretada a Fundação do Hospital Geral de Paris. Em um primeiro
momento, tratava-se somente de uma reforma administrativa, de modo a agregar os diversos
estabelecimentos já existentes a uma única administração: a Salpêtrière, reconstruída no
reinado anterior com vistas a reunir um Arsenal, Bicêtre, local onde Pinel e a sua psiquiatria
do século XIX vai se deparar com os insanos.
As casas de internação eram destinadas aos pobres de Paris, independente do sexo ou
idade, qualquer condição física, curáveis ou incuráveis. Cabia recolher, alojar, alimentar
aqueles que se apresentassem “espontaneamente” ou os que fossem encaminhados pela
autoridade real ou judiciária. É importante pontuar que os hospitais gerais não eram um
estabelecimento médico (como será depois), mas sim e antes, uma estrutura semi-jurídica,
uma instituição meramente administrativa capaz de decidir, julgar e condenar.
Soberania quase absoluta, jurisdição sem apelações, direito de execução contra o
qual nada pode prevalecer – o Hospital Geral é um estranho poder que o rei
estabelece entre a polícia e a justiça, nos limites da lei: é a terceira ordem da
repressão. Os alienados que Pinel encontrou em Bicêtre e na Salpêtrière pertenciam
a esse universo (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 50).
44
O hospital geral, portanto, era um instrumento de ordem da monarquia e da burguesia
que até então se alicerçava na França. Nessa perspectiva, um édito do Rei, no dia 16 de junho
1676, prescreve o estabelecimento de um hospital geral em cada cidade do Reino. Às vésperas
da Revolução na França, surgiram 32 hospitais gerais espalhados pelo interior do país e
também por toda a Europa. A Igreja aderiu ao movimento, evidenciando de certo modo:
[...] o desejo de ajudar e a necessidade de reprimir; o dever da caridade e a vontade
de punir; toda uma prática equívoca cujo sentido é necessário isolar, sentido
simbolizado sem dúvida por esses leprosários, vazios desde a Renascença mas
repentinamente reativados no século XVII e que foram rearmados com obscuros
poderes. O classicismo inventou o internamento, um pouco como a Idade Média a
segregação dos leprosos (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 53).
Outro objetivo dos hospitais gerais concernia em reprimir o ócio, servindo de casa de
trabalho. Tomando como referência as Workhouses da Inglaterra, os hospitais pautavam-se
em políticas de supressão da mendicância que se alastrou por toda a Europa neste período. O
êxodo rural devido à baixa do sistema feudal e o advento do capitalismo mercantil aumentou
o número de pobres, de ociosos e desempregados nas grandes cidades. Logo, os hospitais
lançavam mão das oficinas, com a finalidade de ocupar os internos, ensinando-lhes uma
profissão.
Este método para banir a pobreza permaneceu até o final do século XVIII, porém
com uma diferença: a separação dos loucos em relação ao resto da população interna. Por
conseguinte, este fato foi motivado pelas dificuldades dos insanos de seguirem as regras e
aderirem as atividades propostas nas oficinas, o que atrapalhava o andamento destas e do
ambiente como um todo, em função dos gritos e comportamentos exaltados. Desta maneira, o
insano dificilmente seria reinserido na sociedade e no processo produtivo, porque uma vez
privado da razão, estava impossibilitado de uma liberdade individual.
2.4 O século XVIII: “o louco no jardim das espécies”, o isolamento da loucura e as bases
para a constituição da psiquiatria
A segunda metade do século XVIII foi caracterizada por um movimento de isolar os
loucos em asilos, especialmente dedicados a eles. Segundo Foucault (1961[1972]/2014) surge
nessa época uma nova divisão: os loucos passam a ser discriminados, ganhando assim um
estatuto de uma patologia que precisa ser tratada. Este movimento marca uma diferença
crucial em relação aos grandes internamentos ocorridos no século XVII. Passam a existir
45
casas reservadas estritamente aos insanos. Entre as diversas casas que surgiram pela Europa,
destacou-se o St. Luke Hospital na Inglaterra, onde, para ser admitido, era necessário ser
considerado pobre ou maníaco. Assim, os ditos imbecis, os doentes atingidos pela doença
convulsiva e doença venérea, os senis, as mulheres grávidas e os doentes de varíola não
poderiam dar entrada no referido hospital.
Entretanto, tais casas de internamento continuaram sem dar um devido lugar à
medicina, pois os tratamentos destinados aos loucos permaneceram vagos e imprecisos: nem a
presença, nem a visita do médico eram permitidas no hospital. Apesar disso, o isolamento dos
loucos, no sentido de oferecer um lugar físico próprio a eles, acabou por lhes inserir em um
discurso de uma patologia sem, no entanto, receberem cuidados médicos. Isso, de acordo com
o Foucault, deveu-se “não a reforma das instituições ou a renovação do seu espírito, mas esse
resvalar espontâneo que determina e isola asilos destinados aos loucos” (FOUCAULT,
1961[1972]/2014, p. 384). Realizou-se, consequentemente, através dessa nova divisão, “uma
nova exclusão no interior da antiga, como se tivesse sido necessário esse novo exílio para que
a loucura enfim se encontrasse e pudesse ficar em pé sozinha” (FOUCAULT,
1961[1972]/2014, p. 384). Isto possibilitou o início de uma autonomia da loucura, que foi se
deslocando da figura do desatino, com a qual se via tão profundamente arraigada no século
XVII.
Para Foucault (1961[1972]/2014) o que aos poucos vai retirando a loucura da
posição do desatino não é nem somente o grande medo que ela representava para a
organização do corpo social, nem apenas o aparecimento das novas estruturas marcadas pelo
isolamento da loucura nas casas de internamento, mas sim a conjugação desses fatores, “numa
experiência que se constitui num passado e projeta seu futuro” (FOUCAULT,
1961[1972]/2014, p. 385). Deste modo, a loucura caminha na direção de se especificar cada
vez mais, ao passo que o desatino começa a se perder em uma generalidade, passando a ser
entendido como “libertinagem”, “má conduta”, “sem religião”. Todos aos quais não se
conseguia internar como loucos eram, por assim dizer, os libertinos, os insensatos e
desatinados.
A loucura, apropriada como um objeto da percepção, oscilava nesse momento entre
os pólos do furor e da imbecilidade. O furor caracterizava-se por toda a violência exercida
sobre os outros, todas as ameaças de morte, e quando toda a raiva voltava-se para o próprio
louco. Já a imbecilidade também comportava perigos mortais, no sentido da impossibilidade
do sujeito de assegurar sua existência e nem responder por ela, entregando-se passivamente à
46
morte. A loucura, neste contexto, era entendida a partir dos perigos de morte que poderia
trazer:
A única classificação que existe é em relação a esta dupla urgência. Acima de tudo,
o internamento distingue na loucura os perigos de morte que ela comporta: é a morte
que faz a divisão, e não a razão, nem a natureza (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p.
388).
Sob outro enfoque, é com a morte delimitando o território da loucura que lentamente
vai se constituindo uma “percepção asilar da loucura” (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p.
389, grifo do autor), percepção esta não mais baseada apenas nos perigos que se vinculam à
morte, mas também nos aspectos do senso e do não senso.
É sem dúvida nessa direção que se pode compreender a distinção, tão frequente no
século XVIII e para nós tão obscura, entre insensatos e alienados. Até o começo do
século, os dois conceitos representam, um em relação ao outro, papel simétrico e
inverso: ora os “insensatos” designam os delirantes no grupo geral dos loucos ou
alienados, ora os alienados designam aqueles que perderam toda forma e todo
vestígio da razão entre os insensatos que, de um modo geral e menos preciso, têm a
“cabeça arranjada” e o “espírito perturbado”. Mas aos poucos, no decorrer do século
XVIII, opera-se uma divisão com um sentido diferente. O alienado perde
inteiramente a verdade: entregue a ilusão de todos os sentidos, à noite do mundo;
cada uma de suas verdades é erro, cada uma de suas evidências é fantasma
(FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 389).
Enquanto o insensato não seria totalmente estranho ao mundo da razão, figurando
antes uma razão pervertida, desviada, o alienado estaria inteiramente do lado do não senso,
designando assim uma ruptura com o senso. Foucault (1961[1972]/2014) salienta que embora
essas diferenças permanecessem vagas no século XVIII, os princípios organizadores da
loucura (vida e morte, senso e não senso) serviram fortemente de base para algumas
descrições, a saber: o “irado” designava uma mistura de alienação com furor, o “obstinado”,
teria um furor e violência que, por meio de uma ideia insensata e o “espírito desordenado”,
participaria da alienação e da imbecilidade. Apesar da precariedade de tais noções, é de se
considerar que estas resistiram por um bom tempo, especialmente quanto à penetração da
influência da medicina, que se colocou em um lugar marginal neste contexto asilar. A classe
médica não fazia parte do internamento, representando, no máximo, um papel descritivo e
raramente diagnóstico.
Portanto, foi “no silêncio do internamento que a loucura conquistou estranhamente
uma linguagem que é a sua” (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 391). Dito isto, afirma:
47
Se o século XVIII aos poucos abriu lugar para a loucura, se distinguiu certas figuras
dela, não foi aproximando-se dela que o fez mas, pelo contrário, afastando-se dela:
foi necessário instaurar uma nova dimensão, delimitar um novo espaço e como que
uma outra solidão para que, em meio desse segundo silêncio, a loucura pudesse
enfim falar. Se ela encontra seu lugar, isto acontece na medida em que é afastada
(FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 393).
Logo, pode-se dizer com Foucault que a concepção do louco no século XVIII
fundamentou-se no que existe de mais positivo e de mais negativo. A loucura, como ausência
de razão, passou a assumir uma positividade:
O louco afasta-se da razão, mas pondo em jogo imagens, crenças, raciocínios
encontrados, tais quais, no homem da razão. Portanto, o louco não pode ser louco
para si mesmo, mas apenas aos olhos de um terceiro que, somente este, pode
distinguir o exercício da própria razão (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 186).
A concepção de positivo aí é representada pela própria razão. O negativo não seria
mais que “o vão simulacro da razão” (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 186): o desatino.
Desta maneira, a razão reconhece de imediato a negatividade do louco no não razoável. Sendo
uma imediata oposição à razão, a loucura só poderia encontrar seu conteúdo por meio da
própria razão. A loucura e a desrazão estão, sob esta ótica, inteiramente investidas de razão,
mas se situando secretamente fora dela e, se é possível ter alguma dominação sobre ela, é do
exterior, observando-a como um objeto. Há, por assim dizer, um reconhecimento de uma
racionalidade (grifo do autor) do conteúdo na própria manifestação do que se percebia como
não razoável (FOUCAULT, 1961[1972]/2014).
Já em um mundo paralelo ao internamento, o pensamento clássico começa a se
questionar sobre a loucura e ela o faz não através dos loucos, mas das doenças em geral. “O
século XVIII percebe o louco, mas deduz a loucura”, nos diz Foucault (1961[1972]/2014, p.
187). Instaura-se um domínio lógico e natural sobre a doença, em um campo de racionalidade.
Para que fosse possível oferecer um conteúdo peculiar à doença, fazia-se necessário caminhar
em direção aos fenômenos reais, observáveis e positivos por meio dos quais ela se
manifestava. A patologia passa a ser aparelhada por novas normas, influenciada intensamente
pela botânica. Os grandes classificadores do século XVIII foram animados por uma constante
que, segundo o autor, “tem a amplitude e a obstinação de um mito: a transferência das
desordens da doença para a ordem da vegetação” (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 190).
Não à toa, Foucault retoma Thomas Sydenham (1624-1689), médico inglês que teve
destaque no século XVII por ter sido um dos precursores da epidemiologia. Sob a influência
do filósofo inglês Francis Bacon (1561-1626), Sydenham estabeleceu seu próprio método
48
para o estudo das doenças. Para ele, as enfermidades deveriam ser classificadas (SCLIAR,
2002). Dizia Sydenham citado por Foucault (1961[1972]/2014, p. 190) que era preciso
“reduzir todas as doenças a espécies precisas com o mesmo cuidado e exatidão com que
procederam os botânicos no Tratado sobre as Plantas”.
Sabemos da forte interferência de Sydenham nos estudos de Pinel (como veremos a
seguir), como também em diversos classificadores do século XVIII, entre eles François
Boissier de Sauvages (1706-1767), médico e botânico francês, que também serviu de
inspiração para quem iria ser considerado o pai da psiquiatria. Para Foucault
(1961[1972]/2014) é com Boissier de Sauvages que o tema da loucura começa a ser delineado
de acordo com a botânica, organizadora do mundo patológico em sua totalidade. Inaugura-se,
assim, o projeto que traz o louco para o jardim das espécies tanto patológicas quanto
botânicas. A doença, como uma planta, representa a própria racionalidade da natureza.
Portanto, “a loucura se integrou, sem dificuldades aparentes, nessas normas da teoria médica.
O espaço de classificação abre-se sem problemas para a análise da loucura, e a loucura, por
sua vez, de imediato encontra ali seu lugar” (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 192).
Foucault afirma que a ruptura da loucura com os parentescos do mal e a inserção
desta nas nosologias do século XVIII, por mais imprecisa que possa parecer, não pode ser
deixada de lado, posto que comporta toda uma significação, na medida em que inicia toda
uma discursividade em torno da loucura que mais tarde, no século XIX, inscreve-se no plano
positivo de todas as doenças. Em O Nascimento da Clínica, Foucault (1963/2008), ao
localizar o surgimento da medicina moderna no período que vai do final do século XVIII e
início do século XIX, faz menção à nosologia de Sauvages (1761) para mostrar como este
momento, tão influenciado pela botânica, cronologicamente, precedeu o método anátomoclínico, tornando-o historicamente possível. Para ele, a organização hierárquica das doenças
em famílias, gêneros e espécies propôs não apenas um “quadro” que tornaria o conhecimento
das doenças mais sensível, mas também proporcionou uma certa formatação de doença “que
nunca foi, por si mesma formulada, mas de que se podem, posteriormente, definir requisitos
essenciais” (FOUCAULT, 1963/2008, p. 3).
No entanto, ainda que as pacientes classificações do século XVIII tenham plantado
uma nova estrutura de racionalidade em formação neste século, Foucault nos diz que este
trabalho deixou poucos vestígios. Cada uma das divisões feitas é apagada no instante em que
o século XIX tentará distingui-la de outra maneira: a partir da afinidade dos sintomas, da
identidade das causas, da sucessão do tempo, da evolução progressiva de um tipo na direção
49
de outro, sendo cada um destes fatores outras tantas categorias que se agruparão na
diversidade das manifestações.
Tudo se passa como se essa atividade classificatória tivesse operado no vazio,
desenvolvendo-se na direção de um resultado nulo: retomando-se e corringindo-se
incessantemente para não chegar a nada: atividade incessante que nunca conseguiu
tornar-se um trabalho real. As classificações só funcionaram a título de imagens,
pelo valor próprio do mito vegetal que traziam em si. Seus conceitos claros e
explícitos permaneceram sem eficácia (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 196).
Esta ineficácia do projeto classificatório da loucura no século XVIII revela que um
obstáculo se colocou neste caminho. Desta forma, o autor questiona:
O que havia na experiência da loucura, que a impedia de desdobrar-se na coerência
de um plano nosográfico? Que estrutura particular tornava-a irredutível a esse
projeto que no, entanto, foi essencial para o pensamento médico do século XVIII?
(FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 196).
Para ele, o intuito positivista de observação dos fenômenos visíveis concernentes à
loucura sempre se esbarraria em uma resistência profunda que a ligava a imaginação e o
delírio por meio de uma teoria geral das paixões. Ou seja, todo o esforço empreendido pelos
classificadores do século XVIII não fora suficiente para apagar as significações mágicas,
míticas e não médicas da loucura. Aliado a isso, encontrava-se o aspecto moral, que também
representava uma resistência ao projeto classificatório:
[...] à medida em que conquistávamos essas superfícies onde a loucura assume
traços do homem real, víamos que ela se diversificava numa série de “caracteres” e
víamos a nosografia assumir um aspecto, ou quase uma galeria de retratos morais
(FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 197).
Decerto, o aspecto da moralidade surge como um fator preponderante no
desenvolvimento da nascente psiquiatria com Pinel. Foucault salienta que o final do século
XVIII e o início do século XIX foram marcados pelo advento do positivismo psiquiátrico e
que tal advento deveu-se principalmente ao equilíbrio entre dois processos positivos. O
primeiro vincula-se a um processo de esclarecimento, de tomada de consciência da loucura:
“A loucura alienada de si mesma no estatuto de objeto que ela recebe” (FOUCAULT,
1961[1972]/2014, p. 440). O segundo processo, derivado do primeiro. A tomada de
consciência da loucura é acompanhada pelo aspecto da moralidade.
Desaparecido o internamento clássico do século XVII, a loucura passa a ser de
domínio público e, por isso, vai sendo bordejada de significações morais. Como único
50
soberano do então estado burguês, o homem livre torna-se o juiz primeiro da loucura, fazendo
surgir uma ascendência pública e institucional da mesma. Antes pertencente ao mundo
privado, a loucura do século XVIII era vista como um erro, um delírio, imaginação, era
inexistente. Quando passa a ser objeto do domínio público, a loucura representa o desumano,
o que a consciência de todos não é capaz de reconhecer sendo, portanto, banida do direito de
existir. Ao se tornar pública, a loucura vira objeto de observação minuciosa, especialmente
quando estava em jogo um ato criminoso:
Se o criminoso não dá sinais evidentes de loucura, passa dos insensatos aos
prisioneiros; mas se, quando na cela se mostra razoável, se não se evidencia sinais
de violência, se sua conduta pode levar a que se perdoe seu crime, é recolocado entre
os alienados, cujo regime é mais suave (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 448).
Ser atribuído como louco, embora não possibilitasse que o dito criminoso fosse
inocentado, ele teria sua pena atenuada. Mesmo não sendo louco, mas se demonstrasse bom
comportamento, recebia uma espécie de “promoção”: ao criminoso obediente, era-lhe
oferecida uma liberdade vigiada, pautada em valores morais. Dessa maneira, o que era
acolhido em um mundo imaginário na Renascença, o século XIX conceberá segundo as regras
de uma percepção moral, reconhecendo e julgando a boa e a má loucura, sendo esta aceita às
margens da razão, situada entre a moral e a consciência, entre a responsabilidade e a
inocência.
O segundo processo produtivo é efeito do primeiro. A emergência de outra tomada
de consciência da loucura, que agora aparece na dimensão do público é acompanhada da
construção de novas estruturas de proteção, as quais possibilitarão ao insano uma adaptação
às regras da moralidade, no sentido de um restabelecimento da razão. Diante disso, afirma
Foucault (1961[1972]/2014) que estes dois processos se complementam, sendo uma só e
mesma coisa, como uma “unidade coerente de um gesto com a qual a loucura é entregue ao
conhecimento numa estrutura que é, desde logo, alienante” (FOUCAULT, 1961[1972]/2014,
p. 456, grifo do autor).
É justamente no que toca a esses processos que se pode localizar uma transformação
definitiva com relação à experiência da loucura. De um lado, um ato de liberação,
caracterizado pela supressão do internamento clássico que confundia a loucura com todas as
outras formas de desatino. De outro, a construção de novas estruturas de proteção, as quais
passaram a designar para a loucura um internamento como um lugar privilegiado, onde ela
poderia restaurar a razão e encontrar a verdade.
51
Nesse panorama advém a inauguração do Asilo, cujo único objetivo seria de caráter
médico, sendo um espaço destinado exclusivamente às manifestações da loucura e,
respectivamente, a sua cura. Como forma de liberação, o Asilo proporcionava um lugar onde
a loucura poderia ser ouvida, falando em seu próprio nome. Isto, por sua vez, abriu território
para a introdução da loucura a partir da noção de um sujeito psicológico, portador de uma
verdade vista como paixão, violência e crime: a loucura concebida como um determinismo
irresponsável. Sob esta ótica, elaborava-se acima e ao redor da loucura um olhar que lhe
conferia um estatuto de puro objeto a ser observado, o que gerou uma divisão de tipos de
loucura de acordo com as leis do juízo moral. A loucura se vê inserida na rede da incoerência
de valores morais, como uma má consciência.
É através desse duplo movimento aparentemente oposto de liberação e ao mesmo de
proteção que a experiência moderna da loucura encontra suas raízes. Neste ambiente a loucura
é enfim libertada para ser tomada como objeto de um conhecimento positivo. Tratava-se de
uma liberdade condicional, porque ela só poderia ser libertada se fosse apropriada como
objeto puro e, atribuída como doença mental, se fosse protegida entre os muros do Asilo.
A partir de então, a loucura não é mais uma coisa que se teme, ou um tema
indefinidamente renovado do ceticismo. Tornou-se objeto. Mas com um estatuto
singular. No próprio movimento que a objetiva, ela se torna a primeira das formas
objetivantes: é através disso que o homem pode ter ascendência objetiva sobre si
mesmo [...] tendo-se tornado agora coisa para o conhecimento – ao mesmo tempo o
que há de mais interior no homem, porém mais exposto a seu olhar –, ela representa
como que a grande estrutura da transparência; o que não significa que pelo trabalho
do conhecimento ela se tenha tornado inteiramente clara para o saber, mas que, a
partir dela e do estatuto de objeto que o homem lhe designa, ela pode, pelo menos
teoricamente, tornar-se inteiramente transparente ao conhecimento objetivo
(FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 456-457).
Neste cenário surgem os Asilos, entre os quais destacam as figuras de Samuel Tuke
(1784-1857) e Philippe Pinel (1745-1826).
2.5 A instituição asilar: o retiro de Tuke e o asilo de Pinel
A inauguração dos Asilos no início do século XIX aconteceu particularmente através
de Samuel Tuke e Phillippe Pinel, os quais transmitiram valores místicos que a nascente
psiquiatria se viu fortemente influenciada, em especial nos métodos de cura, bem como na
experiência concreta da loucura.
52
Foucault ressalta, antes de tudo, a figura de Tuke. Quaker5 filantropo, Tuke pode ser
considerado um dos grandes reformistas no campo da saúde mental. Por meio da filantropia,
fez um gesto de “libertação dos alienados”:
Foi possível observar o grande dano experimentado pelos membros de nossa
sociedade com o fato de haverem sido confiados a pessoas que não apenas são
estranhas a nossos princípios mas que, além do mais, os misturaram com outros
doentes que se permitem uma linguagem grosseira e práticas censuráveis. Tudo isso
muitas vezes deixa uma marca indelével nos espíritos doentes após terem
recuperado o uso da razão, tornando-os estranhos à manifestação religiosa que eles
antes haviam conhecido; às vezes mesmo são corrompidos pelos hábitos viciosos
que não conheciam (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 476-477).
Com o objetivo de isolar a loucura dos outros doentes, Tuke instituiu o Retiro que,
segundo Foucault, seria mais um instrumento de segregação e exclusão, moral e religiosa. As
manifestações da loucura deveriam ser banidas da sociedade formada por pessoas ditas
normais, uma vez que, como espetáculo do mal, a loucura seria para os demais um
sofrimento, significando a origem de todas as paixões, responsáveis por tirar o sujeito de sua
razão. A religião era o meio pelo qual poderia ser possível fazer com que o sujeito retomasse
sua razão, assumindo desta maneira um mecanismo de coação e detendo, com isso, “as
últimas forças que podem, no eclipse da razão, contrabalançar as violências desmedidas da
loucura” (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 477).
Sendo assim, utilizar-se dos princípios religiosos sobre o espírito do louco era de
relevância essencial como instrumento de cura e educação. A religião, usada para este fim,
representava o controle que já existia desde o internamento clássico: “o meio religioso e
moral impunha-se do exterior de modo que a loucura fosse refreada, e não curada”
(FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 477). Com o Retiro e o Asilo, o grande medo da loucura
presente em especial no século XVII, é dotado de um poder de desalienação, não podendo
mais causar medo, mas ela própria terá medo: medo do bom senso, da pedagogia, da moral.
Tuke exemplifica como as medidas tomadas no Retiro com um jovem maníaco
puderam restituir-lhe a cura:
5
Nome dado a vários grupos religiosos, com origem comum num movimento protestante britânico do século
XVII. A expressão quaker é chamada de quakerismo, Sociedade Religiosa dos Amigos, ou
simplesmente Sociedade dos Amigos ou Amigos.
53
Quando entra no Retiro está totalmente acorrentado, algemado, e as roupas
amarradas com cordas. Assim que chega, todos os entraves lhe são retirados, e fazse com que jante com os vigilantes: sua agitação logo cessa, “sua atenção parecia
cativada por uma nova situação”. É levado para o seu quarto; o intendente lhe dirige
uma exortação para explicar-lhe que toda a casa está organizada para a maior
liberdade e conforto de todos, que não lhe imporão nenhuma coação, com a
condição de que ele não infrinja os regulamentos da casa ou os princípios gerais da
moral humana. De seu lado, o intendente afirma que não deseja fazer uso dos meios
de coação à sua disposição. “O maníaco mostrou-se sensível à suavidade desse
tratamento. Prometeu coibir-se a si próprio” (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p.
478, grifo do autor).
Depois de quatro meses, o paciente deixou o Retiro plenamente curado. A cura,
atingida através do medo direto que se dirige ao doente, é conseguida por meio de um
discurso, centrado em uma delimitação e exaltação de uma simples responsabilidade, cujo
qualquer sinal de loucura é seguido de um castigo:
[...] o louco enquanto ser humano originalmente dotado de razão, não é capaz de ser
louco; mas o louco, enquanto louco, e no interior dessa doença da qual não é mais
culpado, deve sentir-se responsável por tudo aquilo que pode perturbar a moral e a
sociedade e deve acusar a si mesmo pelos castigos que receber (FOUCAULT,
1961[1972]/2014, p. 479).
Por este motivo é que para Foucault a libertação dos alienados não passou de uma
operação simbólica, porque o discurso que moveu esta operação continuou o mesmo do
internamento da era clássica: tratava-se de um discurso excludente, o qual submetia o louco à
outra espécie de prisão, a prisão moral.
O trabalho era um instrumento poderoso no processo de cura da loucura no espaço
do Retiro, possuindo uma força de coação superior entre todas as formas de coerção física,
posto que a obediência a um horário regular, a exigência pelo domínio da atenção e pela
obrigação de se atingir o resultado, situava o louco distante das paixões ameaçadoras.
Contudo, vale mencionar que o trabalho não portava valor algum de produção, estando
reduzido à regra da moral pura, a submissão à ordem e ao engajamento com a
responsabilidade, com vistas de desalienar o espírito perdido nos excessos da paixão.
A questão do olhar também surgiu como fundamental ao tratamento. Mais eficaz
ainda que o trabalho, o olhar dos outros se manifestava na necessidade de estima. No
internamento clássico, o olhar estava presente, mas sob uma superfície do horror, de uma
animalidade assustadora e visível. No Retiro, Tuke instaura o aspecto do olhar nos sinais
menos visíveis da loucura, um olhar onde a loucura se apaga em prol dos bons costumes da
moral. Foucault demonstra pelo relato de Tuke como se dava essa estratégia de uma conduta
54
do olhar. Organizava-se uma tea party no Retiro, onde todos os vigilantes e diretores jantam
com os internos, que:
Vestem suas melhores roupas, e rivalizam-se em polidez e boas maneiras. É-lhes
oferecido o melhor menu, e são tratados com tanta atenção como se fossem
estranhos. A noitada normalmente transcorre na mais completa harmonia e no menor
contentamento. Raramente acontece um evento desagradável. Os doentes controlam
extraordinariamente suas diferentes inclinações; essa cena suscita ao mesmo tempo
uma surpresa e uma satisfação tocantes (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 481,
grifo do autor).
No entanto, a estratégia de modo algum é de aproximação, de diálogo e de
conhecimento mútuo, pelo contrário, o louco continua sendo um estranho por excelência, que
não é julgado somente pelas aparências e vestimentas, mas também por seu comportamento, o
qual deve estar adequado às normas morais. Neste sentido, o autor aponta que o louco é um
estranho perfeito, revelando uma estranheza quase imperceptível, pois ele só pode ser
percebido pelo o que ele não é. Revela-se uma tentativa de “autocontenção” do louco, onde
sua liberdade se vê condicionada ao olhar do outro e ao trabalho, em um contexto ameaçado
por um constante reconhecimento da culpabilidade.
Já no Asilo comandado por Pinel, em Bicêtre, embora tivesse recebido inspiração do
Retiro de Tuke, marcava sua diferença com relação a ele por ser um lugar estritamente
médico, não sobrando nenhum lugar à religião. Para Pinel, a religião não deveria ser a
substância da vida moral, somente devendo ser considerada sob o aspecto meramente médico.
Dever-se-ia pôr de lado qualquer atitude inclinada para o culto religioso, público e político, a
não ser que tais inclinações denotassem aspectos importantes nas manifestações da loucura.
Pinel, portanto, constituiu um Asilo neutralizado, livre de toda e qualquer
demonstração de devoção e religiosidade, como que purificado das imagens que elas trazem e
das paixões que a movem:
Mas, para Pinel, trata-se de reduzir as formas imaginárias, e não o conteúdo moral
da religião. Nela existe, uma vez decantada, um poder de desalienação que dissipa as
imagens, acalma as paixões e que devolve o homem àquilo que nele pode haver de
imediato essencial: ela pode aproximá-lo de sua verdade moral. E é nisto que é
capaz muitas vezes de curar (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 486).
Pinel dava importância ao predomínio da moral pura, da uniformização ética,
tomando como referência o poder moral da consolação, da confiança, e de uma fidelidade
dócil à natureza. Ele retoma o trabalho moral da religião, mas fora do seu contexto fantástico
e sim no aspecto tocante à virtude, ao trabalho e à vida social. O Asilo representa neste
55
contexto a continuidade da moral social. Nessa perspectiva, o asilo eliminava as diferenças,
reprimindo os vícios, extinguindo as irregularidades e apontando tudo aquilo que se opunha às
virtudes fundamentais da sociedade, como o celibato, a devassidão, o mau comportamento, a
extrema perversidade dos costumes e a preguiça. Tinha por finalidade a construção de um
mundo homogêneo da moral, tornando-se um instrumento de padronização dos loucos e
denúncia social: “Trata-se de fazer reinar sob as espécies do universal uma moral que se
imporá no interior às que lhe são estranhas e onde a alienação já é dada antes de manifestar-se
nos indivíduos” (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 487).
O Asilo de Pinel era exclusivamente regido por leis morais, logo, a vida dos internos
e todo comportamento dos vigilantes e dos médicos em relação a eles eram sistematizados de
modo que tais leis se efetuassem, a partir de três aspectos principais, a saber: o silêncio, o
reconhecimento pelo espelho e o julgamento perpétuo.
No que diz respeito ao silêncio, Pinel apresenta um caso de um dos internos que fora
tirado das correntes. Antigo eclesiástico afastado da Igreja por sua loucura e afetado por um
delírio de grandeza, o interno havia passado doze anos acorrentado. “Pela altivez de seu porte,
pela grandiloquência de seus propósitos” (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 489), o antigo
eclesiástico era um dos espetáculos mais observados do hospital. Por crer estar revivendo a
Paixão de Cristo, ele suportava com tolerância o longo sofrimento que até então tinha passado
interno. Apesar do seu delírio agudo, Pinel o tinha escolhido para fazer parte do grupo dos
primeiros doze prisioneiros libertados.
Todavia, Pinel não se comporta com ele como os outros internos. Sem pronunciar
nenhuma palavra, sem exaltações, ele o tira suas correntes, assim como ordena que nenhum
dos vigilantes se dirijam ao alienado, que não falem com ele. Tal proibição produziu neste
homem o mesmo efeito como se estivesse entre as correntes. O interno sentiu-se humilhado
pelo abandono e pelo novo isolamento em “plena liberdade”. Ao longo de muitas hesitações,
de vontade própria, ele se mistura aos outros doentes, retomando as ideias mais sensatas e o
bom comportamento.
Libertado de suas correntes, está agora acorrentado pela virtude do silêncio, pela
falta e pela vergonha. Sentia-se punido, e via o signo de sua inocência; livre toda a
punição física, é necessário que ele se sinta culpado. Seu suplício era sua glória, sua
libertação deverá humilhá-lo (FOUCAULT, 1961[1972]/2014 p. 490).
No que se refere ao reconhecimento do espelho, distinto do Retiro, onde o louco era
olhado e se sabia observado, no Asilo com Pinel, o olhar somente será exercido dentro de um
56
espaço definido pela loucura. A loucura verá a si mesma como objeto de espetáculo. Olha-se e
se reconhece a loucura não só entre os “normais”, mas principalmente entre os insanos
quando olham a si mesmos. Portanto, se um interno diz ser Deus diante de todos os outros
internos, o adequado era não o confrontar. Se o outro finge acreditar no delírio ali
manifestado, o interno se acalma e não mais provoca confusão. “A loucura é convocada a
observar a si mesma, mas nos outros [...] nesse olhar que condena os outros, o louco assegura
sua própria justificativa e a certeza de adequar-se a seu delírio” (FOUCAULT,
1961[1972]/2014, p. 491).
A loucura que é projetada no outro manifestante dela, é vista como uma má
consciência. É nesse sentido que o espelho se torna desmistificador. Foucault evidencia este
aspecto se utilizando de outro exemplo de Pinel. Dizia ele que outro interno de Bicêtre se
acreditava rei, dirigindo-se aos outros em um tom de autoridade extrema. Quando estava mais
tranquilo, o vigilante do hospital indagou-lhe dizendo que, se era realmente um rei, como ele
não poderia dar um fim à sua detenção e como poderia ser então confundido com outros
alienados. Nos dias posteriores, nas palavras de Pinel destacadas por Foucault, o vigilante
retoma seu discurso e:
[...] aos poucos ele lhe faz ver o ridículo de suas pretensões exageradas, aponta-lhe
outro alienado também convencido há muito tempo de que estava revestido do poder
supremo e que se tornara objeto de troca. O maníaco se sente, de início, abalado, e a
seguir põe em dúvida seu título de soberano, e finalmente reconhece a natureza de
suas quimeras (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 492).
Através desse reconhecimento da loucura pelo espelho e pelo silêncio que lhe é
ofertado, chega-se ao terceiro aspecto do sistema moral instituído no Asilo de Pinel: o
julgamento perpétuo. O Asilo era marcado, então, por uma espécie de “microcosmo
judiciário” (FOUCAULT, 1961[1972]/2014, p. 493). A loucura vê a si mesma e julga a si
mesma, tendo como resultado a culpabilidade e a instauração de formas de castigos. Isto
porque o Asilo inventava suas próprias leis, lançando mão de métodos terapêuticos e
repressão até então difundidos no século XVIII. O recurso aos banhos e duchas usados como
remédios na medicina clássica apareciam neste ambiente como punição, como um elemento
jurídico, como uma pena para determinadas infrações. Tudo era engendrado com fins que o
louco se reconhecesse no âmbito do juízo que o circundava de todos os lados, de maneira
quase paranóica. O louco tinha por obrigação saber-se julgável e condenável. Quando a
punição faltava, o recurso utilizado era a culpabilidade reconhecida por todos, o que levaria à
57
interiorização da instância judiciária e ao nascimento de um remorso no doente. Era somente
quando o louco reconhecia sua culpa é que o castigo tinha fim.
Contudo, aqueles alienados resistentes ao movimento judiciário asilar, ficavam
reclusos no interior da instituição, agregando uma nova população internada, aquela excluída
interiormente, dentre os já segregados. Deste modo, faziam parte deste grupo os internos que
incitavam a desobediência dos outros, as mulheres propensas a roubar, e aqueles que não
conseguiam se submeter à lei geral do trabalho. Isto posto, para Foucault (1961[1972]/2014,
p. 496):
O asilo da era positivista, por cuja fundação se glorifica a Pinel, não é um livre
domínio de observação, de diagnóstico e de terapêutica; é um espaço judiciário onde
se é acusado, julgado e condenado e do qual só se consegue a libertação pela versão
desse processo nas profundezas psicológicas, isto é, pelo arrependimento. A loucura
será punida no asilo, mesmo que seja inocentada fora dele. Por muito tempo, e pelo
o menos até nossos dias, permanecerá aprisionada num mundo moral.
Por outro lado, há de se reconhecer em Pinel um importante personagem no
nascimento e no desenvolvimento da psiquiatria como uma especialidade no campo médico.
Ele foi o precursor de toda uma discursividade em relação à loucura como doença mental,
bem como responsável por todos os desdobramentos que surgiram depois. O período em que
Pinel esteve inserido foi caracterizado por um momento onde a medicina estava preocupada
em se separar da filosofia, da psicologia e da religião, com vistas a delimitar seu próprio
campo de saber. Para tanto, a ciência médica precisava estabelecer e delimitar seus princípios
básicos com critérios objetivos, aproximando-se assim das ciências naturais. Sobre isso,
afirma Pacheco (2003, p. 153):
O diagnóstico médico não podia, portanto, prender-se na observação do
comportamento, para não sofrer a indesejável interferência de dados subjetivos.
Firmava-se a concepção de “doença mental” como uma decorrência de distúrbios
orgânicos provindos de disfunções de estruturas orgânicas, ou ainda de lesões
anatômicas ou funcionais do encéfalo, e que se refletiam no comportamento sob a
forma de sintomas. Contudo, a preocupação de Pinel e, em seguida, de Esquirol era
menos a de construir uma teoria biológica da loucura do que conhecer e bem
delimitar suas apresentações clínicas.
Foi justamente nesse terreno fértil que Pinel, Esquirol e seguidores deram um passo
inicial, marcante e importante para o advento da psiquiatria como um específico de saber na
medicina, a partir da fundamentação clínica sistemática e da delimitação de categorias
psicopatológicas. Vejamos suas contribuições.
58
2.6 Pinel, o tratamento moral e o surgimento da psiquiatria
Considerado por muitos como o pai da psiquiatria, o médico francês Philippe Pinel
funda, no plano do método, uma tradição clínica, com uma orientação consciente e ordenada
(BERCHERIE, 1985/1989). Diretor do hospital de Bicêtre, nos arredores de Paris, Pinel foi o
pioneiro na tentativa de classificar as doenças mentais.
Imerso em um momento de grandes modificações econômicas, políticas e sociais,
como a emergência do modo capitalista de produção e a Revolução Francesa no século XVIII,
Pinel foi inspirado pelas ciências naturais e pelo espírito científico de sua época. Neste
panorama, a doença mental perderia seu caráter místico para ganhar uma conotação científica,
tendo a botânica, as ciências naturais e a corrente filosófica que priorizava a empiria como
referências centrais. Sobre a influência da botânica para a compreensão das doenças, afirma
Foucault (1961[1972]/2014, p. 107):
Isso significa a exigência da doença ser compreendida como um fenômeno natural.
Ela terá espécies, características observáveis, curso e desenvolvimento como toda a
planta. A doença é a natureza, mas uma natureza devida a uma ação particular sobre
o meio do indivíduo.
Não foi por acaso que Bercherie (1985/1989) destaca a influência de Buffon (17071788) sobre Pinel. O naturalista e matemático Georges-Loius Leclerc, o conde de Buffon,
concebia a história natural como um estudo “prodigioso de quadrúpedes, peixes, insetos,
plantas e minerais que oferecem à curiosidade e ao espírito humano um vasto espetáculo”
(LECLERC 1749, p. 15 apud KOBELINSKI, 2013, p. 14). Para Buffon estabelecer sistemas
gerais periféricos e metódicos sobre a natureza só poderia ocorrer por meio de um
conhecimento empírico sobre ela e não de maneira arbitrária. Logo, Kobelinski (2013) aponta
que a taxonomia, conforme Buffon, só seria possível antes da observação empírica, por isso a
relevância do estudo rigoroso da anatomia, da vida, do comportamento e da distribuição
geográfica das espécies.
No que diz respeito à influência filosófica nos estudos de Pinel, destaca-se o filósofo
iluminista francês Étienne Bannot de Condillac (1715-1780). Condillac, em seu Traité des
sensations desenvolveu a tendência empírica e analítica do filósofo inglês John Locke (16321704), para quem a busca do conhecimento deveria acontecer por meio da experiência
sensorial e não de deduções e especulações. Por conseguinte, “não deixa de ter interesse saber
59
que foi junto a seu mestre, o médico Sydenham, que Locke, que também fez sua estréia na
profissão médica, encontrou os rudimentos de sua teoria” (BERCHERIE, 1985/1989, p. 32).
Já mencionamos a importância de Sydenham no século XVIII e a sua forte influência
sobre a nosografia. Bercherie (1985/1989) salienta que ele foi uma das figuras que deram
início ao retorno à teoria hipocrática, presente em todo século XVIII. Indo além dos dogmas
de Galeno, retomou a tradição empírica da construção do conhecimento médico e clínico:
Foi certamente da sistematização das doutrinas de Hipócrates que saiu o galenismo,
mas em Hipócrates, elas estavam em equilíbrio com um verdadeiro culto à
observação clínica, que desapareceu em Galeno por trás do sistema. Sydenham
transmitia a Locke uma confiança na observação e uma desconfiança da teoria que
encontramos em Pinel, através de Condillac e dos Ideólogos, e cuja última
transmutação seja o positivismo de Augusto Comte (BERCHERIE, 1985/1989, p.
32-33).
Pinel partiu do pressuposto de que toda a ideia tinha sua origem na experiência
advinda das sensações, dos órgãos dos sentidos. Por isso, seus princípios metodológicos e
científicos eram baseados na observação empírica das diversas manifestações de loucura que
constituíam a realidade. Era papel do médico observar atentamente os fenômenos, matériaprima da percepção, para assim “agrupá-los e classificá-los em função de suas analogias e de
suas diferenças; assim ele constituiria classes, gêneros e espécies” (BERCHERIE, 1985/1989,
p. 32). Cabia ao observador se livrar de toda e qualquer subjetividade nesse processo:
Na fachada do edifício, as categorias extraídas da experiência receberiam enfim o
nome que lhes dava vida a ciência. É esse o sentido do aforismo de Condillac: “a
ciência não é mais do que uma língua bem feita”. De fato, uma língua que
funcionasse corretamente nomearia o real, e não os ídolos que faziam dela um
instrumento suspeito do conhecimento (BERCHERIE, 1985/1989, p. 32).
Dito isto, no plano metodológico, reconhece-se em Pinel um intuito tão extenso
quanto possível de descrição do real. No caso da clínica, portava confiança em “homens
desprovidos de saber”, como é o caso de Pussin, vigia de Bicêtre. Concomitantemente,
ancorava suas elaborações fundamentado na história natural e nas práticas matemáticas, já que
somente uma observação empírica seria imprecisa e intuitiva, não podendo, portanto, galgar o
estatuto de ciência. Era necessário que os fenômenos manifestados na loucura fossem
transmutados para uma linguagem a fim de obter uma estrutura possível de ser enunciada: “a
clínica deve converter-se progressivamente numa leitura, num texto escrito na ‘língua bem
feita’ de Condillac” (BERCHERIE, 1985/1989, p. 33). Desta maneira, aos poucos, constituía-
60
se um campo de saber cada vez mais preciso, mesmo que reduzido à dimensão dos fenômenos
(BERCHERIE, 1985/1989).
Embora considerando as falhas desse método, limitado à observação dos fenômenos
da loucura, foi esta metodologia que serviu de base para os saberes posteriores com um
caráter positivo dentro da psiquiatria. Por isso, é lícito dizer que “Pinel foi daqueles que
constituíram a clínica médica como observação e análise sistemática dos fenômenos
perceptíveis da doença; o resultado disso foi sua nosografia” (BERCHERIE, 1985/1989, p.
34, grifo do autor). Sua preocupação centrou-se em categorizar as classes sintomáticas onde a
anatomia patológica representava simplesmente uma função secundária na classificação.
Logo, as hemorragias foram classificadas considerando apenas o lugar em que se produziam
no corpo, caracterizando não um sistema causal, mas sim um dos sinais do processo mórbido.
Aproximadamente dez anos depois é que Marie-François-Xavier Bichat (1771-1802)
inaugura o método anátomo-clínico, onde o quadro clínico seria resultado de uma lesão local:
os sintomas seriam apenas a manifestação desta lesão. No entanto, como mostra Foucault em
O nascimento da Clínica, Bichat se sustentou em Pinel e foi somente a partir dele que foi
possível a existência de uma organização da clínica que, por sua vez, forneceria as bases
necessárias para o método inaugurado por Bichat (BERCHERIE, 1985/1989).
Munido desses princípios, Pinel constrói o Tratado médico-filosófico da alienação
mental ou a mania (1801), o qual de acordo Facchinetti (2008, p. 502), “trata-se de uma das
pedras angulares da história da psiquiatria moderna, peça-chave da primeira revolução
psiquiátrica e da configuração da loucura em doença mental”. Assinala que o Tratado,
elaborado após sete anos de Pinel ter sido nomeado no Hospital Bicêtre, caracterizou-se por
adotar como elemento primordial da terapêutica o aperfeiçoamento e reestruturação
hospitalares, instaurando com isso uma nova modalidade de investigação e práticas
psiquiátricas, determinada pela vinculação do saber com a técnica.
A proposta pineliana aderiu a um ideal revolucionário, pois se posicionou contra as
condições sub-humanas dos hospitais psiquiátricos que, como vimos, ao longo do século
XVII até grande parte do século XVIII, não era um lugar destinado a qualquer interesse
médico com relação à loucura. Inspirado nos contextos da Revolução Industrial e Francesa,
Pinel toma o ideal “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” e propõe “liberdade” no
hospício, “igualdade” entre sãos e doentes (já que a doença passa a uma questão quantitativa e
não mais qualitativa em sua natureza) e fraternidade, como filantropia e esclarecimento
(FACCHINETTI, 2008).
61
Vale
mencionar
que
embora
reconheçamos
as
teorizações
de
Foucault
(1961[1972]/2014) acerca do fato de que a noção de liberdade foi, de certo modo, ideológica,
estando fortemente voltada a adequação e disciplinarização dos corpos, também
reconhecemos e damos crédito à Pinel, pela figura que representou em sua época, uma vez
que deu um passo importante ao desenvolvimento do campo de saber psiquiátrico.
Pereira (2004) afirma que embora Pinel não tenha sido concretamente o libertário
dos alienados, tirando-os literalmente das correntes, tal como é retratado no famoso quadro
Pinel libertando das correntes os alienados de Bicêtre, de Charles Müller, ele representou um
“marco decisivo do processo sempre questionável e criticável [...] de introdução da loucura no
campo médico e de constituir uma postura mais humana de relação com os loucos”
(PEREIRA, 2004, p. 114). Apesar do “mito pineliano” sugerir a lenda do famoso gesto
libertador de Pinel, indicando que este de fato nunca existiu como um acontecimento
histórico, não passando de uma construção heróica e imaginária, isto não diminui sua
contribuição ao tratamento e humanização dos insanos.
Afinal, sua não participação concreta não lhe tira o mérito de introduzir um
tratamento mais humanizado aos doentes, o que virá se estabelecer como a base do tratamento
moral. Este encontrava suas raízes na esperança de estabelecer transformações significativas
na vida e no comportamento do doente, sustentando-se em atitudes humanas, porém firmes,
da equipe técnica para com ele. Pode-se dizer que é por meio do Tratamento moral que a
psiquiatria nasce como especialidade médica, emergindo daí a dupla alienista-alienado. O
asilo finalmente torna-se um local de uma cura possível para a loucura.
O tratamento moral baseava-se na concepção segundo a qual o sujeito alienado
poderia ser reconduzido novamente à razão com ajuda da instituição asilar especial, que
representava importância crucial no tratamento. A prática de isolamento era um aspecto
capital, pois possibilitava que o doente não mais entrasse em contato com a as percepções
habitais que o assolavam, especialmente aquelas responsáveis por desencadear a doença. A
instituição, ao adotar um regime de disciplina rígida e severa, acaba por assumir uma função
paternal, em um ambiente que agia conforme a ordem médica.
É importante pontuar que Pinel não era a favor da atitude de alguns empíricos de
buscar incessantemente um remédio específico através do ensaio e erro. Era contra o ativismo
terapêutico e a intervenção forçada e intempestiva:
62
[...] os purgativos e os vomitórios dos antigos (heléboro) tinham cedido lugar à
sangria, e Pinel recebia regularmente do hospital municipal alienados enxagues e
moribundos; quando eles escapavam, era frequente ficarem dementes e incuráveis
(BERCHERIE, 1985/1989, p. 40).
Pois seguindo Hipócrates, foi partidário da noção de que a doença é
fundamentalmente uma reação salutar do organismo contra a ação de causas que interferem
em sua homeostase, sendo a cura o seu fim natural. Trata-se do “método expectante” de
Hipócrates:
O médico deve abster-se ao máximo de qualquer intervenção que venha a perturbar
o desenrolar do ciclo natural da doença. Quando o organismo tiver desenrolado sua
reação, sobrevirá a crise por meio da qual a doença chegará ao fim, através da
eliminação da matéria morbífica (BERCHERIE, 1985/1989, p. 41).
Nessa perspectiva, cabia ao médico ajudar o doente nesse processo, podendo utilizar,
se necessário, medicamentos para auxiliar o organismo em sua tarefa. “Assim, os purgativos,
os vesicatórios, os antiespamódicos, os banhos frios ou mornos, e até as sangrias tinham o seu
papel a desempenhar, sob a condição de serem ‘sóbrios’ e irem no sentido da natureza”
(BERCHERIE, 1985/1989, p. 41). Contudo, em seu Tratado, Pinel (2004) julga necessário a
inserção do tratamento moral, particularmente após descrever um caso de mania em que o
tratamento, sustentado apenas no “método expectante” fora mal sucedido (o paciente em
questão fora a óbito). Chamou atenção para o fato de que talvez o mesmo pudesse ter sido
curado se um tratamento moral lhe fosse destinado. Na Seção VI do seu Tratado intitulada
Vantagem de dirigir os alienados para ajudar os efeitos dos medicamentos, Pinel relata a
importância da Instituição de atendimento no auxílio para o tratamento da mania:
No tratamento da mania, eu tinha o poder de usar um grande número de remédios,
mas o poderoso de todos me faltou: aquele que só se pode encontrar num hospício
bem organizado, aquele que consiste, por assim dizer, em subjugar e domar o
alienado colocando-o na estreita dependência de um homem que, por suas
qualidades físicas e morais, seja apto a exercer sobre ele um domínio irresistível e a
mudar a cadeia viciosa de suas ideias (PINEL, 2004, p. 124).
Dessa maneira, Pinel lança mão e dá exemplos dos efeitos úteis de uma repressão
enérgica, da intimidação, da vantagem de abalar fortemente a imaginação de um alienado em
certos casos, permitindo-se em absoluto qualquer ato de violência, bem como máximas de
doçuras a serem adotadas nos hospícios. No que tange à repressão enérgica, ele evidencia a
partir de um caso cujo militar, ainda em estado de alienação, e depois de ter se submetido ao
tratamento comum de um hospital geral, é de modo repentino dominado pela ideia exclusiva
63
de sua partida para o exército e que, após várias tentativas de acalmá-lo pela via da doçura,
teve que recorrer à força para fazê-lo entrar em seu alojamento, sendo necessário recorrer às
mais fortes amarras. Nos dias posteriores, ele passa a manifestar ainda mais sua fúria, sempre
com irritações extremas dirigidas ao chefe, a qual a autoridade desconhecia. Depois de oito
dias nesse estado, Pinel (2004, p. 124) relata que ele pressente que ninguém irá ceder aos seus
caprichos e logo se comporta da forma mais submissa: “[...] sete meses de permanência no
hospício foram suficientes para fortalecer a razão desse militar, e ele foi devolvido à sua
família e à defesa da pátria, sem ter experimentado uma recaída desde então”.
Nesse sentido, o tratamento ocasionava um número considerável de normas
institucionais, entre as quais estavam: a proibição à violência e às vexações inúteis (correntes,
visitas de estranhos). Contava também com pessoas numerosas treinadas a lidar com os
doentes, um supervisor chefe que soubesse liderar seus subordinados e fosse plenamente
dedicado à figura do médico. Além disso, contava-se com possibilidades de trabalho para os
doentes. Em outras palavras, o asilo deveria representar um espaço que proporcionasse a
ordem, a readequação e a readaptação do doente, sendo a submissão o primeiro passo para a
cura. No asilo, o doente passava por uma educação modelar, que se prolongaria em conselhos
profiláticos para evitar uma recaída (QUEIROZ, 2007).
Porém, Pinel (2004, p. 124) atenta também para a importância da doçura e da
filantropia no tratamento moral:
Na própria enfermaria dos alienados, que era isolada do hospício e fora da vigilância
do chefe comum, quantas vezes não aconteceu por causa de zombarias bobas de
enfermeiros ou de grosserias brutais, que alienados calmos e em vias de suas curas,
recaíssem em acesso de furor por contrariedades deslocadas ou atos de violência? E,
ao contrário, alienados transferidos de hospício e tidos ao chegarem como muito
coléricos e como muito perigosos, por terem sido muito exasperados fora dali por
pancadas e maus tratamentos, parecem de repente assumir um temperamento oposto
porque lhe falam com doçura, compadecem-se de seus sofrimentos e lhe dão a
esperança consoladora de uma sorte mais feliz.
Paralelamente, Pinel leva a cabo o projeto de transformar, ou melhor, de estabelecer
uma ciência da loucura, buscando a restituição do âmbito da razão através de elementos
físicos e morais para embasar suas formulações (BIRMAN, 1978).
É possível dizer que seu Tratado teve como objetivo primeiro posicionar a loucura
como uma verdade positiva. Uma vez sendo objeto de investigação do alienismo, a loucura e
seus fenômenos começaram a ser observados sistematicamente, o que resultaria em descrições
densas dos doentes, e incluía: traços de caráter físico e moral, sinais musculares, acessos,
64
delírios, afecções morais, lesões no entendimento durante o acesso, declínio das crises, curas,
recaídas, e lesões anátomo-clínicas (FACCHINETTI, 2008).
A loucura, concebida como uma alienação mental, era uma doença no sentido das
doenças orgânicas, vista como uma disfunção das ações intelectuais, isto é, das funções
superiores do sistema nervoso. A alienação mental fazia parte das neuroses cerebrais, sendo o
cérebro a sede da mente. A alienação poderia ser de dois tipos: a abolição da função (afecções
comatosas, referentes ao coma) e a perturbação da função (as vesânias). Esta última
compreendia alienação mental em si, a loucura propriamente dita, e algumas outras doenças
mentais que não faziam do sujeito necessariamente um alienado. Entre as vesânias estavam à
hipocondria, o sonambulismo e a hidrofobia. Na hipocondria, a perturbação não ia além da
interpretação constante e inquieta das sensações viscerais, as quais consideravam
suficientemente reais para atribuir-lhes um componente orgânico. Já o sonambulismo foi
classificado como uma loucura breve, limitada ao período do sono e ao pesadelo. E, a
hidrofobia, isto é, a raiva, anteriormente ligada às neuroses espasmódicas, formava uma
transição com as neuroses motoras e viscerais. Entretanto, Bercherie (1985/1989, p. 36)
alerta:
Convém esclarecer que a alienação mental não constitui uma classe na nosografia de
Pinel, onde simplesmente encontramos as quatro espécies que compõem as vesânias.
De fato, ela não passa de uma categoria empírica, social (com as doenças mentais
crônicas justificando a internação), donde sua dispersão no seio de uma obra
propriamente classificatória como a nosografia.
Considerando a loucura em seu estatuto concreto, destacam-se as grandes classes,
onde se distribuíram as manifestações mórbidas: 1) A mania propriamente dita, cujo delírio
era generalizado, concernindo a todos os objetos e deixando lesadas várias funções do
entendimento (percepção, memória, julgamento, afetividade, imaginação, etc), acompanhadas
de viva excitação. Também distinguiu a mania com delírio e sem delírio, uma subvariedade
que “seria o pivô de futuras batalhas futuras”; 2) A melancolia, em que o delírio se restringia
a um objeto ou a uma série particular de objetos, permanecendo intacta as faculdades mentais
fora do núcleo dito delirante; 3) demência ou abolição do pensamento, entendido, a partir de
Condillac, no nível do juízo. Seria a incoerência na manifestação das faculdades mentais, isto,
é a destruição da função da síntese e 4) idiotismo ou obliteração das faculdades intelectuais e
afetivas, isto é, a supressão mais ou menos completa da atividade mental, ficando sujeito
restrito a uma existência vegetativa, podendo ser de origem congênita ou adquirida
(BERCHERIE, 1985/1989).
65
Pinel observou tudo, mas ainda não com o olhar da psiquiatria contemporânea, visto
que sua nosologia teve como objetivo a criação de grandes classes fenomênicas e
comportamentais, partindo justamente da crença de que estas poderiam aplacar algo que dizia
respeito ao real. A mania de Pinel, com exceção da mania sem delírio, referia-se aos estados
de excitação, agitação, independentes de serem maníacos (em seu sentido atual) ou epiléticos,
confusionais, esquizofrênicos, delirantes, ansiosos e histéricos. Foi por meio de tal
compreensão que ele estabeleceu a alienação mental como uma unidade.
No aspecto empírico e metodológico, agregava um grupo homogêneo de fenômenos,
diferentes das outras doenças. É de se considerar que Pinel sugeria o trabalho dos psicólogos,
especificamente aqueles fundamentados nos trabalhos de Locke e Condillac, particularmente
os que tinham desenvolvido as funções da mente normal, aspecto que, para ele, facilitaria a
descrição dos distúrbios de tais funções no alienado. Talvez por esta razão foi que na 2ª Seção
da segunda edição de seu Tratado, ele deu relevância às faculdades diversas do entendimento
como a sensibilidade, a percepção, a memória, o julgamento, as emoções, as afecções morais,
a imaginação e o caráter (BERCHERIE, 1985/1989).
Ele também era simpático de uma concepção materialista psicofisiológica: “a mente
era uma manifestação do funcionamento do cérebro” (BERCHERIE, 1985/1989, p. 38).
Enquanto desarranjo das faculdades mentais, a loucura poderia ter um certo número de
causas, a saber: 1) causas físicas, as quais eram diretamente cerebrais (como uma pancada da
cabeça e conformação defeituosa do crânio), ou simpáticas quando o cérebro acabava por ser
afetado devido estar vinculado com outros órgãos do corpo. Articulavam-se às causas físicas
outras causas fisiológicas como o parto, a idade crítica e a embriaguez; 2) a hereditariedade e
3) as famosas causas morais, que considerava as mais importantes na produção da alienação
mental (atribuindo-lhes a metade dos casos). Estas incluíam as paixões intensas e os excessos
de todos os tipos, a irregularidade dos costumes e do estilo de vida e a instituição, no sentido
de uma educação perniciosa, seja por brandura ou dureza excessiva, a qual seria
predisponente (BERCHERIE, 1985/1989).
Aponta ainda no Tratado, na seção VI Sinais precursores dos acessos de mania, sua
compreensão sobre os acessos de loucura, bem como a influência de Buffon no
empreendimento de uma descrição das manifestações da loucura:
66
A natureza das afecções específicas que dão origem à mania periódica, e ainda as
afinidades dessa doença com a melancolia e a hipocondria, levam à suposição que
sua sede primitiva quase sempre está na região epigástrica, e que é a partir desse
centro que se propagam, como numa espécie de irradiação, os acessos de mania. O
exame cuidadoso de seus sinais precursores dão, ainda, provas bastante
surpreendentes do domínio tão vasto que Lacaze e Bordeu dão a estas forças
epigástricas, e que Buffon tão bem descreveu em sua história natural; é de fato toda
a região abdominal que logo parece entrar nesse acordo simpático. No prelúdio dos
acessos, os doentes queixam-se de um aperto na região do estômago, de uma
repugnância pelos alimentos, de uma constipação severa, de ardores nas entranhas
que os fazem procurar bebidas refrescantes; agitações, vagas inquietudes, terrores,
pânicos, insônias. Pouco tempo depois a desordem e a perturbação de ideias são
exteriorizadas por gestos insólitos, por singularidades na contenção e movimentos
do corpo, que não podem deixar de surpreender profundamente um olhar observador
[...] Em outros alienados manifestam-se excessos inúteis de um humor jovial e
gargalhadas incontroláveis (PINEL, 2004, p. 117-118).
No tocante à melancolia, Pinel (1809) a definia como uma loucura determinada por
um número circunscritos de delírios, sendo sua concepção clínica da condição melancólica
bastante ampla:
A melancolia frequentemente permanece estacionária por muitos anos sem que seu
delírio central mude de caráter, e sem causar muita mudança física ou psicológica.
Pode ser vista em pacientes com esta condição em Bicêtre por 12, 15, vinte ou
mesmo trinta anos ... alguns tendo um caráter mais móvel, e após observar o
comportamento adotado de alguns lunáticos, desenvolve o estado maníaco ... outros,
após muitos anos têm uma espécie de revolução interna, e seus delírios mudam. Um
desses pacientes, já avançado em anos, acreditou por muito tempo que havia sido
aprisionado por seus pais que desejavam sua fortuna; mas recentemente, contudo,
ele começou a temer que quiséssemos envenená-lo (PINEL, 1809, p. 167-168 apud
BERRIOS, 2012 p. 608).
Deste modo, a melancolia para Pinel foi incluída sob todas as formas de psicoses
crônicas, incluindo a esquizofrenia. Todavia, esta concepção logo cairia por terra com seu
discípulo Esquirol, que incluiu a melancolia como um transtorno primário das emoções.
2.7 Esquirol e o aprofundamento das ideias de Pinel
Jean-Étienne Dominique Esquirol (1772-1840) foi um médico francês e, segundo
Bercherie (1985/1989, p. 48) destacou-se por dar continuidade nos estudos de Pinel, sendo “o
mais fiel e ortodoxo de seus discípulos”. Sua contribuição constituiu-se como a aplicação, a
ilustração e o aprofundamento das ideias de Pinel, especificamente a partir da sua obra
nomeada O tratamento moral da loucura, de 1840.
Assim como Pinel, Esquirol colocou a loucura no plano das afecções cerebrais que,
manifestando-se geralmente de modo crônico e sem febre, era marcada por disfunções na
67
sensibilidade, na inteligência e na vontade. Como Pinel, situou a sede primordial da loucura
(particularmente aquelas relacionadas às causas morais e às paixões), no sistema visceral.
Sua grande contribuição girou em torno do aspecto clínico, um aprofundamento que
inspirou muitos que vieram depois dele: “Excelente observador, suas descrições clínicas são
muito mais completas do que as de Pinel, e ele levou adiante a análise a distinção entre as
síndromes psicopatológicas” (BERCHERIE, 1985/1989, p. 48). Segundo Pacheco (2003, p.
152), Esquirol também marca um lugar de importância fundamental no desenvolvimento da
psicopatologia contemporânea:
Reconhecido entre os grandes clássicos da psiquiatria francesa da primeira metade
do século XIX, Étienne Esquirol posiciona-se como um dos marcos na fundação do
pensamento psicopatológico contemporâneo. Desenvolveu um trabalho de
continuação da obra de Pinel, como um de seus mais talentosos discípulos, e marcou
sua atuação pela utilização sistemática da observação que lhe permitiu grande
aprofundamento do trabalho clínico e uma delimitação precisa de quadros
nosográficos da nascente psiquiatria contemporânea.
Sendo assim, visando um aprofundamento clínico, Esquirol contribuiu com
significativas transformações no campo psiquiátrico, na direção de um prosseguimento do
trabalho de Pinel. Fazendo permanecer o princípio das causas físicas e morais atuando no
desencadeamento da loucura como doença mental, Esquirol prosseguiu em uma evolução
considerável no plano teórico, ao propor uma nova sistematização nosográfica, partindo de
uma observação e análise minuciosa das síndromes psicopatológicas (BERCHERIE
1985/1989; PACHECO, 2003).
Esquirol encontrou a possibilidade de explicar os variados distúrbios mentais
considerando a perturbação do equilíbrio entre as faculdades inferiores e a grande função
sintética do eu, a atenção. Por este motivo, é possível dizer que a nosologia de Esquirol
caracterizou-se por um avanço explícito em relação à Pinel. Em primeiro lugar, separou a
idiotia, congênita ou adquirida (definitiva) do idiotismo adquirido evidenciado por Pinel.
Atribuiu à causa da idiotia a um vício de conformação do cérebro, descrevendo diversos graus
da referida enfermidade evolutiva, entre os quais estavam: a imbecilidade, o idiotismo
adquirido de Pinel, o qual transformou em doença aguda. A idiotia representou assim uma
categoria diferenciada em relação ao agrupamento de problemas psíquicos propriamente ditos.
Ela não seria uma doença e sim um estado em que as faculdades mentais não se manifestaram
ou não puderam desenvolver-se o bastante (BERCHERIE, 1985/1989).
Em segundo lugar, Esquirol dividiu a demência em forma aguda curável e duas
formas crônicas e incuráveis, entre elas estavam: 1) A demência senil em que o paciente
68
conseguia, no máximo, encontrar uma estabilização do processo e 2) A demência crônica,
raramente curável. Para ele, a demência se caracterizava por um enfraquecimento geral das
faculdades cerebrais, como a supressão da atenção voluntária. É importante salientar que foi
através da complicação da demência que Esquirol introduziu o conceito de paralisia geral, que
apontava “um sinal de extensão fatal do processo mórbido. Assim, fez dela uma síndrome
exclusivamente motora que complicava a loucura” (BERCHERIE, 1985/1989, p. 50).
Em terceiro lugar, definiu a mania como uma alteração e uma exacerbação do
conjunto das faculdades, como a inteligência, a sensibilidade e a vontade. Seria um delírio
total, que “proibia a ação da atenção voluntária, muito diminuída diante do afluxo de
sensações, ideias e impulsos que assaltavam o doente” (BERCHERIE, 1985/1989, p. 50). Por
fim, agrupou e criou a grande classe das monomanias, englobando todas as afecções mentais
que só traziam prejuízos mentais parciais, preservando as outras funções intelectuais. Desta
maneira, colocou entre as monomanias a mania sem delírio e a melancolia, deixando claro a
existência de uma forma triste e alegre no delírio parcial. Para Esquirol as monomanias
poderiam ser assemelhadas a uma paixão patológica que afetava a inteligência, fixando a
atenção.
Entre os grupos das monomanias, dividiu-a da seguinte forma: na primeira divisão
situavam-se 1) lipemania ou melancolia – seriam modos de monomanias manifestadas por
meio de uma paixão triste ou depressiva e 2) as monomanias propriamente ditas, referente à
uma paixão alegre e expansiva. É neste ponto que, de acordo com Pacheco (2003), devemos
enxergar um grande avanço de Esquirol em relação à Pinel, pois ao incluir o termo lipemania,
ele dá por fim a ambiguidade que a expressão melancolia existente até então aplacava. No
entanto, veremos como o termo melancolia voltou a figurar novamente na nosografia
psiquiátrica em detrimento da palavra lipemania. Já sua segunda divisão, fundamentou-se na
natureza da faculdade lesada. É relevante apontar que essa primeira divisão influenciou as
descrições da “loucura circular” de Jean-Pierre Falret e da “loucura de forma dupla” de
Baillarger. Ambos foram personagens essenciais que influenciaram o que veio a ser
posteriormente a psicose maníaco-depressiva de Kraepelin.
Berrios (2012) também fala da importância que o termo lipemania teve na história do
saber psiquiátrico. Influenciado pela psicologia das faculdades e apostando na melancolia
como um transtorno primário das emoções, Esquirol foi um grande crítico da expressão
melancolia: “A palavra melancolia, consagrada na linguagem popular a descrever o estado
habitual da tristeza que afeta alguns indivíduos, deveria ser deixada para os poetas e
moralistas cujas expressões vagas não estão sujeitas às construções da terminologia médica”
69
(ESQUIROL, 1820 p. 148 apud BERRIOS, 2012, p. 608). É evidente, pelas palavras de
Esquirol, o seu projeto de dar continuidade ao projeto de Pinel em enquadrar a loucura como
uma doença, resultado de uma disfunção cerebral. Para tanto, ele precisava deixar de lado o
termo melancolia, ainda tão associado à filosofia. Assim, Esquirol (1820, p. 151-152 apud
BERRIOS, 2012, p. 608) definia a lipemania como:
Uma doença do cérebro. Caracterizada por delírios que são crônicos e fixos em
tópicos específicos, ausência de febre, e tristeza, que é frequentemente debilitadora e
extenuante. Não deve ser confundida com a mania, que exibe delírios generalizados
e emoções e intelecto excitados, nem com a monomania, que exibe delírios
específicos e emoções alegres e expansivas, nem com a demência, que é
caracterizada por incoerência e confusão de ideias, resultantes do enfraquecimento.
Diante disso, Esquirol (1820) chegou até mesmo a montar um perfil clínico e
epidemiológico para a então nova doença que cunhara. Conforme o médico, as taxas de
lipemania teriam propensão a aumentar entre os meses de maio e agosto, sendo o grupo etário
mais afetado os indivíduos entre os 25 e os 45 anos. No que se refere ao aspecto da
hereditariedade, ele apontou que dos 110 de 482 casos este fator estaria presente. Entre as
causas ambientais e comuns estavam as crises domésticas, o luto e as relações perturbadas.
Contudo, apesar do esforço de Esquirol em delimitar a lipemania, esta não teve grande
repercussão na psiquiatria européia como na Alemanha, na Áustria, na Suíça e Grã-Bretanha,
onde a melancolia se manteve. Griesinger, embora tenha tido interferência dos estudos de
Esquirol, também não valorizou a expressão. Para Berrios (2012, p. 609-610) a lipemania “é
um exemplo do que os historiadores podem chamar de uma categoria de ponte: ela serve
apenas para catalisar a transição entre a antiga noção de melancolia (como transtorno primário
do intelecto) para uma nova (como desordem primária do afeto)”.
A segunda divisão das monomanias fundamentou-se na natureza da faculdade lesada.
Consta em Bercherie (1985/1989) que em um primeiro momento Esquirol ainda não havia
aceitado a possibilidade da mania sem delírio e, portanto, considerava que a mania repartia-se
em dois grupos, a saber: 1) mania racional, que incluía os alienados que racionalizavam e
sistematizavam seus distúrbios de caráter e de comportamento, deixando transparecer uma
aparência razoável, mas que nem por isso deliravam menos; e 2) os casos de divisão do Eu
onde a razão e a loucura se alternavam, ou seja, o alienado, fora dos momentos de insanidade,
manifestava lucidez em períodos de normalidade, o que era acompanhado por críticas em
relação ao seu comportamento. Esta formulação, por conseguinte, mantivera-se em sua
nosografia em prol da presença de uma unidade do Eu.
70
Só que posteriormente, Esquirol voltou atrás neste ponto de vista e veio a reconhecer
o fato de existirem impulsos onde nem sempre o Eu era capaz de opor-se com sucesso, motivo
pelo qual descreveu uma distinção tripartida: 1) as monomanias intelectuais, marcadas pela
presença em primeiro plano do delírio, das ilusões e alucinações; 2) a monomania afetiva e
racional, onde a afetividade, o comportamento e o caráter era preservados pelas capacidades
de raciocínio e racionalização; e 3) a monomania instintiva ou sem delírio, onde o doente é
arrastado por impulsos que fogem à razão e ao sentimento.
Porém, Bercherie (1985/1989, p. 52) aponta que o trabalho de elaboração das
monomanias realizado por Esquirol deixou algumas imperfeições e confusões, como afirma:
Conservar-se-ia o hábito de chamar de monomania a toda sorte de atos mórbidos
(incêndio, roubo, assassinato, embriaguez, suicídio, etc.), fossem eles estritamente
impulsivos ou parte e consequência de um estado delirante, ou até de outro quadro
clínico, como a mania, a demência ou a idiotia. Assim, as monomanias ficaram com
um pé no plano dos sintomas e outro no das síndromes; essa decadência conceitual
justificaria a desconfiança dos autores (Griesinger, por exemplo, ou Falret e sua
escola conclamaria a um desmembramento).
No que diz respeito ao tratamento, pode-se dizer que Esquirol seguiu Pinel,
especialmente no gosto pelo já discutido método expectante hipocrático, a utilização
moderada da farmacopéia (adaptada em cada caso), assim como a insistência no tratamento
moral, o qual, demarcará sua diferença frente ao seu antecessor por um uso menor da
autoridade. Sendo assim, ele se utilizou de meios para romper o encadeamento vicioso de
ideias que provocavam a loucura através do isolamento num lugar especializado, viagens e
ocupações, sejam elas vinculadas à distração ou ao trabalho. Seu objetivo era que esses
instrumentos atuassem em conformidade com a teoria. Portanto, atuava no sentido de fixar ou
dispersar a atenção.
Por outro lado, as curas espetaculares, como os choques emocionais, não ocuparam
um lugar de destaque no tratamento moral empenhado por Esquirol, o qual, “procurava antes
conquistar a confiança e a afeição do alienado” (BERCHERIE, 1985/1989, p. 54). A questão
do isolamento por meio de estabelecimento fechado para o alienado foi considerada, sem
dúvida, como tratamento moral, porém de maneira distinta em relação à Pinel, uma vez que
funcionava também como um espaço higiênico, onde as condições do ar, do espaço, e clima
possuíam uma relevância essencial.
Depois de Esquirol e o aprofundamento das ideias de Pinel na França, passaremos
para terreno psiquiátrico alemão que teve como figura primordial Wilhelm Griesinger, o qual,
conforme Bercherie (1985/1989), foi o grande responsável pela expansão das ideias de Pinel
71
na Alemanha. O autor considera a psiquiatria alemã anterior à Griesinger como pré-pineliana,
visto que “caberia a ele introduzir na Alemanha a tradição clínica propriamente dita”
(BERCHERIE, 1985/1989, p. 70). Entretanto, antes de apresentarmos as contribuições de
Griesinger, faz-se necessário abrir um espaço para falar do psiquiatra belga Joseph Guislain,
posto que muito interferiu no trabalho do psiquiatra alemão, deixando relevantes formulações
sobre a mania e a melancolia.
2.8 Guislain e as formas psicopatológicas combinadas
Joseph Guislain (1797-1860) preferiu o termo frenopatias ao invés da expressão
loucura para se referir às manifestações psicopatológicas. Definiu as frenopatias “como uma
reação psicológica a um estado de dor moral” (BERCHERIE, 1985/1989, p. 71). Devido sua
longa experiência como médico particular, ele designou às frenopatias causas morais. Em
alguns momentos admitia causas físicas às frenopatias, acreditando na existência de uma
predisposição hereditária como etiologia essencial nesses casos. Guislain se debruçou,
persistentemente, na importância das formas psicopatológicas combinadas e na raridade das
modalidades nosológicas puras (BERCHERIE, 1985/1989).
Ao ressaltar as formas nosológicas combinadas, Guislain isolou uma manifestação
pura psicopatológica: o delírio primário, separando-o do delírio secundário referente aos
distúrbios afetivos (como a depressão, ansiedade e exaltação). Ao realizar essa diferenciação
o psiquiatra trouxe uma inovação no campo psiquiátrico, isolando o delírio primário e
designando-os à classe das psicoses delirantes “que, mais tarde, os alemães chamariam de
paranóia e que ele distinguiu dos distúrbios afetivos do tipo maníaco e melancólico”
(BERCHERIE, 1985/1989, p. 72). Nessa direção, assim se apresentou o esquema de Guislain:
1) a melancolia, que descreveu como exaltação do sentimento de tristeza; 2) o êxtase; 3) a
mania, como estado de exaltação moral; 4) a loucura, como anomalia da vontade impulsiva;
5) o delírio, referente à anomalia de ideias; e 6) a demência, relativa à obliteração dos estados
mentais (BERCHERIE, 1985/1989).
Guislain, de fato, elucidou uma manifestação crucial da melancolia que viria persistir
por muito tempo na psiquiatria: a dor moral e a dor de existir, retomada inclusive pela
psicanálise a partir de Lacan (QUINET, 2006).
72
2.9 Griesinger e as origens da psiquiatria orgânica
Conforme Hoff (2012, p. 433), Griesinger (1817-1868) marcou “o ponto de inflexão
no desenvolvimento da conceituação psiquiátrica ao postular uma completa pesquisa clínica e
psicopatológica na hipótese de que a doença mental é uma doença física do cérebro”.
Fundador da escola alemã, foi responsável pela propagação das ideias de Pinel na Alemanha
que, até o advento dele, não havia conseguido penetrar no país. Segundo Bercherie
(1985/1989), duas escolas até então disputavam espaço no cenário alemão, uma opondo a
outra, referenciadas à “sistemas explicativos fechados e completos, dos quais deduziam sua
abordagem dos problemas concretos” (BERCHERIE, 1985/1989, p. 72). Essas escolas eram
representadas pela escola “psiquista”, pautada no princípio segundo o qual a loucura era uma
doença da alma, e a escola somatista que, diferentemente, considerava as doenças mentais
como sendo resultado de uma afecção orgânica e somática. Nesta perspectiva, Bercherie
atribui à psiquiatria alemã anterior à Griesinger como pré-pineliana: “caberia a ele introduzir
na Alemanha a tradição clínica propriamente dita, não sem tomar muitas coisas de
empréstimo aos somatistas” (BERCHERIE, 1985/1989, p. 70).
Ao conceber a doença mental como um resultado de uma afecção cerebral,
Griesinger foi considerado como o primeiro psiquiatra organicista e “por muitos como um dos
pais da psiquiatria biológica” (PEREIRA, 2007, p. 685).
A grande contribuição de Griesinger foi seu Tratado de Psiquiatria, o qual foi visto
no campo psiquiátrico como o verdadeiro e o primeiro Tratado. Ao contrário da obra de
Esquirol, que se caracterizou mais como uma coleção de verbetes do que um Tratado
propriamente dito, e de Pinel que se restringiu a um estilo literário, o Tratado de Griesinger
intitulado Tratado sobre patologia e terapêutica das doenças mentais, “apresentou-se com as
divisões (considerações gerais, semiologia, etio-patogenia, formas clínicas, anatomia
patológica, prognóstico e tratamento), que ainda podemos encontrar nos Tratados do final do
século até nossos dias” (BERCHERIE, 1985/1989, p. 63).
Neste
Tratado,
datado
em
1845,
traduzido6
e
publicado
pela
Revista
Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, é possível encontrar seus principais
postulados sobre o substrato das enfermidades mentais e o método que convém seguir seu
estudo. O primeiro deles diz que:
6
Traduzido pelo professor Dr. Mário Eduardo Costa Pereira.
73
A loucura, estado normal da inteligência e da vontade, é apenas um sintoma;
somente estudando essas enfermidades mentais sob o ponto de vista do
sintomatológico, poderemos chegar a dividi-las em um certo número de grupos
principais, cuja existência não poderia justificar-se de outro modo. O primeiro passo
para chegar a entender esses sintomas consiste em localizá-los. A que órgão
pertencem os fenômenos da loucura? qual deve ser o órgão repetido e
principalmente enfermo nos casos de loucura? A resposta a estas perguntas constitui
a condição primeira de toda a psiquiatria (GRIESINGER, 1845 apud PEREIRA,
2007, p. 692).
Griesinger prossegue afirmando que em toda a enfermidade mental existe sempre um
acometimento cerebral envolvido, posto que é o único órgão que capta e recebe impressões
capazes de modificar os instintos e os afetos. Em outras palavras, o cérebro seria para o
psiquiatra o centro das faculdades mentais, independente de serem normais ou mórbidas. Por
esta razão, a loucura não poderia ser estudada senão do ponto de vista médico. As disciplinas
ligadas à anatomia, à fisiologia, à patologia do sistema nervoso e toda a patologia e
terapêutica específica entendida em conjunto, representavam conhecimentos prévios de que
mais necessita o médico alienista. Assim, todos os estudos sobre a loucura não realizados por
médicos teriam pouco valor e confiabilidade.
As formulações de Griesinger, por sua vez, fundamentaram-se no associacionismo,
no materialismo psicofisiológico e na concepção da consciência e do Eu, buscada no filósofo
Johann Herbart (BERCHERIE, 1985/1989) e, ainda, como consta em Berrios (2012), com a
noção de “irritação” de Broussais, que consistia na crença de que a desordem mental resultaria
de um aumento ou redução da energia psicológica ou vitalidade. Portanto, julgou o cérebro
como um centro de ações reflexas, onde as excitações sensoriais tornar-se-iam intuições de
movimento, atribuindo às atividades psíquicas superiores como formas diferenciadas das
atividades neurológicas inferiores, como o arco reflexo medular. Entre as excitações
sensoriais e o impulso motor, constituir-se-ia um elemento acessório: a inteligência,
compreendida como uma função associativa sustentada nas representações mentais. Estas
últimas, oriundas das sensações, tenderiam a se realizar através de atos adequados. Existiria,
por assim dizer, um impulso de origem somática, orgânica (como a fome e o instinto sexual),
demandante de uma representação mental possuidoras de uma tendência em ocupar o
território da consciência, transformando-se em atos. Nesta situação, chegava à consciência a
representação mais carregada, associando-se, por conseguinte, a outras tendências, formando
um complexo dominante, constituindo-se o Eu.
Entretanto, tal complexo dominante representado pelo Eu não era concebido por
Griesinger como uma unidade, pois poderia transforma-se ao longo da vida, a depender dos
conflitos de tendências e da relação de força entre elas, sendo possível evoluir de acordo com
74
o tempo e os acontecimentos. Neste sentido, a puberdade emerge como um acontecimento,
onde as modificações aparecem e, junto com elas, uma variedade de sensações novas, ideias e
impulsos. De modo análogo, a doença mental também modifica o fluxo dos pensamentos, das
sensações, do humor e dos sentimentos. Neste ponto, o doente não é mais o mesmo que antes,
pois algo foi alterado no processo cerebral de tal maneira que ele se mostra inteiramente
diferente.
Assim, sua nosologia baseava-se nas fases primárias e secundárias. Nas fases
primárias, eram poucas as lesões cerebrais e o núcleo da enfermidade centrava-se nas
perturbações afetivas, diferentemente das fases secundárias, onde a cura seria praticamente
impossível. Nesta fase, após a “tempestade emocional”, ela deixava como resíduo: 1) delírio
sistematizado, com enfraquecimento mental e deformação do Eu; 2) demência agitada, cuja
“obliteração afetiva e a incoerência intelectual não impediam a manutenção de uma certa
atividade física”; 3) demência apática, onde a própria atividade mental era praticamente
abolida” e 4) idiotismo e cretinismo, “estados de debilidade congênitos ou precocemente
adquiridos na infância” (BERCHERIE, 1985/1989, p. 77).
A forma primária é a que merece nossa atenção, pois nesta encontramos a descrição
clínica da melancolia “em um tom moderno” (BERRIOS, 2012, p. 612). Embora ela
integrasse um ambiente conceitual distinto, onde não existiam doenças psiquiátricas
independentes, somente agrupamentos de sintomas sucessivos, ela apresentava oscilações de
um princípio vital. Dito isto, na fase supracitada encontramos uma divisão entre a forma
depressiva e a expansiva. Na primeira, a melancolia, “Griesinger distinguiu como formas
clínicas a hipocondria (depressão com consciência e centrada no corpo), a melancolia
propriamente dita, a melancolia com estupor, a melancolia com tendências de destruição”
(BERCHERIE, 1985/1989, p. 76). Na forma expansiva e de exaltação mental, encontrava-se a
mania e monomania exaltada, permitida por uma menor instabilidade intelectual.
Sobre o tratamento, Griesinger acreditava no tratamento físico, assinalando grande
importância a uma política higienista, seguindo Esquirol. O processo de cura da loucura só
poderia acontecer nas fases primárias, onde o alvo seria principalmente o estado emocional.
Na fase secundária, a cura seria praticamente impossível, na medida em que neste estágio o
Eu do doente se encontraria tão falseado, que ele de fato assumiria outra personalidade. Uma
vez estando entre as doenças do entendimento, a fase secundária geralmente era seguida de
lesões cerebrais irreversíveis, fato que não agregava nenhuma esperança de cura
(BERCHERIE, 1985/1989).
75
Pode-se dizer que a grande contribuição de Griesinger foi uma nosologia edificada
sob a ideia de evolução das formas clínicas, ideia esta influenciada por Broussais a partir da
noção de “irritação” e da crença de que a desordem mental poderia ser fruto de aumento e
diminuições da energia psicológica ou vitalidade (BERRIOS, 2012). Identificaremos a
retomada do princípio de Broussais na noção de Espectro empreendida pela psiquiatria
contemporânea, “onde as formas clínicas da loucura não passariam de fases sucessivas de
uma mesma doença” (BERCHERIE, 1985/1989). A ideia da continuidade ou de
prolongamento, ou seja, o conceito em torno do continuum, fazem-se presentes desde esta
época e serão retomadas posteriormente na dimensão categorial das doenças: “E, com efeito,
as formas descritas por Griesinger representavam fases de um mesmo processo, da frenalgia
inicial à demência completa terminal, entendendo-se que a cada etapa esse processo podia
fixar-se ou regredir” (BERCHERIE, 1985/1989, p. 78).
Prosseguindo no terreno do desenvolvimento do campo psiquiátrico, passaremos
agora às teorizações de J-P Falret, Baillarger, Kahlbaum até chegar em Kraepelin e seu
conceito de psicose maníaco-depressiva.
2.10 As raízes da psicose maníaco-depressiva: contribuições de Falret e Baillarger
As origens da categoria denominada psicose maníaco-depressiva de Kraepelin
encontram suas raízes na França em meados do século XIX, através das figuras de Falret e
Baillager. Ambos, paralelamente, isolaram a mania e a melancolia como uma disfunção única.
Falret nomeou essa disfunção de “loucura circular” e, Baillarger, “loucura de forma de dupla”
(BERCHERIE, 1985/1989; PEREIRA, 2002; QUINET, 2011). Veremos, então, as
contribuições de cada um para a psiquiatria e a nosologia clássica.
Jean-Pierre Falret (1794-1870) foi um psiquiatra francês determinante no panorama
da psiquiatria clássica. Em paris, foi assistente de Esquirol, trabalhando na Salpêtrière
(PEREIRA, 2002). Segundo Bercherie (1985/1989), Falret destacou-se primeiramente por ser
um anatomista militante, dedicando-se a buscar no cérebro dos alienados e em suas
membranas lesões que pudessem estar associadas a determinadas patologias mentais.
Todavia, convencido de que não conseguiria, somente pelo achado dessas lesões cerebrais,
justificar cientificamente os fenômenos psicológicos da loucura, passou a se debruçar sobre os
estudos da psicologia da escola escocesa, fundamentada em uma linha espiritualista. Além
disso, dedicou-se ao estudo de lesões referente às diferentes faculdades mentais (como a
76
memória, o julgamento, a abstração, a associação de ideias, entre outros), com o intuito de
associá-las a uma fisiologia.
Falret acreditava que a loucura seria resultado de uma lesão orgânica cerebral, sendo
suas manifestações consideradas apenas fenômenos indiretos de tais alterações. Desta
maneira, é possível reconhecer em Falret um grande alienista, pois, de fato, visou realizar uma
pesquisa psicopatológica, procurando na lesão da faculdade mental um paralelismo com os
atos relacionados dessa mesma faculdade em seu estado normal. Descrevia, assim,
manifestações psicopatológicas e procurava articulá-las a um componente orgânico, com
vistas a identificar um fundo mórbido na doença mental (BERCHERIE, 1985/1989).
Posteriormente e de forma paulatina, foi atravessado pelo método de observação
clínica. Para ele, o clínico deveria apreender o complexo do estado patológico considerando
não somente as manifestações marcantes e agudas deste estado, mas também os fenômenos
mais sutis da doença, incluindo os sentimentos e o fundo afetivo nela implicado. Era também
partidário da ideia de que o alienista não deveria se restringir ao papel do observar e
testemunhar as manifestações psicopatológicas do alienado, afirmando que os sintomas
precisariam ser investigados tanto no registro físico da lesão quanto no registro moral
(BERCHERIE, 1985/1989).
É válido ressaltar que Falret foi o pioneiro na tarefa de pensar a patologia mental em
sua evolução longitudinal, identificando o compasso da doença, suas oscilações e suas
diversas fases, juntamente com as alternativas que o doente apresentava. Esta forma de
pensamento, por sua vez, possibilitou que ele elaborasse uma de suas contribuições clínicas
mais marcantes para o campo psiquiátrico e da nosologia clássica: “a loucura circular”.
Segundo Pereira (2002, p. 127):
Foi exatamente esta perspectiva diacrônica que permitiu-lhe precisar a unidade da
“loucura circular”, uma vez que não se fixava nas manifestações maníacas ou
depressivas do caso imediato que tinha sob os olhos, mas antes acompanhava-o na
sua evolução temporal, o que lhe permitiu constatar a alternância das fases.
Para Falret, a mania, a melancolia, a monomania e a demência, não representavam
mais dois estados sintomáticos provisórios, não podendo, portanto, serem necessariamente
classificadas como formas distintas de doença. De acordo com ele, era mais importante
detectar os sinais minuciosamente observados e ligar com o quadro clínico, do que
simplesmente identificar o aspecto mais aparente dos sintomas, atribuindo relevância, assim,
77
para os sintomas periféricos, suas dimensões secundárias. Este foi o caminho escolhido por
ele, a fim de construir uma entidade mórbida (BERCHERIE, 1985/1989).
Entretanto, Falret não foi o único alienista que se atentou para o fato de que a mania
e a melancolia poderiam ser concebidas como uma disfunção única. O neurologista e
psiquiatra Jules Baillarger (1809-1890), em 1854, apresentou à Academia de Medicina uma
dissertação que teve como objetivo descrever um novo gênero nosológico. Baillarger afirmou
existir a “loucura de forma dupla”, “em que a sucessão de duas formas constituía um único
ataque” (BERCHERIE, 1985/1989, p. 98), caracterizado pela presença regular de dois
períodos, a saber: o melancólico e o maníaco. Alternava-se entre as duas fases um período de
“pseudo-intermitência”, na medida em que tal período não mantinha relação com um retorno
a um estado anterior.
Falret, quando soube da apresentação da dissertação de Baillarger à Academia de
Medicina, reivindicou a prioridade e também veio a defender, perante a mesma Academia,
sua Tese intitulada “Da loucura circular”, afirmando que desde 1850 já tinha assinalado uma
patologia semelhante da que Baillarger descreveu, no contexto de suas aulas clínicas. A este
respeito, Pereira (2002, p. 128) salienta que:
A questão da prioridade da descrição da unidade dos processos maníacos e
depressivos no contexto de uma única entidade mórbida, disputada com Baillarger,
permanece aberta, e a tradição tende a reconhecer a ambos o mérito dessa precisão
nosológica.
Ao cunhar a “loucura circular”, Falret visou descrever uma entidade mórbida que
durava muitos anos, senão a vida inteira, possuindo, assim, um prognóstico desanimador. A
“loucura circular” constituía-se na reunião de três estados particulares (mania, melancolia e
estado lúcido), capazes de se sucederem em uma ordem determinada, de modo previsível e
não passível de modificação. Para ele, a “loucura circular” não era baseada em um único
caráter principal, como a quantidade de delírio, a tristeza ou agitação, mas no conjunto da
entidade como um todo, considerando os seus estados peculiares possíveis. Por esta razão,
afirmou que a característica da “loucura circular” não era nem propriamente mania e nem a
melancolia em seu aspecto habitual. Quando acometido pelo estágio da excitação, o sujeito
cometia atos sem alguma coerência e, na fase depressiva, ocorria um abatimento sem delírio
marcante (BERCHERIE, 1985/1989).
Cabe, porém, assinalar que apesar da “loucura circular” de Falret e a “loucura de
forma dupla” de Baillarger se assemelharem, elas também guardam entre si fortes diferenças.
78
Enquanto que Falret considerava a “loucura circular” como uma entidade mórbida, com
quadro clínico e evolução discriminados e específicos, de considerável caráter hereditário,
mais frequente em mulheres; Baillarger prosseguiu no pensamento de Pinel e Esquirol, dando
ênfase ao aspecto somático e sindrômico da disfunção (BERCHERIE, 1985/1989; PEREIRA,
2002). Já J-P. Falret terá bastante influência nos trabalhos de Kahlbaum, outro relevante
personagem no cenário do desenvolvimento do saber psiquiátrico.
2.11 Kahlbaum: a ciclotimia e a distimia
Karl Ludwig Kahlbaum (1828-1899), embora fosse um psiquiatra alemão, sofreu
considerável interferência da escola francesa, principalmente através das ideias de Falret.
Propôs uma nova classificação das doenças mentais, introduzindo princípios inovadores com
relação à pesquisa e à organização do saber psiquiátrico, tomando como base o método que
denominou de “clínico”. Ao invés de seguir o modelo anátomo-clínico, procurando
incessantemente lesões associadas à mania e melancolia, resgatou a patologia clínica de Falret
(BERCHERIE, 1985/1989).
Neste sentido, procurou nas manifestações dos alienados o seu verdadeiro objeto de
estudo psicopatológico, priorizando tanto os sintomas somáticos quanto os processos
psíquicos mais fundamentais para a psiquiatria. Partiu do método das ciências naturais, no
qual o patologista deveria criar, no caso de não encontrar uma fisiologia inteiramente pronta
existente, sua própria análise fisiológica. Dito isto, seu método clínico organizava-se por meio
de três pilares: 1) no levantamento de todos os fenômenos vitais apresentados pelo doente; 2)
no desenrolar temporal dos processos mórbidos; e 3) na utilização de inovações
terminológicas (BERCHERIE, 1985/1989).
No que concerne aos levantamentos dos fenômenos vitais manifestados pelo
paciente, estes deveriam considerar as manifestações somáticas e as psíquicas. Nas psíquicas,
era necessário levantar dados tanto intelectuais quanto afetivos e éticos, bem como os
conscientes e voluntários, e os inconscientes e involuntários. Já o desenrolar temporal do
processo mórbido tinha por objetivo possibilitar o entendimento da evolução da doença até o
estado atual, podendo predizer seu desenvolvimento futuro, apresentando detalhes do quadro
clínico apresentado (BERCHERIE, 1985/1989).
Aliás, pode-se dizer que o desenrolar temporal nas pesquisas de Kahlbaum muito
influenciaram trabalhos e pesquisas posteriores, visto que ele avançou em uma abordagem
empírica e clínica para sua classificação, aludindo à importância do “curso da doença”,
79
fazendo uma distinção entre os conceitos transversal (sincrônico) e longitudinal (diacrônico)
da patologia mental. Para o psiquiatra, a estrutura da doença só poderia ser encontrada em sua
história natural e perfil temporal (BERRIOS, 2012).
Por fim, sobre o uso de inovações terminológicas, esta tinha a finalidade de
descrever, a partir de uma nomenclatura mais rica, as manifestações psicopatológicas com o
intuito de discriminar ainda mais os fenômenos mórbidos. Foi por meio deste método que
Kahlbaum constituiu sua nosologia, considerando o caráter evolutivo das doenças mentais, as
quais, por sua vez, permitiriam uma orientação para pesquisa psicopatológica (BERCHERIE,
1985/1989).
Segundo Bercherie (1985/1989, p. 123), a classificação das doenças mentais para
Kahlbaum consistia nas seguintes categorias: as Vesânias, que “eram afecções cerebrais
idiopáticas em que o delírio era geral [...] e que se caracterizavam por uma evolução
essencialmente clínica”. O doente podia passar por algumas etapas patológicas, que incluía a
mania, a melancolia ou a monomania exaltada de Griesinger, “podendo fixar-se nelas, voltar a
elas ou recuperar a saúde” (BERCHERIE, 1985/1989, p. 124). Diferenciou a vesânia
progressiva, a paralisia geral, da vesânia típica, que correspondia um grande ciclo das
psicoses unitárias, atribuídas a uma categoria de entidade nosológica.
Outra categoria eram as Vecordias, que eram “afecções idiopáticas em que os
distúrbios mentais limitavam-se a uma única vertente do psiquismo” (BERCHERIE,
1985/1989, p. 124), tal como a monomania de Esquirol e o delírio parcial. Nesta categoria, o
complexo sintomático não apresentava evolução, sem modificação do quadro clínico. O
doente afetado pelas Vecordias podia sofrer influência no humor afetivo, na inteligência e na
vontade. Quando era afetado na inteligência, o doente era acometido de paranóias, onde o
mesmo apresentava delírios crônicos sistematizados. Quando as Vecordias interferiam na
vontade, os doentes apresentavam uma loucura moral. E no que se direciona ao humor
afetivo, podemos observar que a mania e a melancolia foram posicionadas por Kahlbaum sob
o bojo da distimia (BERCHERIE, 1985/1989).
Cabe salientar que em 1863, Kahlbaum utilizou o termo ciclotimia para falar das
formas mais leves das oscilações de humor. À expressão distimia atribuiu às formas de
doença que apresentavam manifestações atenuadas de depressão. Segundo Moreno et al
(2010, p. 26):
80
Para Kahlbaum, os distímicos não apresentariam formas flutuantes, nem episódios
de mania, e as alterações crônicas das funções psíquicas não seriam evidentes, o que
parece ter sido a primeira aproximação do termo distimia ao sentido atual da
depressão leve em vez de um temperamento psicopático depressivo.
No ano de 1882, Kahlbaum acrescentou ao humor afetivo a ciclotimia, que incluía a
loucura circular de Falret, o distúrbio simples do humor, como a depressão ou a exaltação,
sem loucura ou demência (mesmo que tardia). Nesses casos, não se fazia necessário a
internação. Para Bercherie (1985/1989, p. 124), “trata-se, como vemos, das formas mais
brandas da síndrome descrita por Falret”.
Dando prosseguimento em sua classificação, também destacou as Disfrenias, que
eram disfunções mentais simpáticas, causadas por perturbações cardíacas, tifoides,
traumatismo craniano, entre outros distúrbios orgânicos. Nestes casos, o delírio sintomático
era generalizado, variável e sem evolução regular (BERCHERIE, 1985/1989).
A considerar sua origem somática, as disfrenias poderiam ser nervosas, quimosas
(das vísceras) ou sexual. Às Neofrenias, caracterizou como a suspensão do desenvolvimento
psíquico, de forma congênita ou adquirida na infância (idiotia). E, as Parafrenias, definiu
como as doenças mentais que emergiam quando conectadas com um dos cruciais períodos de
mutação do desenvolvimento biológico, manifestando-se por meio de uma regressão
intelectual rápida. As parafrenias dividiam-se em: parafrenias da senilidade (demência senil)
e da adolescência, a qual descreveu-a “como um processo mórbido em que a imbecilidade
profunda sucedia a alguns ataques de depressão e excitação superficiais e pouco coerentes,
acompanhados por distúrbios do pensamento, da linguagem e do comportamento, em
adolescentes cuja evolução intelectual [...] fora normal” (BERCHERIE, 1985/1989, p. 125).
Aclaradas as principais interferências que giraram em torno de Kraepelin e que
contribuíram para a história da psiquiatria clássica, podemos agora dar prosseguimento ao
capítulo a seguir, onde mostraremos a psicopatologia kraepeliniana e seus sucedâneos, bem
como ela influenciou, em parte, a psiquiatria que testemunhamos atualmente. Dizemos “em
parte”, porque veremos que o projeto retomado pelos ditos “neokraepelinianos”, a partir do
DSM-III em 1980, de fato, não demonstrou tanta fidelidade às ideias de Kraepelin.
Assistiremos como isso deu através do capítulo 2: Da psicose maníaco-depressiva ao
transtorno bipolar.
81
3 DA PSICOSE MANÍACO-DEPRESSIVA AO TRANSTORNO BIPOLAR
Neste capítulo, vislumbramos dar continuidade à apresentação do desenvolvimento
do saber psiquiátrico, dando ênfase às elaborações de Kraepelin em torno da categoria psicose
maníaco-depressiva, assim denominada por ele. Destacaremos como a psicopatologia de
Kraepelin, esteada especialmente pelas ideias dos psiquiatras Kraft-Ebing, Griesinger e
Kahlbaum, instituiu-se como um marco na história da psiquiatria, visto que trouxe relevantes
consequências para o campo psiquiátrico que assistimos atualmente.
Contudo, também não deixaremos de abordar que o uso das contribuições deixadas
por Kraepelin, na psiquiatria moderna, não aconteceu sem desvios. Particularmente com a
introdução da 3ª Revisão do Manual Diagnóstico e Estatísticos dos Transtornos Mentais, o
DSM-III, mostraremos que houve uma transformação radical no território psiquiátrico,
principalmente porque é neste momento que se torna possível enxergar uma mudança
discursiva, a qual, focada em um modo operacional, ateórico e pragmático na classificação
das doenças, passou a negligenciar parte do arcabouço construído por Kraepelin, abalizado
em uma psicopatologia propriamente dita.
Aliás, quando falamos que Kraepelin desenvolveu uma psicopatologia propriamente
dita sobre as doenças mentais, estamos com isso querendo dizer que, independente dos
métodos de pesquisa que ele utilizou para instituir sua nosologia, ele não se deixou levar pelo
furor de reduzir os fenômenos mentais às manifestações diretas da lesão cerebral. De outra
maneira, como será possível ver a seguir, ele não acreditava que a patologia mental era
estritamente biológica e orgânica, especialmente quando considerou que algumas variantes
sócioculturais poderiam se fazer presentes em aspectos secundários da doença mental
(PEREIRA, 2009).
Por esta razão, podemos dizer que Kraepelin, de fato, realizou uma psicopatologia, a
qual, como uma disciplina, versa sobre o objeto psicopatológico indo, portanto, além de
qualquer “tentativa de redução a uma semiologia psiquiátrica” (PEREIRA, 2014, p. 1042). A
psicopatologia, como uma disciplina não restrita à psiquiatria, visa transcender o fato de que a
doença mental é fruto direto de uma alteração biológica associada à determinada função.
Nesta linha de pensamento, é possível dizer que tanto Kraepelin quanto Freud,
construíram um saber sobre objeto psicopatológico, a doença mental, motivados por métodos
diferenciados e, até mesmo antagônicos. Isso nos leva a dizer que, ao falar de psicopatologia,
requer que nos questionemos de qual psicopatologia estamos falando, pois o termo pode
aplacar concepções totalmente diferentes uma das outras. Por este motivo, concordamos com
82
Pereira (2000) quando afirma que é mais apropriado falarmos em “psicopatologias”, no
plural, do que “psicopatologia”, no singular, atentando para o fato de que a palavra em si pode
abarcar distintas maneiras de enxergar o objeto psicopatológico, algo que, por sua vez,
implica a existência de inevitáveis tensões dentro deste campo.
Diante de tais considerações, já dissemos que Kraepelin realizou uma psicopatologia,
mas com que objetivo se fez necessário retomar esta questão?
Retomamos esta questão para apontar um fenômeno crucial no desenvolvimento do
saber psiquiátrico, que acabou por proporcionar uma mudança discursiva neste campo, como
aludimos anteriormente. Referimo-nos a um processo que diz respeito não apenas a uma
“desnosologização” das categorias de Kraepelin, mas também ao desaparecimento de sua
pesquisa psicopatológica, através de um movimento na psiquiatria, que vem tomando corpo
desde a inauguração do DSM-III, na década de 80 (PEREIRA, 2000; 2009; CAPONI, 2011;
DUNKER; KYRILLOS NETO, 2011a; ALBERTI; MARQUES, 2005).
Trata-se de um movimento liderado por um grupo de psiquiatras norte-americanos
que, curiosamente, passaram a se intitular de “neokraepelinianos” (CAPONI, 2011). Imbuídos
em resgatar a psicopatologia empreendida pelo grande psiquiatra, este grupo, apoiado em um
projeto empírico e pragmático, reformulou a nosologia psiquiátrica que se fazia presente até
então, instituindo um novo significante que passou a ocupar o lugar de agente dominante
neste discurso. Aludimos ao significante transtorno. É sobre esse ponto de vista que a psicose
maníaco-depressiva, concebida por Kraepelin, desaparecerá dos manuais de psiquiatria, para
ser alocada em categorias diagnósticas dominadas pela égide dos transtornos, passando,
assim, a integrar o complexo do Transtorno bipolar.
Além do mais, a própria admissão da palavra transtorno no DSM-III, traduzida para
a língua portuguesa do original inglês "disorder", deixa explícito o esforço de mudança deste
grupo de psiquiatras “neokraepelinianos”. Esse esforço de “descontaminação” das teorias
psiquiátricas, para usar as palavras de Pereira (2000), denota a valorização e a tentativa de
construção de uma estrutura idealmente ateórica das doenças mentais, na medida em que não
obedece a nenhuma corrente presente na disciplina da psicopatologia, nem mesmo a de
Kraepelin.
Sendo assim, é possível dizer que a inauguração do DSM-III provocou a exclusão da
psicopatologia em razão de uma escolha pseudocientífica, pragmática e operacional
(PEREIRA, 2000), deixando de lado os princípios que Kraepelin havia edificado. Neste
contexto, observamos a inscrição de uma tensão entre a psicopatologia clássica, existente na
época de Kraepelin, e a psiquiatria americana dos manuais psiquiátricos, a qual, embora tenha
83
se proposto a seguir a ideias do referido psiquiatria, no final, preocupou-se apenas em
reafirmar sua identidade científica, buscando se adequar a um paradigma médico que prioriza
as neurociências e a epidemiologia, não levando em consideração a singularidade do paciente,
sua história e o que ele tem a dizer, aspectos estes cruciais na avaliação clínica e no
estabelecimento de um possível diagnóstico.
Sobre esta questão, Gilda Paoliello (2001), ao assinalar acerca do problema do
diagnóstico em psiquiatria, propõe uma crítica direcionada à tendência atual do campo
psiquiátrico em querer se encaixar, a qualquer custo, ao paradigma médico-científico. Aponta
que tal atitude da psiquiatria, evidenciada pelos manuais diagnósticos americanos, acabam por
excluir não só o sujeito em sua particularidade, mas também a própria figura do psiquiatra e a
clínica que ele poderia oferecer. A autora nos chama atenção para o fato de que estabelecer
um diagnóstico em qualquer outra especialidade da medicina é bem diferente do que
estabelecer um diagnóstico em psiquiatria. Considerando este argumento, ela pontua que a
psiquiatria, quando trata de se adaptar ao paradigma médico-científico, esbarra em um
problema calamitoso, visto que se vê obrigada a negligenciar o que existe de mais precioso
dentro dela: a tradição clínica e o contato médico-paciente. Com isso, acaba desconsiderando
a subjetividade do paciente, pois o referido paradigma, conforme as leis que regem o seu
discurso, não deve e nem pode aplacar esta dimensão do sujeito.
Do mesmo modo, pontua Clavreul (1983) que a aliança do saber médico psiquiátrico
com uma ideologia pretensamente científica e totalitária, sustenta-se em um ideal que impede
o aparecimento de qualquer fala do sujeito que sofre, desautorizando-o diante do próprio malestar ou do sintoma que porta. Neste sentido, ele afirma:
Eliminando qualquer outro discurso, e consequentemente o do próprio doente, o
discurso médico afasta, pois, um certo número de elementos que não deixam de ter
interesse em si mesmos. É da visada totalitária do discurso médico (como de todo
discurso) nada querer saber nem poder saber do que não lhe pertence, porque é
inarticulável em seu sistema conceitual, e não pode resultar em nenhuma prática que
não fosse médica (CLAVREUL, 1983, p. 84).
É justamente através dessa visada totalitária de um discurso pseudocientífico que a
psiquiatria biológica, ao querer reduzir toda a atividade psíquica a uma causalidade cerebral,
intenta governar e amestrar os sujeitos à sua maneira, massificando-os no rol dos transtornos
e, ao mesmo tempo, amortizando-os no que lhes é de mais singular: sua dor de existir. A dor
de existir e o mal-estar, neste panorama, deixam de agregar um valor de verdade para
simbolizar simplesmente uma falha nos neurotransmissores.
84
Todavia, isso não significa dizer que a questão que envolve os neurotransmissores na
depressão e no TAB não seja legítima. Trata-se de um fato. Isso é inquestionável e pode, sim,
trazer benefícios ao sujeito que sofre. Entretanto, a psiquiatria não pode se resumir a isso.
Sabemos que o sujeito diagnosticado pela psiquiatria como uma depressão não psicótica, por
exemplo, não se restringe a um corpo que apresenta uma disfunção nos neurotransmissores. É
mais que do que isso, simplesmente.
Para Alberti e Marques (2005, p. 723) o aspecto pragmático do DSM, ancorado de
modo marcante nas neurociências, insiste em procurar somente “nas disfunções químicas e
anatômicas, através de exames complexos (de imagens, de extremo avanço tecnológico, e
mediações bioquímicas complexas) a causalidade para os fenômenos que os pacientes
apresentam”. Desta maneira, pelas tecnologias médicas e científicas, a psiquiatria
neurobiológica visa construir um saber formal organicamente sistematizado sobre o que é da
ordem do psíquico. Pela via de um organicismo e reduzindo o sofrimento a um corpo
disfuncional mecânica, física e quimicamente, esta psiquiatria traz prejuízos incomensuráveis
“para toda e qualquer positivação do sujeito” (ALBERTI; MARQUES, 2005, p. 723).
Porém, esta pretensão totalitária organicista da psiquiatria, em algum momento, cai
por terra, porque, como afirma Paoliello (2001, p. 89): “diferentemente das outras
especialidades médicas, a psiquiatria não dispõe de marcadores biológicos para a
identificação de casos”, não possuindo, portanto, evidências científicas suficientemente
capazes de suprir completamente as patologias mentais. A crítica gira em torno de uma
procura incessante da psiquiatria atual em se adequar ao modelo médico-científico, tanto no
trato com portador da doença mental, quanto no estabelecimento do seu diagnóstico, o que
trouxe consequências flagelantes para a psiquiatria:
A psiquiatria atual teima em se referenciar em um modelo médico-científico, sem
levar em conta se isso lhe cai bem ou não. E o faz de maneira desastrosa: deixa de
lado o que a medicina tem de mais rico, que é a tradição clínica e a delicadeza do
contato médico-paciente, com todas as suas particularidades, e vai buscar a
neutralidade e o rigor nos avanços da ciência, como se fosse reduzir o seu objeto à
doença. Nem a medicina se satisfaz com esse objeto e nem a medicina pode se
refugiar em uma neutralidade, pois o médico, a todo instante, em sua prática se
confronta com a necessidade de julgamento, seja no estabelecimento das condutas,
seja na indicação de uma cirurgia ou até indicação de alta: nem sempre podemos
restringir esses atos médicos a modelos científicos tipo doença X conduta Y
(PAOLIELLO, 2001, p. 87).
No decorrer de nosso capítulo, observaremos que mesmo Kraepelin, fundamentado
em uma perspectiva positivista, realista e empirista, não abria mão da sua clínica. Hoje, o que
se vê no estabelecimento do diagnóstico é uma mera adaptação das manifestações
85
comportamentais do paciente às descrições catalogadas do DSM, pautadas especialmente em
uma psiquiatria baseada em evidências. O problema e a crítica, no entanto, não se dirigem
simplesmente às descrições das categorias, agora, chamadas de transtornos. Sabemos que tais
descrições são necessárias, porém elas não devem ser o ponto de partida e nem o único
objetivo e, sim, efeito de uma pesquisa psicopatológica, aquela que vai atrás da etiologia da
doença.
O DSM, com a pretensão de representar a identidade médica e científica da
psiquiatria, acabou, assim, restringindo-se “a uma enumeração de transtornos, dentro de uma
perspectiva que se considera ateórica e não etiológica” (PAOLIELLO, 2001, p. 88), marcada,
essencialmente, por uma clínica da medicação. Ora, a psiquiatria não pode ficar restrita a esta
tarefa. Se assim for, esta, “ao invés de se colocar em relação de extensão com a medicina,
coloca-se assim em relação de extinção” a esta (PAOLIELLO, 2001, p. 88).
Dito isto, resgatar a psicopatologia de Kraepelin, suas influências e a concepção da
categoria clínica psicose maníaco-depressiva introduzida por ele, impõe-se como um objetivo
essencial em nossa pesquisa, pois, entendendo como a psiquiatria clássica desenvolvia suas
pesquisas e realizava suas classificações, é que nos será possível enxergar que do projeto
“neokraepiliniano” do DSM, de kraepeliniano restou pouco. Veremos que o objetivo deste
projeto dito científico do DSM ancora-se em um ato político e ideológico, isto é, no
estabelecimento de uma relação de poder, que pretende governar o laço social de tal modo
que todos sejam iguais, ignorando o caso a caso.
Como já nos dizia Thomas Kuhn (1970), não há ciência sem ideologia e é esta
ideologia que pretendemos explicitar, partindo da acepção conforme a qual a classificação
pela via dos transtornos intenta posicionar todos os sujeitos no mesmo “bolo”, eliminando,
cada vez mais, as diferenças que existem no um a um, fazendo “funcionar o singular no passo
do geral ou mesmo do universal” (ASKOFARÉ, 2013, p. 128).
Para Rodrigues (2000), também não podemos deixar de observar o caráter ideológico
implícito nas categorias nosográficas atuais, sobretudo entre aquelas que compõem o quadro
das “doenças afetivas”, a considerar a abordagem ateórica envolvida nestes quadros. A este
caráter ideológico, Leader (2015) o identifica a uma espécie “mercantilização dos
transtornos”. Ao se referir ao transtorno bipolar, o autor afirma:
86
Não devemos subestimar aqui o peso da mercantilização do transtorno bipolar. À
medida em que se multiplicam as referências a ele e que estudos pressupõem sua
existência como uma categoria diagnóstica válida, ele vai se equiparando a uma
entidade biológica imutável. Mais e mais pessoas passam a se ver como bipolares,
sofrendo de um “transtorno” que segue seu próprio conjunto de regras, externamente
classificadas. Um dos resultados disso é que se perde a especificidade de cada caso
(LEADER, 2015, p. 117).
Nesta direção, Pereira (1996) assinala que a introdução do termo transtorno teve um
viés político, na medida em que ocupou uma função meramente retórica: resolver um
problema, encontrar uma palavra capaz de universalizar a patologia mental, trazendo à tona
uma linguagem supostamente mais científica. Tratou-se, portanto, de uma terminologia que
serviu para tamponar um furo que era preciso erradicar (PEREIRA, 1996). Existiu, por trás
dessa intenção, todo um projeto político que pretendia oferecer à psiquiatria um caráter
pragmático, de modo que o diagnóstico pudesse abarcar uma quantidade maior de pessoas,
por meio somente da descrição sintomatológica.
Por outro lado, a crítica que se extrai daí não gira em torno da descrição dos
sintomas. Como mencionamos acima, é necessário descrever sintomas. Mas não basta. É
preciso que tal descrição seja acompanhada de uma etiologia orgânica, de um componente
desta ordem capaz de ser associado às constelações sintomáticas em questão. Com o poderio
da palavra transtorno no discurso psiquiátrico, a partir do DSM-III, resolveu-se um impasse,
entretanto, abriu-se outro: a psicopatologia clássica perdeu espaço e desapareceu em favor de
um projeto pragmático e operacional, empreendido pelo referido manual, sustentado pelas
concepções nosográficas modernas da psiquiatria:
Inteiramente constituídos a partir de uma perspectiva ateórica e operacional, os
sistemas nosográficos psiquiátricos têm desempenhado um papel decisivo na
pesquisa e na teorização do campo psicopatológico desde a década de 80, com a
publicação da terceira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação
Psiquiátrica Americana (DSM-III). O impacto dos princípios que norteiam esse
manual nosográfico foi de tal ordem, que todas as elaborações psicopatológicas
posteriores portam a marca de sua influência: eles tornaram-se, em pouco tempo, os
fundamentos de toda a pesquisa psiquiátrica moderna e os organizadores das
concepções científicas, e mesmo leigas, sobre a psicopatologia (PEREIRA, 1996, p.
44).
Isto posto, testemunharemos o significante transtorno, como significante mestre
universal, vindo do discurso social, enquadrar o laço social entre os sujeitos de uma maneira
tal que possam ser vistos como iguais. Ademais, se considerarmos o transtorno pelo
transtorno, somente, sem nos atermos às adjacências que o acompanham (como o transtorno
bipolar, do pânico, obsessivo compulsivo e, por aí vai) a tendência é todo mundo ser capaz de
87
se encaixar algum. Neste discurso, supostamente, existe espaço para todos! Pelo significante
transtorno, o discurso em questão pautou-se em uma política onde, dificilmente, alguém
escapa.
E, quando se trata da perspectiva envolvendo o caráter do espectro em psiquiatria,
fica ainda mais difícil fugir de qualquer categoria que envolva o TAB, pois até mesmo se o
sujeito apresentar uma mania em grau leve, a hipomania, ele pode ser diagnosticado como tal.
Através do projeto spectrum na psiquiatria, impulsionado particularmente pelo grupo liderado
pelo psiquiatra Hagop Akiskal, identificamos uma tendência ainda maior de massificação dos
sujeitos. Uma vez se baseando na perspectiva dimensional, o projeto spectrum parte da
concepção segundo a qual a doença mental varia ao longo de um continuum, isto é, as
categorias clínicas são vistas não como entidades isoladas, mas sim a partir de uma
continuidade gradual entre as distintas manifestações psicopatológicas, sendo claramente
isolados apenas os estados extremos dos processos mentais (PEREIRA, 2009).
Mais uma vez, presenciaremos uma mudança de perspectiva na classificação dos
fenômenos em relação à Kraepelin, na medida em que, para ele, a psicose maníaco-depressiva
era vista como uma entidade clínica isolada. Em outras palavras, ou o sujeito era incluído
nesta categoria ou não. O diagnóstico kraepeliniano, assim, era categórico e não dimensional
(PEREIRA, 2009). Com a introdução do modelo dimensional para classificação dos
transtornos, estes passam a obedecer todo um espectro ou um conjunto de sintomas, de forma
a possibilitar que mais pessoas tendam a se incluir em um determinado transtorno. No caso do
transtorno bipolar e a ideia do espectro contida nela, vamos verificar que poucos são os
sujeitos que escapam à norma e à régua deste espectro de sintomas.
Assim, neste capítulo, também discutiremos esta tendência expansionista e o aspecto
normativo presente nos manuais de psiquiatria à luz das elaborações de Georges Canguilhem
(2009) tomando como referência sua obra O normal e o patológico. Mostraremos que, para
Canguilhem (2009, p. 26), definir o anormal estritamente por meio de uma variação
quantitativa revela que “um ideal de perfeição paira sobre essa tentativa de definição
positiva”. A consequência da busca por esse ideal é a instauração de um caráter normativo do
estado dito normal, deixando de ser apenas uma distorção detectável para se tornar uma
manifestação carregada de apelo de valor. Isso tudo desvela uma verdadeira posição política,
sustentada em uma pretensão de conceber a patologia mental e sua terapêutica como
científicas.
Por fim, apresentada a importância e os objetivos deste capítulo, podemos agora
avançar na direção de nosso desenvolvimento teórico acerca da psicose maníaco-depressiva
88
proposta por Kraepelin, considerando suas bases teóricas e suas interferências filosóficas.
Depois desta tarefa, abordaremos como a psiquiatria caminhou depois de Kraepelin,
enfatizando principalmente a mudança crucial introduzida pelo DSM-III e o efeito disso para
o conceito de psicose maníaco-depressiva, a qual, como referimos, foi categorizada por meio
do escudo dos transtornos, passando a ser incluída entre os transtornos de humor e,
posteriormente, entre os transtornos afetivos.
3.1 Kraepelin e a psicose maníaco-depressiva
Emil Kraepelin (1856-1926), psiquiatra alemão e considerado o pai da psiquiatria
moderna (CAPONI, 2011) ficou conhecido, entre outros feitos, por estabelecer uma dicotomia
diagnóstica entre a demência precoce (esquizofrenia) e a psicose maníaco-depressiva
(BERCHERIE, 1985/1989; HOFF, 2012; BERRIOS; HAUSER, 2012; QUINET, 2011;
CAPONI, 2011).
Segundo Hoff (2012, p. 431), geralmente visto como um “materialista dogmático”,
também há de se reconhecer em Kraepelin uma relevante atitude de posicionar a psiquiatria
como uma disciplina clínica, aspecto que, segundo o autor, nunca negligenciou. Assim sendo,
Kraepelin pode ser visto como um personagem essencial para a história do saber psiquiátrico.
Afirma Caponi (2011, p. 30):
A recuperação das teses de Kraepelin possibilitou uma mudança radical na
classificação de patologias psiquiátricas e consequentemente uma transformação no
modo de definir o diagnóstico e a terapêutica psiquiátrica. Teve uma influência
direta na reformulação da classificação de diagnósticos elaborada pela Associação
de Psiquiatras Americanos (APA), que já contava com duas edições.
Pois bem, assistiremos o pensamento de Kraepelin ser retomado pelos psiquiatras
“neokrapelinianos”, a partir da inauguração, como evidenciamos, da terceira versão do DSMIII, em 1980. No entanto, para entender quais foram as mudanças ocorridas no campo
psiquiátrico desde o DSM-III, faz-se necessário primeiramente entendermos como se deu a
psicopatologia de Kraepelin e sua obra.
Kraepelin cursou medicina em Leipzig e Wuerzburg, no período entre 1874 e 1878.
Em Leipzig, teve oportunidade de trabalhar em conjunto com Paul Flechsig e Wilhelm Erb,
sendo então promovido como professor universitário em 1883. Manteve um relacionamento
pessoal e científico com o Wilhelm Wundt, responsável por fundar a psicologia como uma
disciplina científica. Além do mais, Wundt teve um papel de extrema importância na vida de
89
Kraepelin, visto que foi por ele encorajado a escrever seu Compêndio de Psiquiatria, em
1883, tornando-se, com isso, precursor das nove edições do Manual desta disciplina. Por
influência de Wundt, também realizou pesquisa em psicopatologia experimental, sem,
contudo, ignorar o aspecto clínico da psicopatologia. Este aspecto, posteriormente, também
será um elemento de presença marcante na psicopatologia de Kraepelin, o qual passará a se
fundamentar especialmente no curso da doença e no seu caráter longitudinal, dando atenção à
sua evolução, bem como às oscilações do estado psicopatológico (HOFF, 2012).
Mas, retornando ao período inicial do edifício kraepeliniano, consta em Bercherie
(1985/1989) que, no princípio, a classificação proposta pelo grande psiquiatra caracterizou-se
por ser puramente sindrômica. Na primeira edição do seu Compêndio, as ideias de Wundt
exerceram forte influência, como afirma:
Na verdade, foi uma certa análise psicológica que estruturou essa nosologia.
Kraepelin fora aluno de Wundt, que aliás lhe teria sugerido a redação do
Compêndio. Como Pinel, estava convencido de que a investigação psicológica era
indispensável para a compreensão das doenças mentais e de que, sendo assim, a
psicologia “normal” podia fornecer instrumentos conceituais à análise clínica. Por
isso é que, com base no modelo da psicologia experimental de Wundt, deu-se um
bocado de trabalho para fazer experiências psicológicas em psiquiatria (ou seja,
diversas medidas psicométricas nos diferentes estados mórbidos). Por outro lado,
encontramos constantemente em sua obra uma preocupação com a análise
psicológica (BERCHERIE, 1985/1989, p. 162, grifo do autor).
Sob esta influência, na primeira edição do seu Compêndio, em 1883, Kraepelin
localizou a loucura circular, a mania periódica e a melancolia periódica entre as chamadas
“psicoses periódicas”. Na segunda edição, em 1887, alinhou-se claramente com as posições
de Kraft-Ebing7, especialmente por incluir os termos psiconeuroses e obsessões na loucura
neurastênica e, também, pela separação das psicoses entre agudas e crônicas. As psicoses
periódicas passaram a ser denominadas de loucuras circulares, fazendo parte delas a mania, a
melancolia e a loucura circular propriamente dita. Já a terceira edição reproduziu praticamente
a segunda (BERCHERIE, 1985/1989). Vale ressaltar que, até esse momento, a expressão
“demência precoce” ainda não tinha sido utilizada.
A quarta edição, em 1893, registrou algumas modificações de detalhes. Somando-se
a aparição do termo “demência precoce”, ocorreu uma mudança fundamental: a eleição do
termo paranóia. Intercalou entre as paranóias e as neuroses gerais uma nova classe, a saber, os
7
Richard von Krafft-Ebing (1840-1902) foi um psiquiatria alemão. Foi professor de psiquiatria na Universidade
de Estrasburgo, que se destacou por meio da obra Psychopathia Sexualis (1886), a qual foi considerada uma
das mais importantes contribuições neste território, onde pôde agregar casos clínicos sobre diferentes
patologias da sexualidade. Introduziu nesta obra os conceitos de sadismo, masoquismo, fetichismo no estudo
do comportamento sexual (BERCHERIE, 1985/1989).
90
processos psicológicos degenerativos, os quais poderiam ser entendidos de três formas: 1) a
demência precoce (forma branda e forma grave, hebefrenia); 2) catatonia e 3) demência
paranóide, a qual se instalava depois de um período depressivo inicial, deslocando-se para
uma formação de ideias delirantes, absurdas e constantemente mutáveis. Todavia, a clareza da
consciência e os comportamentos externos ficavam praticamente inalterados. Este item,
entretanto, a paranóia e demência secundária, desaparecem da nova classificação por serem
absorvidas por outro grupo de doenças, pois de acordo com Bercherie (1985/1989, p. 165):
Já fazia muito tempo que Kraepelin e outros autores vinham insistindo na diferença
considerável entre os delírios sistematizados primários, em que a integridade afetiva
e intelectual se conservava, e os estados secundários, ‘pálidos, descoloridos’, em que
a personalidade era intensamente dissociada; isso justificava sua classificação em
separado.
Outras interferências que atravessaram a obra Kraepelin foram as figuras de
Griesinger e Kahlbaum. A influência de Griesinger sobre Kraepelin girou em torno da
pesquisa clínica e psicopatológica, apoiada no fato de que a doença mental é uma doença
física do cérebro. No que concerne à Kahlbaum, sua influência na pesquisa do psiquiatra
referiu-se ao curso da enfermidade e, também, em uma distinção entre o campo metodológico
e o trabalho clínico-patológico (BERRIOS; HAUSER, 2012).
No que tange à Kahlbaum, Kraepelin acordava com ele no avanço que empenhou em
direção a uma abordagem “empírico clínica” para a classificação das doenças. Além disso,
concordava com seu antecessor com relação à fase atribuída ao “curso da doença”, ao fazer
uma distinção entre os conceitos transversal (sincrônico) e longitudinal (crônico). Por outro
lado, as ideias de Kahlbaum não foram apoiadas por uma evidência empírica; aspecto que
Kraepelin procurou testar, questionando quais os sintomas poderiam carregar informações
sobre a estrutura central da enfermidade, os quais, para ele, deveriam sustentar tanto o
diagnóstico quanto sua classificação (BERRIOS; HAUSER, 2012).
De acordo com Engstrom (2012), o interesse de Kraepelin pelos arquivos dos
pacientes não aconteceu por um mero acaso, estando vinculado pela sua crescente atenção em
relação ao curso temporal das doenças mentais e no potencial de pesquisar o seu
desenvolvimento longitudinal, pois acreditava que, através disso, seria capaz de isolar
doenças específicas e agrupá-las em categorias nosológicas. Para o autor, esta tarefa
empreendida por Kraepelin tinha como base os pensamentos de Kahlbaum. Assim, “ao longo
dos próximos cinco anos, e de fato, a maior parte do resto de sua vida, Kraepelin (1896)
traçou meticulosamente as histórias incontáveis de pacientes” (ENGSTROM, 2012, p. 477).
91
A partir da quarta edição do seu Compêndio, a presença das ideias de Kahlbaum
estiveram vivamente presentes na maneira de Kraepelin realizar sua pesquisa psicopatológica.
Para Bercherie (1985/1989, p. 165), Kahlbaum, desde aí, “exerceria sobre a evolução de
Kraepelin uma influência extremamente profunda”. Foi através de Kahlbaum que Kraepelin
pôde retomar o raciocínio de Kraft-Ebing, segundo o qual o critério nosológico estaria
pautado em três parâmetros: a anátomo-patologia, a etiologia e, como último recurso, a
clínica, entendendo esta última à moda de Pinel e Griesinger. Kraepelin apropriou-se desses
parâmetros de Ebing, no entanto, compreendendo a clínica aos moldes de Kahlbaum por
Falret, onde passou a adotar neste campo o elemento clínico-evolutivo. Sendo assim, pode-se
dizer que Kraepelin adotou as ideias de Kahlbaum e as expandiu (BERCHERIE, 1985/1989;
BERRIOS; HAUSER, 2012; HOFF, 2012).
Filosoficamente, Kraepelin pode ser considerado um realista. Embora ele não tenha
discutido explicitamente as ideias envolvendo o empirismo ou positivismo em sua obra,
mencionando Locke e Hume apenas em suas memórias, é indiscutível que ele:
[...] acreditava em um ‘mundo real’ independentemente, incluindo outras pessoas e
seus processos mentais perturbados ou saudáveis. E quando, o que acontece muito
raramente, Kraepelin declara que nós temos acesso a todos os objetos apenas via
consciência, isso não deve ser mal compreendido como um ponto de vista idealista
ou transcedentral. Em vez disso, é uma posição tipicamente wundtiana, sublinha a
importância dos processos mentais em gerar conhecimento. Esses processos,
contudo, não se acreditava serem apriorísticos, como Kant sugerira, mas posteriores
e sujeitos à pesquisa empírica, particularmente psicofisiológica (HOFF, 2012, p.
438).
Essas ideias tiveram efeitos marcantes em sua nosologia psiquiátrica, fato que o
levou a acreditar que o psiquiatra pesquisador deve se preocupar em descrever o que
realmente existe, conforme a natureza se coloca para ele. Para Kraepelin, a matéria bruta da
experiência oferecida pelos órgãos dos sentidos, deveriam ser esclarecidas pela atenção de
modo que estas formariam a fase de todos os atos mentais posteriores, formando um
complexo conjunto das ideias do homem. Por esta razão, não falava em “essência” do
processo mórbido. Também foi partidário do paralelismo psicofísico, contrapondo-se, junto
com Griesinger, às teorias psiquiátricas especulativas. Era contra o materialismo reducionista,
no qual os fenômenos seriam idênticos aos processos psicológicos. Acreditava que os
fenômenos psicológicos e somáticos eram distintos, podendo, no entanto, conectar-se de
maneira próxima (HOFF, 2012).
Mesmo se autointitulando um paralelista, o psiquiatra não entrou no debate filosófico
vigente relacionado à questão mente-corpo, motivo pelo qual, no que concerne a este quesito,
92
sua posição não se manteve livre de ambiguidades. Verificou-se, portanto, uma atitude
monista não muito clara em Kraepelin, pois o que prevaleceu mesmo foi uma intenção
pragmática em direção à filosofia, preferindo métodos quantitativos em suas pesquisas (ibid).
Podemos dizer que até mesmo sua intenção pela admissão dos pacientes no hospital
expressava um desejo vivaz de adquirir casos adicionais para o seu método de pesquisa,
expressamente quantitativo (ENGSTROM, 2012). Dito de outra maneia, Kraepelin pautou-se
em uma abordagem experimental, por pensar que ela oferecia certa garantia de “status
científico” (ENGSTROM, 2012, p. 441, grifo do autor) à pesquisa psiquiátrica. Isto, por
conseguinte, não trouxe a ele nenhum demérito, pelo contrário, visto que não se restringiu à
mera descrição dos sintomas psicopatológicos (HOFF, 2012). Seguindo esta linha de
pensamento, ele não acreditava em ideias apriorísticas. O homem, para ele, era uma parte da
natureza. Era simpático do ponto de vista darwinista e biológico, posicionando-se, assim,
como “antimetafísico”.
Com efeito, Kraepelin compreendia os fenômenos psicóticos como um sistema
natural, independentemente do método utilizado para entendê-los, fosse a anatomia, a
etiologia, ou a sintomatologia. Como foi dito, o período inicial de sua carreira fora marcado
pela “busca por um sistema psiquiátrico confiável e válido entre as crenças nitidamente
naturalistas” (HOFF, 2012, p. 447), considerando “o quadro metodológico da psicologia
experimental no sentido de Wundt” (HOFF, 2012, p. 447).
Retomando nosso percurso pelas edições de seu Compêndio e prosseguindo para a
quinta edição, publicada em 1896, podemos afirmar, junto com Bercherie (1985/1989), que
esta propôs um plano geral que serviria de base a todas as outras edições que se seguiram.
Dividiu as doenças mentais em dois eixos: a) doenças mentais adquiridas, que incluíam: 1) os
estados de esgotamento (delírios de colapso, confusão aguda, demência aguda, neurastenia e
hipocondria referente ao esgotamento nervoso crônico; 2) intoxicações, que poderiam ser
agudas (delírio febril e delírio tóxico) ou crônicas (alcoolismo, morfinismo, cocainismo); 3)
doenças da nutrição (loucura mixedematosa, cretinismo, processos demenciais (demência
precoce, catatonia, demência paranóide); 4) Loucuras das lesões do cérebro e 5) Loucura
involutivas (melancolia e doenças senil).
Já no outro eixo encontravam-se as doenças mentais congênitas, as quais faziam
parte: 1) doenças mentais constitucionais (loucura periódica, como a mania, a melancolia e a
loucura circular) e a paranóia, dividida em formas combinatórias (o delírio querelante) e as
formas fantasiosas (delírio crônico de evolução sistemática); 2) as neuroses gerais (loucura
epiléptica, loucura histérica, neurose de susto (neurose traumática); 3) os estados psicopáticos
93
(degenerescência), que incluíam o desequilíbrio constitucional, a loucura obsedante, a loucura
impulsiva e inversão sexual; e 4) suspensões do desenvolvimento psíquico. Nesta quinta
edição, destacamos duas mudanças: o desaparecimento da classificação do termo
“psiconeuroses” e a divisão da paranóia em formas alucinatórias (interpretativas) e formas
fantasiosas (alucinatórias) (BERCHERIE, 1985/1989).
A clássica sexta edição, de 1899, foi a edição que, de fato, ocasionou concepções
gerais que “correriam o mundo e se imporiam em toda a parte” (BERCHERIE, 1985/1989, p.
168). Foi especialmente nesta edição que ele propôs uma distinção entre a demência precoce e
a loucura maníaco-depressiva. Em seu plano geral, vemos: 1) as loucuras infecciosas (delírio
febril e infeccioso e enfraquecimentos infecciosos); 2) loucuras de esgotamento (delírio
agudo, amência, neurastenia adquirida); 3) intoxicações; 4) loucuras tireogênicas, antes
referidas como doenças da nutrição; 5) dementia praecox; 6) demência paralítica; 7) loucura
de lesões cerebrais; 8) loucuras de involução; 9) loucura maníaco-depressiva; 10) paranóia;
11) neuroses gerais; 12) estados psicopáticos (loucura degenerativa); e 13) suspensões do
desenvolvimento específico.
Bercherie (1985/1989) aponta três entidades clínicas problemáticas na referida
edição, que diz respeito à paranóia, a loucura maníaco-depressiva e a dementia praecox.
Entretanto, visando o objetivo de nossa tese, vamos dar o enfoque para as questões
concernentes à loucura maníaco-depressiva. Nesta sexta edição, Kraepelin apontou que a
loucura maníaco-depressiva:
[...] reunia em torno todos os estados maníaco e depressivos, todos os estados
agudos (“psiconeuroses”) não-confusionais que não constituíam estados sindrômicos
de demência precoce [...] recusou a existência da mania ou da melancolia simples,
com base na argumentação de que sempre se observavam recidivas, mas cedo ou
mais tarde, e de que um exame mais cuidadoso revelava a existência de fases
depressivas ou expansivas de intensidade fraca ao longo de toda a vida do doente;
por outro lado, o ataque era sempre bipolar, embora as variações alternadas fossem,
às vezes, suficientemente rápidas para passar despercebidas; por fim, a aparência
clínica era sempre idêntica, quer se tratasse de loucura circular, intermitente ou de
ataques isolados (BERCHERIE, 1985/1989, p. 170).
Neste sentido, Kraepelin juntou à descrição das formas fundamentais unipolares os
estados mistos, partindo da condição de que os ataques maníaco-depressivos eram edificados
por três distúrbios fundamentais: o distúrbio de humor (emotividade), da ideação e da vontade
(psicomotores), a considerar, com relação à depressão de humor, a lentificação ideativa e a
inibição psicomotora (depressão pura) ou, no caso da exaltação do humor, fuga de ideias e
excitação psicomotora (mania pura). Para ele, em ocasiões distintas, verificavam-se
94
associações diferentes desses distúrbios essenciais, como, por exemplo, na passagem de um
pólo a outro do ataque bipolar, podiam ser obsevados a inversão dos sintomas não somente de
modo sincrônico, fazendo com que pudessem aparecer diferentes combinações dos sintomas
nas duas fases. Também destacou casos onde o ataque inteiro era misto, como a mania
confusa e a melancolia agitada, na qual o fluxo de ideias era evidentemente perturbado.
Igualmente, na mania colérica, juntava-se à excitação geral. Desta maneira, Kraepelin pôde
instituir variados formatos da psicose maníaco-depressiva como inovações clínicas
interessantes, a saber: o estupor maníaco, a melancolia com fuga de ideias e a mania com
inibição motora (BERCHERIE, 1985/1989).
A grande inovação kraepeliniana em torno da loucura maníaco-depressiva girou em
torno dessas possíveis associações envolvendo os dois pólos da doença, os quais podiam
combinar-se, sem necessariamente apresentar, alternadamente, uma ou outra em seu estado
puro. Já a demência precoce, sua distinção da loucura maníaco-depressiva foi marcada pela
existência de alucinações e delírios sistematizados fantasiosos. A demência precoce passou a
fazer parte dos processos demenciais e, as paranóias alucinatórias, como uma segunda forma
paranóide, posicionou-se ao lado da dementia paranoides. A razão de tal equiparação residiu
no fato de que ambas acabavam conduzindo a estados terminais muitos parecidos, como
também, ao fato de haver nelas sintomas centrais idênticos (BERCHERIE, 1985/1989).
Prosseguindo nas edições do seu Compêndio, acredita-se que a sétima edição (1904),
caminhou para uma reprodução da sexta, porém, introduzindo algumas modificações, pois
apresentou algumas primeiras considerações acerca da chamada “escola da degenerescência”
inaugurada pelo psiquiatra Bénédict Morel8.
No que se aproxima de nossa pesquisa, destacamos nesta sétima edição a inclusão da
ciclotimia, a qual se diferenciava da psicose maníaco-depressiva. Já os estados psicopáticos
degenerativos foram substituídos por uma nova denominação, “estados patológicos
originários”, o que compreendia duas novas subdivisões: a depressão e a excitação
constitucionais. Os deprimidos constitucionais manifestavam constante tristeza de fundo,
8
Bénédict Augustin Morel (1809-1873), psiquiatria franco-austríaco, foi responsável por fundar “a escola da
degenerescência”. No Traité des dégénérescences, de 1857, desenvolveu um conceito baseado na etiologia das
doenças, a qual se baseava no princípio segundo a qual haveria uma degeneração mental, de caráter
progressivo, ao longo das gerações. Para Morel, o homem, criado como um tipo primitivo perfeito, poderia, no
decorrer das gerações, sofre qualquer desvio, uma degradação, uma degenerescência, pela própria ação externa
da natureza sobre o homem. Tal desvio, por sua vez, era transmitido de modo hereditário. Posteriormente, a
partir de 1870, V. Magnan (1835-1916) retomou Morel com vistas a redefinir o conceito de degenerescência
sustentado no evolucionismo. Assim, o estado patológico era um desequilíbrio físico e mental do homem
degenerado, a quem fora interrompido o progresso natural da espécie. A degenerescência poderia ser herdada
ou adquirida, revelando-se em sinais, estigmas físicos, intelectuais e comportamentais (BERCHERIE,
1985/1989).
95
pessimismo, tendência à dúvida, falta de confiança em si, ansiedade e culpa, com uma
propensão a distúrbios nervosos, a exemplo da fadiga, insônia, distúrbios cenestopáticos,
hipocondríacos e dispepsia, bem como emotividade (BERCHERIE, 1985/1989).
Sobre as excitações constitucionais, elas correspondiam às descrições clássicas do
temperamento hipomaníaco: exaltação, excitação, autoconfiança, dispersividade permanente,
intolerância às restrições, incontinência dos atos e palavras, inadaptabilidade às regras, às
convenções e à hierarquia, mentes vias e, às vezes brilhantes, adeptas aos gracejos e à
maledicência, mas prontas a mudar ao serem contrariadas. Embora tais estados degenerativos
pudessem convergir para o diagnóstico da psicose maníaco-depressiva, sua diferença estava
no fato de que, na maioria desses estados, os doentes ficavam livres do acesso propriamente
dito, além do mais, na psicose maníaco-depressiva, muitos doentes não apresentavam, durante
um intervalo de tempo, nenhum distúrbio de humor. Por esta razão, Kraepelin veio posicionar
os estados degenerativos na categoria de uma patologia constitucional, incluindo, assim, a
ciclotimia (BERCHERIE, 1985/1989).
Por fim, a oitava e última edição do seu Tratado, cuja publicação estendeu-se por
cinco anos, no período de 1909 a 1913, constituiu-se de uma “tentativa de integrar a totalidade
das críticas e das contribuições da psiquiatria da época” (BERCHERIE, 1985/1989, p. 253).
Constando 2.500 páginas, quase o dobro da sétima edição, nesta, a psicose maníacodepressiva enriqueceu seu arcabouço, ao lado dos estados depressivos maníacos e mistos que,
até então, comportavam o grupo dos “estados fundamentais”. Estes, por sua vez:
[...] agruparam a depressão e a excitação constitucionais, que assim deixaram os
estados patológicos constitucionais e às quais vieram juntar-se o temperamento
ciclotímico e a irritabilidade constitucional, homóloga aos estados mistos,
caracterizada por uma grande susceptibilidade e uma propensão às explosões
coléricas e a um humor variando entre a alegria e a tristeza e ansiedade
(BERCHERIE, 1985/1989, p. 254-255).
É lícito lembrar que a melancolia de involução passou a integrar a psicose maníacodepressiva, visto que se tratava de um “estado misto”, sendo algumas de suas singularidades
sintomáticas (como a excitação ansiosa, o delírio extenso, a evolução com tendência crônica,
a deterioração consecutiva em um número significativo de casos), fenômenos que, por si só,
não justificavam uma autonomia diagnóstica. Até porque, também se encontravam nesta
forma de melancolia, com muita frequência, a existência de antecedentes circulares ou um
temperamento do tipo “estado fundamental” (BERCHERIE, 1985/1989).
96
Também não podemos esquecer que esta edição foi marcada por uma ampla
retomada da teoria psicodinâmica. Neste contexto, a histeria torna-se uma classe autônoma, ao
lado das “doenças psicogênicas”, dividas em três itens: 1) neuroses de atividade (ou
ponopatias), que eram a fadiga nervosa ou a neurastenia adquirida e neurose de espera; 2)
psicoses de relação, que reuniam a loucura induzida e o delírio de perseguição dos surdos; e
3) as psicoses de destino, onde se encontravam a neurose traumática, as psicoses de
prisioneiros e delírio querelante (BERCHERIE, 1985/1989).
Avançando um pouco mais na obra de Kraepelin, faz-se necessário destacar um
artigo publicado na sua maturidade. Intitulado As formas de manifestação da insanidade, em
1920, este escrito, segundo Pereira (2009, p. 162), pode ser considerado um artigo de suma
importância, pois “permitiu esclarecer a compreensão kraepeliniana sobre as expressões
clínicas concretas da doença mental”. Após a publicação das oito edições de seu Tratado, o
psiquiatra se pôs a viajar por vários países como Índia, Turquia, Egito, Itália, Java, Estados
Unidos e México, com a finalidade de investigar aspectos invariantes das doenças mentais.
No contexto de uma “psiquiatria comparativa”, Kraepelin visava descobrir os
elementos invariantes da patologia mental no panorama de distintas culturas. O que se revelou
para ele em suas pesquisas foi justamente o fato de que a demência precoce seria uma
entidade universal, surgindo independente do país ou cultura onde o doente estaria inserido. Já
os aspectos secundários, esses sim, foram verificados mudanças entre os avatares geográficos
e raciais. Com isso, “Kraepelin visava, assim, o ideal de isolar o núcleo mórbido propriamente
médico-biológico da loucura de suas expressões visíveis transformadas pela cultura, pela
história e pela subjetividade” (PEREIRA, 2009, p. 162).
Neste momento de sua vida, com intuito de apontar as variantes e as invariantes da
doença, a partir da pesquisa que fez pelos países por onde andou, ele incluiu ao longo do seu
escrito As formas de manifestação da insanidade, argumentos evidentemente freudianos,
como nos coloca Pereira (2009, p. 163):
Assim, por exemplo, ele explica que as fantasias de posse de fortuna, típicas da
neuro-sífilis, não poderiam ser compreendidas como expressão direta da doença,
mas como liberação “dos desejos do paciente”! Ou ainda, em inúmeras situações, a
doença permitiria a manifestação dos traços de memória “muitas vezes sujeitos a
intensa repressão e transformação”, sendo, portanto, que as expressões obseváveis
no plano clínico corresponderiam a esforços do indivíduo para lidar com tais
elementos até ali mantidos ocultos.
Mais uma vez, vemos na figura de Kraepelin um verdadeiro pesquisador no campo
da psiquiatria, pois foi capaz de construir uma psicopatologia ancorada não só nos
97
experimentos quantitativos, descritivos e etiológicos, mas também empreendeu uma obra no
sentido de compreender a estrutura central das conexões internas dos processos patológicos.
Nesta perspectiva, não ficava restrito aos esforços descritivos e classificatórios, na medida em
que para ele a psiquiatria deveria “compreender a psicopatologia não apenas como catálogo
racionalmente organizado de formas clínicas isoladas, mas, sobretudo, como expressão de
determinados pressupostos, descobrindo as leis que regem seu aparecimento” (PEREIRA,
2009, p. 163). Sua atitude de investigar os aspectos etno-geográficos que poderiam estar
envolvidos no aparecimento da doença mental deixa nítido seu desejo de estabelecer
contingências teóricas e clínicas para o entendimento da patologia mental, como também seu
interesse em deixar claro que o sintoma mental observável não pode ser atribuído diretamente
a uma lesão cerebral.
Até aqui, vemos que não é por acaso que Kraepelin guarda um lugar fundamental na
história da psiquiatria. Suas ricas contribuições, uma vez atravessadas pelas pesquisas
quantitativas de base experimental, pela busca da etiologia mental, pela utilização do caráter
longitudinal, bem como pela consideração de aspectos socioculturais e, (por que não?),
psicodinâmicos da doença mental, deixaram uma grande herança para o campo da psiquiatria
que, aos poucos, foi ficando esquecida, até mesmo entre aqueles que passaram a se
autodenominar “neokraepelinianos”.
Consta em Caponi (2011) que os “neokraepelinianos” remetem a um grupo de
psiquiatras americanos, pertencentes à Universidade de Washington. Formado na década de
1970, este grupo visou ressuscitar as ideias de Kraepelin cinquenta anos após a sua morte. A
rigor, os “neokraepelinianos” seriam os psiquiatras que seguiriam os pressupostos do seu
mestre, pois utilizariam os mesmos métodos de pesquisa e, igualmente, a mesma maneira de
proceder com a nosologia. Por outro lado, Hoff (2012), aponta para o fenômeno da
“desnosologização” de Kraepelin como um fato que tem se colocado de maneira bastante
incisiva no cenário atual, estando presente, paradoxalmente, entre os “neokraepelinianos”.
Sob esta ótica, o que explicaria esta “desnosologização”?
Hoff (2012) assinala que a atitude que está por trás desta “desnosologização” é uma
hesitação dos conceitos nosológicos kraepelinianos, pois se usadas de modo rígido, tais
referências poderiam prejudicar a pesquisa psicopatológica, uma vez que restringiria as
interpretações em prol dos conceitos clássicos deixados por seu mentor. Entretanto, acaba-se
criando outro problema, como afirma o autor:
98
[...] ao criticar a tendência da psicopatologia de criar dogmas nosológicos, poder-seia cometer o mesmo engano de substituir tais dogmas por uma nosologia que é
apenas biologicamente embasada, deixando a psicopatologia de lado como não
científica (HOFF, 2012, p. 450, grifo do autor).
De certo modo, parece que os “neokraepelinianos” trabalham mais com uma
nosografia do que com uma psicopatologia propriamente dita:
Embora autores “neokraepelinianos” claramente favoreçam diagnósticos
psiquiátricos operacionalizados, a base teórica desses sistemas diagnósticos – como
o DSM-IV e o CID 10 – não é um resultado direto da concepção de Kraepelin. Os
fundamentos filosóficos também são diferentes, por exemplo, o naturalismo em
Kraepelin versus o empirismo lógico no DSM-IV e CID 10 (HOFF, 2012, p. 452).
Dito isto, certo questionamento se impõe: se este caráter de “desnosologização” das
propostas de Kraepelin está presente mesmo entre os “neokraepelinianos”, poderiam eles se
dizer seguidores de Kraepelin? De fato, qual a necessidade de aparição do prefixo neo?
Parece-nos que alguma mudança operou aí e, nesse sentido, precisamos entender o que
motivou a recuperação da obra de Kraepelin entre os seus modernos seguidores.
Esta recuperação, mesmo que tardia, parece-nos obedecer a uma de estrutura
discursiva que, fomentada por uma ideologia pseudocientífica e ancorada em certo
extremismo médico, proporciona “excluir toda possibilidade de diálogo tanto com os
pacientes quanto com outros saberes como a psicologia, a sociologia ou a psicanálise”
(CAPONI, 2011, p. 30).
Se, na época de Kraepelin, era o saber universitário que ditava a terapêutica
medicamentosa, hoje, podemos dizer que o saber, ou melhor, o diagnóstico, é produto da
terapêutica. Fabricam-se diagnósticos não pelo saber em si, mas sim para dar conta de um
novo remédio que já se encontra no mercado. Como nos coloca Quinet (2006, p. 22):
[...] a evolução da ciência na psiquiatria produz novos remédios para novos “males”;
ou ela produz os “males”, pseudos novos males, para que sejam tratados por
medicamentos que ela fabrica. Neste caso, vemos as neurociências a serviço do
discurso capitalista produzindo não só novas drogas (novos gadgets), mas também
[...] novas categorias diagnósticas que justificam assim “médica-mente” a utilização
dos psicofármacos.
Já falamos que a mudança nesta estrutura discursiva tem seu marco na fundação do
DSM-III, em 1980, empreendida justamente pelos “neokrapelinianos”, que participaram não
só dessa construção como de todas as edições que vieram depois. A modificação ocorrida no
DSM-III, ancorada na lógica dos transtornos, guiará todo o desenvolvimento da psiquiatria
99
que temos hoje e, também, todo um discurso que ditará o que é normal e patológico. Nesta
conjuntura, a psicose maníaco-depressiva de Kraepelin se submeterá ao sistema imposto pela
concepção de transtorno e integrará ao conjunto do Transtorno Bipolar. Passemos, então, a
apresentar como se deu este processo e como a psiquiatria depois de Kraepelin se
transformou, apesar de se denominar kraepeliniana.
3.2 A psiquiatria pós-kraepelin: o DSM e o desaparecimento da psicopatologia
O Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM), da Associação
Psiquiátrica Americana (APA), no ritmo do paradigma médico da Classificação Internacional
de Doenças (CID), surgiu da necessidade de oferecer fundamentos empíricos para a clínica,
pesquisa e ensino em psicopatologia, com vistas a servir de instrumento para a coleta e
comunicação de dados estatísticos, destinados especialmente à saúde pública (AMERICAN
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2002).
No entanto, antes de sua inauguração, vale lembrar a existência de uma primeira
tentativa oficial destinada à reunião de informações concernentes a saúde mental, nos Estados
Unidos. As primeiras classificações norte-americanas dos transtornos mentais, aplicadas em
larga escala, partiram de uma finalidade essencialmente estatística. Em 1840, os Estados
Unidos desenvolveram um censo que considerava apenas a dicotomia “idiotia/loucura”,
objetivando realizar o registro de frequência das doenças mentais. Posteriormente, no censo
de 1880, as doenças mentais foram divididas em sete categorias distintas: mania, melancolia,
monomania, paresia, demência, alcoolismo e epilepsia (AMERICAN PSYCHIATRIC
ASSOCIATION, 2002).
Em 1917, a Associação médica e psicológica americana, juntamente com a Comissão
Nacional de Higiene Mental, desenvolveu um plano, aprovado pela Mesa do Censo, para a
coleta de estatísticas de saúde uniformes entre os hospitais mentais. Se comparado com as
mencionadas classificações anteriores, pode-se dizer que este sistema esteve mais orientado
para a práxis clínica, entretanto, ainda era usado para fins administrativos. Em 1921, a então
Associação mudou de nome, transformando-se em Associação Psiquiátrica Americana (APA)
e, assim, colaborou com a Academia de Medicina de Nova Iorque no desenvolvimento de
uma classificação psiquiátrica nacionalmente aceitável. Este sistema foi projetado
principalmente para o diagnóstico de pacientes com transtornos psiquiátricos e neurológicos
graves (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2002).
100
A primeira versão do DSM foi publicada no ano de 1952. O DSM-I constituiu-se de
uma derivação da sexta versão da CID, da Organização Mundial de Saúde (OMS), a qual,
pela primeira vez, incluíra em suas descrições clínicas uma secção dedicada particularmente
aos transtornos mentais. O DSM-I teve forte influência do ponto de vista psicobiológico, a
partir de uma figura que já tinha sido presente da APA, o psiquiatra suíço Adolf Meyer (18661950). Nesta conjuntura, o termo “reação” marcou profundamente as descrições desta
primeira versão, onde os transtornos mentais representavam reações de personalidade em
função de fatores psicológicos, sociais e biológicos (AMERICAN PSYCHIATRIC
ASSOCIATION, 2002). Era possível notar a presença de categorias advindas da teoria
psicodinâmica, ressaltando a oposição instituída entre neurose e psicose (SIBEMBERG,
2011; DUNKER, 2014).
Aliás, sobre a influência da psicodinâmica no DSM-I, consta em Dunker e Kyrillos
Neto (2011b), o interesse de Meyer pela teoria psicanalítica. Segundo os autores, em 1910, na
posição de membro da Associação Psicanalítica Americana, o psiquiatra teve oportunidade de
estudar os Três ensaios sobre a teoria da sexualidade e o Caso Dora de Freud, elogiando seu
método de análise e sua interpretação dos sonhos, ao tornar-se professor de psiquiatria na
Johns Hopkins University.
Sendo assim, focalizando sua razão diagnóstica em tipos de reação, a julgar através
de uma síntese que levava em conta a história de vida do paciente e os elementos
determinantes das patologias mentais, o DSM-I caracterizou-se por instituir dois grandes
grupos: o primeiro referia-se ao conjunto que ia da ansiedade à depressão, com relativa
preservação da realidade; e o segundo dizia respeito às doenças que manifestavam delírios e
alucinações, com perda substancial da realidade (DUNKER, 2014).
Com efeito, o DSM-I rejeitou a grande síntese proposta por Kraepelin entre a
esquizofrenia (demência precoce) e a psicose maníaco-depressiva. Também demonstrou a
existência de fatores de origem biológica e contingências responsivas a contextos sociais
específicos. Em geral, o DSM-I não apresentou em suas descrições uma clara separação entre
o normal e o patológico, tendo como tarefa principal o estabelecimento de um consenso
terminológico entre os clínicos (DUNKER, 2014).
O DSM-II, empreendido paralelamente ao CID-8, foi publicado em 1968 e agregou
consideráveis semelhanças com o DSM-I, somando-se algumas modificações (AMERICAN
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2002). Listando 182 desordens em 134 páginas, esta
segunda versão deu prosseguimento à utilização do arcabouço psicanalítico e eliminou o
termo “reação”, mantendo a expressão “neurose”. Nesta segunda versão, foi possível
101
observar, além da psicodinâmica psiquiátrica, a retomada da classificação Kraepeliniana.
Contudo, os sintomas não eram localizados e associados a disfunções orgânicas específicas,
sendo concebidas como reações de má adaptação às situações da vida, pautadas
principalmente na distinção entre neurose e psicose, por meio de uma demarcação imprecisa
entre o normal e o patológico. Nesta versão, a homossexualidade não foi alocada como uma
categoria de desordem (DUNKER; KYRILLOS NETO, 2011a).
No ano de 1974, decidiu-se fomentar uma força-tarefa em direção à criação de uma
nova versão do DSM, sua terceira edição, visando a realização de uma nomenclatura
congruente com a CID. O psiquiatra Robert L. Spitzer foi eleito como o líder deste
empreendimento e foi a partir dele que a homossexualidade passou a figurar na categoria
“distúrbio de orientação sexual”. Uma das metas desse grupo liderado por Spitzer era
aumentar o leque de diagnósticos psiquiátricos. Considerando que as versões anteriores do
DSM não cumpriram suficientemente o papel de universalizar os diagnósticos psiquiátricos, o
referido grupo tomou para si esta atitude, objetivando principalmente facilitar a pesquisa em
saúde mental (DUNKER; KYRILLOS NETO, 2011a).
Neste contexto, o sistema multiaxial aparece como um aspecto fundamental, no
momento em que procura dar um panorama geral e mais completo do paciente, ao invés de
simplesmente oferecer um diagnóstico. Esta versão buscou priorizar os critérios descritivos
em prol de pressupostos etiológicos e, também, psicodinâmicos, os quais desapareceram do
Manual. Este fato marcará, por assim dizer, toda uma atitude da então psiquiatria, que passará
a se submeter ao modelo biomédico, adotando, assim, uma clara distinção entre o normal e o
patológico (DUNKER; KYRILLOS NETO, 2011a).
Podemos conceber a atitude de formalização de outros critérios às descrições das
doenças mentais, através do DSM-III, como um esforço político-ideológico da psiquiatria de
se estabelecer a partir de uma identidade predominantemente médica. Ambicionou-se, com a
inauguração do DSM-III, uma total desvinculação de algumas influências que pudessem
identificar esta especialidade como pouco científica e não médica.
Sauvagnat (2012, p. 13), ao tecer considerações críticas acerca do DSM-III e suas
implicações na diagnóstica contemporânea, afirma que a criação deste manual foi impregnada
de aspectos políticos, na medida em que seus idealizadores pretenderam impor uma razão
diagnóstica que servisse como uma “espécie de bíblia”, como uma verdade supostamente
inquestionável. Assim, ao questionar o motivo pelo qual os psiquiatras norte-americanos
comprometeram-se na empreitada do DSM-III, ele assinala que se faz necessário retomarmos
um pouco da história da psiquiatria neste país:
102
É interessante fazer um pouco de história. A inversão da posição dos Estados Unidos
em termos de psiquiatria data de 1980. Se existe entre vocês pessoas que estudaram
a psicologia social, se lembram talvez o nome de “Rosenheim”. Ele era um
professor de psicologia social [...] que se divertiu na década de 70 ao mostrar que os
psiquiatras americanos eram incapazes de diagnosticar a esquizofrenia. Vão à
internet e pesquisem vocês mesmos: a experimentação de Rosenheim. Ele enviava
estudantes para consultas psiquiátricas e lhes dizia: “Vão lá e simulem quatro
sintomas”. E ele tentou provar que os psiquiatras eram incapazes de distinguir entre
um simulador e um verdadeiro doente. Ele fez isso inúmeras vezes. Ele mesmo, uma
vez, anunciou na imprensa: “Atenção! Eu vou enviar simuladores aos hospitais
psiquiátricos”. Um mês depois, saiu um comunicado, um anúncio de psiquiatras,
entre os quais Spitzer, aquele que criou justamente o DSM III, dizendo:
“Encontramos simuladores!” Rosenheim publicou então um comunicado: “Eu não
enviei nenhum estudante nessas últimas semanas” (SAUVAGNAT, 2012, p. 13-14).
Com vistas a um reconhecimento da psiquiatria entre as ciências médicas e
científicas e com a pretensão de ser vista como uma especialidade médica respeitável, a
construção do DSM-III veio em resposta, como uma solução definitiva, de uma visão
descredenciada desta disciplina por parte tanto dos leigos quanto de acadêmicos. Tal solução
apresentou-se como ateórica e objetiva. Segundo Sauvagnat (2012, p. 15), Spitzer, através de
uma “reação narcísica”, equiparou-se a Kraepelin, dizendo, ele mesmo, ser “o novo
Kraepelin”.
Nesta conjuntura, o DSM-III é publicado em 1980. Centrando-se em uma perspectiva
epidemiológica, ateórica e operacional, o DSM-III tomou como sua principal referência a
dimensão do sintoma constatável para realizar suas classificações. Ao considerar o sintoma
observável e evidente como aquilo que mais pode dizer da patologia do paciente, no nível
apenas de uma fenomenologia, o DSM acabou abrindo mão da psicopatologia, ou melhor, das
psicopatologias presentes no campo psiquiátrico clássico (SAUVAGNAT, 2012).
Sendo assim, ao compreender que o DSM-III foi um marco histórico no território
psiquiátrico por eliminar o aspecto psicopatológico do Manual, dedicaremos aqui um espaço
para algumas considerações sobre ele. Priorizando a nossa pesquisa, veremos como a
categoria psicose maníaco-depressiva de Kraepelin foi abolida do DSM-III em função do
aparecimento do termo disorder (distúrbio, transtorno, perturbação).
3.2.1 O DSM-III e a supressão da categoria psicose maníaco-depressiva
A introdução contida no DSM-III apresentada por aquele que se dizia um seguidor de
Kraepelin, Robert Spitzer, na época, presidente da Comissão de Nomenclatura e Estatística da
Associação de Psiquiatria Americana, expõe os objetivos do então Manual, bem como um
breve histórico de seu surgimento. Spitzer afirma, nesta introdução, que a decisão de produzir
103
uma terceira edição do DSM surgiu de uma preocupação com a possibilidade da CID-9 não se
adequar ao contexto dos Estados Unidos, embora a referida classificação, realizada pela OMS,
tenha contado com uma significativa participação de membros da APA (AMERICAN
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1986).
Para o presidente da APA, a classificação da CID-9 não seria “a mais indicada por
não utilizar a metodologia mais recente, baseada em critérios de diagnóstico específicos e na
abordagem de avaliação multiaxial” (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1986,
p. 18). A construção do DSM-III teve como norte os seguintes critérios: 1) utilidade clínica;
2) fiabilidade das categorias de diagnóstico; 3) utilidade na formação dos profissionais de
saúde; 4) evitar a introdução de terminologias e conceitos que rompessem com a psiquiatria
tradicional; 5) aceitação pelos críticos e pesquisadores de diversas orientações teóricas; 6)
obtenção de um consenso sobre o significado dos termos diagnósticos (evitando termos
ultrapassados e sem utilidade); 7) consistência com dados experimentais resultantes do
trabalho de investigação sobre as categorias de diagnósticos; 8) conveniência na descrição dos
casos em trabalhos de investigação e, por fim; 9) capacidade de resposta às críticas dos
clínicos e investigadores, durante o desenvolvimento desta edição.
Por outro lado, analisando os critérios usados pela comissão da APA para a
construção do Manual, percebemos que alguns deles entraram em contradição quando vistos a
partir do resultado final. Quando afirmam que desejam evitar o uso de conceitos que viessem
a romper com a psiquiatria tradicional, é válido perguntar: o que eles entendem por psiquiatria
tradicional? Seria a psiquiatria clássica de Kraepelin, a qual mostramos há pouco? Ora, se eles
se referiram à psiquiatria clássica, podemos dizer que alguns termos não foram levados em
consideração, como a própria expressão psicose maníaco-depressiva proposta por Kraepelin,
visto que ela foi incluída no item distúrbios afetivos. Além do mais, quando dizem que não
querem usar expressões diagnósticas ultrapassadas da psiquiatria, indagamos: o que, para eles,
representaria termos ultrapassados e sem utilidades?
Talvez tenha sido por esta razão que ocorreu a exclusão do aporte psicodinâmico de
suas classificações. O termo neurose também deu lugar à expressão distúrbios9 neuróticos.
Aliás, foi elegendo um termo que avaliaram ser universal (disorder) é que propuseram uma
universalização das patologias mentais. Colocadas neste conjunto maior nomeado disorder, as
patologias mentais só foram ganhando predicados, formando subconjuntos nesta classe maior.
9
Ao mencionar o termo distúrbio, estamos sendo fiés a tradução da Editora portuguesa do DSM-III, usada como
fonte de nossa pesquisa. Como ressaltado anteriormente, a palavra americana disorder, pode ser traduzida tanto
como distúrbio, desordem, ou como transtorno. Assim, quando lermos distúrbio também nos referimos à
expressão transtorno e vice-versa.
104
Elegeu-se o termo disorder para unificar as doenças mentais, mesmo sem existir, conforme a
própria APA salienta, “nenhuma definição satisfatória que especifique as fronteiras precisas
para o conceito de distúrbio mental” (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1986,
p. 21).
Concebeu-se que esta expressão dizia respeito a um padrão comportamental ou
psicológico, clinicamente significativo, que ocorre em um indivíduo, comumente associado a
um sofrimento ou incapacidade de realização de atividades cotidianas. Desde já, observamos
o quanto estabelecer um padrão comportamental através de médias estatísticas e estritamente
descritivas pode ser problemático. Ao fundamentar-se em uma abordagem descritiva e
ateórica no tocante aos processos etiológicos e fisiopatológicos das doenças mentais,
considerou-se o fato de que a maioria dos distúrbios tem etiologia desconhecida, exceto nos
casos dos distúrbios mentais orgânicos, onde a origem é encontrada em um fator orgânico
desencadeante. Entretanto, revela-se aí outro problema: Será mesmo que, a despeito dos
distúrbios mentais orgânicos, não é possível identificar uma etiologia para as outras
patologias? Seria lícito afirmar isso tão categoricamente? Ou, então, não seria mais
apropriado dizer que as explicações etiológicas foram simplesmente negligenciadas pela
pretensão de universalizar o campo da saúde mental? Afinal, sabemos que, a exemplo de
Freud, existiu toda uma teorização sobre a etiologia das neuroses.
Sobre isso, Spitzer reconheceu que a omissão do termo neurose no DSM-III
repercutiria muitas críticas, especialmente entre os psiquiatras psicodinâmicos. Apesar disso,
afirmou que a retirada da expressão psicanalítica “neurose” do DSM valeu-se do argumento
de que este termo não englobava um consenso no campo psiquiátrico geral, posto que não
existia também uma definição consensual do conceito de neurose. Em suas palavras:
Atualmente, contudo, não há consenso, neste domínio acerca da forma como definir
“neurose”. Alguns clínicos limitam o termo ao seu significado descritivo, enquanto
que outros o consideram como englobando igualmente o conceito de um
determinado processo etiológico. Para evitar ambiguidade, o termo distúrbio
neurótico deverá apenas ser usado descritivamente [...] Assim, o termo distúrbio
neurótico, utiliza-se, no DSM-III, sem qualquer implicação de um contexto
etiológico especial (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1986, p. 21,
grifo dos autores).
Desta maneira, a neurose passa a ser vista somente descritivamente, uma vez que se
excluiu a psicopatologia psicanalítica e os fatores etiológicos trazidos com ela. Em nome de
uma operacionalidade e de um pragmatismo, baniu-se não apenas a psicopatologia
psicanalítica, mas toda e qualquer psicopatologia que representasse um impasse a
105
universalização. Nesse ritmo, a histeria de Freud desapareceu do manual, bem como a neurose
de angústia, que foi subdividida em transtorno de pânico com e sem agarofobia e transtorno
de ansiedade generalizada. Já a psicose maníaco-depressiva, passou a ser denominada de
transtorno bipolar, com ou sem sintomas psicóticos (MATOS; MATOS; MATOS, 2005).
Fica claro que o DSM-III, ao excluir qualquer teorização acerca da etiologia das
doenças mentais, sejam elas oriundas da psiquiatria psicodinâmica, existencial ou mesmo
kraepeliniana, pretende eliminar um problema, referente à diversidade de olhares em relação
ao objeto psicopatológico, mas acaba colocando em questão outro problema, pois se perdeu o
que a psiquiatria tinha de mais rico: justamente essa variedade de produzir conhecimento.
Verifica-se que tal pluralização no campo da saúde mental foi entendida como um obstáculo a
este projeto de universalização pretensamente totalitário do saber proposto pelo DSM-III.
Mais uma vez, citamos Spitzer:
Uma vez que não seria possível apresentar todas as teorias etiológicas susceptíveis
de serem aplicadas a cada distúrbio, a sua eventual inclusão constituiria um
obstáculo a utilização do manual por clínicos de diversas orientações teóricas, e é
esta a melhor justificação para a abordagem geralmente ateórica utilizada no DSMIII no referente à etiologia (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1986, p.
22).
A considerar este argumento, justamente no intuito de aplacar as diversas orientações
teóricas dentro da psiquiatria, não seria melhor levá-las em conta, e incluí-las no Manual?
Parece-nos que, de fato, a construção do DSM-III preocupou-se mais em expor uma
linguagem supostamente mais científica ao preço de expurgar a riqueza da psicopatologia
clássica. Eliminar diferenças, homogeneizar as doenças para assim parecer mais científica. Eis
o verdadeiro objetivo de construção do DSM-III.
Consta em Éduard Zarifian (1989) que só foram mantidos nesta edição os sintomas
que apresentavam frequência estatística significativa, no sentido de possibilitar a emergência
de uma universalidade. Os diversos eixos que comportavam o DSM-III levaram em conta os
antecedentes, a ausência de organicidade e, sobretudo, a dimensão temporal dos distúrbios.
Nesta linha, o diagnóstico de esquizofrenia só poderia ser atribuído em pessoas com idade
superior a 16 anos e inferior a 45 anos, cujos distúrbios tivessem evoluído há seis meses, pelo
menos.
Da mesma maneira, para Kammerer e Wartel (1989), o DSM-III representou um
verdadeiro encontro entre psiquiatras e biólogos. Afirmam que tal encontro, embora tenha
tido sua importância para a psiquiatria moderna, também representou um perigo para os
106
psiquiatras, os quais, na época, mostraram-se bastante empolgados pelas descobertas
neurobiológicas e pelos moldes ditos científicos daí resultantes, “a ponto de esquecerem a
especificidade de sua própria disciplina” (KAMMERER; WARTEL, 1989, p. 38). Apontam
ainda que a oscilação antes existente entre a psiquiatria organodinâmica e a psiquiatria
psicodinâmica, com a publicação do DSM-III, diminuiu de maneira drástica, pois muitos
psiquiatras se viram encantados com a possibilidade de uma psiquiatria calcada em um
paradigma estritamente
médico
e estatístico.
Isto
ocasionou
uma tendência de
homogeneização no campo da saúde mental, reduzindo tal dicotomia, até então característica
da psiquiatria. Sobre isso, vale citar:
As grandes correntes que animam a psiquiatria desde o seu nascimento têm oscilado
entre seus dois pólos, o organodinâmico e o psicodinâmico. Desde a última guerra,
este último se havia beneficiado da atração do movimento psicanalítico. E eis que há
15, 20 anos, o ponteiro oscila progressivamente para o orgânico. Bom número de
psiquiatras fazem escolha monopolar, ameaçando cindir a psiquiatria em dois. Cada
um é livre para fazer sua opção, com a condição de não pretender monopolizar toda
a psiquiatria pro seu lado. Se não se cuidarem, os psiquiatras se verão empurrados
para o pólo orgânico, onde os biologistas os converterão em neuro-(psico)biologistas (KAMMERER; WARTEL, 1989, p. 38).
Esta progressão para o pólo organodinâmico, incentivada pelas pesquisas
neurobiológicas e pelo desejo da psiquiatria de se autoafirmar como uma ciência médica
“legítima”, acabou trazendo obstáculos para a clínica psiquiátrica, porque teve que se haver
com o paradigma essencialmente médico para o diagnóstico da doença mental, perdendo a
singularidade de sua disciplina.
Para Zarafian (1989, p. 45) é impossível realizar um diagnóstico, no campo
psiquiátrico, baseado somente nos critérios médicos gerais, uma vez que “em psiquiatria é
muito mais difícil seguir um procedimento médico. Não há sinal objetivo algum, e a patologia
mental, como regra, se inscreve num distúrbio de comportamento em relação a uma norma”.
Bom, aí está o problema, visto que não podemos estabelecer ao certo um padrão de referência
para as doenças mentais. Deve-se, sempre, analisar cada paciente e sua forma de se relacionar
com o sofrimento que padece.
Outro efeito desta mudança discursiva no campo psiquiátrico diz respeito a uma
apropriação do conhecimento científico-acadêmico por parte da indústria farmacêutica, a
qual, apoiada na atitude pragmática (“tempo é dinheiro”), ateórica e universalizante do DSMIII, passaram a ofertar cada vez mais medicamentos supostamente mais e mais eficazes para
tratar as doenças mentais. A lógica torna-se então: “Há antipsicóticos, antidepressivos e
ansiolíticos: então há psicoses, depressões e ansiedades [...] O diagnóstico é agora definido
107
pelo tratamento que lhe é aplicado” (ZARAFIAN, 1989, p. 50). Ora, se antes o saber
científico dominava o discurso psiquiátrico, agora ele se vê agenciado pelo capital. E, neste
compasso, a categoria psicose maníaco-depressiva de Kraepelin, não escapou.
Igualmente ao que aconteceu com o conceito de neurose, substituída e entendida sob
o bojo do distúrbio neurótico, a psicose maníaco-depressiva passou a integrar o subconjunto
da classe maior nomeada de distúrbios afetivos. Como se evidencia no DSM-III, a
classificação dos distúrbios afetivos “difere de muitas outras classificações, baseadas em
distinções dicotômicas tais como neurótica vs psicótica ou endógena vs reativa” (AMERICAN
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1986, p. 199). Nesta direção, é possível incluir também a
dicotomia proposta por Kraepelin, entre a demência precoce (esquizofrenia) e a psicose
maníaco-depressiva, a qual não se levou, totalmente, em consideração.
A psicose maníaco-depressiva foi incluída na subclassificação distúrbios afetivos
maiores e denominada de distúrbio bipolar. No DSM-III, integravam os distúrbios afetivos
maiores o distúrbio bipolar e a depressão maior, que se diferenciavam entre si “por ter ou não
ocorrido um surto maníaco anterior” (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1986,
p. 199). Por sua vez, o distúrbio bipolar também foi subdividido em misto, maníaco ou
depressivo. Temos, então, o seguinte Esquema 1 proposto pelo DSM-III, onde a psicose
maníaco-depressiva de Kraepelin foi substituída pelo nome distúrbio bipolar:
108
Esquema 1 – Distúrbios Afetivos.
Fonte: Adaptado de American Psychiatric Association, 1986.
Para o DSM-III o distúrbio afetivo maior tem como característica essencial a
existência de uma doença compreendendo, quer surto maníaco, quer um surto depressivo
maior. O distúrbio afetivo maior se caracteriza também por não apresentar um componente
orgânico envolvido no seu desencadeamento, assim como, não se sobrepõe à esquizofrenia.
Os episódios maníacos e depressivos maiores podem vir acompanhados de quadros
psicóticos. A melancolia comparece entre as subclassificações do distúrbio afetivo maior, na
fase depressiva. Já a ciclotimia e a distimia ficaram localizadas entre os “Outros distúrbios
afetivos” (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1986).
Vale ressaltar que o DSM-III baseou-se na abordagem categorial para estabelecer
sua nosologia, a partir de uma hierarquização dos diagnósticos. O que significa dizer que um
paciente diagnosticado, por exemplo, como esquizofrênico não poderia receber um
diagnóstico de transtorno do pânico concomitantemente.
Neste sentido, dizemos que a terceira edição do Manual fundamentou seus
diagnósticos categoricamente, hierarquicamente. As patologias mentais foram descritas como
uma entidade individual, com limites explícitos entre uma doença e outra. Foi com o
surgimento do DSM-III-R, em 1987, que tal “hierarquia foi abolida, e o manual passou a
incentivar a feitura simultânea de dois ou mais diagnósticos num mesmo paciente” (MATOS;
109
MATOS; MATOS, 2005, p. 313). Nesta perspectiva emergiu o conceito de comorbidade
dentro do campo psiquiátrico, autenticado pelo DSM-IV e amplamente difundido nos anos 90.
O conceito de comorbidade, introduzido por Feinsten, foi emprestado para a
psiquiatria através de Klerman, na década de 90, visando aludir à ocorrência conjunta de dois
ou mais transtornos mentais entre si. Entretanto, apesar de se considerar o aparecimento
conjunto de dois ou mais transtornos, o modelo categorial distingue o transtorno primário, de
base, do secundário, o qual surge como derivação do primeiro, como é o caso de uma
depressão que aparece, por exemplo, como um efeito secundário ao transtorno do pânico
(MATOS; MATOS; MATOS, 2005).
3.2.2 O DSM-IV e o DSM-V: a abordagem dimensional e a noção de espectro no Transtorno
bipolar
O DSM-IV, embora tenha dado prosseguimento à nosologia apresentada pelo DSMIII, mostra algumas mudanças e inovações. Em primeiro lugar, podemos salientar que a quarta
versão do referido manual não partiu do pressuposto de que cada categoria de transtorno
mental fosse uma entidade completamente individual, acompanhada de balizas claras, capazes
de delimitar onde começa e onde termina cada transtorno. O DSM-IV partiu, portanto, do fato
de que os sujeitos portadores de um mesmo transtorno poderiam manifestar características
heterogêneas entre si, considerando até mesmo os critérios cruciais e determinantes em
relação ao diagnóstico.
Em outras palavras, o DSM-IV julgou mais interessante que esta versão do manual
fosse mais organizada na abordagem dimensional do que a categorial. No que diz respeito ao
modelo categorial, embora o DSM-IV reconheça a importância desta abordagem, tal como
vinha sendo utilizada na sua versão anterior, o DSM-III, ao mesmo tempo reconhece as
limitações de seu uso. Até então, a abordagem categorial permitia que as perturbações mentais
fossem divididas em tipos, com base no conjunto de critérios com características definidoras.
No entanto, admitiu-se que esta abordagem por categorias “funciona melhor quando todos os
membros de uma categoria diagnóstica são homogêneos, quando existem fronteiras claras
entre
as
categorias
e quando
estas
são
mutuamente exclusivas” (AMERICAN
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2000, p. 31). Por este motivo, avaliou a devida abordagem
um tanto limitada. Isto porque:
110
No DSM-IV não se pressupõe que cada categoria de perturbações mentais seja uma
entidade completamente distinta, com fronteiras absolutas que a separam de outras
perturbações mentais ou da ausência de perturbação mental. Não se pressupõem
também que todos os indivíduos com a mesma perturbação mental se assemelhem
em todos os caracteres importantes. O médico que o utiliza o DSM-IV deve, por
isso, considerar provável que os indivíduos com o mesmo diagnóstico sejam
heterogêneos, mesmo no que respeita às características definidoras do diagnóstico e
que os casos de fronteira serão difíceis de diagnosticar, de qualquer forma que não
seja probabilística (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2000, p. 31-32).
Desta maneira, o DSM-IV passou a incluir a presença de elementos múltiplos para o
estabelecimento dos transtornos. Neste raciocínio, um sujeito, para ser diagnosticado com
transtorno bipolar, por exemplo, não necessita apresentar critérios rígidos para ser enquadrado
como tal. Dito de outro modo, se ele apresentar sintomas somente referidos a um subconjunto
desta categoria, ele já pode receber um diagnóstico de Transtorno Bipolar. Isto quer dizer que
o estabelecimento dos diagnósticos passa a incluir com frequência conjunto de critérios
politéticos, ou seja, faz-se necessário que o paciente apresente apenas um subconjunto de
critérios
para
receber
determinado
diagnóstico
(AMERICAN
PSYCHIATRIC
ASSOCIATION, 2000).
Conforme consta no DSM-IV, o intuito desse novo esquema aparece como uma
forma de dar maior flexibilidade no uso do sistema de diagnósticos, o que exigiria dos
psiquiatras ou dos médicos clínicos um imperativo maior de escuta do paciente, no sentido de
coletar informações que poderiam transcender a mera descrição dos sintomas, indo, assim,
além do diagnóstico em si. Esse esquema diz respeito à abordagem dimensional para o
estabelecimento do diagnóstico e indicação da terapêutica. Tal abordagem, distinta da
abordagem hierárquica e categorial, classifica as manifestações clínicas fundamentando-se na
quantificação de atributos, distribuídos continuamente, ao longo de um continuum, sem
limites precisos. Logo a abordagem dimensional refere-se “a um sistema que classifica as
apresentações clínicas com base na quantificação de atributos e não de categorias e funciona
melhor na descrição de fenômenos que se distribuem de forma contínua e que não possuem
fronteiras claras” (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2000, p. 32).
A partir daí é possível observar certa diferença com relação à abordagem
kraepeliniana, a qual, Segundo Berrios (2008, p. 116, grifo do autor), se baseava em uma
abordagem categorial, isto é, “um termo pode ser interpretado como referente ao status de
características ou propriedades (uma característica está presente ou ausente, ou 0 ou 1)”.
Portanto, uma entidade pode pertencer ou não a uma classe. Ao englobar um conjunto de
sintomas
e colocá-los
sob
a rubrica de
psicose maníaco-depressiva,
categoricamente situa esta entidade em oposição a outras categorias clínicas.
Kraepelin
111
Acreditamos que no momento em que se criou uma classe maior com respectivas
subclassificações, o DSM rompeu com a abordagem categorial, pois no momento em que se
criaram tais subclassificações, o sujeito, ao invés de poder ser ou não, enquadrado na psicose
maníaco-depressiva, tem uma possibilidade maior de ser classificado como tendo um
transtorno afetivo maior, onde a categoria supracitada faz parte.
Neste sentido, embora a abordagem categorial fosse um objetivo a ser adotado pelos
neokraepelinianos, vemos que tal visão não foi suficientemente sustentada. Talvez seja
possível afirmar que o DSM-III, de fato, impulsionou a utilização da abordagem dimensional,
como passou a ser usada no DSM-IV. No DSM-III, a classificação dos distúrbios afetivos
“difere de muitas outras classificações, baseadas em distinções dicotômicas tais como
neurótica
vs
psicótica
ou
endógena
vs
reativa”
(AMERICAN
PSYCHIATRIC
ASSOCIATION, 1986, p. 199). Nesta direção, é possível incluir também a dicotomia
proposta por Kraepelin, entre a demência precoce (esquizofrenia) e a psicose maníacodepressiva, a qual não se levou, totalmente, em consideração. A psicose maníaco-depressiva,
desde o DSM-III, foi desmembrada em um tipo de disfunção por meio de uma categoria única
dos distúrbios afetivos.
Em segundo lugar, temos o aspecto da comorbidade e a possibilidade de
sobreposições de entidades clínicas. Tais sobreposições qualitativas, sob outra ótica, não
impedem de serem contextualizadas em um modelo dimensional, ao longo de um continuum:
Os sintomas da depressão [...] quando típicos, estão situados no extremo de um
continuum, do qual faz parte a ansiedade, que, por sua vez, na sua forma pura, situase no outro extremo. Os transtornos intermediários estariam representados pelos
quadros de sintomatologia mista, onde os sintomas de depressão e ansiedade se
misturam e se superpõem das mais diversas maneiras. Assim, no modelo
dimensional, ao contrário do anterior, a depressão e a ansiedade são consideradas a
expressão de uma mesma e única patologia (MATOS; MATOS; MATOS, 2005, p.
315).
Neste panorama, no DSM-IV, o transtorno bipolar encontra-se no conjunto dos
transtornos de humor, os quais se dividem em: transtorno depressivo, transtorno bipolar e em
dois transtornos baseados na etiologia, que são os transtornos de humor devido a um estado
físico geral e os transtornos de humor pelo uso de substâncias. O transtorno depressivo, que
envolve o transtorno depressivo maior, a distimia e a depressão sem Outra especificação,
difere-se do transtorno bipolar, porque este comparta a presença de episódios maníacos,
hipomaníacos ou mistos (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1986; 2000).
112
O transtorno de humor bipolar é subdividido em: transtorno bipolar tipo I, transtorno
bipolar tipo II, ciclotimia e transtorno bipolar sem Outra especificação, como é possível
observar no Quadro 1 (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2000).
Quadro 1 – Divisões do transtorno de humor bipolar.
Presença de 1 ou mais episódios maníacos ou mistos,
Transtorno bipolar tipo I
acompanhados, pelo menos, de um episódio
depressivo maior.
Transtorno bipolar tipo II
Presença de 1 ou mais episódios depressivos maior,
acompanhado ao menos por um episódio
hipomaníaco.
Ciclotima
Caracterizada pela presença de, no mínimo 2 anos,
com numerosos períodos de sintomas hipomaníacos
que não preenchem os critérios para o episódio
maníaco, bem como numerosos sintomas depressivos
que não preenchem os critérios para depressão maior.
Transtorno Bipolar sem Outra
especificação
Transtornos com características bipolares que não
preenchem critérios para nenhum transtorno bipolar
específico, acima citado.
Fonte: Adaptado de American Psychiatric Association, 2000.
Já no DSM-V (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014), o transtorno
bipolar e outros transtornos relacionados estão alocados em um conjunto separado dos
transtornos depressivos, os quais antes, no DSM-IV, integravam o mesmo complexo,
referente aos transtornos de humor. Além disso, o transtorno bipolar passa a ser entendido
como uma categoria de ponte entre os transtornos depressivos e as perturbações que incluem
os transtornos do espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos.
Outro aspecto que chama nossa atenção direciona-se à expansão dos tipos de
transtorno bipolar. Antes divididos em quatro tipos, o DSM-V elencou 6 modalidades
diferentes, a saber: transtorno bipolar tipo I, transtorno bipolar tipo II, transtorno ciclotímico,
transtorno bipolar e transtorno bipolar induzido por substâncias ou medicamentos, transtorno
bipolar e transtorno relacionado especificado, e transtorno bipolar e outro transtorno
relacionado não especificado. De acordo como consta no manual, os critérios para transtorno
bipolar tipo I “representam o entendimento moderno do transtorno maníaco-depressivo
clássico, ou psicose afetiva, descrito no século XIX” (AMERICAN PSYCHIATRIC
ASSOCIATION, 2014, p. 123), distinguindo-se desta descrição clássica apenas no que tange
ao fato da ausência de exigência de psicose ou da existência de um episódio depressivo maior.
Analisando por outro viés, observamos uma tendência de afrouxamento da categoria
do transtorno bipolar, especialmente quando atentamos ao aumento de tipos do transtorno e a
113
não exigência de sintomas psicóticos e do distúrbio depressivo maior. Isso traz como
consequência a possibilidade de mais sujeitos serem enquadrados nesta categoria.
Considerando rigorosamente, o transtorno bipolar tipo I, de fato, não representa o
entendimento moderno da psicose maníaco-depressiva, proposta por Kraepelin. Veremos,
então, como se caracterizam cada uma das modalidades do transtorno bipolar, tal como
demonstra o Quadro 2, adaptado do DSM-V:
Quadro 2 – Divisões do Transtorno afetivo bipolar.
Presença de episódios maníacos e depressivos
maiores, podendo ser antecedido ou seguido
Transtorno bipolar tipo I
por episódios hipomaníacos ou depressivos
maiores.
Transtorno bipolar tipo II
Presença de um episódio hipomaníaco atual
ou anterior, bem como a presença de um
episódio depressivo maior atual ou anterior.
Transtorno ciclotímico
Presença de vários períodos com sintomas
hipomaníacos e vários períodos com sintomas
depressivos que não satisfazem critérios para
o transtorno depressivo maior.
Humor expansivo, eufórico ou irritável, com
ou sem humor deprimido provocado por
Transtorno bipolar e Transtorno relacionado e ingestão de substâncias ou medicamentos,
induzido por substâncias ou medicamentos
como álcool, alucinógenos, sedativos,
cocaína, entre outros.
Transtorno bipolar e Transtorno relacionado Trata-se de uma consequência fisiopatológica
devido a outra condição médica
direta de outra condição médica.
Quando os sintomas característicos do
transtorno bipolar e transtorno relacionado
Transtorno bipolar e transtorno relacionado não satisfazem os critérios para qualquer
transtorno na classe diagnóstica do transtorno
não especificado
bipolar e transtornos relacionados, embora
seus sintomas causem significativo prejuízo
na vida do sujeito.
Fonte: Adaptado de American Psychiatric Association, 2014.
Outra noção que vem se somar ao modelo dimensional e, decerto, expansionista em
psiquiatria concerne ao conceito de espectro. Este conceito foi amplamente divulgado e
discutido na década de 1970 pelo psiquiatra americano Hagop Akiskal.
O conceito relacionado ao “espectro bipolar” surgiu, pela primeira vez, através de
um estudo sobre o curso de pacientes ciclotímicos em ambulatórios de saúde mental. Estes
pacientes se mostravam nutrindo história de relações interpessoais intempestivas,
temperamentais, vinculadas principalmente a um prejuízo na esfera social, como também,
114
manifestando ciclos que, por pouco, não chegavam a cumprir os critérios sintomatológicos e
de duração para o diagnóstico de depressão e hipomania. Por conseguinte, o estudo
prospectivo destes pacientes ambulatoriais revelou a aparição, em ordem crescente de
frequência, de episódios maníacos, hipomaníacos e depressivos, assim como uma
característica cíclica em detrimento da ingestão de antidepressivos, o que gerou a evidencia de
um espectro bipolar, ciclotímico-bipolar (AKISKAL; VAZQUEZ, 2006).
Os autores afirmam ainda que no próprio DSM-IV o conceito de espectro já se
encontrava presente, embora o termo não tenha sido mencionado. Salientam que a
classificação dos tipos do transtorno bipolar obedeceu a um continuum de severidade
decrescente, começando pelo transtorno bipolar tipo 1 e assim por diante, como verificamos
na afirmação de Akiskal e Vazquez (2006, p. 341):
Este estudo é uma das razões pelas quais a classificação do transtorno bipolar do
DSM-IV é um continuum de severidade descendente desde o bipolar I, II, e nos
outros transtornos ciclotímicos. No entanto, o termo espectro é evitado neste manual
(tradução nossa).
Akiskal e Vazquez (2006) propõem a seguinte divisão para o transtorno bipolar,
considerando a concepção de espectro:
115
Quadro 3 – O espectro bipolar.
Transtorno bipolar tipo I
Definida classicamente pela manifestação da mania, que pode
aparecer de modo psicótico grave. Em geral, os primeiros
quadros são eufóricos e os últimos tendam a se apresentar
como disfóricos e mistos.
Transtorno bipolar tipo II
Depressão com hipomania com episódios moderados ou
intensos de depressão intercalados com períodos de hipomania
(no máximo 4 dias de duração). A hipomania pode aparecer
depois de um episódio depressivo, podendo ser observada, com
menos frequência, o inverso.
Transtorno bipolar tipo II½
Depressões ciclotímicas com presença de sintomas
hipomaníacos por menos de 4 dias. A importância desse
subtipo deve-se ao fato de que na maioria dos episódios
hipomaníacos tem duração de 3 dias.
Transtorno bipolar tipo III
Hipomania associada a antidepressivos.
Transtorno bipolar tipo III½
Bipolaridade mascarada ou desmascarada por uso de
estimulantes.
Transtorno bipolar tipo IV
Depressão hipertímica, caracterizada
hipertímico de longa duração.
Transtorno bipolar tipo V
Altas taxas de depressão recorrente. Ao longo de uma avaliação
prospectiva, transformam-se em pacientes bipolares.
Transtorno bipolar tipo VI
É o tipo menos validado no espectro bipolar e refere-se aos
pacientes que apresentam instabilidade de ânimo, desinibição
sexual, agitação e conduta impulsiva. Às vezes, esses sintomas
aparecem durante o tratamento com antidepressivos e são
agravados por eles. É possível registrar antecedentes remotos
de sintomas hipomaníacos. A importância deste tipo de
bipolaridade repousa na observação de que a análise clínica
desses pacientes pode levar a um tratamento com
estabilizadores de humor, ao invés de antidepressivos.
por
temperamento
Fonte: Adaptado de Akiskal; Vazquez, 2006.
Independente de destrinchar cada tipo de transtorno bipolar, o mais importante em
nossa pesquisa é mostrar o movimento de expansão desta entidade clínica, tanto pela via do
espectro, quanto por meio da abordagem dimensional que a acompanha e a embasa. Com a
introdução desta perspectiva, vemos que poucos podem escapar a linha do espectro e, com
isso, aumenta-se a prevalência da doença, a quantidade de sujeitos diagnosticados como
bipolares, assim como a aumento da prescrição de estabilizadores de humor, ao invés de
antidepressivos. Poucos escapam da “anormalidade”, particularmente quando entendida como
sinônimo de normatividade. Quanto a isso, recorremos agora à Canguilhem.
116
3.3 O transtorno bipolar e o seu caráter normativo “ideal”: uma discussão a partir de
Georges Canguilhem
Trazer Georges Canguilhem (1804/1995) para nosso debate não é um mero acaso.
Como veremos, suas contribuições dialogam consideravelmente com o cenário da psiquiatria
moderna, especialmente no que tange ao aspecto normativo e “ideal” contido nele. Com um
DSM que exclui de suas formulações a psicopatologia, assistimos uma psiquiatria meramente
descritiva e catalogadora, baseada apenas em aspectos estatísticos, quantitativos, neuronais e
anátomo-fisiológicos. Este fato, por conseguinte, implica que tais manuais diagnósticos estão
alicerçados em uma normatização, ou seja, visam enquadrar os sujeitos em uma regra
universal, por meio de uma norma social padrão dominante.
A partir de Canguilhem, encontramos as bases para tecer nossa crítica, pois
acreditamos que a acepção de normalidade, para a psiquiatria moderna, pauta-se na
construção de um discurso sobre a doença através de uma norma para todos, generalizando os
sujeitos. Tal aspecto nos será de bastante serventia, quando, posteriormente, abordarmos a
noção de discurso na teoria lacaniana.
No que diz respeito à relevância dos apontamentos de Canguilhem, Roudinesco
(2007) denota nos vocábulos de Foucault, que fora seu aluno e orientando de doutorado, o
lugar que seu mestre conquistara na história da filosofia na frança. Dois meses antes de sua
morte, Foucault pontua:
[...] Mas eliminem Canguilhem, e vocês deixarão de entender muita coisa de toda
uma série de discussões que tiveram lugar entre os marxistas franceses; não saberão
também o que há de tão específico em sociólogos como Bourdieu, Castel, Passeron,
e que os marca tão intensamente no campo da sociologia; perderão todo um aspecto
do trabalho teórico realizado por psicanalistas, em especial os lacanianos. E mais:
em todo o debate de ideias que precedeu ou seguiu o movimento de 1968, é fácil
descobrir o lugar daqueles que, de perto ou de longe, foram formados por
Canguilhem (ROUDINESCO, 2007, p. 13).
De acordo com Safatle (2011, p. 13), Canguilhem “é o nome mais eminente da
epistemologia das ciências médicas e biológicas do século XX e figura fundamental no
desenvolvimento da epistemologia das ciências humanas”. A obra dele que pretendemos nos
debruçar aqui diz respeito à sua tese de doutorado em medicina defendida em 1943 sob o
título Ensaios sobre alguns problemas relativo ao normal e ao patológico, a qual resultou em
um livro intitulado O normal e o patológico que, em sua versão final, acrescentou-se três
artigos escritos por ele, vinte anos depois.
117
No então livro, Canguilhem inicia sua discussão estabelecendo críticas em relação
aos critérios puramente quantitativos e fisiológicos na delimitação entre o estado patológico e
o estado normal. Para isso, toma como ponto de partida três importantes autores: o filósofo
Auguste Comte (1798-1857), o médico e fisiologista francês Claude Bernard (1813-1878) e o
famoso cirurgião francês René Leriche (1789-1955). Salienta que a eleição por essas
personalidades aconteceu considerando suas influências sobre a filosofia, a ciência e sobre a
própria literatura do século XIX. Aponta que foi neste ambiente e sob estas interferências
teóricas que a medicina científica moderna passou a constituir seus ideais acerca da doença
fundamentada, basicamente, em variações quantitativas e fisiológicas. Ao retomar um dos
mais influentes historiadores da medicina do século XX, Sigerist, Canguilhem (2009, p. 12)
abaliza a evolução de pensamento nas ciências médicas, afirmando:
Essa evolução resultou na formação de uma teoria das relações entre o normal e o
patológico, segundo a qual os fenômenos patológicos nos organismos vivos nada
mais são do que variações quantitativas, para mais ou para menos, dos fenômenos
fisiológicos correspondentes. Semanticamente, o patológico é designado a partir do
normal, não tanto como a ou dis, mas como hiper ou hipo.
Foi com base nesses princípios que a medicina moderna constituiu seu edifício,
tentando reduzir tudo à fisiologia. Nesse processo, tanto saúde como doença são estados
fisiológicos e o que os difere é apenas uma quantidade, tal como nos demonstra Canguilhem
(2009, p. 83):
A quantidade é a qualidade negada, mas não a qualidade suprimida. A variedade
qualitativa das luzes simples, percebida pelo olho humano como cores, é reduzida
pela ciência à diferença quantitativa de comprimentos de onda, mas é a variedade
qualitativa que persiste ainda sob a forma de diferenças de quantidade, no cálculo
dos comprimentos de onda.
Ao se basear em uma média como norma, a partir de um “desvio padrão” para
compreender os estados mórbidos, a medicina moderna trouxe problemas conceituais ao que
concerne à noção de normalidade.
Afinal, o que é ser normal, seja física ou psiquicamente? Canguilhem (2009)
problematizou esta questão. Apoiando-nos em seus apontamentos, poderemos analisar os
efeitos do conceito de norma para medicina e as consequências para o sujeito doente, em
especial, aquele que sofre de uma “patologia psíquica”. Dito isto, iniciaremos abordando as
lacunas encontradas por Canguilhem sobre cada uma das importantes figuras mencionadas.
Comecemos por Auguste Comte.
118
3.3.1 Auguste Comte e a pretensão métrica
Sobre as contribuições de Auguste Comte, o autor as aborda a partir do “Princípio de
Broussais”. Comte apropria-se deste princípio para construir suas teorizações sobre sua
filosofia biológica positiva, concebendo o estado patológico como uma simples variação
quantitativa do estado normal, através da noção de falta e excesso. Foi comentando o trabalho
de Broussais intitulado De l’irritation el de la folie, de 1828, é que Comte adotou os
pressupostos deste trabalho para seu próprio uso. Com relação às ideias de Broussais, afirma
Canguilhem (2009, p. 23):
Broussais considera a excitação como o fato vital primordial. O homem só existe
pela excitação exercida sobre seus órgãos pelos meios nos quais é obrigado a viver.
As superfícies de relação, tanto internas quanto externas, transmitem, por sua
inervação, essa excitação ao cérebro que a reflete em todos os tecidos, inclusive nas
superfícies de relação. Essas superfícies estão sujeitas a dois tipos de excitação: os
corpos estranhos e a influência do cérebro. É sob a ação contínua dessas múltiplas
fontes de excitação que a vida se mantém.
Neste sentido, para Broussais, aplicar a doutrina patológica à fisiologia seria
investigar a maneira como a referida excitação pode se desviar do estado dito “normal”,
causando assim um estado doentio e patológico. Por sua vez, afirma que tais desvios podem
acontecer ou por falta ou por excesso de excitação dos tecidos. Assim, quando os tecidos são
muito excitados, ocorre o fenômeno da irritação, a qual se difere da excitação somente pelo
aspecto da quantidade. “A irritação é, portanto, uma excitação normal transformada em
excesso” (CANGUILHEM, 2009, p. 24), sendo concebida como um complexo de distúrbios
provocados pela economia de agentes capazes de modificar os fatos da vida, desviando-os de
seu estado normal.
Canguilhem (2009) explica o princípio de Broussais ilustrando o fenômeno da
irritação através da asfixia, que ocorre pela falta de ar oxigenado nos pulmões, fato que priva
esses órgãos de sua excitação normal. Todavia, ressalta que ambos os desvios, a falta e o
excesso, não possuem a mesma importância na evolução do processo patológico. O excesso
de excitação prevalece sobre a falta. Desta forma, o autor assinala:
Broussais mostra que os fenômenos da doença coincidem essencialmente com os
fenômenos da saúde, da qual só diferem pela intensidade. Esse luminoso princípio
tornou-se a base sistemática da patologia, subordinada, assim, ao conjunto da
fisiologia (CANGUILHEM, 2009, p. 19).
119
A apropriação do trabalho de Broussais por Comte deve-se ao fato dele ter julgado
que a referida tese era bastante satisfatória, na medida em que estabelecia uma relação
essencial entre a patologia e a fisiologia. A explicação dada por Broussais era de que todas as
doenças consistiam, unicamente, no excesso ou na falta de excitação de diversos tecidos
abaixo ou acima do grau que constitui o estado normal. Dessa maneira, as doenças refletiam
simples mudanças quantitativas sobre esses tecidos. Comte passou a usar o princípio de
Broussais como um axioma geral no que se refere à concepção nosológica, impondo a este “o
mesmo valor dogmático que tem a lei de Newton” (CANGUILHEM, 2009, p. 18),
posicionando-o em uma estrutura nosológica investida de uma autoridade universal, de tal
modo que passou a enquadrar a base sistemática da patologia subordinada ao conjunto da
biologia.
A doença, portanto, coincidia com estado de saúde, distinguindo-se somente em
intensidade. Neste aspecto, Canguilhem (2009, p. 20-21) cita Comte:
Segundo o princípio eminentemente filosófico que serve doravante de base geral e
direta à patologia positiva, princípio este que foi definitivamente estabelecido pelo
gênio ousado e perseverante de nosso ilustre concidadão Broussais, o estado
patológico em absoluto não difere radicalmente do estado fisiológico, em relação ao
qual ele só poderia construir, sob um aspecto qualquer, um simples prolongamento
mais ou menos extenso dos limites de variações, quer superiores, quer inferiores,
peculiares a cada fenômeno do organismo normal, sem jamais produzir fenômenos
realmente novos que não tivessem de modo nenhum, até certo ponto, seus análogos
puramente fisiológicos.
No entanto, o entendimento da patologia deveria se fundamentar em um
conhecimento anterior do estado normal correspondente, da mesma maneira que, no sentido
oposto, seria imprescindível o estudo científico dos casos patológicos, a fim de entender
qualquer pesquisa sobre as leis do estado normal. Para Comte, a atitude de partir do estado
patológico ao estado normal correspondente mostrava vantagens reais e numerosas, se
comparado com a pesquisa experimental. Considerava que a exploração patológica era, por
assim dizer, mais rica que a experimental, sobretudo quando se tratava de casos mórbidos
mais complexos das funções nervosas e psíquicas.
A crítica de Canguilhem à patologia positiva de Comte residiu no fato de que não
existiu, em suas exposições, nenhum critério suficientemente capaz de reconhecer a
normalidade de um fenômeno, embora tenha insistido na tarefa de delimitar previamente o
estado normal, apontando para a importância dos seus limites de variação, antes de explorar
detalhadamente os casos patológicos. Dito isto, Canguilhem afirma que Comte usou
indiferentemente as noções de estado normal, estado fisiológico e estado natural, pontuando
120
que ao ser exigido em definir os limites das perturbações patológicas ou experimentais,
compatíveis com a existência dos organismos, Comte identifica esses limites com os de uma
harmonia de distintas influências, tanto externas como internas. Ao usar a expressão
harmonia, nos diz o autor, o conceito de normal e patológico acaba sendo reduzido a um
conceito “qualitativo e polivalente, estético e moral” (CANGUILHEM, 2009, p. 22), embora
pretendesse científico.
Ao definir o patológico como um simples prolongamento do estado normal, sem
rigor algum nos limites de variação, a teoria de Comte, segundo Canguilhem, apresentou
lacunas marcantes, revelando uma atitude abstrata para uma tese que visa objetividade.
Destarte, considerando que Comte, a partir de Broussais, avalia o conceito de normal e
patológico pelo excesso ou pela falta de excitação nos tecidos, Canguilhem adverte que tal
avaliação obedece a um caráter puramente normativo e quantitativo, pautado em uma
pretensão métrica. É através desta pretensão que a doença deixa de ser objeto de angústia para
homem para se tornar objeto de teorização científica, como afirma: “É no Patológico, com
letra maiúscula, que se decifra o ensinamento da saúde” (CANGUILHEM, 2009, p. 12).
É desse modo que a identidade real dos fenômenos vitais normais e patológicos,
tornou-se, no século XIX, uma espécie de dogma que, por meio da ciência, garantiria seu
lugar não só discurso médico, mas também nos campos da filosofia, da psicologia e da
psiquiatria. Ao lembrar que Comte adotou o princípio de Broussais à categoria de axioma
geral para a categorização nosológica, o autor nos fala que este princípio foi investido de uma
autoridade universal, dominando o discurso médico-científico moderno. Entretanto,
Canguilhem alerta que essa identidade real dos fenômenos normais e patológicos, pautada em
uma avaliação apenas quantitativa, traz consigo uma ideia de homogeneidade entre esses dois
estados, concebendo um como uma continuidade do outro. Isso consistiria em um
contrassenso, pois como afirma: “No entanto, é preciso dizer que a continuidade de uma
transição entre um estado e outro pode ser muito bem compatível com a heterogeneidade
desses estados. A continuidade dos estados intermediários não anula a diversidade dos
extremos” (CANGUILHEM, 2009, p. 25).
Além disso, como mencionado acima, ao se utilizar termos qualitativos na descrição
do estado normal e patológico, Canguilhem assinala que tal atitude revela uma imprecisão nas
noções de falta e excesso, tornando explícito o uso de um caráter valorativo e normativo na
identificação no estado patológico. Este aspecto, por sua vez, encontra-se velado pela sua
pretensão métrica:
121
É em relação a uma certa medida considerada válida e desejável – e, portanto, em
relação a uma norma – que há excesso ou falta. Definir o caráter anormal por meio
do que é de mais ou de menos é reconhecer o caráter normativo do estado dito
normal. Esse estado normal ou fisiológico deixa de ser apenas uma disposição
detectável e explicável como um fato, para ser a manifestação do apego a algum
valor (CANGUILHEM, 2009, p. 25-26).
Em outras palavras, Canguilhem identifica que um ideal de perfeição foi o que
impulsionou essas teorizações, as quais, por sua vez, estavam imbuídas por todo um projeto
ideológico e científico, como também político:
A ambição de tornar a patologia e, consequentemente, a terapêutica integralmente
científicas, considerando-as simplesmente procedentes de uma fisiologia
previamente instituída, só teria sentido se, em primeiro lugar, fosse possível dar-se
uma definição puramente objetiva do normal como de um fato; e se, além disso,
fosse possível traduzir qualquer diferença entre o estado normal e o estado
patológico em termos de quantidade, pois apenas a quantidade pode dar conta, ao
mesmo tempo, da homogeneidade e da variação (CANGUILHEM, 2009, p. 26).
Vemos, no terreno da psiquiatria dos manuais, as ideias de Comte por Broussais de
modo marcante, em particular nas noções de falta e excesso. Observamos que os transtornos
de humor baseiam-se nesta premissa, quando é o excesso ou falta dos neurotransmissores,
somente, o fator responsável pelo desencadeamento da patologia, como a depressão ou o
transtorno bipolar, por exemplo. O próprio conceito de hipomania, como uma mania em grau
leve, também revela a assunção de tais ideias, pois seu surgimento traz à tona uma variação
quantitativa, a qual, como vimos, não é bem delimitada. A hipomania, nesta linha de
pensamento, não evidencia o estado patológico extremo, em uma dimensão categorial, para o
estabelecimento do seu diagnóstico, mas sim uma concepção dimensional e contínua na régua
do que define o que é normal e patológico.
A principal crítica de Canguilhem em direção à Comte e seu uso do “Princípio de
Broussais” está no fato de que é impossível definir o que é normal e o que é patológico apenas
por uma variação quantitativa. Comte, embora todo o esforço de isolar os fenômenos normais
e patológicos entre os muros da quantificação, não conseguiu se livrar do aspecto qualitativo,
tendo em vista que parte de um ideal pré-concebido do estado normal, colocando a doença
como um obstáculo que impede o alcance de uma normalidade. Dito de outra maneira, é
impossível delimitar o normal e o patológico sem considerar o discurso que o sujeito que
sofre faz de seu adoecer e que, portanto, o caráter valorativo e qualitativo, é inseparável desta
tarefa. Neste caso, não existe patologia sem juízo de valor!
É justamente através de um juízo de valor universalizado, aliado a uma pretensão
métrica, que se avaliam e diagnosticam os sujeitos, muitas vezes sem levar em conta o que
122
eles dizem sobre o que sentem em seu próprio corpo. Ademais, é pela via de tais critérios que
se molda o paradigma médico moderno, o qual a psiquiatria tem buscado se filiar. O resultado
desta filiação é uma psiquiatria normativa, que acaba impondo a sua nosologia um regime
disciplinar, que dita um padrão a seguir. A própria estatística, tão usada atualmente, na
discriminação de patologias, segundo Canguilhem, não oferece subsídios suficientes para
detectar se determinado desvio é normal ou anormal.
Contudo, ao trazer o princípio de Broussais aplicado à nosologia psiquiátrica
moderna, em particular pela ótica dos transtornos e da noção de espectro, não nos exime
questionar se a própria psicanálise não parte de uma normatização dos sujeitos. Afinal, ao
pretender uma psicopatologia, a psicanálise também não isola regularidades fenomenológicas
para definir uma patologia mental?
Quando se trata da psicopatologia psicanalítica, em primeiro lugar, é lícito mencionar
que embora ela parta de uma universalização em termos estruturais da linguagem, ela não
deixa de considerar o discurso do sujeito portador do sintoma, ao contrário, ela o toma como
uma via para o tratamento. É a fala do sujeito, sob transferência, o motor do tratamento
psicanalítico e só através dela é possível fazer alguma coisa. Existe uma singularidade nesta
fala que, embora seja estruturada no discurso do inconsciente, não diz respeito a dados
quantitativos e estatísticos.
A psicopatologia, no terreno da psicanálise, no que tange ao universal da estrutura,
parte de três tipos clínicos: neurose, psicose e perversão. Podemos dizer que Freud e depois
Lacan partiram de balizas para estabelecer o diagnóstico diferencial. Como veremos no
capítulo 3, o fator que posiciona o sujeito com relação aos tipos clínicos citados é a forma
como este se coloca defensivamente diante da castração, instituída pela metáfora paterna, a
saber: o recalque na neurose, o desmentido na perversão e a recusa na psicose. Sendo assim,
dizemos que a psicanálise trabalha com um diagnóstico categorial e não dimensional, na
medida em que não se baseia em um continuum ou na ideia de um prolongamento, tal como
propôs Comte por Broussais. A psicanálise não considera a patologia mental por esta
perspectiva, a qual, por meio de uma continuidade, a doença pode variar, de acordo com a
intensidade, de um extremo a outro. Ora, se um sujeito é neurótico, ele não pode “virar
psicótico”, se entendermos este diagnóstico como o extremo da neurose.
Igualmente, psicose e perversão, por exemplo, não são vistas para a psicanálise como
um desvio de padrão da neurose, sob a ótica de um pretenso ideal, mas como modalidades
específicas de se haver com o universal da linguagem, a qual, todos, desde que nascemos,
estamos desde já submetidos. Enfim, quando Freud, reafirmado por Lacan, nos disse que o
123
delírio é entendido como uma tentativa de cura do sujeito, ele nos alertou que o psicótico,
através deste mecanismo, encontrou um caminho para lidar com o que não consegue
simbolizar. Freud e Lacan jamais partiram do pressuposto de que o psicótico tinha que ser
neurótico para, assim, estar conforme as normas padrão.
Feitos tais esclarecimentos, apresentaremos as críticas de Canguilhem à Claude
Bernard.
3.3.2 Claude Bernard e a fisiologia experimental
Claude Bernard, além de médico e fisiologista, foi considerado o criador da medicina
experimental baseada em evidências. Acerca de Claude Bernard, afirma Safatle (2011, p. 2122):
Foi o fisiologista francês mais importante do século XIX e responsável por estudos
pioneiros sobre o diabetes e a função do açúcar no corpo humano. Adepto da ideia
de que o progresso da medicina só seria possível através da fisiologia experimental,
Bernard utiliza a física e a química como base para todo conhecimento fisiológico
[...] Assim, para Bernard, a biologia seguiria o determinismo próprio a toda e
qualquer ciência do mundo físico. Maneira de afirmar a onivalência do postulado
determinista e a identidade material de todos os fenômenos físico-químicos. Bernard
foi ainda responsável pela noção de “meio interno” [...] que diz respeito à
independência relativa de funções orgânicas em relação a flutuações do meio
ambiente.
Tendo em vista a concepção de Bernard sobre a medicina, não nos surpreende que
ele partilhasse das ideias de Comte, segundo a qual o estado patológico era apenas uma
variação quantitativa do estado normal. No que se refere à influência de Comte nos estudos de
Bernard, Canguilhem salienta que embora nunca tenha mencionado tê-lo lido, “é indubitável
que ele não podia ignorar” (CANGUILHEM, 2009, p. 33) o filósofo. Bernard, de fato lera
Comte e, segundo Canguilhem, muito atenciosamente, “como o provam as notas datadas
provavelmente de 1865-1866 e que foram publicadas por Jacques Chevalier em 1938”
(CANGUILHEM, 2009, p. 33). Entretanto, a diferença de Bernard e Comte, é que enquanto o
primeiro partia dos fenômenos normais para explorar o patológico, o segundo tomava como
referência fenômeno patológico para explicar o estado normal.
Para Bernard, era essencial estudar a anatomia e a classificação dos seres, sem
negligenciar o mecanismo das funções, pois, estudar a fisiologia, seria investigar de que
maneira órgãos poderiam se modificar dentro dos limites considerados normais. Ao
considerar a medicina como a ciência das doenças e fisiologia como as ciências da vida, o
124
médico e fisiologista alertava que uma terapêutica racional só poderia se fundamentar em uma
patologia científica, calcada em uma ciência fisiológica. Por esta razão, pode-se dizer que
Claude Bernard adota uma concepção radicalmente fisiologista e experimental com relação à
doença.
Diferentemente de Broussais e Comte, Claude Bernard lança mão de “argumentos
controláveis, protocolos de experiências, e, sobretudo métodos de quantificação de conceitos
fisiológicos” (CANGUILHEM, 2009, p. 42) para demonstrar o seu princípio geral de
patologia. Desta forma, transformou os conceitos antes qualitativos como a glicosúria, a
combustão dos alimentos e calor de vasodilatação, em noções quantitativas, na medida em
que se colocaram à experimentação e à precisão lógica. Entretanto, apesar do rigor
experimental que caracterizou os estudos de Bernard, seu trabalho não esteve imune à críticas
conceituais por parte de Canguilhem.
Para estabelecer suas críticas em relação aos estudos de Bernard, Canguilhem elege
como texto fundamental o escrito dele intitulado Leçons sur le diabète et la glycogenèse
animale, de 1877, o qual, entre todos os seus trabalhos “pode ser considerado à ilustração de
sua teoria, aquele em que os fatos clínicos e experimentais são apresentados tanto ou mais
pela ‘moral’ de ordem metodológica e filosófica que deles se deve tirar que por sua
significação fisiológica intrínseca” (CANGUILHEM, 2009, p. 35). Através da afirmação de
Canguilhem, é possível entrever por onde vai sua crítica: apesar do caráter fisiológico e
experimental de Bernard, veremos que ele não está livre da acepção de valores morais e
normativos em sua teoria.
Analisando o referido texto, onde Bernard tece esclarecimento sobre o diabetes,
Canguilhem destaca que, para o autor, fisiologia e patologia são uma única e mesma coisa.
Assim, só conhecendo o estado fisiológico é que nos seria capaz de detectar todas as
perturbações do estado patológico.
Neste contexto, o diabetes seria o protótipo de uma patologia que consiste
inteiramente no distúrbio de uma função normal. Reflexo de uma variação quantitativa
contínua entre o estado patológico e o normal, o diabetes revela-se como uma patologia
causada por uma disfunção de um estado fisiológico natural. Em seu estudo, Bernard apontou
como critérios de verificação do diabetes os fenômenos fisiológicos da glicosúria, da poliúria,
da polidipsia e da autofagia. A lacuna encontrada por Canguilhem direcionou-e à glicosúria,
que é a existência de açúcar na urina. Para ele, não é possível estabelecer uma vinculação
direta entre este fato e o que se mostra no organismo diabético. Conforme Bernard, a
glicosúria indicaria um transbordamento do limiar fisiológico da glicemia, a partir somente de
125
uma variação quantitativa do estado normal, referente ao órgão e seu funcionamento
isoladamente. Sendo assim, podemos notar que a fisiologia estudada por Bernard
fundamentou-se em uma fisiologia normativa, restritiva aos órgãos e suas funções isoladas,
sem considerá-lo em conjunto com os outros órgãos e sistemas. Nos termos de Canguilhem
(2009, p. 54):
Finalmente, seria convincente dizer que o fato patológico só pode ser apreendido
como tal – isto é, como alteração do estado normal - no nível de uma totalidade
orgânica; e, em se tratando do homem, no nível da totalidade individual consciente,
em que a doença torna-se em uma espécie de mal. Ser doente é, para o homem, viver
uma vida diferente, mesmo no sentido biológico da palavra. Voltando ainda mais
uma vez ao mesmo exemplo, o diabetes não é uma doença do rim, pela glicosúria,
nem do pâncreas, pela hipoinsulinemia, nem da hipófise; a doença é do organismo
cujas funções todas estão mudadas.
Pelas palavras do autor, enxergamos uma falha metodológica e conceitual nos
trabalhos de Bernard, quando não considerou a totalidade do organismo. Ao restringir a
patologia a uma função fisiológica isolada, Bernard traz à baila uma identidade entre o
patológico e o fisiológico. Nesta perspectiva, o fisiológico representaria uma demonstração no
organismo de fenômenos naturais, como se ambos se equivalessem, de tal forma que
poderíamos dizer: o normal e natural é o fisiológico, sendo este, portanto, uma norma!
Embora tenha realizado experimentos para provar sua tese, Bernard esqueceu do
organismo em sua totalidade, visto que desenvolveu experimentações fisiológicas
descontextualizadas. Como, novamente, aponta Canguilhem (2009, p. 54-55): “O que é um
sintoma, sem contexto, ou pano de fundo? O que é uma complicação, separado daquilo que a
complica? [...] a clínica coloca o médico em contato com indivíduos completos e concretos, e
não com seus órgãos funções”. Também ressalta a tendência da medicina moderna em
explicar o fato patológico mais sob a ótica da fisiologia. Por isso Canguilhem (2009, p. 55)
também questiona: “[...] como explicar o fato de um clínico moderno adotar mais
frequentemente o ponto de vista do fisiologista do que o ponto de vista do doente?”. Partindo
do questionamento, ele afirma que isso acontece simplesmente porque o fato objetivo da
fisiologia (ou o sintoma) nunca coincide com o fato subjetivo do paciente que o porta:
A história do urologista para quem um homem que se queixa dos rins é um homem
que não tem nada nos rins não é apenas uma piada. É que, para o doente, os rins são
um território musculocutâneo da região lombar, ao passo que, para o médico são
vísceras em relação a outras vísceras. Ora, o conhecido fato das dores reflexas, cujas
múltiplas explicações são, até hoje, bastante obscuras, nos impede de achar que as
dores – mantenham uma relação constante com as vísceras subjacentes para as quais
parecem chamar atenção (CANGUILHEM, 2009, p. 55).
126
Tal exemplo nos indica o quanto a clínica ainda é soberana e o quanto ela tem sido
esquecida em prol das descrições generalizadas que, se analisadas fora de um contexto como
um órgão disfuncional, por exemplo, não querem dizer absolutamente nada. O que tem se
verificado na psiquiatria dos manuais é uma soberania das disfunções neuroquímicas. Como
foi apontando acima, muitas vezes o médico nem se dá ao trabalho de escutar atentamente o
que sujeito diz sobre sua depressão. Foca-se nos sintomas, de forma operacional, porque o que
importa para ele é ver qual será a medicação mais apropriada para essa patologia, a qual, por
sua vez, revela uma disfunção na recaptação de serotonina. Acontece que, apesar da
medicação ser importante, o mais apropriado é uma prescrição medicamentosa calcada em
uma escuta atenta, de fato, articulada à história de vida do paciente.
Podemos com isso dizer que os transtornos de humor diagnosticados nos moldes
operacionais, baseiam-se em uma fisiologia normativa, somente, para detecção de casos e,
muitas vezes, sem levar em conta a perspectiva do doente. Por este motivo, não foi por outra
razão que Canguilhem recorreu às contribuições do cirurgião francês René Leriche, o qual,
embora possamos encontrar alguns pontos de convergência entre ele, Comte e Bernard,
veremos que, como um técnico em medicina, passou a dar valor ao discurso do doente e,
acima de tudo, a clínica propriamente dita. Até então, a fisiologia, especialmente com
Bernard, fora vista como o único elemento imprescindível para se conhecer uma patologia.
Com Leriche, notaremos que embora tenha se utilizado da fisiologia como um fundamento
científico da ciência médica, ele não negligenciou a clínica, pois segundo ele, sem ela é
impossível pôr a fisiologia em contato com doentes concretos. Sobre o valor da teoria de
Leriche, citamos Canguilhem (2009, p. 66):
[...] o valor da teoria de Leriche, em si, independentemente de qualquer crítica
dirigida a algum detalhe de conteúdo, é o fato de ser uma teoria de uma técnica, uma
teoria para qual a técnica existe, não como uma serva dócil aplicando ordens
intangíveis, mas como conselheira e incentivadora.
Nessa direção, o autor pontua que a grande valia da teoria de Leriche é o lugar que
ele se coloca diante da doença. Diferentemente de Comte, que se posicionou no lugar de
filósofo, e de Bernard que ocupou o lugar de um fisiologista e cientista diante dos fenômenos
patológicos, Leriche fez um julgamento técnico acerca das relações entre a fisiologia e
patologia. Passemos, então, às contribuições desse cirurgião, a partir de Canguilhem.
127
3.3.3 René Leriche e a fisiologia sob a ótica do doente
Através de René Leriche, a opinião do doente agrega um valor. Segundo Canguilhem
(2009, p. 57), Leriche parte do pressuposto que a vida “é a saúde no silêncio dos órgãos”.
Portanto, a doença é concebida como um fato que perturba a vida do sujeito. Por este viés, a
saúde significa o silêncio dos órgãos ou a “inconsciência de seu próprio corpo”
(CANGUILHEM, 2009, p. 57). Tomando esse pressuposto ao pé da letra, o autor coloca que
para Leriche, primeiramente, a concepção do estado normal estava associada à possibilidade
de infração a uma norma. Neste sentido, a saúde ganharia uma conotação positiva e, a doença,
inversamente, negativa.
Entretanto, de forma distinta a Comte e Bernard, para Leriche, quem dizia e definia a
doença era o próprio doente e não o médico. Só que tal teoria, apesar de ter validade no
registro do doente, sob a ótica da ciência, não possuía qualquer valor, motivo qual se viu
obrigado a retificar sua tese. Em razão disso, considerou que o silêncio dos órgãos não
remetia necessariamente à ausência de doença, pois notou que poderiam existir perturbações
no organismo imperceptíveis na consciência do doente e que, de fato, poderiam colocar sua
vida em jogo.
Leriche percebeu que a percepção do doente sobre a doença, por si só, não era o
bastante para explicar cientificamente a emergência de uma patologia. Para justificá-la, faziase necessário desumanizá-la, porque, no fundo, a doença representaria uma alteração
anatômica e fisiológica no nível do tecido. Por outro lado, não negligenciou a percepção do
doente. Sem o doente, não haveria doença. Este argumento pode ser abordado a partir da
seguinte situação, como mostra Canguilhem (2009, p. 58):
Tomemos como exemplo um homem cuja vida – sem incidente patológico por ele
conhecido – tenha sido interrompida por um assassinato ou um acidente. Segundo a
teoria de Leriche, se uma autópsia para fins médico-legais revelasse um câncer do
rim ignorado por seu portador já falecido, deveríamos concluir que havia uma
doença, apesar de não ser possível atribuí-la a pessoa alguma – nem ao cadáver – já
que um morto não é mais capaz de ter doenças – nem, retroativamente, ao vivo de
outrora, que a ignorava, tendo terminado sua vida antes do estágio evolutivo do
câncer em que, segundo as probabilidades clínicas, as dores teriam enfim criado o
mal.
No referido exemplo, vemos claramente que a doença, no homem morto, nunca
existiu, a não ser para o médico. Mas, apesar disso, Canguilhem nos diz que, mesmo assim, é
o ponto vista do doente que interessa. De fato, afirma: “a medicina existe porque há homens
que se sentem doentes, e não porque existem médicos que os informam de suas doenças”
128
(CANGUILHEM, 2009, p. 59). Esta afirmação nos leva a apontar que, por mais que existam
doenças não perceptíveis pelo doente, e que existam técnicas de laboratório que permitam
identificar essas disfunções, o fenômeno patológico só existirá na condição de que esteja
localizado no organismo vivo, isto é, no discurso do homem concreto.
Desta maneira, Canguilhem afirma que Leriche, uma vez retificando parcialmente
suas teorizações, trazendo à tona a fisiologia do homem vivo, adota um ponto de vista
dinâmico em patologia, ao invés de estático, tendo em vista que o importante, para ele, era
justamente um organismo vivo e não um cadáver. Em função disso, o fator anatômico deve
ser visto como segundo e secundário, por ser considerado o resultado de um desvio,
originalmente funcional da vida dos tecidos, ou seja, como apenas um acessório da doença e
não o caráter dominante. Portanto, “em consequência disso, é a doença do ponto de vista do
doente que, de modo bastante inesperado, volta a ser o conceito adequado da doença, mais
adequado, em todo caso, que o conceito dos anatomopatologistas” (CANGUILHEM, 2009, p.
59).
Neste sentido, o conceito de doença, sob o prisma do doente, não coincide com a
visão anatômica do médico, surgindo uma descontinuidade qualitativa entre um e outro.
Como mencionamos há pouco, uma lesão silenciosa às vezes não é suficiente para a
constituição de um quadro mórbido, sob o ângulo do doente.
Tais elaborações, por conseguinte, levaram Leriche a considerar o doente de modo
diferente em relação ao que ele atribuiu anteriormente, quando, para ele, a saúde ainda só se
referia ao silêncio dos órgãos. Ao assinalar o aspecto dinâmico em prol do estático, ele nada
mais quer apontar a importância da fisiologia sobre a patologia, relacionando-a com a
concepção que ele passa a ter do doente. Como nos demonstra Canguilhem (2009, p. 60):
Com efeito, o que ele entende por doente é muito mais o organismo em ação, em
funções, do que o indivíduo consciente de suas funções orgânicas. O doente, nessa
nova definição, não é exatamente o homem da primeira, o homem concreto,
consciente de uma situação favorável ou desfavorável na existência. O doente
deixou de ser uma entidade anatomista, mas continua sendo uma entidade de
fisiologista.
Desta forma, doença e doente são dois elementos que coincidem, mas do lado do
fisiologista, que vai analisar o doente concreto e não mais na consciência do homem. Dito
isto, a importância que Leriche atribuiu à fisiologia fica evidente, em especial quando retoma
as ideias de Claude Bernard para afirmar uma continuidade entre o fisiológico e o patológico.
Para ele, entre os dois, não há um limiar, de tal modo que ambos coincidem quantitativamente
129
por métodos objetivos de medida. Em decorrência, ele afirma que os efeitos fisiológicos são
mais relevantes, porque permitem diferenciações entre o estado patológico e o fisiológico.
Para ilustrar a teoria, Canguilhem toma como referência o fenômeno da
vasoconstrição e sua consequente transformação em espasmo. Ele nos diz que não há, nessa
modificação, margem de separação. Porém, mesmo não havendo limiar entre os dois
fenômenos, ele nota que existe uma diferença qualitativa entre um e outro, pois são efeitos
diferentes de uma mesma causa quantitativa, referente a um déficit fisiológico. Afirma que
apesar de na vasoconstrição haver uma perfeita conservação da estrutura arterial, o espasmo, a
longo prazo, poderia provocar efeitos patológicos graves, gerando dor e necroses locais ou
difusas. Aliás, como um grande estudioso da dor, nesta conjuntura, Leriche enxerga fenômeno
da dor não como uma sensação fisiológica simplesmente, mas como consequência de um
conflito entre um excitante e o sujeito em seu aspecto global.
Sob a ótica de Leriche, a dor é um fato da doença, pois “não é mais pela dor que a
doença é percebida, é como doença que a dor é apresentada” (CANGUILHEM, 2009, p. 61).
A dor deixa de ser um sinal fisiológico para se constituir uma doença enquanto tal. A dordoença seria um acidente que progride ao contrário das leis da sensação normal, isto é, o que
foge à regra do estado normal. Deste modo, a dor entendida como doença, trata-se de uma
fisiologia desviada, de uma nova ordem fisiológica, advindo daí a terapêutica como uma
maneira de adaptar o homem doente a esta nova realidade.
Podemos observar, nesta análise de Leriche acerca da dor, a importância que ele
oferece não somente à fisiologia, mas também a realidade do doente. Como notamos por meio
da afirmação de Canguilhem (2009, p. 62): “Parece-nos de importância capital que um
médico reconheça na dor um fenômeno de reação total que só tem sentido, no nível da
individualidade humana concreta”, motivo pelo qual atribui relevância à clinica médica em si
e não apenas a matéria orgânica bruta e seu funcionamento fisiológico. Por esta razão, o autor
nos diz que Leriche, ao contrário de Comte e Bernard, que partem do conhecimento
fisiológico experimental para a técnica médica, toma como ponto de partida a técnica médica
e cirúrgica suscitada pelo estado patológico, com vistas a produzir algum saber sobre o
fisiológico.
Por outro lado, a ideia que os três autores compartilham gira em torno da abordagem
positivista no entendimento das doenças:
130
Apesar das diferenças mencionadas no início, a ideia comum a Comte e a Claude
Bernard é que uma técnica deve ser normalmente a aplicação de uma ciência. Esta é
a ideia positivista fundamental: saber para agir. A fisiologia deve explicar a
patologia para estabelecer as bases de sua terapêutica (CANGUILHEM, 2009, p.
64).
Vimos, no entanto, que o caráter que marca as contribuições de Leriche,
especialmente se compararmos com Comte e Bernard, é o elemento que diz respeito à
fisiologia do doente, posto que, para ele, a fisiologia possui profunda dependência com os
problemas levantados das doenças pelos doentes. Ele entendia a fisiologia como a ciência das
funções, mas que, sem a vida, tais funções seriam impossíveis, pois é ela que possibilita a
exploração do fisiologista, cujas leis ele codifica. Em outras palavras, só existindo um ser
vivo é que se pode existir uma doença e um doente que, ao portar uma patologia, se vê
impedido do exercício das funções orgânicas alteradas. Neste sentido, podemos concluir o
pensamento de Leriche pelas palavras de Canguilhem: “Se a saúde é vida no silêncio dos
órgãos, não há propriamente ciência da saúde. A saúde é a inocência orgânica. E deve ser
perdida, como toda a inocência, para que o conhecimento seja possível” (CANGUILHEM,
2009, p. 65-66).
A grande crítica de Canguilhem a esses três autores, considerando as distinções de
cada um, gira em torno do aspecto quantitativo e contínuo existente entre o estado normal e
patológico, bem como a primazia do quantitativo sobre o qualitativo. Para o autor, submeter a
qualidade à quantidade, por meio de uma média comum, não é senão negar a qualidade, pois,
de fato, é impossível suprimi-la. Dito de outra maneira, embora a variedade qualitativa das
luzes simples, sensíveis ao olho humano pelas cores, seja reduzida pela evidência de uma
diferença quantitativa de comprimentos de onda, é inegável a persistência da diversidade
qualitativa, a qual continua a incidir, mesmo através de tal evidência. O autor nos diz que a
quantidade precisa da qualidade, assim como o fisiologista precisa do fenômeno patológico,
até porque, foi a partir da patologia que nasceu a fisiologia (CANGUILHEM, 2009).
Como nos disse Leriche, faz-se necessário que haja doença para que as
possibilidades fisiológicas sejam reveladas. “Desse ponto de vista, é absolutamente ilegítimo
sustentar que o fato patológico é, real e simplesmente, a variação – para mais ou para menos –
do estado fisiológico” (CANGUILHEM, 2009, p. 73). Fisiológico e patológico não são
homogêneos e, se existe a fisiologia, é porque existiu, antes, uma patologia que se manifestou
no corpo orgânico, manifestada pela fala do doente. Ou seja, apesar das luzes simples serem
reduzidas a um estado fisiológico, sem a qualidade e o valor oferecido pelo olho humano, este
estudo seria inviável (CANGUILHEM, 2009).
131
Além disso, é impossível atribuir um prolongamento quantitativo desse valor. Nessa
direção, o estado fisiológico não se reduz ao estado patológico. Fisiológico e patológico são
elementos diferentes, do mesmo modo que saúde e doença, ao invés de serem um
prolongamento ou subproduto uma da outra, para Canguilhem, existe uma descontinuidade
qualitativa entre ambos. Por esta razão, o autor contesta que “os termos mais e menos, quando
entram na definição do patológico como uma variação quantitativa do normal, tenham uma
significação puramente quantitativa” (CANGUILHEM, 2009, p. 74, grifo do autor).
Apresentadas as teorizações críticas de Canguilhem sobre o aspecto normativo
aplicado ao campo do normal e do patológico, a partir do aspecto quantitativo, contínuo e
fisiológico da doença somática, veremos, a seguir, como esses apontamentos podem ser
transpostos à anomalia psíquica, no campo da psicopatologia psiquiátrica.
3.3.4 A anomalia psíquica e uma norma singular aplicada à psiquiatria
Na segunda parte de sua tese, Canguilhem introduz o seguinte problema: existem
ciências do normal e do patológico? Pois bem, para desenvolver uma possível resposta ao
problema levantado, o autor começa tomando como norte os psiquiatras contemporâneos de
sua época Blondel, Lagache e Minkowski, a fim de mostrar como operaram, na sua própria
disciplina, uma retificação acerca dos conceitos de normal e patológico. Os referidos
psiquiatras, aproximados de pressupostos filosóficos por meio da psicologia, contribuíram
para a definição geral concernente fato psíquico mórbido ou anormal em relação ao estado
normal.
Sobre Blondel, Canguilhem destaca que o psiquiatra, ao descrever casos de alienação
em que os doentes se apresentavam como incompreensíveis tanto para si próprios quanto para
os outros ao seu redor, chegou a conclusão de que tais doentes mentais manifestavam uma
impossibilidade de transposição de dados, referentes à cinestesia, para os conceitos da
linguagem usual. Segundo Blondel, em razão desta impossibilidade, tornava-se para o médico
inacessível entender a experiência vivida pelos doentes a partir de seus relatos, na medida em
que o que eles tentavam imprimir pelos meios usuais da linguagem, não poderiam ser
adquiridos senão por uma experiência indireta, por uma interpretação dela do que eles
conseguiam transmitir.
Já Lagache, com uma posição menos radical, achava necessário discriminar na
consciência anormal variações de natureza e de grau, levando em conta que, em algumas
psicoses, a personalidade do doente era diferente da sua personalidade anterior, antes do
132
advento da patologia. Sendo assim, a psicopatologia constituía-se para ele, como “uma fonte
de documentos utilizáveis em psicologia geral, uma fonte de luz a ser projetada sobre a
consciência normal” (CANGUILHEM, 2009, p. 78).
Por este motivo, para Lagache a detecção da doença não passava por uma
experimentação, porque o início de uma psicose, por exemplo, quase sempre, escapava ao
médico e às pessoas da convivência do doente. Na psicose, trata-se de outra realidade e não
simplesmente de uma patologia das faculdades mentais, apoiada na aplicação do método
patológico em psicologia, investigada pela experimentação. Desta forma, afirma Canguilhem:
“Como não existem fatos psíquicos elementares separáveis, não se podem comparar os
sintomas patológicos com elementos da consciência normal, porque um sintoma só tem
sentido patológico no seu contexto clínico que exprime uma perturbação global”
(CANGUILHEM, 2009, p. 78).
Entendido por este viés, dizemos que o estado mórbido “não é o simétrico inverso da
organização normal” (CANGUILHEM, 2009, p. 79). Em outras palavras, o estado da
consciência normal não deve ser posto como um ponto de referência para avaliar uma
desorganização mórbida, devido ao fato de que, na consciência doente, nem sempre se
encontram equivalentes suficientemente comparáveis.
Semelhantemente, Minkowski acreditava que a patologia mental também não
poderia ficar restrita unicamente à noção de doença vista sob um ideal de “perfeição”. Para
ele, era senão pela intuição que, como homens e não como especialistas, apontamos ou
enquadramos alguém como um alienado ou portador de uma anomalia psíquica. Nesta
perspectiva, o alienado não seria aquele que se desvia da norma e sim um homem diferente, o
qual se destaca dos demais por um caminho legitimamente singular. A anomalia psíquica é
algo que particulariza o doente, pois manifesta características próprias, portanto, não se
submete ao conceito de doença que versa sobre o normal. Considerando este argumento,
Canguilhem pontua que para Minkowski, “a alienação mental é uma categoria mais
imediatamente vital do que a doença” (CANGUILHEM, 2009, p. 80), principalmente quando
comparada à doença somática, cuja uma padronização mais precisa se torna possível. Isso
porque a “doença somática não rompe o acordo entre os semelhantes; o doente é, para nós, o
que ele é para si próprio, ao passo que o anormal psíquico não tem consciência do seu estado”
(CANGUILHEM, 2009, p. 80).
No que tange a este ponto, Canguilhem afirma não estar de acordo com Minkowski.
Acreditava, juntamente com Leriche, que a saúde é a vida no silêncio dos órgãos e, por isso,
só temos consciência concreta e científica da vida pela doença, por uma infração da norma,
133
mas uma norma individual, seguindo Goldstein. Porém, tirando este aspecto de controvérsia,
o autor encontra bastante relevância nas ideias de Minkowski, as quais também entraram em
congruência com Ey (apud CANGUILHEM, 2009, p. 80): “O normal não é uma média
correlativa a um conceito social, não é um julgamento de realidade, é um julgamento de valor,
é uma noção-limite que define o máximo de capacidade psíquico do ser. Não há limite
superior de normalidade”. Neste sentido, é sempre através de uma norma individual que
devemos conceber a noção de normalidade. Só os doentes podem julgar se conseguiram
restituir ou não seu estado normal mesmo se, fisiológica e morfologicamente, não pudessem
sê-los.
A fim de desenvolver essa questão, Canguilhem ilustra o caso de um homem que,
após sofrer um acidente, viu sua vida ser interrompida por um momento. Tendo seu braço
seccionado transversalmente em três quartos, o homem apresentou uma atrofia em todos os
músculos e antebraço, ficando com seus movimentos limitados. Bom, de fato o homem
conseguiu conservar o braço, mas não obteve sua função totalmente restituída, a considerar o
estado anterior do membro, outrora concebido, conforme a fisiologia, como normal. No
entanto, apesar disso, relatou que o doente ficou contente por saber que vai recuperar grande
parte das possibilidades de movimento de seu braço. Nessa nova realidade que se impôs a ele,
o homem acaba esquecendo que, em detrimento do acidente:
[...] vai lhe faltar, daí por diante, uma grande margem de adaptação e de
improvisação neuromusculares, isto é, a capacidade de melhorar seu rendimento e de
se superar, capacidade esta da qual talvez jamais tenha feito uso, apenas por falta de
oportunidade. O que o doente lembra é que não está manifestamente inválido
(CANGUILHEM, 2009, p. 82, grifo do autor).
Por outro lado, se considerássemos somente uma situação de normalidade tomando
como referência o braço no estado anteriormente afetado, sob um viés somente orgânico e
funcional, diríamos que o homem nunca mais voltaria ao seu estado dito “normal”. Ao
contrário, se passássemos a atribuir o discurso deste homem sobre sua nova vida,
questionando-lhe como se sente depois do ocorrido, ele nos diria que seu braço está normal,
tendo em vista que continua a realizar atividades que antes executava, no entanto, de modo
diferente, com algumas limitações, as quais teve de se adaptar. Neste caso, observamos que o
doente partiu de uma norma individual, sua, que o singularizou, e não de uma norma coletiva.
Retomando as palavras de Jaspers, Canguilhem ressalta: “Mais do que a opinião dos médicos,
é a apreciação dos pacientes e das ideias dominantes do meio social é que determina o que se
chama doença” (CANGUILHEM, 2009, p. 83). Para o médico fundamentado em Comte e
134
Bernard, diferentemente, o que importa é o desvio da norma baseada em uma média geral,
quantitativa e fisiológica para designar o patológico:
Logo, compreende-se perfeitamente que os médicos se desinteressem de um
conceito que lhes parece ou excessivamente vulgar ou excessivamente metafísico. O
que lhes interessa é diagnosticar e curar. Teoricamente, curar é fazer voltar à norma
uma função ou um organismo que dela se tinham afastado. O médico geralmente tira
a norma de seu conhecimento sobre a fisiologia, dita ciência do homem normal, de
sua experiência vivida das funções orgânicas, e da representação comum da norma
em um meio social em dado momento. Das três autoridades, a que predomina é, de
longe a fisiologia (CANGUILHEM, 2009, p. 83).
Trata-se, assim do predomínio do paradigma médico moderno vigente no século
XIX: o modelo anatomopatológico. Foucault (1963/2008), em O Nascimento da Clínica,
falou deste paradigma para se referir ao modo de conceber a doença através de uma realidade
corporal. O sujeito doente é reduzido a um organismo, composto por órgãos e tecidos.
A identidade da doença proferida nestes termos deveu-se ao domínio do olhar atento
do médico francês Françoise Xavier Bichat (1771-1802). Abriram-se os cadáveres para assim
conhecer o organismo vivo, suas funções, sua fisiologia. Este ato sinalizou um giro dentro da
estrutura do campo médico, já que possibilitou um estatuto de saber fundamentado não só na
taxonomia, enraizada no jardim das espécies nos século XVII e XVIII, mas também na
localização anatômica e dos tecidos, no século XIX. Com relação a esta transformação na
estrutura do saber médico, citamos Foucault (1963/2008, p. 15):
[...] a clínica aparece para a experiência do médico como um novo perfil do
perceptível e do enunciável: nova distribuição dos elementos discretos de nosso
espaço corporal (isolamento, por exemplo dos tecidos, região funcional de duas
dimensões, que se opõe à massa, em funcionamento, do órgão e constituiu o
paradoxo de uma “superfície interna”), reorganização dos elementos que constituem
o fenômeno patológico (uma gramática dos signos substituiu uma botânica dos
sintomas), definição das séries lineares de acontecimentos mórbidos (por oposição
ao emaranhado das espécies nosológicas), articulação da doença como organismo
(desaparecimento das entidades mórbidas gerais que agrupavam os sintomas em
uma figura lógica, em proveito de um estatuto local que situa o ser da doença, com
suas causas e seus efeitos, em um espaço tridimensional). O aparecimento da clínica,
como um fato histórico, deve ser identificado com o sistema dessas reorganizações.
135
3.3.5 A norma como tipo ideal versus a normatividade vital e individual
Com o objetivo de examinar criticamente o significado da palavra “normal” para a
medicina, Canguilhem recorre ao Dicionário de Medicina de Litté e Robin e ao Vocabulário
Técnico e Crítico de Filosofia, de Lalande.
O Dicionário de medicina define o normal como aquilo que é conforme a regra,
regular. Já para Lalande “é normal, etimologicamente – já que norma significa esquadro -,
aquilo que não se inclina nem para a esquerda nem para a direita, portanto o que se conserva
em um justo meio-termo” (CANGUILHEM, 2009, p. 85). Neste sentido, é normal o que é
mais frequente em uma determinada espécie ou, então, o que se coloca como uma média de
características mensuráveis. Todavia, nos diz o autor que tal definição revela uma
equivocidade, na medida em que um fato, para ser considerado normal por um “justo meiotermo”, depende sempre de um enunciador, isto é, de quem atribui um valor para este fato, a
partir de um julgamento que ele adota. Em outras palavras, o termo normal não está
desvinculado de um discurso enunciado por aquele que fala. É ele, o discurso, que agencia o
valor desta palavra, bem como a serviço de quê ele se presta. Ora, ele pode ser agenciado
tanto pelo médico, quanto pelo doente. Sob esse registro, devemos sempre contextualizar
onde o termo “normal” é enunciado e o discurso do qual é produto.
Foucault (1963/2008) chama atenção que o termo normal apareceu com toda a força
justamente com a Revolução Francesa e a ascensão da burguesia. Neste contexto, o advento
do capitalismo de produção trouxe consigo uma nova ordem econômica que passou a ter
influência nas relações de trabalho e, inclusive, na estruturação dos saberes. O capitalismo e a
mudança nas relações de trabalho exigiu o estabelecimento de normas e padrões de
comportamento. A demanda por produtividade e a mão-de-obra vendida pelo trabalhador
impôs a manutenção da saúde como regra ao bom funcionamento do corpo social e, também,
econômico.
O saber médico não ficou imune dessas influências e, por isso, não por acaso, a partir
do final do século XVIII e início do século XIX, a medicina, mais do que nunca, apropriou-se
da expressão “normal” fazendo um uso político desta, colocando, assim, no mesmo patamar
saúde e normalidade. Segundo Foucault, antes desta mudança discursiva, a medicina não fazia
a referida equiparação. Saúde não significava necessariamente um estado de normalidade. O
saber médico dava importância a uma medicina direcionada ao regime, a dietética, a uma
regra individual que o próprio sujeito lhe imputava. A partir do século XIX, é o médico que
passa a ditar o que é normal ou patológico no organismo vivo do sujeito, atribuindo valores
136
essencialmente quantitativos, fisiológicos e experimentais para detectar as doenças e traçar a
terapêutica. Esta nova ordem médica, surgida com o nascimento da medicina moderna, foi
incentivada principalmente por uma filosofia realista, cuja “toda generalidade é indício de
uma essência, toda perfeição, a realização de uma essência e, portanto, uma generalidade
observável de fato adquire o valor da perfeição realizada, um caráter comum adquire um valor
de tipo ideal” (CANGUILHEM, 2009, p. 85).
Nesta perspectiva, o discurso do doente passa a servir apenas para se adequar a uma
determinada nosologia, estatisticamente avaliada por meio de uma medida comum, taxada
como normal. Assim, se existe uma disfunção fisiológica, uma patologia, existe a terapêutica
para restituí-la ao estado normal. Sob outro viés, Canguilhem pontua que a terapêutica deve
comparecer e colocar-se, em primeiro lugar, a serviço do doente e não, simplesmente, como
um fim máximo a ser alcançado, isto é, fazer desaparecer a disfunção. Considerando que o
sujeito que sofre a doença é quem dirá do seu pathos, afirma o autor:
Achamos que a medicina existe como arte da vida porque o vivente humano
considera, ele próprio, como patológicos – e devendo, portanto, ser evitados ou
corrigidos – certos estados ou comportamentos que, em relação à polaridade
dinâmica da vida, são apreendidos sob a forma de valores negativos. Achamos que,
dessa forma, o vivente humano prolonga, de modo mais ou menos lúcido, um efeito
espontâneo, próprio da vida, para lutar contra aquilo que constitui um obstáculo à
sua manutenção e a seu desenvolvimento tomados como normas [...] é que a vida
não é indiferente às condições nas quais ela é possível, que a vida é polaridade e, por
isso mesmo, posição inconsciente de valor, em resumo, que a vida é, de fato, uma
atividade normativa (CANGUILHEM, 2009, p. 86).
Com efeito, sustentando-se nesta assertiva, Canguilhem nos falará da normatividade
vital, considerando que o organismo vivo, ele, por si só, já está submetido a regras e padrões,
relativos à lei biológica. A normatividade vital refere-se à normatividade essencial à
consciência humana, estando assim no germe da vida. Entre os aspectos que participam desta
normatividade, um deles é lutar contra os perigos que ameaçam à vida. Trata-se de uma
necessidade vital do organismo humano, permanente e fundamental, a considerar,
principalmente que a vida é feita de polaridades. Por esta razão, afirma: “É a vida em si
mesma, e não a apreciação médica, que faz do normal biológico um conceito de valor, e não
um conceito de realidade estatística” (CANGUILHEM, 2009, p. 90).
Para falar da normatividade vital, Canguilhem toma a anomalia como um protótipo
que rompe com o conceito usual de normalidade para a medicina. Para esta disciplina, a
anomalia seria um fenômeno patológico e anormal do organismo vivo, uma vez que
corresponderia a um desvio do que é regular.
137
Assim, recorre novamente ao Vocabulário de Lalande para analisar o significado do
termo anomalia. Refere que a anomalia é concebida no referido Vocabulário como um
substantivo, não correspondendo a adjetivo algum. Já o termo anormal aparece apenas como
adjetivo, sem descrição substantiva, de tal maneira que o uso corrente “os associou, fazendo
anormal o adjetivo de anomalia” (CANGUILHEM, 2009, p. 91). Diante disso, o autor
questiona esta associação, dizendo que o próprio Vocabulário de Lalande contribuiu para uma
aproximação de sentidos entre os termos anormal e anomalia. Afinal, a anomalia seria
necessariamente sinônimo de normal? Até que ponto ter uma anomalia significa ser anormal?
Assinala que anomalia, etimologicamente, vem de an-omalos, “que é desigual,
rugoso, irregular, no sentido que se dá a essas palavras, ao falar de um terreno”
(CANGUILHEM, 2009, p. 91). Aponta que em relação à etimologia da palavra, houve um
erro de significação, uma vez que se atribuiu que a expressão derivava não de omalos, mas de
nomos, que significa lei. Foi justamente este desvio de significação da palavra que o
Dicionário de medicina de Litté e Robin tomou para si, alocando o termo anomalia em um
sentido do grego nomos, equiparando-o à expressão latina norma. Nessa direção, a medicina
acabou concebendo anomalia como aquilo que foge a regra, como um fato biológico que
promove uma ruptura com a lei e, portanto, seria uma patologia, um fenômeno anormal.
Podemos dizer com isso que a expressão anomalia, semanticamente, sofreu um
desvio de seu sentido original. Quando aproximada à palavra anormal, ganha uma conotação
valorativa, apreciativa e normativa. No entanto, ressalta Canguilhem que, longe de ser vista
sob uma ótica valorativa e normativa, a anomalia deve ser tratada como um fato que a ciência
natural deveria se debruçar e não ser objeto de julgamento de valor, a partir de um contexto
semanticamente desviado.
Anatomicamente, o fenômeno da anomalia deveria conservar seu sentido de insólito
e inabitual, o que não significa anormal. Acontece que, ao ser transposta para o ponto de vista
morfológico geral, a anomalia passa a ser compreendida como um fato biológico que revela
um desvio em relação a um tipo específico de uma determinada espécie, na medida em que
suas características não acompanham o conjunto de traços comuns da maioria desta espécie,
como nos coloca Canguilhem: “É claro que, assim definida, a anomalia tomada em seu
sentido geral é um conceito puramente empírico ou descritivo, ela é um desvio estatístico”
(CANGUILHEM, 2009, p. 92).
Por outro lado, se não concebermos a anomalia simplesmente como um desvio
estatístico, como aquilo que foge à regra por ser incomum, mas sim sob o olhar do sujeito
portador da anomalia, esta não obrigatoriamente seria uma patologia. Vemos, por exemplo,
138
que um sujeito afetado por uma Heterotaxia10, ou seja, que apresente anomalias complexas,
aparentemente graves anatomicamente, mas não suficientemente capazes de impedir a
realização de nenhuma função, pode não ser considerado “anormal”. Este sujeito pode viver
por muito tempo sem, ao menos, perceber a existência da então anomalia, negligenciada por
ele próprio. Na ordem dos valores vitais, essa anomalia nem entrou em cena, pois não
impediu que o sujeito executasse suas atividades correntemente, isto é, não foi um fenômeno
que veio a interromper o curso de sua vida. Neste panorama, a anomalia não é uma patologia,
posto que esta só chegará a ser objeto de estudo para a medicina se, primeiramente, for
“sentida na consciência sob a forma de um obstáculo ao exercício das funções, sob a forma de
perturbação ou de nocividade” (CANGUILHEM, 2009, p. 94).
Finalmente, para que se possa falar em anomalia, na linguagem científica é preciso
que, para si mesmo ou para outrem, um ser tenha que ser apresentado como anormal
na linguagem do ser vivo, mesmo que essa linguagem não seja formulada. Enquanto
anomalia não tem incidência funcional experimentada pelo indivíduo e para o
indivíduo – se se tratar de um, ou, relacionada com a polaridade dinâmica da vida,
em qualquer outro ser vivo -, a anomalia ou é ignorada (é o caso das heterotaxias)
ou é uma variedade indiferente, uma variação sobre um tema específico; é uma
irregularidade como há irregularidades insignificantes em objetos moldados no
mesmo molde. A anomalia pode se constituir o objeto de um capítulo especial da
história natural, mas não da patologia (CANGUILHEM, 2009, p. 94-95, grifo do
autor).
Para Canguilhem a anomalia abre uma nova maneira de olhar biologicamente um
fenômeno desta natureza: a normatividade vital. Nesta configuração, o organismo vivo tem
normas próprias a sua natureza, não obedecendo assim leis generalistas e estatisticamente
calculadas. Deste modo, “viver é, mesmo para uma ameba, preferir e excluir. Um tubo
digestivo, órgãos sexuais são normas de comportamento de um organismo” (CANGUILHEM,
2009, p. 95). Logo, a anomalia é um fenômeno tolerado. Entretanto, ao ser encarada, por um
discurso da fisiologia e da estatística, como uma anormalidade, a anomalia torna-se
patológica. Dito isto:
É por ter se tornado patológica que a anomalia suscita o estudo científico de diversas
anomalias. De seu ponto de vista objetivo, o cientista só quer ver, na anomalia, o
desvio estatístico, não compreendendo que o interesse científico do biólogo foi
suscitado pelo desvio normativo. Em resumo, nem toda a anomalia é patológica,
mas só a existência de anomalias patológicas é que criou uma ciência das anomalias
que tende normalmente – pelo fato de ser ciência – a banir, da definição da
anomalia, qualquer implicação normativa (CANGUILHEM, 2009, p. 95).
10
Como adjetivo, heterodoxo é usado para descrever um fenômeno que foge ao padrão.
139
Com relação ao ponto de vista estatístico, vemos surgir uma equiparação entre os
conceitos de normal e média. “Parece que o fisiologista encontra, no conceito de média, um
equivalente objetivo e cientificamente válido do conceito de normal ou de norma”
(CANGUILHEM, 2009, p. 108). É através dessa equivalência que a medicina realiza uma
supressão do conceito de norma vital, fazendo tal conceito existir na média, por meio de
constantes estatísticas. No entanto, Canguilhem observa que esta atitude nem sempre esteve
presente no campo médico, ressaltando que o próprio Claude Bernard não fora partidário
desta perspectiva, pois para ele a utilização de médias fazia desaparecer o aspecto rítmico e
oscilatório do fenômeno fisiológico. Isto porque o conceito de normal, em sua concepção,
partia de um tipo ideal em condições experimentais determinadas e, por isso, se utilizasse a
média, tais condições poderiam desaparecer em detrimento dela.
Vemos que a medicina, ao utilizar a média estatística como equiparação do estado
normal, posiciona o conceito de saúde como algo positivo, enquanto o patológico ganha uma
conotação negativa. Porém, esta tentativa de formatar uma noção positiva de saúde,
eliminando o caráter subjetivo e qualitativo em prol de uma pretensa objetividade média
estatística, conduz, para Canguilhem, a alguns equívocos.
O autor se questiona se seria possível desarticular os conceitos de norma e média,
levantando uma impossibilidade de fornecer uma equivalente integral de norma anatômica ou
fisiológica, por meio de uma média objetivamente calculada. Mais uma vez, aponta que forçar
uma equidade entre norma e média, seria submeter a segunda em relação à primeira noção.
Neste contexto, a média se insere, então, a um contexto normativo quantitativo.
Com a finalidade de analisar os conceitos de norma e média, ele recorre às
elaborações do fisiologista Quêtelet, particularmente à Teoria do homem médio. Canguilhem
percebe que as críticas dirigidas a este estudo centraram-se especialmente no fato que norma e
média seriam dois conceitos inseparáveis. A média, ao parecer agregar uma significação
objetiva, conduz à média estatística a uma redução do caráter normativo. Em outras palavras,
se o fenômeno obedece a uma regularidade estatística, ele está na média e, assim não foge a
norma.
Para Canguilhem, ao tentar estabelecer uma média de estatura do homem, Quêtelet
deixa explícito a predominância de um caráter normativo. Ao submeter o conceito de média à
noção de norma, o fisiologista parte do princípio segundo qual “a existência de uma média é o
sinal incontestável de uma regularidade” (CANGUILHEM, 2009, p. 114). Ao atribuir uma
existência ontológica à regularidade, supõe que esta, desde já, coloca-se como uma condição
do estabelecimento da média. Neste caso, a média verdadeira, para Quêtelet, baseia-se na
140
ideia de que existe uma regularidade que determina um desvio de certa frequência estatística,
tomada como norma. Ao distinguir duas espécies de média, a média aritmética ou mediana e a
média verdadeira, ele não apresenta a média como um fundamento empírico da norma, mas,
inversamente, põe a norma em primeiro plano, demonstrando que, na verdade, é a
regularidade ontológica que se expressa na média.
Canguilhem ressalta, porém, que esta teoria é insustentável, porque não leva em
consideração a normatividade social, isto é, não se atenta para o fato de que certa regularidade
de características físicas sofre influência do meio onde o homem está inserido. Por esta razão,
sua teoria do homem médio não se sustenta, na medida em que só a estatura do homem, como
um fato biológico isolado, não seria suficiente. Haveria de se levar em conta, ainda, o meio.
De acordo com Canguilhem, a estatura é não só um fato biológico, mas é também social. Isto
posto, podemos dizer que o conceito de média, conforme Quêtelet, deixou lacunas, pois não
considerou a normatividade social, ou seja, o ambiente geográfico e cultural onde o homem
está inserido, como uma variável importante. Afinal, estabelecer uma média somente através
de constantes fisiológicas, isolado no contexto de um laboratório, não seria capaz de oferecer
dados confiáveis, sem contar que se acaba correndo “o risco de apresentar o homem normal
como mediano, bem abaixo das possibilidades fisiológicas de que os homens em situação de
influir sobre si mesmos ou sobre o meio são, evidentemente, capazes, mesmo aos olhos
cientificamente bem informados” (CANGUILHEM, 2009, p. 119).
Não por outro motivo Canguilhem afirma que a melhor definição de homem seria
aquele que, por ser insaciável, é o que sempre ultrapassa suas necessidades. Até porque, se
reduzirmos o homem às suas constantes fisiológicas e julgarmos como normal um sujeito
mediano e regular, não daremos margem para o surgimento de tal potencialidade, a contar,
principalmente, sua capacidade funcional na atmosfera de seu grupo ou espécie. Isto nos leva
a afirmar que não é possível haver uma continuidade quantitativa entre norma e média, pois
ambos os conceitos são diferentes. Não dá para reduzir um conceito pelo outro sem
reconhecer a normatividade original da vida. Sendo assim, o autor nos diz que o verdadeiro
papel da fisiologia deveria consistir “em determinar exatamente o conjunto das normas dentro
das quais a vida conseguiu se estabilizar, sem prejulgar a possibilidade ou impossibilidade de
uma eventual correção dessas normas” (CANGUILHEM, 2009, p. 132).
Uma vez atentado para a diferença entre a anomalia e o estado patológico e
desarticulado a variedade biológica de um valor vital negativo, Canguilhem avança para a
formalização do que define como saúde, doença e cura. Como mencionamos até aqui,
observamos que é o sujeito o responsável por definir onde começa e onde termina sua doença.
141
Mesmo quando estamos imersos no terreno das normas biológicas, é a normatividade vital e
social que deve ser considerada, posto que a referência será sempre o sujeito doente.
Assim, fundamentando-se nas elaborações do neurologista e psiquiatra Kurt
Goldstein (1878-1965), criador da teoria holística do organismo, Canguilhem afirma que uma
média estatística não possibilita dizer se o sujeito se encontra ou não em seu estado normal.
Seria necessário considerar, portanto, a norma individual, a saber, como o sujeito percebe seu
funcionamento orgânico em relação com o meio onde está inserido. Deste modo, a noção de
normal, saúde e doença se relativizam, pois dependerá do olhar do sujeito sobre si mesmo e
não de uma norma resultante de uma média calculada.
Ora, se a noção de normatividade sofre uma relativização e flexibilização, a partir da
norma individual, “o limite entre o normal e o patológico torna-se impreciso”
(CANGUILHEM, 2009, p. 135). Todavia, nos diz Canguilhem que tamanha imprecisão diz
respeito a diversos indivíduos considerados simultaneamente, por meio de uma generalização.
Porém, em um único e mesmo indivíduo, o limite entre o normal e o patológico é algo
perfeitamente preciso quando considerado sucessivamente, como coloca: “O indivíduo é que
valida essa transformação porque é ele que sofre as consequências, no próprio momento em
que se sente incapaz de realizar as tarefas que a nova situação lhe impõe” (CANGUILHEM,
2009, p. 135).
Nesta linha de pensamento, o que determina a doença ou o estado patológico não é a
ausência de norma, porque esta constitui, por si só, uma norma de vida, contudo, uma norma
inferior, no momento em que sujeito perdeu certa capacidade normativa. Neste novo
ambiente, o sujeito precisa se adaptar, no sentido de construir normas diferentes em relação às
normas anteriores ao estado doente.
A fim de expor o que define doença e saúde, Canguilhem remonta aos Princípios
gerais de nosologia neurológica do referido psiquiatra, o qual contemplou a noção de norma
individual para identificar o estado patológico ou o que chamou de “reação catastrófica”. Esta,
distintamente do que apontou como “comportamento privilegiado” do organismo,
caracterizava-se como uma reação capaz de provocar um abalo e uma ameaça à existência do
indivíduo. Em contrapartida, o “comportamento privilegiado” representava o estado onde o
sujeito melhor respondia às exigências do seu ambiente, vivendo em harmonia com o mesmo.
Por outro lado, quando as reações do organismo e o meio, correspondentes à norma, sofriam
modificações em função das transformações deste organismo, aí sim, ocorria a instauração do
estado patológico. “A doença surge quando o organismo é modificado de tal modo que chega
a reações catastróficas no meio que lhe é próprio” (CANGUILHEM, 2009, p. 138). Tal
142
reação, segundo Goldstein, não se manifestava somente em certos distúrbios funcionais, como
um déficit, mas de maneira global, pois afetava o organismo como um todo.
O que Goldstein observou em seus doentes atingidos por lesões cerebrais foi a
ocorrência de novas normas de vida, ocasionadas por uma redução do nível de atividades, em
detrimento da nova realidade que lhe fora imposta. A partir de então, algumas atividades que
antes eram executadas sem dificuldades, passam a sofrer limitações. Em razão disso, os
doentes não eram mais capazes de responder as exigências do meio normal, ou seja, o meio
anterior ao aparecimento da doença. De outro modo, novas normas são criadas para a recente
condição, normas estas limitadas, porém não impeditivas. Esses doentes, pontuou Goldstein,
só teriam reações catastróficas se não conseguissem se inserir nesse novo meio, motivo pelo
qual o doente não é anormal por ausência de norma, mas sim por “incapacidade de ser
normativo” (CANGUILHEM, 2009, p. 138).
Esta visão de saúde e doença muito se difere das concepções de Comte e Bernard.
Para Goldstein, a doença ganha uma positivação, não sendo compreendida por um aspecto
negativo e normativo em relação a uma média estatística geral. Por esse viés, o sujeito, ao
entrar em contato com novas normas de vida imposta pela doença, pode passar a vivenciar
potencialidades nunca antes percebidas, por uma norma individual que lhe é própria. Neste
panorama, a doença deixa de ser entendida como uma simples variação da dimensão da saúde,
como via Comte e Bernard, para tornar-se uma nova dimensão de vida:
A doença não é apenas o desaparecimento de uma ordem fisiológica, mas o
aparecimento de uma nova ordem vital [...] Não há desordem, há substituição de
uma ordem esperada ou apreciada por uma outra ordem que de nada nos serve e que
temos de suportar (CANGUILHEM, 2009, p. 145).
Neste sentido, até a ideia de cura é modificada, porque ela sempre vem acompanhada
de perdas essenciais para o organismo, contudo, proporciona o reaparecimento de uma nova
ordem: uma nova norma individual. Também a doença, se a virmos por um prisma de uma
norma biológica, o estado patológico não pode ser tido como anormal no sentido absoluto.
Seu aspecto de anormalidade gira em torno de uma situação específica determinada. Do
mesmo modo, ser sadio e ser normal não são situações equivalentes, pois o patológico pode
ser considerado normal. Dito de outra maneira, quando quisermos enquadrar algo como
normal ou patológico, devemos sempre nos perguntar em relação a que situação se trata. Este
limiar, assim, torna-se relativo.
143
Ser sadio significa não apenas ser normal em uma situação determinada, mas ser,
também, normativo, nessa situação e em outras situações eventuais. O que
caracteriza a saúde é a possibilidade de tolerar infrações à norma habitual e de
instituir normas novas em situações novas [...] A saúde é uma margem de segurança
às infidelidades do meio (CANGUILHEM, 2009, p. 148).
Ao colocar em questão o aspecto da normatividade vital e social, Canguilhem quer
nos alertar que embora o meio definido pela ciência seja feito de leis, estas mesmas leis nada
mais são do que abstrações teóricas. Pois, o indivíduo pode até ser composto de matérias
orgânicas, orientadas por leis físico-químicas, mas o ser vivo não se encontra isolado entre
tais leis e sim entre os seres e acontecimentos que as tornam variáveis e relativas. É neste
ponto que entram em cena as infidelidades do meio, as quais não se têm como prever ou
impedir que aconteçam. A saúde tolera essas infidelidades até certo ponto. Por isso,
caracteriza-se como uma margem de tolerância. Sendo um conjunto de seguranças e seguros,
a saúde é “um guia regulador das possibilidades de reação” (CANGUILHEM, 2009, p. 149).
Quando acontece um evento que ultrapassa essa margem de segurança, surge a enfermidade e,
vemos assim, que a vida possui um limiar de possibilidades de reação. Da mesma forma, ela
tem a possibilidade de se mostrar superior à sua capacidade presumida. O autor nos mostra
que esta situação é evidente nas reações de defesa do tipo inflamatório, como nos mostra:
Se a luta contra a infecção obtivesse vitória imediata, não haveria inflamação. Se as
defesas orgânicas fossem imediatamente forçadas, também não haveria inflamação.
Se há inflamação é porque a defesa antiinfecciosa é, ao mesmo tempo, surpreendida
e mobilizada. Estar com boa saúde é poder cair doente e se recuperar; é um luxo
biológico (CANGUILHEM, 2009, p. 150).
Partindo desse princípio, ter saúde significa também a capacidade de enfrentar os
riscos impostos pela vida e se recuperar, pois o homem dito sadio não está imune às reações
catastróficas, seja elas provenientes dos seus hábitos, sejam oriundas de alterações
fisiológicas. A saúde, neste aspecto, é a medida capacidade de superar as crises orgânicas para
instituir uma nova ordem individual. Desta maneira, o julgamento que envolve o estado
normal e o estado patológico não deve restringir a vida humana à vida vegetativa. Diante
disso, uma anomalia, por exemplo, ou qualquer estado eventual que foge à regra organismo,
pode, no fundo, ser considerado normal desde que o indivíduo consiga se adaptar à nova
norma imposta, compatível com sua vida. “É, portanto, para além do corpo que é preciso
olhar, para julgar o que é normal ou patológico para esse mesmo corpo” (CANGUILHEM,
2009, p. 152).
144
Seguindo o pressuposto da normatividade vital e individual, diremos que o
patológico é normal, pois a situação de estar doente cria novas normas, nas quais o organismo
passa a ser determinado. O patológico é, desta forma, um normal diferente. À fisiologia, não
podemos atribuí-la necessariamente ao status de uma ciência das leis ou das constantes da
vida, pois vimos como é problemático estabelecer uma média objetiva e precisa do que esta
disciplina considera como normal. Este conceito, por não poder ser tratado como uma noção
de existência, não pode ser estatisticamente medido.
Apesar disso, observamos o lugar quase de soberania que a fisiologia conquistou no
desenvolvimento da medicina moderna. Foi neste lugar conquistado pela fisiologia é que a
patologia passou a ocupar uma posição de subordinação a ela. Acontece é que ao colocar a
patologia em segundo plano, a medicina esquece que, sem ela, seria impossível a emergência
não só da fisiologia, mas também do próprio médico. Sobre isso, Canguilhem (2009, p. 158,
grifo do autor), enfatizando a relevância da teoria freudiana, salienta:
Ora, ocorre aqui um esquecimento do profissional, que talvez possa ser explicado
pela teoria freudiana dos lapsos e dos atos falhos, e que deve ser destacado. O
médico tem a tendência de esquecer que são os doentes que chamam o médico. O
fisiologista tem a tendência a esquecer que a fisiologia foi precedida por uma
medicina clínica e terapêutica, e nem sempre tão absurda quanto se diz [...] Se não
houvesse obstáculos patológicos, não haveria também a fisiologia, pois não haveria
problemas fisiológicos a resolver [...] em matéria de biologia é o pathos que
condiciona o logos porque é ele que o chama. É o anormal que desperta interesse
teórico pelo normal. As normas só são reconhecidas como tais nas infrações. As
funções só são reveladas por suas falhas. A vida só se eleva à consciência e à ciência
de si mesma pela inadaptação, pelo fracasso e pela dor.
Tomando como norte esta afirmação, entendemos que a psicanálise, apesar de
trabalhar com a identificação de um diagnóstico para a direção do tratamento, opera a partir
de um sofrimento, de um sintoma que o próprio sujeito julga não ser normal. Foi através do
pedido das histéricas que Freud as deixasse falar que a psicanálise encontrou o seu
nascedouro. Sem elas e o pathos por elas colocado como questão, juntamente com a atitude de
Freud, talvez a psicanálise não existisse.
Freud e depois Lacan, instituíram um novo modo de olhar o pathos. Diferentemente
da psiquiatria, especialmente a moderna dos Manuais diagnósticos, a psicanálise propôs uma
(des)biologização da patologia mental, pois, para ela, não existe um acesso direto ao mundo,
senão a partir de uma realidade psíquica, articulada à cultura e, assim, estruturada por um
discurso simbólico, ancorado na linguagem. Apesar de partir de um fenômeno, não é ele que
está no cerne de sua teorização, posto que ele só ganha sentido a posteriori, no momento em
145
que se articula com uma estrutura discursiva que advém da fala do sujeito, sustentada na
relação transferencial com analista. Neste sentido, o diagnóstico não é o fim, mas o meio.
Sob este prisma, podemos afirmar que estabelecer um diagnóstico em psicanálise é
um ato que abre portas ao sujeito, no sentido em que possibilita tocar no ponto de sua
singularidade, nos modos de satisfação pulsional que ele escolheu para lidar com a
impossibilidade da linguagem de tudo recobrir e ao fato de que nem tudo ele pode ter. Em
outras palavras, embora a psicanálise parta de um caráter universal de estrutura para fazer o
diagnóstico de um determinado sujeito (seja de neurose, psicose ou perversão), no final, é a
particularidade do sujeito diante de sua estrutura é que importa, ou seja, o que será resgatado é
justamente aquilo que o marca como desejante. A realidade psíquica é singular e só pode ser
construída em análise. Mesmo quando o analista se vê com dois pacientes histéricos, por
exemplo, ele será um analista diferente com cada um deles, a considerar que a realidade
psíquica é particular, pois envolvem sujeitos diferentes e histórias distintas, as quais só
poderão ser construídas em análise.
Para a psiquiatria moderna, a norma se pauta em uma generalização que parte mais
da fisiologia propriamente dita (das disfunções neuronais), do que da patologia mental, do
pathos que o sujeito carrega. Por conta disso, muito da clínica se perde por nem sempre
escutar aquilo que o sujeito tem a dizer. Trata-se de um diagnóstico que tende a fechar
possibilidades ao sujeito, colocando-o em um conjunto de classe, apenas generalizando-o a
partir do que é manifestamente visível, ao invés de singularizá-lo.
A fim de ilustrar esta diferença, tomemos como exemplo a situação de um sujeito
que apresenta sintomas referentes ao que a psiquiatria moderna chama de Transtorno
Obsessivo Compulsivo (TOC). Considerando o pensamento de Canguilhem, este sujeito não
necessariamente será visto como anormal. Isto vai depender da ótica do sujeito. Ora, se
mesmo com esses sintomas, ele consegue viver sua vida, realizar suas atividades diárias sem
grandes prejuízos, não sentindo necessidade de procurar um médico ou mesmo um
psicanalista, podemos dizer que, do ponto de vista de sua norma individual, este sujeito pode
ser considerado normal.
Em psicanálise, diríamos que ele “tem conseguido se virar com seu sintoma”. Agora,
pensemos em uma situação onde esse mesmo sujeito lê um artigo de uma revista falando
sobre o TOC, passando então a se identificar com esses sintomas, vindo do discurso social
compartilhado e, por isso, preocupado, procura um psiquiatra para saber se ele é ou não um
sujeito normal. Se o psiquiatra não realizar uma escuta apurada e não fizer, de fato, uma
anamnese, fundamentando-se meramente pela descrição que o DSM aponta para o referido
146
transtorno, terá grandes chances de sair de lá com alguma medicação e devidamente
enquadrado.
Agora, se ele também chegar a um psicanalista, uma análise só poderá ser possível
no momento em que isto que traz como queixa, ter um TOC, for uma questão para ele de tal
modo que ele julgue isso como um sintoma, em sua versão sintomal, como algo que vem
atrapalhar a “bela ordem” da sua vida. Neste sentido, o psicanalista tomará como norte não
um diagnóstico fenomenológico (se assim fosse, seríamos até levados a dizer que se trata de
um obsessivo), mas sim um diagnóstico estrutural, aquele que se engendra a partir da
realidade psíquica do sujeito, a analisar o modo como se constituiu como desejante (ou não) e
os modos de satisfação pulsional que dominam tal realidade, identificando o lugar que ele
coloca o analista na transferência.
Mais uma vez, é de nosso intuito lembrar que não é nosso objetivo promover uma
anti-psiquiatria, mas, contrariamente, resgatar a psiquiatria propriamente dita, a psiquiatria
clássica, suprimida dos Manuais, aquela que valorizava o pathos, a patologia e não fisiologia
acima de tudo. Daí nosso interesse em trazer à tona as contribuições dessa psiquiatria, a qual,
aliás, reunia em seu arcabouço uma variedade de teorias e aportes teóricos que enriqueciam o
campo psiquiátrico. O DSM e a CID, no momento em que sobrepõem a fisiologia e a
estatística à patologia, não mais podem ser considerados Manuais de Psiquiatria. São Manuais
estatísticos que não se direcionam ao pathos, isto é, não trabalham com a diversidade de
psicopatologias que fizeram parte da história do desenvolvimento do campo psiquiátrico.
Eliminaram as psicopatologias a favor de uma linguagem universal, que não suporta
diferenças. Trata-se de Manuais estritamente diagnósticos, como salienta Quinet (2006, p.
12):
Temos que recordar que o DSM e o CID são manuais diagnósticos e não de
psiquiatria. Como dizia René Olivier-Martin, referindo-se ao DSM-III, “observemos
que de modo algum é um manual de psiquiatria, que só pretende ser manual de
auxílio para o diagnóstico, útil ao prático em suas orientações terapêuticas, para
avaliar comparativamente a eficácia das terapêuticas e fazer uma coletânea
estatística”.
Em concordância com Quinet (2006), Miller e Milner (2006) assinalam que a atitude
ateórica e utilitarista dos manuais diagnósticos faz semblante de ser científico, mas que, na
verdade, estruturam seu discurso um uma pseudociência, mascarada por dados estatísticos.
Ser científico significa ser eficaz, resolver problemas o mais rápido possível. É nesse lema
que a CID e o DSM se sustentam. Por este viés, o discurso da ciência deve ser distinguido de
147
uma finalidade cientificista. Como falamos ainda há pouco, falar de discurso da ciência na
época da psiquiatria clássica tem todo o fundamento. Agora, falamos de uma finalidade
cientificista, de uma ideologia do capital que agencia diagnósticos e intensifica o caráter
operacional dos manuais que pretendem ser psiquiátricos. Afinal, vimos com Canguilhem o
quanto é infrutífero resumir o patológico ao fisiológico e tratá-lo a partir de uma média
comum, a qual, refere-se mais a um tipo ideal do que um tipo possível, a contar com a
normatividade vital e individual do organismo vivo.
Acontece que apesar do efeito de objetivação do sujeito pelo discurso
pseudocientífico, algo desse sujeito sempre escapa, na medida em que ele é irredutível a
qualquer forma de massificação e normatização mediana, que intenta equivaler à
normalização. Um nome, um diagnóstico não dá conta do que ele tem de estrutural: ser
desejante, faltante e só aparecer nas hiâncias do discurso. É neste sentido que Freud
(1912/1996) no escrito técnico Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise,
chama atenção para importância do diagnóstico estrutural para a condução do tratamento
psicanalítico, falando das entrevistas preliminares como um instrumento crucial para
identificar a estrutura clínica do paciente. Para Freud (1912/1996), era mais importante saber
como o sujeito funcionava diante de seus desejos inconscientes, ao invés de simplesmente
descrever e identificar tipos clínicos. O pathos convocou Freud a escutar seus pacientes e a
considerá-los singularmente, ou, para utilizar os termos de Canguilhem, o pai da psicanálise
foi exigido a escutá-los, tomando como referência a norma de cada um, em sua
particularidade na relação com estrutura do inconsciente.
Pois bem, Freud não se esquivou do diagnóstico e também não era contra a
psiquiatria. Sabemos que ele dialogou com ela e que, na Conferência Psicanálise e
Psiquiatria, Freud (1917b/1996), afirmou que apesar da psiquiatria não empregar os métodos
técnicos da psicanálise, não seria o caso de uma se opor a outra, mas sim da psicanálise
exercer um papel suplementar em relação à psiquiatria. Nas palavras de Freud (1917b/1996,
p. 262):
Os senhores assegurarão não existir nada na natureza do trabalho psiquiátrico que
possa opor-se à investigação psicanalítica. O que se opõe à psicanálise não é a
psiquiatria, mas os psiquiatras. A psicanálise se relaciona com a psiquiatria
aproximadamente como a histologia se relaciona com a anatomia: uma estuda as
formas externas dos órgãos, a outra estuda sua estruturação dos tecidos e células.
Ao procurar e propor uma estruturação do “tecido” do aparelho psíquico, Freud
instituiu em uma teoria para além do que se apresentava visivelmente, ou seja, além do que
148
podemos descrever. Além disso, segundo Quinet (2006) manteve-se em plena conversa com a
psiquiatria clássica do final do século XIX e início do século XX. Para o autor, Freud
construiu seus tipos clínicos sustentando-se na nosografia da psiquiatria clássica, fato que teve
prosseguimento pelas diversas ramificações dentro da psicanálise, inclusive por meio de
Lacan. Como nos apontou Soler (1996 apud QUINET, 2006, p. 11):
As categorias que utilizamos hoje provêm da psiquiatria clássica: neurose, perversão
e psicose, esta última repartida em dois grandes tipos, esquizofrenia e paranóia. A
cada uma dessas categorias podemos fazer corresponder um nome na história prépsicanalítica. Para a paranóia, Kraepelin, para esquizofrenia Bleuler, para a
perversão, Krafft-Ebing e para a neurose, Charcot.
Assinalou ainda que poderíamos “acrescentar à nosografia analítica também os dois
grandes tipos clínicos – histeria e neurose obsessiva – à psicose um terceiro tipo clínico, que é
a melancolia, base da psicose maníaco-depressiva” (QUINET, 2006, p. 11) de Kraepelin.
Diante de tais apontamentos, faz-se necessário abordarmos, com maior cuidado, como se
engendra o diagnóstico psicanalítico, bem como o conceito de sujeito com o qual opera a
psicanálise. Seguimos, então, para o capítulo 3 intitulado O diagnóstico em psicanálise e o
seu sujeito.
149
4 O DIAGNÓSTICO EM PSICANÁLISE E O SEU SUJEITO
Retomar a questão do diagnóstico para psicanálise, juntamente com sua abordagem
em torno da mania e melancolia, impõe-se como crucial em nossa pesquisa, especialmente
para compreendermos sua diferença de conceber o aspecto concernente à doença mental em
relação à psiquiatria, em particular, no que se refere ao diagnóstico diferencial entre neurose e
psicose.
No que diz respeito à melancolia, afirma-nos Quinet (2006, p. 169) que “a
melancolia, como quadro clínico, está perdida, atualmente sob a etiqueta do distúrbio bipolar,
e para o senso comum entra na categoria genérica da depressão”. Paralelamente e como efeito
disso, testemunhamos a loucura sendo enquadrada como um simples resultado da falha dos
neurotransmissores. Aliás, sobre esse fato, notamos que Lacan, desde sua tese de doutorado,
posicionou-se contra. No seu escrito denominado Formulações sobre a causalidade psíquica,
Lacan (1946/1998) deixou claro sua posição contrária relacionada ao organodinamicismo de
seu colega psiquiatra Henry Ey, afirmando que a loucura referia-se a um fenômeno do
pensamento, e não somente uma disfunção no nível do corpo orgânico. Afirmou Lacan
(1946/1998, p. 163, grifo do autor):
Quando defendi minha tese A psicose paranóica em suas relações com a
personalidade, um de meus mestres pediu-me que formulasse o que, em suma, eu
me havia proposto com ela: “Em suma, senhor”, comecei, “não podemos esquecer
que a loucura é um fenômeno do pensamento...”. Não digo que com isso eu tenha
indicado suficientemente meu propósito: o gesto que me interrompeu tinha a firmeza
de um chamamento ao pudor: “Sei, e daí?”, significava ele. “Passemos às coisas
sérias. Será que o senhor agora vai fazer caretas? Não desonremos esta hora solene
[...] Não obstante, fui aprovado como doutor, com os incentivos que convém dar aos
espíritos espontâneos”.
Entretanto, Lacan não poderia ter dado esse passo sem antes ler Freud. Por esta
razão, torna-se relevante entender como Freud, com a invenção da psicanálise, inseriu-se no
debate psiquiátrico de seu tempo, criando uma nova forma de olhar o sofrimento e doença
mental. Ao criar a psicanálise, Freud instaura uma nova forma de perceber o homem e seu
sofrimento, instituindo assim uma mudança de paradigma dentro do próprio campo científico
e psiquiátrico, vigente durante o século XIX e início do século XX. Vimos, em um primeiro
momento, como a psiquiatria constituiu-se como um campo específico de saber da medicina,
bem como os principais personagens que delinearam este campo. Destacamos a figura de
Emil Kraepelin como crucial não somente em nosso estudo, mas também dentro do território
psiquiátrico. Consideramos que ao cunhar o termo psicose maníaco-depressiva, reunindo todo
150
um conjunto de sintomas maníacos e melancólicos no mesmo complexo, Kraepelin
impulsionou um movimento dentro da psiquiatria, influenciando, portanto, a psiquiatria que
assistimos atualmente.
Entretanto Freud, como um contemporâneo de Kraepelin, elaborou uma teoria
alternativa da psicose maníaco-depressiva, a qual não esteve baseada restritamente ao fator
orgânico causal. De acordo com Maria Rita Kehl (2008, 2009), a construção teórica de Freud
acerca da melancolia resultou em outra maneira de compreender esse conjunto de
manifestações sintomáticas enunciadas por Kraepelin, em 1883. Freud entra em um diálogo
com a psiquiatria de seu tempo resgatando o termo melancolia, referindo-se também a mania,
de modo a incluí-la no complexo melancólico:
A mais curiosa e ainda inexplicada peculiaridade da melancolia é sua tendência de
se transformar no estado sintomatologicamente oposto da mania. Como se sabe, isto
não acontece com todos os casos de melancolia. Alguns casos apresentam recidivas
periódicas, com intervalos nos quais não se apresenta nenhuma mania ou só uma
nuance muito tênue de mania. Outros apresentam aquela alternância regular de fases
melancólicas e maníacas que foi denominada insanidade cíclica [...] não só é
permitido, mas mesmo necessário, estender nossa teorização psicanalítica da
melancolia também aos casos de mania (FREUD, 1917/2006, p. 112).
Embora Freud tenha se esforçado para delimitar uma teoria psicanalítica para a então
psicose maníaco-depressiva de Kraepelin, preferindo o termo melancolia à depressão, sua
atitude não produziu muitos efeitos na psiquiatria. Ao contrário, produziu-se um efeito
colateral, no sentido de uma privatização do conceito de melancolia, “cujos vetores teóricos
desvelaram-se para o plano das relações mais precoces e íntimas da vida psíquica [...] A
melancolia, depois de Freud, veio a perder seu antigo potencial de analisador do mal-estar na
civilização” (KEHL, 2008, p. 346). Dito isto, vê-se que a expressão melancolia, apesar de
todo o esforço de Freud em trazer de volta sua magnitude, perdeu seu valor de verdade no
debate psiquiátrico moderno. O que prevaleceu foi a palavra depressão. Esta, segundo Berrios
(2008), encontra sua origem no vocabulário da medicina cardiovascular para se referir à
“redução da função” do coração. Logo aplicada aos transtornos mentais, o termo depressão
assim demarcou seu lugar, justo por supostamente representar uma linguagem mais científica
e menos filosófica.
Contudo, mesmo hoje no senso comum, quando ouvimos a expressão depressão,
logo nos vem na cabeça a palavra melancolia. Pelo fato de suas manifestações sintomáticas se
assemelharem, temos a tendência de tratá-las como sinônimos. Mas, será?!
151
Para a psicanálise, melancolia e depressão não são vistas da mesma maneira, uma
vez que para a psicopatologia psicanalítica, a depressão, como herdeira da psiquiatria
moderna, designa apenas um estado, um fenômeno e, por isso, não diz nada de um sujeito
que, determinado pelo inconsciente, fala sem saber o que diz e age não se reconhecendo em
seus atos. Em outras palavras, quando um psicanalista recebe um sujeito em seu consultório
com um diagnóstico determinado, seja ele de depressão ou transtorno bipolar, ele o coloca em
suspenso para assim realizar um diagnóstico estrutural, aquele que considera o lugar que o
sujeito se posiciona, em transferência, na sua realidade psíquica, a qual, por sua vez, está
estruturada por uma lógica própria da linguagem inconsciente.
Freud estabeleceu uma metapsicologia para tratar do sofrimento psíquico,
procurando elucidar os processos inconscientes e dinâmicos envolvidos não só no campo da
psicose (como a melancolia e mania), mas também nas outras modalidades sintomáticas ou
tipos clínicos que estabeleceu, a saber: a neurose e a perversão. “A questão psicanalítica não é
propriamente nosográfica, mas nosológica, psicopatológica, referida ao sujeito [...] Não
propõe uma abordagem descritiva e classificatória, mas psicológica e metapsicológica”
(BOGOCHVOL, 2014, p. 6). Nessa direção, Figueiredo e Machado (2000, p. 67) afirmam:
A psicanálise não pode confiar do mesmo modo que as ciências empíricas, pois ela
considera que não há acesso direto ao mundo. A partir daí, o fenômeno não tem
mais o mesmo valor de verdade [...] O psicanalista, operando através da
transferência, não trabalha como um leitor de fenômenos e sim como um nomeador
de um modo de incidência do sujeito na linguagem. O diagnóstico aparece então
como estrutural e não mais fenomenológico [...] Deste ponto de vista, as categorias
diagnósticas clássicas da psiquiatria perdem em muito sua significação.
Sendo assim, discutiremos neste capítulo como se engendra a questão do diagnóstico
estrutural em psicanálise. Diferentemente da psiquiatria, a psicanálise considera a realidade
psíquica inconsciente do sujeito que sofre, realidade esta que para Freud (1925[1924]/1996, p.
40) não está relacionada diretamente com fatos reais, “mas com fantasias impregnadas de
desejos”. Ao partirmos do pressuposto segundo o qual a psicanálise versa sobre o sujeito do
desejo, sujeito do inconsciente, destacamos sua determinação estrutural, sem, no entanto,
desconsiderar a singularidade que o sujeito apresenta em transferência.
Ao operar com a transferência, o psicanalista não atenta para a observação das
manifestações sintomáticas em seu caráter descritivo para fazer o diagnóstico. O psicanalista
trabalha localizando o lugar que o sujeito ocupa em sua realidade psíquica, que o determina e
o constitui. E isso só se torna possível através da fala, pela associação livre, endereçada ao
analista, pois é por meio dela que pode advir algo deste sujeito, que sofre e também se satisfaz
152
com esse sofrimento, muitas vezes se surpreendendo consigo mesmo. Aliás, o próprio
nascimento da psicanálise se deve a esta contradição do sujeito. Freud, no momento em que
retira o Eu da consciência como o personagem principal das ações e do pensamento do
homem, promove uma subversão não só em relação ao campo psiquiátrico, mas de modo
amplo, a toda uma ideologia de homem que predominava na filosofia e ciência moderna
ocidental.
Nascida em plena era moderna, época marcada pelo primado da razão em detrimento
do discurso teológico, a psicanálise promove uma descentralização do Eu do conhecimento e
da consciência, premissa tão valorizada pela filosofia ocidental, especialmente através da
figura de Descartes. Podemos dizer que Descartes foi o personagem crucial dessa perspectiva
que marca o pensamento moderno, pois instaurou uma nova forma de enxergar o homem, por
meio da razão e da consciência de si. Neste contexto, o inconsciente não tinha valor de
verdade, sendo apenas um anexo da consciência, ou seja, um estado temporário desta
instância que era a senhora dos pensamentos e ações do homem (BIRMAN, 2010).
Sob essa ótica, podemos dizer que Freud, ao dar vazão e voz ao que diziam as
histéricas, provocou um furo no discurso filosófico e científico dominante que reinava na
modernidade, propondo que o sujeito, na verdade, é apenas um efeito da dinâmica
inconsciente. O Eu, senhor de si para a filosofia, passou a representar para a psicanálise um
servo das moções inconscientes, não podendo mais ser o senhor em sua própria casa. No
tocante a esse ponto, podemos afirmar que a psicanálise nasce com Freud dentro de um
campo médico científico, sendo, portanto, tributário a este campo que questionou e subverteu,
promovendo assim sua exclusão interna deste. Diante disso, vemos que a psicanálise nasce
dos buracos no saber da medicina, rompendo com a ela para instituir seu discurso: “Se, por
um lado, a história da psicanálise se inicia a partir da prática médica, por outro, é efeito de
uma ruptura com este discurso para instaurar um discurso próprio, outra clínica, numa outra
cena” (ERLICH; ALBERTI, 2008, p. 48). Em concordância, afirmam Santos e Lopes (2013,
p. 26):
Ao propor a inclusão do mental no domínio da pesquisa científica, Freud alarga a
concepção do que seja o campo da ciência. A especificidade do que ele inclui – isto
é, seu objeto – é aquilo que comparece fazendo obstáculo ao desenvolvimento da
própria ciência: as ilusões, as fantasias inconscientes, as formações do inconsciente,
as exigências pulsionais, enfim, tudo o que ele reuniu sob o nome de realidade
psíquica.
153
De fato, foi subvertendo o sujeito da ciência moderna que Freud inventa a
psicanálise, oferecendo outro estatuto para o Eu da consciência, que passa a não mais
representar um lugar de soberania. A própria noção de indivíduo, conceito sociológico fruto
da passagem do Mundo Antigo e Medieval ao Mundo Moderno, cai por terra com a
instauração do discurso analítico. O indivíduo seria um ser autônomo, não dividido,
indivisível, premissa que traz à tona a ideia de um Eu racional autocentrado, “que usufrui da
autonomia do espírito, liberdade da razão e exercício da vontade” (GARCIA; COUTINHO,
2004, p. 127). Até então determinado por condições socioculturais teológicas e transcendentes
no Mundo Antigo; no Mundo Moderno, marcado pela revolução francesa, pelo advento da
revolução industrial e o capitalismo de produção, o homem, como indivíduo, torna-se livre e
responsável por seus atos. Este seria o homem cartesiano por excelência.
Freud (1923/2007) em o Eu e o Id, deixa claro sua subversão em relação ao homem
cartesiano, senhor de si. Salienta como pressuposto fundamental da psicanálise a
predominância dos processos inconscientes em relação à consciência, afirmando que “é
impossível sustentar a hipóstese de que a essência do psíquico esteja situada na consciência
[bewusstein]. Pelo contrário, é preciso considerar a consciência como sendo apenas uma das
qualidades do psíquico” (FREUD, 1923/2007, p. 28, grifo do autor). Prossegue ainda dizendo
que está ciente da não aceitação de seu princípio por parte dos filósofos:
Para a maioria das pessoas com alguma formação em filosófica, a ideia de que possa
existir algo da ordem psíquica, que não esteja presente no consciente, parece
inapreensível, absurda e simples de ser refutada logicamente. Todavia, penso que
isso decorre do fato de essas pessoas nunca terem estudado fenômenos, como, por
exemplo, a hipnose e o sonho, os quais nos impõem de modo contundente a
concepção que ora apresentamos – sequer estou aqui incluindo os processos
patológicos. Além disso, essas pessoas deviam lembrar que as concepções da
psicologia da consciência por elas sustentadas não se mostraram capazes de
responder às complexas questões colocadas pela hipnose e pelo sonho (FREUD,
1923/2007, p. 28).
Ao partir do princípio de que o sujeito é determinado por moções inconscientes e que
o Eu nada mais é que um mediador entre o Inconsciente e o mundo externo, Freud inaugura a
psicanálise como um campo específico de saber, ancorado no inconsciente, nos desejos e nas
fantasias sexuais infantis. Todavia, mesmo introduzindo este corte e subversão no discurso
científico e filosófico moderno, sem a ciência moderna não existiria a invenção da psicanálise.
Sobre isso, faz-se necessário fazer um parêntese para mencionar que o psicanalista francês
Jacques Lacan não deixou de comentar o lugar que chamou de êxtimo, estrangeiro e ao
mesmo tempo mais interior, da psicanálise em relação à ciência.
154
Estabelecer uma discussão sobre esta temática revela-se muito importante no
contexto de nossa pesquisa, pois, uma vez que a psicanálise se encontra em uma posição de
exterioridade-interna com relação à ciência, ela lança dentro deste terreno, outra noção de
sujeito e, a partir disso, outra concepção diagnóstica. Deste modo, faz-se necessário
compreender como o sujeito da psicanálise, fundado por Freud a partir do inconsciente,
encontra suas raízes no surgimento do sujeito da ciência moderna com Descartes. Partindo
desse aspecto, poderemos assim elucidar a questão do diagnóstico em psicanálise
propriamente dito, bem como o processo de constituição do sujeito.
4.1 O sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência
Em seu famoso escrito intitulado A ciência e a verdade, Lacan (1965-1966/1998, p.
873) apresenta uma discussão do que seria a relação entre a ciência e a psicanálise e, assim,
afirma seu reconhecido axioma: “o sujeito sobre quem operamos em psicanálise só pode ser o
sujeito da ciência”. De acordo com Jean-Claude Milner (1996, p. 28), em seu livro A obra
clara: Lacan, a ciência e a filosofia, o referido texto de Lacan visou destacar três afirmações,
a saber: “1) que a psicanálise opera sobre um sujeito (e não, por exemplo, sobre um eu); 2)
que há um sujeito da ciência; 3) que estes dois sujeitos constituem apenas um”. No entanto, o
que Lacan quis dizer ao apontar que o sujeito da psicanálise e o da ciência constituem apenas
um? Ele próprio, aliás, nos diz que tal afirmação pode parecer um paradoxo. Veremos, então,
como tece essa articulação, tomando como norte o supracitado texto lacaniano.
Lacan (1965-1966/1998, p. 855) inicia o texto reafirmando que o estatuto do sujeito
da psicanálise é determinado por uma estrutura “que dá conta do estado de fenda, de
Spaltung”, localizando o campo onde se situa a práxis do psicanalista. Por outro lado, atenta
para o fato de que não devemos nos contentar com isso, ou seja, para ele, era preciso ir além
do que nós, psicanalistas, constatamos em nossa experiência clínica. Coloca que por mais que
a divisão do sujeito nos seja perceptível e comprovada em nossa práxis, isso não é suficiente
para situar o sujeito da psicanálise, sendo, por isso, necessária “uma certa redução” (LACAN,
1965-1966/1998, p. 855), em suas palavras, para que possamos chegar na origem desse
sujeito com o qual operamos e, portanto, compreender como ele se emergiu.
Para tanto, Lacan recorre à epistemologia de Alexandre Koyré, a quem diz ter
tomado como seu guia. Sustentando-se em Koyré, ele questiona como a psicanálise se situa
em relação à ciência moderna, orientando-se por um fio condutor que diz respeito a uma
mudança na história, referente à passagem do Mundo Medieval ao Mundo Moderno. Esse
155
momento histórico de passagem configurou uma forma de produzir saberes e práticas de
modo radical, de maneira que provocou “não um mero corte epistemológico [...] mas um
divisor de águas entre o Mundo Antigo e o Mundo Moderno” (ELIA, 2008, p. 65).
Segundo Lacan (1965-1966/1998), este corte entre a episteme antiga, fundamentada
pelo pensamento Aristotélico, pela figura de Deus como centro e o cristianismo, e a
emergência do Mundo Moderno, representada pela física matematizada galileana e pelo
pensamento de Descartes, sinaliza um momento fundamental para o surgimento da
psicanálise. De fato, se para Lacan, a psicanálise foi então tributária da ciência moderna, fazse necessário discutir como isso aconteceu e, portanto, como esta ciência pôde instituir todo
um campo discursivo propício para o surgimento do sujeito da psicanálise.
A partir de Koyré, Lacan apresenta o surgimento da ciência moderna como
inseparável de um processo descontínuo, de uma ruptura entre esses dois períodos históricos
que, por sua vez, agenciou uma modificação crucial no modo de pensar o homem e o mundo,
baseada “em uma crítica profunda a um saber apoiado integralmente no texto de Aristóteles e
transmitido pela Igreja ao longo da Idade Média e do Renascimento” (LIMA, 2002, p. 117).
Não por acaso Lacan (1965-1966/1998, p. 855, grifo do autor) faz menção a uma
“mutação decisiva que, através da física, funda A ciência no sentido moderno, sentido que se
postula como absoluto”, situando o nascimento do sujeito da psicanálise como correlato desse
momento crucial e historicamente definido, inaugurado por Galileu (1954-1642), com a
matematização da natureza, e aprofundado por Descartes, através do cogito cartesiano. Para
ele, a psicanálise não poderia ter nascido senão com a ciência moderna, “no século a que se
chamou século do talento, no século XVII” (LACAN, 1965-1966/1998, p. 871). Dizer isto,
por conseguinte, implica salientar que não se trata apenas de uma mudança cronológica
historicamente determinada, mas também de uma transformação na estrutura discursiva no
que diz respeito à forma de enxergar o universo e tudo o que nele continha. Em outras
palavras: tratou-se de uma transformação no estatuto do saber. Citamos Lacan:
Mas foi possível notar [...] um certo momento do sujeito em que considero ser um
correlato essencial da ciência: um momento historicamente definido, sobre o qual
tenhamos de saber se ele é rigorosamente passível de repetição na experiência: o
que foi inaugurado por Descartes e chamamos de cogito (LACAN, 1965-1966/1998,
p. 870).
Ao localizar este correlato, como um momento, a um “rechaço de todo saber”
(LACAN, 1965-1966/1998, p. 870), Lacan parte dele para desenvolver sua tese de que o
sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência, ou melhor, para falar de uma estrutura discursiva
156
que, ao suprimir todo e qualquer saber que advinha do sujeito sensível, coloca ainda mais em
evidência sua divisão constitutiva, isto é, o sujeito como errância. Por esta razão, ele fez
questão de afirmar: “Não há ciência do homem [...] Não há ciência do homem porque o
homem da ciência não existe, mas apenas seu sujeito” (LACAN, 1965-1966/1998, p. 873). Ao
afirmar que “o sujeito sobre quem operamos em psicanálise só pode ser o sujeito da ciência”,
Lacan aponta que o sujeito da ciência é errância, porque houve Descartes para sinalizar que
por mais que exista a certeza do pensamento, algo sempre escapará a isso. Porém, antes de dar
prosseguimento a esta discussão, precisamos entender como as figuras de Galileu e Descartes
fundaram a ciência moderna, promovendo esse corte em relação ao Mundo Antigo,
fundamental para a emergência do sujeito da psicanálise.
Segundo Koyré (1991), a época do Renascimento tem o seu fim com o aparecimento
de Galileu. Questionando o espírito renascentista da época, caracterizado por uma produção
literária calcada na magia e na demonologia, Galileu foi motivado pela ideia de que a natureza
e o universo poderiam reduzir-se ao geométrico. Assim, traçando uma identificação entre o
espaço físico e a geometria euclidiana11, Galileu vai além de Kepler (1571-1630) e suas
teorias referentes às três leis fundamentais da dinâmica celeste12, precisando o conceito de
movimento retilíneo uniforme13, princípio constituinte da dinâmica clássica. Para Galileu,
tudo o que existia no mundo deveria estar submetido à forma geométrica e à matematização.
Com isso, fez cair por terra a crença de que os órgãos dos sentidos seriam o meio ideal para
construir um conhecimento sobre determinado objeto (SANTOS; LOPES, 2013).
Sobre Galileu e o recorte que faz no campo discursivo de seu tempo, Milner (1996)
salienta que foi pela intervenção dos símbolos matemáticos, que a episteme científica
moderna rompe com o pressuposto conforme o qual os fenômenos da natureza poderiam ser
acessíveis ao campo dos sentidos. A linguagem matemática, como uma nova maneira de
nomear o real, passou a preponderar sobre qualquer experiência advinda do sensorial,
11
A geometria euclidiana, criada por Euclides de Alexandria (360 a. C – 295 a. C) foi um modelo preponderante
na antiguidade clássica e no pensamento medieval renascentista. Caracterizou-se por seguir a premissa de que
o espaço é imutável, simétrico e geométrico (SANTOS; LOPES, 2013).
12
As três leis fundamentais da dinâmica celeste foi idealizada pelo astrônomo alemão Johannes Kepler.
Conhecidas como as leis de Kepler, a primeira “é a lei das órbitas elípticas: todos os planetas se movem
segundo órbitas elípticas com o sol num dos pontos focais. A segunda é a lei das áreas: à medida em que o
planeta descreve sua órbita, o seu vetor posicional relativamente ao sol percorre áreas iguais e tempos iguais.
A terceira estabelece uma relação entre os tempos periódicos em que os planetas completam as suas órbitas
em torno do Sol e as suas distâncias médias ao Sol (SANTOS; LOPES, 2013, p. 42).
13
Este conceito deve-se a Galileu Galilei e parte do pressuposto de uma uniformidade de espaços em intervalo
de tempos iguais. Ele discriminou uma velocidade constante (sem aceleração), como é o caso de um veículo
que, durante uma linha reta, trafega por uma pista retilínea (SANTOS; LOPES, 2013).
157
expropriando o sujeito de qualquer qualidade de pensamento. Sobre este aspecto, destacamos
as palavras do autor:
[...] uma teoria do sujeito que pretenda responder a tal física, ela também deverá
despojar o sujeito de toda qualidade. Não lhe convirão as marcas qualitativas da
individualidade empírica, seja ela psíquica ou somática; tampouco lhe convirão as
propriedades qualitativas da alma: ele não é mortal nem imortal, puro nem impuro,
justo nem justo, pecador nem santo, condenado ou salvo (MILNER, 1996, p. 33).
Conforme Milner (1996), a psicanálise e seu nascimento só puderam ser concebidos
por Lacan como um correlato do advento do sujeito da ciência, na medida em que sua
aparição somente foi possível no momento em que Galileu propõe uma física matemática,
capaz de eliminar todas as qualidades sensíveis do sujeito que vive a experiência. A partir daí,
trata-se não de um empirismo baseado na percepção das qualidades sensíveis, mas sim da
construção de um campo de experiência pautado no experimentum, aplicado por meio das leis
matemáticas. O mundo real, antes percebido pelos órgãos dos sentidos, passa a se construir
como matematizado geometricamente, transportados para a linguagem e escrita de números e
símbolos. O universo, então, passa a ser apropriado ao campo da razão.
Cabas (2010), da mesma maneira, demarca a diferença existente entre a episteme
antiga e a moderna, afirmando que enquanto a ciência clássica grega representava um
instrumento a serviço da vida contemplativa, por meio do sensível, a ciência moderna
produziu um corte nesta visão, promovendo uma subversão neste campo, transformando-se
em uma ferramenta capaz de formatar a realidade e os fatos do universo. Operou-se, portanto,
uma mutação no estatuto do saber. A partir de então, a ciência moderna passa a moldar o
mundo por meio das leis universais da física e da matemática, no intuito de obter pleno
domínio da natureza. De certo, a ciência moderna teve como pretensão “fazer do saber um
instrumento capaz de operar sobre as leis da natureza e intervir sobre ela” (CABAS, 2010, p.
199).
Desta forma, a matematização do universo emergiu como essa ferramenta que, ao
promover uma relação puramente operatória com os fenômenos do mundo, simbolizou um
acontecimento, um ato, um corte na história da ciência de tal modo que passou a ser
comandada por um saber distinto ao da época clássica: um saber formal, que intervém no
mundo e nas coisas com uma pretensa precisão métrica e geométrica. Para Cabas (2010),
Koyré defende a ideia de que a ciência moderna, em seu ideal, realizou o platonismo que,
Platão, na sua época, não pôde efetuar. No entanto, tal realização se deu através da
matematização da natureza, transposta em letras, números e fórmulas. Platão não pôde
158
construir esta formalização matemática, pois não foi capaz de perceber o espaço geométrico
como espaço real, mas sim como uma representação da distância entre corpos. Na época de
Platão, “a imagem ocultava a física” e “a matéria desaparecia diante da ideia” (CABAS, 2010,
p. 201).
Já o cogito cartesiano, no instante em que Descartes o funda, ele reafirma e
aprofunda o que Galileu havia preconizado sobre a matematização do universo. Afinal, se na
física, eliminou-se qualquer qualidade sensível do sujeito, fez-se necessária uma teoria do
sujeito que respondesse aos ideais da física. Desta maneira, o cogito, no momento em que ele
é enunciado como certo, como certeza, encontra-se separado de toda qualidade:
O próprio pensamento mediante o qual o definimos é estritamente qualquer; ele é o
mínimo comum de todo pensamento possível, visto que todo pensamento, seja qual
for (verdadeiro ou falso, empírico ou não, razoável ou absurdo, afirmado ou negado,
ou posto em dúvida), pode dar-me ensejo para concluir que existo (MILNER, 1996,
p. 33).
Vemos, então, que as ideias de Galileu, juntamente com cogito cartesiano,
introduziram uma nova ciência, a qual, fundada a partir de um pensamento sem qualidades,
operou nesse pensamento uma geometrização. Tratou-se de conceber o universo, o real, como
pura fórmula, estruturado por meio de uma racionalidade. Galileu e Descartes promoveram e
proclamaram uma verdadeira revolução intelectual e científica, instaurando a certeza da razão
“eu, penso” e demonstrando o interesse de libertar esta razão da herança de toda a qualidade
sensível. “Ao generalizar o fato da existência a indubitável certeza do pensar, Descartes a
dissocia de tudo que não seja racional” (SANTOS; LOPES, 2013, p. 46). Ao fazer isso, ele
provoca uma cisão entre o ato de existir do sujeito e as qualidades sensíveis que ele carrega.
Apresentamos anteriormente, no Capítulo I, como Descartes, ao excluir o sonho, a
loucura e a experiência sensível do campo do pensamento, instituiu uma mudança discursiva
em relação ao Mundo Antigo e Medieval, passando, no Mundo Moderno, a ser dominada pelo
âmago da razão. Com isso Descartes, como primeiro filósofo moderno, funda a ciência
moderna (MILNER, 1996) e, junto com ela, um eu pautado na razão, sem atributos, sem
qualidades.
Neste sentido, fica claro que a diferença, para a Koyré, entre a episteme antiga do
Mundo Medieval e a Moderna está justamente no fato de que, para a primeira, a presença de
Deus sobre a superfície dos seres e das coisas era o elemento norteador na produção de
saberes e práticas e, para a segunda, o mestre não estava centrado mais na figura de Deus, mas
sim na figura do cientista, o mestre moderno por excelência, este que “emudece o real,
159
transformando-o em uma colônia de símbolos matemáticos” (LIMA, 2002, p. 118). O mestre
moderno, o cientista, é o representante inseparável do domínio próprio ao pensamento
cartesiano, o qual se repousa no Cogito.
Esclarecida a importância de Galileu e Descartes para a instauração da ciência
moderna, podemos agora avançar no sentido de entender a apropriação que Lacan faz dela
para explicar o surgimento do inconsciente freudiano. Foi a partir da supressão dos equívocos
e da contradição do pensamento, é que Freud pôde tomar como seu objeto de estudo o que
Descartes havia foracluído: o inconsciente, as paixões, o irracional. Por outro lado, se o
sujeito da ciência moderna refere-se a um pensamento consciente sem qualidades, o sujeito da
psicanálise, de modo subversivo, sustenta-se também em um pensamento sem qualidades,
mas, por outra via, a do pensamento inconsciente, estruturado como linguagem.
Ao afirmar a existência de um pensamento inconsciente, seja através dos sonhos, dos
chistes, atos falhos ou sintomas, Freud introduz um pensamento que não obedece à tradição
filosófica proposta por Descartes, principalmente, por afirmar que o pensamento não é um
corolário à consciência de si. Dito isto, se existe pensamento no inconsciente, se isso pensa,
existe um sujeito, porém um sujeito pensado pelo isso, pelas moções pulsionais inconscientes
(MILNER, 1996, grifo do autor).
A dúvida hiperbólica de Descartes, solucionada por ele através de uma certeza:
“penso, logo existo”, denota a certeza do pensamento e, portanto, do existir como a única
saída possível para o engodo do pensar exaustivamente e sempre duvidar. O aforismo de
Descartes construiu-se, assim, sob o bojo de uma proteção contra sua dúvida metódica,
revelando, portanto, sua divisão subjetiva, mesmo que, no final, tenha convergido para uma
certeza. Como ressalta Elia (2000, p. 21) sobre Descartes: “Só posso estar certo de que penso,
pois mesmo que disto duvide, ainda assim continuarei pensando”.
Para Erlich e Alberti (2008, p. 53), “as determinações científicas criadas por
Descartes dizem respeito à existência de um pensável e um impensável, um dizível e um
indizível, um conceituável e um impossível de conceituar” e, a psicanálise, tendo como
parâmetro os mesmos aportes da ciência, distingue-se dela por visar à contradição, o que não
pode necessariamente ser explicado, pensado ou dito. É justamente pelo furo que a ciência
rejeita é que a psicanálise se põe a trabalhar e constrói seus aportes teóricos e clínicos. Elia
(2008, p. 66) afirma que a psicanálise seguiu o mesmo caminho da ciência moderna,
entretanto, apresentando outra maneira de incidir sobre o sujeito. Para o autor, é nisso “que
reside a sua subversão em relação ao estatuto (foracluído) do sujeito da ciência”.
160
Nesta perspectiva, podemos dizer que Freud só pôde dar ouvido ao que as histéricas
tinham a dizer quando se propôs a escutar aquilo que estava fora da certeza do pensamento
consciente, lançando mão do inconsciente para explicar o que a consciência não conseguia dar
conta.
Portanto, Lacan toma o conceito do inconsciente freudiano, para assim articular com
o sujeito evanescente, sujeito este concebido como fading, que aparece para, em seguida,
desaparecer. A psicanálise, ao operar sobre este sujeito, então suprimido por Descartes, deixa
claro que seu objeto não é o eu como uma unidade imaginária. No Seminário 11: os quatro
conceitos fundamentais da psicanálise, Lacan (1964/1998a), fala da dúvida cartesiana, a fim
de delimitar o objeto do campo psicanalítico como distinto de uma teoria psicológica do eu.
Refere-se a um Freud cartesiano, afirmando explicitamente que só foi possível ele aludir à
existência de um pensamento inconsciente quando o cogito de Descartes funda o sujeito:
Face à sua certeza, há o sujeito, de quem lhes disse há pouco que está aí esperando
desde Descartes. Ouso enunciar, como uma verdade, que o campo freudiano não
seria possível senão certo tempo depois da emergência do sujeito cartesiano, por isso
que a ciência moderna só começa depois que Descartes deu seu passo inaugural
(LACAN, 1964/1998a, p. 49).
Lacan pontua que não foi Freud quem introduziu o sujeito no mundo, posto que
oferece a Descartes esse mérito. Porém, atenta para o fato de que o sujeito para Descartes
dizia respeito a um sujeito apartado de sua função psíquica. Já Freud partiu desse sujeito para
colocar em jogo a presença do sujeito do inconsciente, ou melhor, do pensamento
inconsciente, representado pelo sonho como protótipo: no registro no sonho, o sujeito está em
casa. O sonho, ora excluído por Descartes do campo do pensamento consciente, foi por Freud
retomado para falar desse mecanismo como constituído fundamentalmente pelo o que a
consciência não consegue “evocar, estender, discernir, fazer sair do subliminar, mas pelo que
lhe é, por essência, recusado” (LACAN, 1964/1998a, p. 46). Lacan, então, traça uma
homologia entre o sujeito do “eu penso” e o sujeito do “eu duvido”, a fim de representar o
pensamento inconsciente, esse mais além da consciência:
161
Descartes apreende o seu eu penso na enunciação do eu duvido [...] eu diria que
Freud dá um passo a mais [...] quando nos convida a integrar ao texto do sonho o
que chamarei o calofão da dúvida – o calofão, num texto antigo, é aquela mãozinha
indicativa que se imprimia na imagem, no tempo em que ainda se tinha tipografia. O
calofão da dúvida faz parte do texto. Isto nos mostra que Freud coloca a sua certeza,
Gewissheit, somente na constelação dos significantes, tal como eles resultam da
narrativa, do comentário da associação, pouco importando a retratação. Tudo vem a
fornecer significante, com o que ela conta para estabelecer sua própria Gewissheit –
pois eu sublinho que a experiência só começa com o encaminhamento dela. É por
quê eu comparo com o encaminhamento cartesiano (LACAN, 1964/1998a, p. 47,
grifo do autor).
Enquanto Descartes enuncia a certeza do “eu penso” em prol do “eu duvido”, sua
enunciação, Freud parte da dúvida para inaugurar o sujeito como dividido entre a verdade que
o causa e o saber inconsciente do qual só é efeito de significação. Este saber, como Ich é o
“lugar completo, total da rede de significantes” (LACAN, 1964/1998a, p. 47, grifo do autor).
É o lugar onde podemos situar o sujeito, sempre indeterminado. “Lá onde estava, o Ich - o
sujeito, não a psicologia, deve advir” (LACAN, 1964/1998a, p. 48, grifo do autor), afirma
Lacan (1964/1998a), para apontar o lugar onde devemos procurar o sujeito do inconsciente,
este que só pode ser achado no intervalo dos significantes, na própria hiância que o produz. É
neste ponto que Freud diverge de Descartes, pois enquanto que, para o primeiro, o sujeito da
certeza acha-se em sua divisão irredutível entre a verdade e o saber, para o segundo, o sujeito
da certeza encontra-se no “eu penso”, isto é, no pensamento consciente despido de sua
qualidade sensível. Onde Descartes diz “estou seguro, porque duvido, de que penso”,
chegando a conclusão “Penso, logo sou”, Freud, ao duvidar, “está seguro de que um
pensamento está lá, pensamento que é inconsciente, o que quer dizer que se revela como
ausente” (LACAN, 1964/1998a, p. 39). Por esta razão, Lacan afirma que o encaminhamento
de Freud é cartesiano, pois parte do princípio da certeza, mas da certeza do pensamento
inconsciente.
Ao falar do sujeito evanescente como constituído no campo do Outro da rede
significante, Lacan (1964/1998a) chama atenção que o estatuto do inconsciente não é ôntico,
ou seja, não se baseia em uma teoria do ser. Isso quer dizer que o sujeito não é, mas sim se
constitui como efeito da cadeia de significantes, na medida em que se localiza no intervalo
entre eles. Com efeito, podemos dizer que ele desaparece na sincronia metonímica da cadeia,
para, “como um rabo de cometa”, aparecer nas falhas dessa cadeia, que advém como
metáfora, seja na vacilação, naquilo que manca, no tropeço, no desfalecimento, na rachadura,
como uma surpresa, um achado, ou seja, nas formações do inconsciente que conhecemos (os
chistes, os sintomas, os sonhos e os atos falhos). Lacan salienta:
162
É na dimensão de uma sincronia que vocês devem situar o inconsciente [...] no nível
da enunciação, enquanto segundo frases, segundo modos, se perdendo como se
encontrando, e que, numa interjeição, num imperativo, numa invocação, mesmo
num desfalecimento, é sempre ele que nos põe seu enigma, e que fala, - [...] o sujeito
enquanto indeterminado (LACAN, 1964/1998a, p. 31).
A partir da doutrina do significante, no momento em que afirma a localização do
sujeito no campo do Outro e fala do sujeito como evanescente, Lacan (1964, 1965-1966/1998)
aponta o significante como uma verdade, que se baseia na causa material. Ele recorre ao
clássico esquema aristotélico das quatro causas de modo explícito em A Ciência e Verdade e,
indiretamente no Seminário 11, para situar onde a psicanálise se situaria em relação às
referidas causas, que são: a causa formal, a causa eficiente, a causa final, e a causa material.
Lacan (1965-1966/1998) localiza a magia na causa eficiente. Se existe na natureza o
trovão e chuva, meteoros e milagres, é porque existe algo por trás desses fenômenos que
assim o mobilizam. Há aí uma causa eficiente que incide sobre a natureza, um ritual, que
possibilita o aparecimento de tais fenômenos, como uma espécie de encantamento.
A causa final, Lacan afirma que esta é correlata à religião, “no sentido de ser
reportada a um juízo final” (LACAN, 1964/1998a, p. 887). Apegado nesta verdade como
causa, o religioso se coloca como objeto de sacrifício do Outro, encarnado na figura de Deus e
o pergunta: “O que queres?”.
Esta pergunta, por conseguinte, revela uma demanda dirigida a Deus, a quem o
religioso submete seu desejo. Para Lacan, o neurótico obsessivo se encaixaria perfeitamente
na figura do religioso, na medida em que instala a verdade a partir de um status de culpa. No
juízo final, o religioso quer estar “quite” com Deus e, logo, sacrifica-se no mundo material,
situando-se como objeto de desejo do Outro. Seu desejo revela-se como desejo do desejo do
Outro, o qual, para ele, surge em forma de Lei.
No que tange à ciência, nos diz Lacan (1965-1966/1998, p. 889), “a verdade como
causa, ela não quer-saber-nada”. Esse “não quer-saber-nada”, ele associa ao mecanismo da
Verwerfung, da foraclusão. Traçando esta associação, faz alusão a uma “paranóia bem
sucedida” para dizer que a verdade incide na ciência como causa formal. Partindo de uma
linguagem própria, a ciência formata e configura os fenômenos do mundo. Galileu, ao se
utilizar da física matemática e dos símbolos para nomear o universo, enquadra o real à sua
maneira. De modo semelhante, a medicina também usa de uma linguagem formal para
categorizar doenças, nomeando os fatos orgânicos e fisiológicos. O discurso psiquiátrico não
é diferente, visto que utiliza de uma linguagem formal para dar nome e classificar os
fenômenos que dizem respeito ao que há de mais íntimo e estranho ao sujeito: a angústia.
163
Ao operar através da causa formal, a ciência buscou a razão de ser do universo na
geometrização do espaço e da natureza, formalizando-a. A passagem que Lacan (19651966/1998) localiza em Koyré do “mundo mais ou menos” das ideias e dos sentidos para o
mundo moderno da precisão de Galileu, evidencia que o estatuto do real, aqui concebido
como de cunho exclusivamente científico, define-se no campo da razão a partir de três
princípios, a saber: 1) o real é o que sempre volta ao mesmo lugar; 2) para a ciência, o real é a
causa e 3) o real é um resíduo (CABAS, 2010).
O primeiro princípio reside na observação dos planetas que, por meio da evidência
de um movimento circular, primeiramente, e depois de um movimento elíptico a partir de
Kepler, revela um retorno ao mesmo ponto, registrando uma constante. O segundo princípio,
do real como causa, denota o saber elaborado pela ciência para dar conta desse universo em
movimento, sempre constante, no caso dos planetas no espaço. Neste sentido, o real é a causa
que a ciência procura geometrizar, matematizar. É considerando a geometrização do espaço é
que se pode dizer que o real da ciência é racional e, sua causa, matematizável, reduzida a uma
fórmula. Por fim, o terceiro princípio, do real como resíduo, este é efeito do segundo, pois no
momento em que os planetas no espaço são reduzidos à pura fórmula, a uma pura escrita,
extrai-se desta operação simbólica um resto: existe algo que não pode ser assimilado pelo
símbolo, pela simbolização, resta um saldo irredutível à matematização, enigmático, afirma
Cabas (2010).
Observando tais princípios, é possível identificar uma homologia com a psicanálise.
Sabemos que Lacan (1964/1998a) conceitua o real como aquilo que não cessa de não se
escrever e que volta sempre ao mesmo lugar. Afinal, não é isso que se trata quando nos
referimos ao circuito pulsional? O que faz o sujeito senão rodear o objeto primeiro de
satisfação, posto que nunca o encontra? Do mesmo modo, o que seria o objeto a senão o
resíduo de uma operação não toda de simbolização? E o que falar do real como causa da
psicanálise, senão apontando para o sujeito como resposta do real?
Entretanto, somente como homologia é possível tecermos uma articulação entre a
concepção de real para a psicanálise e para a ciência. Sabemos que a psicanálise opera a partir
de uma subversão da ciência moderna e toma o real como impossível de tudo simbolizar. A
ciência, diferentemente, embora reconheça que sempre exista um resíduo de saber na
produção de conhecimento, parte do pressuposto de que ainda poderá recobrir simbolicamente
este resíduo, em um futuro próximo, com a evolução do saber. Por mais que um cientista
admita que não saiba tudo, ele aspira e tem a esperança que um dia a ciência produzirá um
saber sobre o que restou da produção do saber anterior. Isto porque para a ciência moderna o
164
real é racional e, pode sim, ser todo reduzido a uma simbolização formal. Para a psicanálise o
real é irracional, irreparável, indomável, é pulsional e não cessa de pulsar para não todo
representar. Trata-se de um real irredutível ao significante e que não cansa de não se
satisfazer. Referimo-nos ao gozo e ao caráter insaciável da pulsão, a qual não se molda
totalmente às leis da linguagem.
De resto, começamos nosso percurso a partir de uma definição, a de que o real é o
que sempre volta ao mesmo lugar [...] Ao pé da letra. Mas sob a condição de
entendermos que isso que sempre volta – no caso da psicanálise – é a pulsão. Mais
precisamente a exigência pulsional. E a esse respeito cabe frisar que o objeto da
pulsão é o que satura esse ponto de fixação que caracteriza a experiência do gozo. E
cabe lembrar que a expressão clínica desse ponto de fixação em que a experiência do
gozo se satura é o que na experiência subjetiva se inscreve como trauma. O trauma
freudiano. Ora, a peculiaridade do trauma freudiano é justamente ser avesso à razão,
adverso ao saber e irredutível ao significante, como um resto que retorna sempre. E
sempre sem sentido (CABAS, 2010, p. 206).
Justamente aquilo que a ciência moderna negligenciou, a psicanálise tomou como
seu ponto de partida. Ao interrogar a verdade a partir da causa material, da materialidade do
significante, a psicanálise, além de considerar a impossibilidade do simbólico de tudo aplacar,
aponta que tal impossibilidade é determinada por um real irrepresentável neste registro: a
pulsão, esta que só pode ser satisfeita parcialmente. Em A ciência e a verdade, quando afirma
que é preciso reintroduzir o Nome-do-pai na consideração científica, Lacan (1965-1966/1998)
chama atenção que não se pode deixar de lado o aspecto da castração tanto no que se refere à
própria estrutura do sujeito quanto à estrutura do discurso que, uma vez tecido pela
materialidade significante, só encontra uma meia-verdade, uma verdade que só pode ser semidita. O discurso é falho e não pode tudo recobrir precisamente pela presença da castração e do
recalque, operações que sinalizam a incapacidade do sujeito se satisfazer plenamente. Ao
adentrar no universo da linguagem, o sujeito perde uma parte de gozo que nunca mais poderá
simbolizar. No entanto, dessa castração a ciência nada quer saber e responde com sua paixão
da ignorância: ela não quer se deparar com o limite ao saber (LACAN, 1965-1966/1998).
A psicanálise, distintamente, põe em questão e traz à tona esse limite ao saber, a
partir do instante em que atribui ao inconsciente uma estrutura de fenda, onde o sujeito é
apenas um efeito, ex-sistindo à linguagem por só se encontrar nas falhas dela. Ele ex-siste à
cadeia significante, aparecendo para logo desaparecer pela afânise. Antes de qualquer coisa, o
discurso psicanalítico define-se como aquele que, ao conferir um valor de verdade ao
significante, separa-o de sua significação. Por este motivo, é no que toca ao seu caráter literal
165
que encontramos o sujeito da psicanálise, sujeito do significante, como bem elaborado por
Lacan no Seminário 11.
Com relação ao sujeito do significante, Lacan nos posiciona: “Veiculado pelo
significante, em sua articulação com outro significante, ele deve ser severamente distinguido
tanto do indivíduo biológico quanto de qualquer evolução psicológica classificável como
objeto da compreensão” (LACAN, 1964/1998b, p. 890). Dito isto, o sujeito da psicanálise não
é um Eu e nem pode ser confundido com o sujeito da psicologia, este que pode ser conjugado
em uma síntese, em uma totalidade. Aliás, no escrito Posição do inconsciente, de 1964, texto
contemporâneo ao Seminário 11 e ao escrito A ciência e verdade, Lacan se põe a distinguir o
sujeito da psicanálise de uma concepção imaginária do Eu (1964/1998b, p. 846). Para ele, a
captura imaginária do Eu está ligada a um engodo especular e permanece, assim, em uma
função de desconhecimento. A ausência de totalidade, por conseguinte, está ligada ao fato de
que o sujeito é efeito de significação, como afirma:
O efeito da linguagem é a causa introduzida no sujeito. Por esse efeito, ele não é
causa dele mesmo, mas traz em si o germe da causa que o cinde. Pois sua causa é o
significante sem o qual não haveria nenhum sujeito no real. Mas esse sujeito é o que
o significante representa para outro significante, e este não pode representar nada
senão para outro significante: ao que se reduz, por conseguinte, o sujeito que escuta.
Com o sujeito, portanto, não se fala. Isso fala dele (LACAN, 1964/1998b, p. 849).
Diante disso, é lícito dizer que, de fato, sem a materialidade do significante, como
aporte da fala e da linguagem, não existiria nem magia, nem religião e, menos ainda, a
ciência, uma vez que as mesmas não teriam onde estruturar seu campo, seja baseado na causa
formal, eficiente ou final. A psicanálise, ressalta-nos Lacan, deve resistir a cada uma dessas
verdades como causas, pois uma vez partindo da verdade pautada na causa material, ela parte
do princípio que essa verdade, como causa, jamais poderá ser toda dita, por conta da
inexistência de uma linguagem que possa tudo aplacar. Dito de outra maneira, não há
metalinguagem:
“Eu, a verdade, falo...”, ultrapassa a alegoria. Isto quer dizer, muito simplesmente,
tudo o que há por dizer da verdade, da única, ou seja, que não existe metalinguagem
(afirmação feita para situar todo o lógico-positivismo), que nenhuma linguagem
pode dizer o verdadeiro sobre o verdadeiro, uma vez que a verdade se funda pelo
fato de que fala, e não dispõe de outro meio para fazê-lo (LACAN, 1965-1966/1998,
p. 882).
A ausência da metalinguagem aponta para o fato de que nós, sujeitos de linguagem,
nunca poderemos dizer tudo, pois estamos divididos pela barreira do recalque, ao menos no
166
caso da neurose. Em detrimento dessa divisão, só podemos nos constituir como um falasser, a
partir de uma falta a ser. Isto quer dizer que não existe um significante que dê conta de definir
o sujeito por completo, pois ele só pode ser representando de um significante para outro
significante. O recalque separa o sujeito da verdade que o causa, só podendo retornar nas
falhas do saber.
O ponto em que encontrei vocês hoje, por ser aquele que os deixei no ano passado –
o da divisão do sujeito entre verdade e saber – [...] É aquele que Freud os convida,
sob o apelo Wo Es war, soll Ich werden, que retraduzo, mais uma vez, para acentuálo aqui: lá onde isso estava, lá, como sujeito, devo [eu] advir (LACAN, 19651966/1998b, p. 878).
Considerando especialmente a verdade como causa material da psicanálise e a
verdade como causa formal da ciência, vemos que, dependendo do aparelhamento discursivo,
o sujeito se situa de maneira diferente. Trazendo essa discussão para o campo de nossa
pesquisa, podemos dizer que o sujeito que se identifica com um determinado diagnóstico
médico, como o de bipolaridade, deixa que uma linguagem formal configure sua maneira de
existir no mundo. Sabemos que este enquadramento discursivo agencia uma satisfação
pulsional, um gozo, articulado com este saber que pretende ser totalitário, sem furos.
Mauro Mendes Dias (2005, p. 123), ao falar do problema da identificação na posição
depressiva, salienta: “ser deprimido é um dos nomes do ser na atualidade. Pela depressão o
sujeito se faz um ser, produz um ser de gozo que se chama: ser deprimido”. A psicanálise, em
seu discurso, ao se fundamentar na verdade como material, sabe muito bem que não existe um
significante que possa nomear do sujeito. Em outras palavras, a causa formal, como verdade
na qual a ciência é pautada, nunca vai dar conta de dizer tudo sobre o sujeito com um
diagnóstico médico, porque algo sempre vai escapar, na medida em que não existe
metalinguagem. É exatamente partindo desse pressuposto que a psicanálise opera sobre o
sujeito, considerando sua divisão entre verdade e saber, entre o sujeito do enunciado e da
enunciação. O sujeito nunca encontrará a verdade toda que o causa, posto que ela só pode ser
semi-dita. Para o sujeito, o acesso à sua verdade acontece apenas de modo indireto, através de
um saber falho, da cadeia de significantes onde ele se estrutura: no campo do Outro do
discurso inconsciente.
Vimos com Lacan, no Seminário 11, que o inconsciente não é ontológico, isto é, não
existe uma teoria do ser do sujeito, pois não há um significante que possa representar o
sujeito, na medida em que ele se encontra no intervalo, entre um significante e outro
167
significante. Este é o malogro que o sujeito está fadado: ele está no entre e por isso ex-siste à
linguagem, só aparecendo em suas falhas.
Fingermann (2005, p. 36), quando se refere à verdade da psicanálise como causa,
remete ao processo de constituição do sujeito, apontando que no momento da perda do objeto
proveniente da primeira experiência de satisfação, um significante S1, o traço unário, aparece
para ocupar esse lugar vazio deixado pelo objeto: “o traço que representa a ausência de
satisfação [...] momento lógico da transformação de um rastro de gozo em significante
primeiro, articulado enquanto tal a todos os significantes do Outro”. O traço unário, como
significante primordial, representa o sujeito, porém com a condição que seja para outro
significante, instaurando assim um processo criativo e ao mesmo tempo uma perda, deixando
como rastro um vestígio de gozo apagado, que nunca mais poderá ser obtido novamente, a
não ser parcialmente através dos semblantes do objeto a (o seio, o olhar, a voz e as fezes),
configuradas na versão fantasmática do Outro, estrutura desse sujeito para sempre dividido.
Tudo o que o neurótico quer é não se haver com sua divisão fundamental e irredutível. Por
conta desse malogro a qual o sujeito é lançado, ele tentará através do seu sintoma, fazer existir
uma relação sexual, encontrar um objeto que supostamente o complete.
É justamente sobre este objeto, o objeto a, que procuraremos delinear seu conceito a
seguir, apontando sua necessária presença no processo de constituição do sujeito do
inconsciente.
4.2 O objeto a causa de desejo e o seu estatuto no processo de constituição do sujeito
Novamente, em A ciência e a verdade, Lacan (LACAN, 1965-1966/1998, p. 887)
afirma: O objeto da psicanálise [...] não é outro senão aquilo que já expus sobre a função que
nela desempenha o objeto a”. Ora, não é por acaso que, neste texto, o autor faz menção ao
objeto a. Para ele, é imprescindível falar que a verdade na psicanálise incide na causa
material, na materialidade e na literalidade dos significantes, sem remeter-se à questão do
objeto a, este que revela o que há de mais íntimo do sujeito. Trata-se de um objeto que não se
refere a uma objetividade própria do formalismo lógico, correlato de uma razão pura, como
nos diz Lacan (1962-1963/2005), mas sim de uma “objetalidade”, termo que se opõe à
objetividade suprema do pensamento científico ocidental.
Por certo, se em A ciência e a verdade, o autor chama atenção para o objeto a, não é
senão para salientar a irredutibilidade deste objeto a qualquer tentativa de formalização lógica.
Se o sujeito da psicanálise é estruturado por uma causalidade material do significante, faz-se
168
necessário falar do preço que ele paga por entrar nesta estrutura: uma parte do corpo, uma
libra de carne, a saber, o objeto a. Afinal, não existe sujeito da psicanálise sem a separação e,
ao mesmo tempo, a presença desse objeto, que se apresenta em uma exclusão interna a ele.
Sabemos que o conceito de objeto a como causa de desejo é um conceito
fundamental na teoria e prática psicanalítica, especialmente no que tange ao ensino de Lacan.
Sua elaboração começa a ser esboçada no Seminário 10: a angústia, proferido entre os anos
de 1962 e 1963 e, posteriormente, encontra seu acabamento no já citado Seminário 11: os
quatro conceitos fundamentais da psicanálise, de 1964. Aliás, é neste Seminário que Lacan
institui o objeto a como uma invenção propriamente sua, como sua única contribuição à
psicanálise. Também é nele que aponta importantes contribuições, nas quais desenvolverá
mais adiante. Por este motivo, faremos um breve percurso nesses dois momentos da obra
lacaniana, com vistas a delinear o conceito de objeto a como causa de desejo, tão essencial
para a existência do sujeito da psicanálise. Já no que se refere ao objeto a em sua função maisde-gozar, vamos tratar desta noção no capítulo posterior, no período do ensino de Lacan
chamado por ele como o campo do gozo ou o campo lacaniano. Aqui, vamos dar ênfase à
função causa de desejo deste objeto.
Vimos que o sujeito se constitui em uma estrutura, isto é, no discurso do Outro
(inconsciente), estruturado como linguagem (LACAN, 1964/1998a). Sob outra ótica,
dissemos que esse Outro é faltoso, na medida em que sua estrutura não consegue definir o que
é sujeito: ele só pode ser encontrado nas hiâncias desse discurso. Não há metalinguagem, não
existe a linguagem da linguagem, o discurso do Outro é furado. No entanto, poderíamos
perguntar: o que representa este furo?
Nosso ponto de partida é o Seminário 10, especialmente no que ele tem de inovador:
a noção de objeto a em sua dimensão real, articulada à teoria da angústia. Podemos dizer que
este Seminário demonstrou uma atitude de Lacan em direção a trabalhar novamente à
temática concernente aos afetos, ao aspecto econômico do aparelho psíquico. Para tanto,
através de um retorno a Freud, toma a angústia, como um afeto que não engana, como
referência neste Seminário.
A angústia que, para Freud, foi conceituada como um sinal no Eu frente a um perigo
interno, foi abordada por Lacan como índice de presença do objeto a, razão pela qual vai
afirmar que a angústia não é sem objeto. Para tecer esta articulação, ele dá início ao Seminário
afirmando que a angústia não pode estar desvinculada do desejo. Refere-se à angústia como
signo do desejo do Outro. A famosa pergunta do sujeito, como eu, dirigida ao Outro: “o que
queres?” aparece neste panorama como um protótipo dessa relação, a saber: entre angústia e
169
desejo. Não por acaso, ele recorre à metáfora do Louva-deus gigante que devora o macho
depois da cópula. O sujeito seria, para Lacan, este diante do Louva-deus, a quem, por não
saber se é macho ou fêmea, fica angustiado com a possibilidade de ser devorado. Aludimos a
este assujeitamento ao Outro, suposto tesouro dos significantes, que dita o desejo do sujeito.
“O que queres tu de mim?” indica a pergunta que o sujeito faz ao Outro para saber sobre o seu
desejo. Neste sentido, o desejo do sujeito constitui-se pelo desejo do Outro.
O que Lacan (1962-1963/2005) afirma é que esta pergunta não é sem angústia e que
ela introduz um jogo dialético o qual, por meio do grafo do desejo, poderíamos localizar as
duas faces dessa dialética: uma relacionada com o desejo e a outra com a identificação
imaginária, ou o eixo da demanda. Sabemos que ambos os aspectos estão relacionados com a
constituição do sujeito que, primeiramente, como Eu, aliena-se a partir da imagem falada do
Outro e, depois, como sujeito dividido, quando se separa dos significantes primordiais,
adentrando no campo do Outro como discurso do inconsciente. A angústia é, assim, o índice
que se coloca entre os dois eixos do gráfico, o da demanda e o do desejo. É no que a pergunta
como demanda ao Outro volta para esse sujeito em forma de desejo, nesse ponto de
intersecção, é que podemos localizar a angústia, como signo do desejo, como se evidencia no
grafo, Che voui?:
Che Voui?
Fonte: Lacan, 1960/1998, p. 829
De fato, se a angústia para Freud se realiza como sinal de perigo contra o Eu, o qual
não se pode escapar, porque se trata da pulsão, Lacan nos diz que a angústia configura-se
como uma revelação do desejo do Outro. O perigo, para ele, está ligado a este Outro,
170
engendrado pela rede de significantes que o sustentam. Citamos Lacan (1962-1963/2005, p.
169):
Freud, ao término de sua elaboração fala de uma angústia-sinal que se produz no eu
[moi] e concerne a um perigo interno. É um sinal que representa alguma coisa para
alguém, digamos um perigo interno para o eu [...] Se o eu é o lugar do sinal, não é
para o Eu que o sinal é dado [...] Se isso se acende no nível do eu, é para que o eu
seja avisado de alguma coisa, a saber, de um desejo, isto é, de uma demanda que não
concerne de necessidade alguma [...] ele solicita a minha perda, para que o Outro se
encontre aí. Isso é que é a angústia.
Lacan prossegue ainda dizendo que o desejo do Outro não reconhece o desejo do
sujeito. Além de não reconhecer, questiona sobre este desejo, devolvendo-lhe a pergunta tal
como o diabo de Cazotte, indagando-o sobre o seu próprio desejo como a, “como causa desse
desejo e não como objeto” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 169).
De fato, observamos como a concepção de Lacan acerca do desejo se difere da de
Hegel. Enquanto para Hegel o desejo do homem se configura como desejo de desejo do
Outro, de onde se espera um reconhecimento por parte dele, em Lacan, não há esse
reconhecimento e nem consciência de desejo. Para Lacan, o desejo do sujeito é o desejo do
Outro, mas de um Outro que não sabe e nem reconhece esse desejo. Se o desejo do sujeito
está lá, estruturado no campo do Outro e, como vimos, se esse Outro é furado na medida em
que não responde à demanda do sujeito, podemos afirmar que este se coloca também como
dividido, clivado entre uma parte consciente e outra inconsciente.
Nesse processo de subjetivação, onde o sujeito como Eu, se vê alienado no discurso
do Outro, resta um resíduo: o objeto a. Sobre isso, Lacan é enfático ao falar que o objeto a
configura-se como um resto da operação de entrada na linguagem por meio do respectivo
encontro com o traço: o traço unário. O traço unário marca o encontro com o mundo dos
significantes, especialmente com significante mestre e primordial (S1), sem o qual seria
impossível qualquer articulação significante possível, ou seja, seria impossível falar de um
saber inconsciente, estruturado no campo do discurso do Outro. No Seminário 10, Lacan nos
apresenta um esquema para se referir ao processo de subjetivação ou da divisão do sujeito,
que se coloca da seguinte maneira, na página 192:
171
Esquema da Divisão subjetiva.
Fonte: Lacan, 1962-1963/2005
Nesse esquema, Lacan demonstra que o processo de subjetivação se dá no momento
em que o sujeito se constitui no campo do Outro, a partir da inscrição primária do
significante. O tesouro dos significantes, aí representado pelo A se encontra desde sempre
esperando o sujeito: o simbólico pré-existe ao sujeito, como coloca: “O tesouro dos
significantes em que ele tem de se situar espera desde já o sujeito [...] nesse nível mítico,
ainda não existe. Só existirá a partir do significante que lhe é anterior e que é constitutivo”
(LACAN, 1962-1963/2005, p. 179).
Nesse sentido, o A representa o tesouro dos significantes, o Campo do Outro, onde o
sujeito se constitui como tal. O S é o sujeito mítico, da horda primitiva, que tem acesso ao
suposto gozo pleno, posto que se coloca como não barrado. Na primeira linha do esquema,
podemos dizer que esta faz referência ao gozo mítico: nem o sujeito e nem o Outro são
barrados, todos gozam plenamente.
Na segunda linha, vemos o pequeno a e o
.O
representa o fato de que o próprio
simbólico não consegue tudo recobrir, isto é, não existe uma linguagem que dê conta de outra
linguagem, não há metalinguagem. O campo do Outro é assim dividido e é nele que o sujeito
se constitui como barrado ($). Ao se inserir no campo da linguagem, o sujeito é assim
castrado por conta de uma castração própria da estrutura discursiva. E, o que vem denunciar
esta castração é a presença de um real indizível, figurado pelo objeto a. Opera-se, então, uma
divisão do sujeito no instante em que é atravessado pela linguagem, isto é, pela lei do incesto
ou simplesmente pelo fato de que esta não consegue dar conta do que é o sujeito em sua
totalidade. Entretanto, esta operação não se dá sem angústia e, portanto, podemos ver que ela
não é sem objeto. O objeto a emerge como o que resta desta operação do sujeito efetuada
sobre sujeito mítico.
Quando este sujeito passa a se estruturar no campo do Outro barrado, o objeto a é o
que sobra dessa operação, como nos aponta Lacan: “O a é o que resta de irredutível na
operação total do advento do sujeito no lugar do Outro, e é a partir daí que ele assume sua
172
função” (1962-1963/2005, p. 179). O sujeito dividido ($), por meio de uma operação lógica,
aparece como um efeito dessa alienação em A barrado e, por conseguinte, sua separação do
objeto. A angústia, então, fica localizada entre o gozo e o desejo. Temos, aqui, a angústia
como signo do desejo de, como também, o sujeito do desejo ($) que só pode aparecer neste
campo, como efeito de significação. Fala-se, portanto, da angústia como um afeto de
passagem do gozo em direção ao desejo. No entanto, se falamos em desejo é porque também
falamos em castração, em operação de falta, de subtração. Neste contexto, encontramos o
objeto a como o resto da operação de constituição do sujeito no campo do Outro, mas como
um resto que causa o desejo do sujeito, impossível de se satisfazer completamente. Por esta
razão, o objeto a representa o furo no Outro, naquilo que este campo não pode simbolizar,
senão bordejá-lo.
Com isto, verificamos que é impossível falar de constituição do sujeito sem nos
remetermos ao objeto a. Contudo, faz-se necessário discutirmos em torno das operações de
alienação e separação nesse processo e de que modo podemos articulá-las a este objeto.
Iniciemos falando da articulação existente entre os registros imaginário e simbólico, os quais
Lacan dá tanta ênfase no Seminário 10. Ao fazer menção ao simbólico, ele atenta que não
podemos esquecer o registro imaginário, que se refere à imagem unificada do Eu que se forma
a partir do Outro primordial, geralmente a mãe ou alguém que ocupe este lugar.
No texto publicado nos Escritos O estádio do espelho como formador da função do
eu, Lacan (1949/1998), atenta para o investimento de libido que a imagem recebe no processo
de assunção jubilatória especular da criança, no caminhar de sua constituição como sujeito do
desejo. Sabemos com Freud (1915/2004) que o sujeito se constitui pelo corpo, não sem a
presença do Outro, que serve de apoio para a formação dessa imagem corporal. A constituição
do narcisismo e o seu momento correlato do estádio do espelho, como o tempo de advento a
um corpo unificado, só pode acontecer, no entanto, depois que a criança vivencie o
autoerotismo, experiência onde extrai prazer por meio das zonas erógenas do próprio corpo.
Trata-se no autoerotismo, de um corpo despedaçado, fragmentado, de um momento
“de desordem dos pequenos a” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 132). É no autoerotismo que o
corpo adquire um caráter pulsional, na medida em que certas zonas do corpo passam a servir
como uma área de obtenção de prazer, não somente como instinto de sobrevivência, como
afirma Lacan sobre a pulsão oral:
173
[...] essa boca que se abre no registro da pulsão – não é pelo alimento que ela
satisfaz, é como se diz, pelo prazer da boca. É mesmo por isso que, na experiência
analítica, a pulsão oral se encontra, em último termo, numa situação em que ela não
faz outra coisa senão encomendar o menu. Isto se faz, sem dúvida, com a boca que
está no princípio da satisfação [...] para me referir a termos de uso, prazer da boca
(LACAN, 1964/1998a, p. 59).
A passagem do autoerotismo ao narcisismo diz respeito ao fato de que o corpo, antes
fragmentado pelas pulsões parciais, torna-se um corpo como uma unidade, um Eu corporal
sustentado por uma montagem ou organização pulsional, própria a este sujeito. O papel do
Outro primordial neste processo não acontece sem, todavia, a linguagem. Para Soler (2012a) a
criança constitui sua imagem pelo viés do espelho do Outro, uma vez que este Outro não é um
outro semelhante e sim o lugar dos significantes, portador de linguagem. Esse Outro tem o
papel de instituir um verdadeiro banho de significantes na criança. “Em outras palavras, não é
mais um espelho que se situa ao único nível da imagem visual, é um espelho que inclui os
significados do Outro [...] é um espelho falante” (SOLER, 2012a, p. 31).
Soler (2012a), ao se referir ao lugar do Outro como um espelho falante, quer nos
chamar atenção para o que Lacan (1962-1963/2005) afirma quando nos diz que o imaginário
sozinho, a imagem pela imagem, não dá conta de constituir um sujeito, na medida em que o
imaginário tem que ser significantizado, formatado pelo simbólico, banhado de linguagem,
nas suas palavras: “Recordemos, pois, de que modo a relação especular vem a tomar seu lugar
e a depender do fato de que o sujeito se constituiu no lugar do Outro, e de que sua marca se
constitui na relação com o significante” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 41). Quando a criança
olha para sua mãe e esta lhe diz quem é, localizando o infante com relação ao corpo, dizendolhe onde está seu nariz, sua boca, por exemplo, ela devolve uma imagem recheada de
significantes para esta criança. Para ilustrar isso, Lacan (1962-1963/2005, p. 41) recorre ao
momento do estádio do espelho:
Na simples imagenzinha exemplar da qual partiu a demonstração do estádio do
espelho – o chamado momento jubilatório em que a criança, vindo captar na
experiência inaugural do reconhecimento no espelho, assume-se como totalidade
que funciona como tal sua imagem especular [...] Ou seja, a criança se volta, como
observei, para aquele que a segura e que está atrás dela [...] diremos que, através
desse movimento de virada da cabeça, que se volta para o adulto, como que para
invocar seu assentimento, e depois retorna a imagem, ela parece pedir a quem
carrega, e que representa aqui o grande Outro, que ratifique o valor dessa imagem.
Dito de outro modo, “o verdadeiro espelho é este, que reenvia a palavra do Outro, os
significados do Outro [...] toda questão do espelho é que eu me apareço no Outro” (SOLER,
2012a, p. 31). Bom, se o sujeito da psicanálise se constitui no campo do Outro, é
174
imprescindível demonstrar como se dá esse momento onde, para se alienar nos significantes
da linguagem compartilhada e constituir um corpo como unidade, primeiramente, o infante
precisa se alienar aos significantes maternos.
Quando a criança entra na linguagem, pela via da imagem significantizada, isso
deixa um resto que não pode ser apreendido como imagem neste campo: uma parte da
imagem não especularizável, a qual o simbólico não consegue formatar. No lugar desse resto
não especularizável fica um buraco, demarcando o lugar da falta, desse furo irredutível ao
significante, representado pela falta ou castração imaginária, o menos phi (-φ). O objeto a
entra em cena figurando aquilo que se perdeu desse processo, como um objeto que não
podemos ver e nem simbolizar a não ser como falta, como “aquilo que sobrevive da operação
de divisão do campo do Outro pela presença do sujeito” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 243).
Por outro lado, além de delimitar a presença do -φ no campo da imagem virtual que o
sujeito constituiu no campo do Outro, ele atenta para o aspecto real do objeto a. O
desenvolvimento que faz Lacan no Seminário 10 reside no esforço de apresentar o objeto a
causa de desejo também em sua versão real. Até então, especialmente no Seminário 4: a
relação de objeto e no Seminário 9: a identificação, Lacan tinha abordado a questão do objeto
apenas em seu caráter simbólico. No Seminário 4, Lacan (1956-1957/1995) apontou a
dimensão simbólica do objeto a através das operações de privação, frustração e castração,
pela via do -φ e, no Seminário 9, ele estabeleceu o objeto a como objeto metonímico, aquele
que desliza na cadeia significante do desejo (LACAN, 1961-1962/2011). Já no Seminário 10,
ele avança no sentido de nos mostrar outro avatar do objeto a, pontuando sua versão real e,
portanto, a existência de duas faltas que se superpõem, a saber: a falta simbólica, referente à
castração imaginária no campo do Outro (-φ), e a falta real, representada pelo objeto a do lado
da imagem real, esta que nem a imagem e nem o simbólico como falta conseguem apreender.
Assim, Lacan (1962-1963/2005) lança mão de figuras topológicas para explicar a
existência de um furo real, irredutível ao significante, um furo que remete a um ponto de falta
significante. Primeiramente, remete à figura topológica do toro para dizer que nele existem
círculos que não comportam a obturação do furo, isto é, para falar de uma figuração de um
furo no nível do real, que o simbólico não consegue apreender. Dito de outro modo, existem
círculos no toro que, por mais tentemos reduzi-lo até o ponto zero, fazendo-o desaparecer, não
conseguimos. Igualmente, remete à outra figura topológica, o cross-cap, para apontar uma
dimensão de falta radical que o sujeito, no instante em que entra no mundo da linguagem,
perde para nunca mais encontrar. Referimo-nos a uma parte do seu corpo, a qual, uma vez
perdida, é para todo e sempre. Ora, a “linguagem mata a coisa”, uma parcela disso que se
175
perde não cessará de não se escrever no campo do simbólico: o objeto a. Sobre ele, afirma
Lacan:
[...] ele é justamente o que resiste a qualquer assimilação à função significante, e é
por isso mesmo que simboliza o que, na esfera do significante, sempre se apresenta
como perdido, o que se perde para a “significantização”. Ora, é justamente esse
dejeto, essa queda, o que resiste à “significantização”, que vem se mostrar
constitutivo do fundamento como tal do sujeito desejante (LACAN, 19621963/2005, p. 193).
Sendo assim, o objeto a é o que demarca o sujeito como aquele que deseja, como
aquele causado por algo que perdeu e nunca mais vai encontrá-lo, a não ser parcialmente e
indiretamente pela via dos significantes. Recorrendo ao processo de divisão subjetiva,
dizemos que ao se encontrar na linguagem, o sujeito deixa de ser puro gozo e perde uma parte
do seu ser: torna-se um falasser, um falta-a-ser. Neste sentido, é possível afirmar que o
sujeito do desejo, dividido em sua constituição, emerge por um efeito de perda quando
adentra na linguagem. Para se constituir como um ser falante, o sujeito perde uma parte de seu
gozo, a qual não poderá restituir jamais. Esta parcela de gozo, como um resto, inscreve-se
como causa de desejo do sujeito. Advém daí a presença do objeto a que, como motor do
circuito pulsional e causa de desejo, revela-se como um índice de uma falta estrutural no
campo do Outro. Uma vez subtraído do campo do Outro, o objeto a configura a relação do
sujeito com o desejo. A fantasia e o seu matema (
) representa esta relação, simbolizando
a resposta do sujeito diante do desejo do Outro:
A fantasia é o $ numa certa relação de oposição com a, relação cuja polivalência é
suficientemente definida pelo caráter composto do losango, que é tanto disjunção, ˅,
quanto conjunção, ^, que tanto é o maior quanto o menor. O $ é tanto o término
dessa operação em forma de divisão, já que o a é irredutível, é um resto, e não há
nenhum modo de operar com ele. Nessa maneira de lhe dar uma imagem através das
fórmulas matemáticas, ele só pode representar o lembrete de que, se a divisão fosse
feita, a relação entre o a e o s, só estaria implicada no $ (LACAN, 1962-1963/2005,
p. 193).
Pelo matema da fantasia entende-se que o sujeito se estrutura no campo do Outro
causado pelo objeto a, objeto para sempre perdido, o qual só conseguirá obter satisfação de
modo parcial por meio das variantes imaginárias formatadas pelo simbólico, em sua versão φ, a partir das pulsões parciais: o seio e as fezes, elaboradas por Freud (1905/1996); e o olhar
e a voz, acrescentadas por Lacan no Seminário 10. O seio, as fezes, o olhar e a voz, figuram
os protótipos do objeto a pela via da falta imaginária, disso que foi separado do sujeito, mas
continua fazendo parte dele fantasiosamente, como uma exclusão interna.
176
Cabe lembrar que os protótipos do objeto a dizem respeito a uma dimensão do objeto
que podemos chamar junto com Lacan (1962-1963/2005) de objeto separado, “separtido”,
para usar a expressão do autor. É um objeto que se separa, mas ainda assim demarca
imaginariamente e simbolicamente seu lugar de falta no corpo: uma parte do corpo que foi
separada do sujeito, porém, ao mesmo tempo, se faz presente no circuito da sua satisfação
pulsional. O objeto “separtido” faz referência a um corpo que foi esvaziado de gozo, de
satisfação pulsional plena, quando banhado pela linguagem. Podemos dizer que o objeto
“separtido”, cedido, faz alusão à falta simbólica, diferentemente do objeto caído, da cessão do
objeto, que concerne à falta real e remete aquela parte do corpo que não entra no estatuto da
imagem virtual e sim refere-se ao real, posto que não possui qualquer imagem. Com relação
ao objeto caído, Lacan pontua que ele ocupa um lugar sutil, “o lugar central da função pura do
desejo [...], o objeto dos objetos” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 236).
De acordo com Soler (2012b, p. 147-148), o objeto caído não pode ser tomado no
plural, tal como os protótipos do objeto a pela via do -φ, como pontua: “o objeto a caído é
singular, não tem imagem, nem nome, nem significante”. Já o objeto cedido, “separtido”
manifesta-se no nível dos fenômenos, “as guisas do objeto a sob os objetos ditos parciais:
oral, anal, escópico e vocal” (SOLER, 2012b, p. 147). Remetendo-se novamente ao esquema
da divisão do sujeito, o objeto a que lá aparece é esse objeto caído, cortado pela operação da
linguagem. É este corte, esta subtração, que funda tanto o $ quanto o
.
É este corte que limita a satisfação pulsional do sujeito como falante, falasser e
assim, como um sujeito que deseja e sempre estará desejando algo, mesmo que não saiba
muito bem o que é. Se o desejo é errante, é porque existe algo que impossibilita a realização
total desse desejo, algo que sinaliza uma impossibilidade de relação sexual: não existe um
objeto que complete o sujeito. Vimos, pelo matema da fantasia, como essa impossibilidade se
colaca. Por outro lado, se tal impossibilidade se impõe não é por outra razão senão pelo fato
de que o sujeito pulsional só pode contornar o objeto caído, aspecto que posiciona a pulsão
como impossível de se livrar, de se erradicar.
Nesta perspectiva, Lacan (1964/1998a) reafirma a partir de Freud o aspecto
irreprimível da pulsão, destacando o elemento referente à pressão da pulsão como algo
constante que, enquanto o sujeito viver, nunca estará livre. Dito de outra maneira, o sujeito
nunca escapará à pulsão, pois além dela se impor como um impulso constante, ela nunca vai
se satisfazer completamente. Ora, se a pulsão não encontra uma satisfação total é porque ela é
diferente do instinto, embora o tome como apoio. Por este motivo, a pulsão nada tem de
177
natural, posto que está articulada a uma realidade sexual, própria à fantasia do sujeito. No que
tange à presença constante do impulso da pulsão, Lacan (1964/1998a, p. 157) afirma:
A constância do impulso proíbe qualquer assimilação da pulsão a uma função
biológica, a qual tem sempre um ritmo. A primeira coisa que diz Freud da pulsão é,
se posso me exprimir assim, que ela não tem dia nem noite, não tem primavera nem
outono, que ela não tem subida nem descida. É uma força constante.
Quando falamos em pulsão, somos obrigados a deixar de lado “o relógio biológico”,
pois ela não tem hora: é uma força constante e não está atrelada a satisfação de uma
necessidade. Freud (1915/2004) nos diz que essa força ou impulso constante advém do
próprio corpo, de sua fonte (Quelle), daí seu aspecto inevitável. Não é possível fugir da
pulsão: “A pulsão [...] nunca age como uma força momentânea de impacto, mas sempre como
uma força constante. Como não provém do exterior, mas agride a partir do interior do corpo, a
fuga não é de serventia alguma” (FREUD, 1915/2004, p. 146, grifo do autor). Mas, além da
pressão constante e da fonte, de origem somática, há ainda outros dois termos que compõem o
estatuto da pulsão: o Objetivo (Objekt) e o Alvo ou Meta (Ziel). São, então, esses quatros
elementos que caracterizam a pulsão, seguindo Freud por Lacan. Passemos agora a estes dois
termos.
No que diz respeito ao objetivo da pulsão, dizemos que é sempre a satisfação. O
impulso constante exige que a pulsão se satisfaça, utilizando, portanto, de um objeto, sua
meta. A pulsão mira uma satisfação, quer se satisfazer, eliminar sua tensão e, para isso, lança
mão de qualquer objeto, a considerar que não tem um objeto específico. Sobre o alvo ou
objeto da pulsão, relembremos com Freud (1915/2004, p. 149): “ele é elemento mais
variável”, podendo ser qualquer coisa, até mesmo uma parte do corpo. Dito isto, afirmamos
com Lacan (1964/1998a) que a pulsão atinge seu alvo, ela se satisfaz, mas nunca
completamente, na medida em que existe nesse processo de tentativa de apreensão do objeto
algo que é da ordem do inapreensível. Já falamos que deste objeto. É o objeto a. A pulsão,
portanto, no trajeto que tende a encontrar o objeto de sua satisfação, depara-se em seu
caminho com as “muralhas do impossível” (LACAN, 1964/1998a, p. 158). Ela apenas
contorna este objeto, “o objeto dos objetos”, aquele que toca ao aspecto real do objeto a, o
objeto caído. Assim, nenhum objeto satisfaz plenamente a pulsão:
178
A pulsão apreendendo seu objeto, aprende de algum modo que não é justamente por
aí que ela se satisfaz. Pois se se distingue, no começo da dialética da pulsão [...] a
necessidade e a exigência pulsional – justamente porque nenhum objeto, nenhum
Not, necessidade, pode satisfazer a pulsão. Mesmo que vocês ingurgitem a bocaessa boca que se abre no registro da pulsão – não é pelo alimento que ela se satisfaz,
é como se diz, pelo prazer da boca (LACAN, 1964/1998a, p. 159).
Assim, podemos avançar no ensino de Lacan para entender como este objeto caído,
lugar central na função desejo, funda o circuito pulsional, sendo o próprio motor deste. Para
falar do circuito pulsional, Lacan (1964/1998a), no Seminário 11, representa-o da seguinte
maneira na página 169:
O Trajeto da Pulsão
Fonte: Lacan, 1964/1998a
Neste circuito, observamos o objeto a no centro, onde a pulsão somente o contorna,
só atingindo o seu alvo, a satisfação, parcialmente, por meio das pulsões parciais, mediado
pela fantasia. Desta forma, sujeito estruturado no campo do Outro, lança mão da fantasia,
como uma modalidade particular de lidar com essa impossibilidade de encontrar “o objeto”,
no momento em que o perde ao adentrar na linguagem. Do mesmo modo, vimos que é pela
via da demanda dirigida ao Outro, lugar dos significantes, que o desejo se constitui enquanto
tal, separando-se da necessidade. Neste contexto, o sujeito deixa de ser movido apenas pela
necessidade instintual, mas também pelo desejo, como um sujeito pulsional, aquele que
depende da linguagem para se constituir.
Adentrando novamente no campo da constituição do sujeito, podemos seguir neste
território, apresentando as duas operações constitutivas propostas por Lacan no Seminário 11:
a alienação e separação. Pensamos que tais operações representam outro momento onde
Lacan aborda a divisão subjetiva, presente no Seminário anterior.
Segundo Lacan, alienação é destino: não tem saída, entrou neste mundo, o sujeito
perde uma parte de seu ser. É a bolsa ou a vida, nos afirma Lacan (1964/1998a, p. 201): “Se
179
escolho a bolsa, perco as duas. Se escolho a vida, tenho a vida sem a bolsa, isto é, uma vida
decepada”. Para entrar nessa vida e advir como um sujeito de linguagem, o ser mítico do gozo
deixa para trás algo que nunca vai recuperar. Ele perde a bolsa, uma parcela de gozo, para
poder entrar na vida e se constituir como um sujeito falante, um falasser.
Fonte: Lacan, 1964/1998a
Na operação de alienação, vemos que existe aí uma escolha forçada. Quando o
sujeito opta pela vida, não fica com a parte toda dela, fica com uma vida apartada. Entrar na
linguagem, requer, logo de saída, perder um fragmento de gozo do corpo, subtraindo-se uma
parte desse gozo. Tal é o preço para entrar na linguagem. Na figura acima, observamos
claramente como isso acontece. Escolhemos a vida, e deixamos a bolsa. Neste panorama,
podemos entender a bolsa como a parte decepada do ser que fica para trás no caminho de se
tornar um sujeito de linguagem. Esta parte do ser, segundo Harari (1990, p. 234), diz respeito
ao objeto a: “De todas as maneiras, o objeto a sempre refere a um certo elemento mutilado
que fica perdido no caminho da constituição do sujeito. Convoca mediante essa mesma
automutilação, inevitavelmente, a ordem da falta, do buraco central expresso na castração”.
Trata-se, neste momento, da imersão do sujeito no campo da linguagem e de sua alienação aos
significantes maternos. Neste processo, uma parcela de gozo é subtraída, restando o pequeno
a como resto que cai desta operação.
Dissemos anteriormente que o sujeito, para se constituir, precisa primeiramente
alienar-se nos significantes maternos, à língua materna. Isto porque é a mãe ou alguém que
ocupa este lugar, do Outro primordial, quem recebe o bebê no mundo, introduzindo-o no
mundo da linguagem. Podemos entender este momento como próprio à operação de
alienação. Também mencionamos que o simbólico pré-existe ao sujeito, dizendo que antes
mesmo do seu nascimento, este já integra o discurso dos pais. Por esta razão, a alienação é
180
uma operação correlativa com o ingresso do infante na linguagem, com uma linguagem que o
antecede, estando posta antes de seu nascimento.
É pela via do discurso materno que o bebê deixa de ser um simples pedaço de carne
para se tornar um Eu pulsional. É através do Outro primordial que o bebê se alimenta não só
de leite, como também de palavras. É essa a ideia que Lacan (1956-57/1994) nos apresenta no
Seminário 4 para se referir à função e ao lugar desempenhado pelo Outro primordial em
relação à criança. É à mãe que a criança dirige seu grito, seu choro, o qual tomado como um
significante, deixa de representar um pedido de satisfação de necessidade, para se tornar uma
demanda direcionada a ela que, como Outro, responde, mas não completamente.
Sendo assim, faz-se mister ressaltar que é pelo encontro com os significantes
primordiais que o bebê constitui-se como uma unidade corporal, como um Eu-corpo. É o
Outro materno quem diz o que o bebê está sentindo ao gritar ou chorar, se sente fome, sede,
sono ou calor. Trata-se de um grito que vem sinalizar um apelo de que sua satisfação seja
atendida. Em outras palavras, é um grito que ganha forma de significante no momento em que
representa que alguma coisa falta. Nesta perspectiva, a alienação é destino, na medida em que
é impossível evitá-la desde que ingressamos no mundo da linguagem, ou melhor, desde que
nascemos. A alienação nos constitui humanos e, por isso, não temos outra saída a não ser
ingressar no mundo se havendo com a linguagem.
No que tange à separação, esta é escolha. Isto significa que o sujeito pode escolher
ou não se separar dos significantes maternos. Sabemos que na psicose, o sujeito fica preso
neste momento, fixado na imagem falada da mãe. Contudo, nos casos de neurose ou
perversão, a separação dos significantes primordiais foi de fato uma escolha para o sujeito. Ao
se separar deles, o sujeito permite se situar em um discurso compartilhado. Se o sujeito fica na
alienação, não existe a extração do objeto a, ao contrário, ele agarra-se a este objeto, coloca-o
no bolso. Na psicose, apesar do sujeito estar imerso na linguagem, ele não se separa do objeto
como acontece na neurose e na perversão ou, como nos diz Éric Laurent (1997, p. 43): “A
alienação encobre o fato de que o objeto de gozo como tal está perdido”. Para ele, as duas
operações, de alienação e separação, podem ser lidas como operações lógicas, em certo
sentido, verticalmente:
181
Primeiro a alienação – o fato de que o sujeito é produzido dentro da linguagem que o
aguarda e é inscrito no lugar do Outro. O sujeito se encontra dividido, despedaçado
entre as pulsões parciais, parciais na medida em que sempre há perda [...] O sujeito é
fundamentalmente um objeto de gozo do Outro, e seu primeiro status como enfant é
ser uma parte perdida desse Outro, o Outro real (geralmente a mãe). Ele começa a
viver no lugar do objeto a, e em seguida tem de se identificar com aquela parte
perdida e ingressar na cadeia de significantes (LAURENT, 1997, p. 43-44).
Na alienação, no lugar da interseção, opera-se o S1 como significante mestre e
primordial vindo do campo do Outro materno. O sujeito, ao escolher forçosamente a vida
porque nasceu e entrou na linguagem apaga-se diante do S1, estando a um passo de se alienar
na rede de significantes e deslizar no sentido. Este apagamento, Lacan aborda pela via da
afânise, termo introduzido por Ernest Jones para falar de uma desaparição do desejo. Porém,
ele traz a baila outro sentido para o termo, atentando para o fato de que “não se trata de um
desvanecimento de desejo, mas sim de desaparecimento da condição de sujeito, em virtude e
em função daquilo que o constitui como tal” (HARARI, 1990, p. 239).
Isto significa dizer que a afânise para Lacan representa o momento em que o sujeito
desaparece em função de seu apagamento pelo significante, S1, que, como um traço, substitui
o rastro ou o resto de gozo deixado pela inserção do sujeito na linguagem. Desta forma, a
entrada no universo do discurso introduz no sujeito a condição de ser eclipsado pelo
significante que o marca, como aponta Lacan ao abordar a alienação: “[...] nesse primeiro
acasalamento significante que nos permite conceber que o sujeito aparece primeiro no Outro,
no que o primeiro significante, o significante unário, surge no campo do Outro” (LACAN,
1964/1998a, p. 207). Sobre a operação de alienação, Lacan lança a seguinte representação, na
página 200 do Seminário 11:
Alienação
Fonte: Lacan, 1964/1998a.
Ele nos explica que o que se coloca em jogo na alienação é que se escolhermos ficar
com um dos dois lados, qualquer que seja a escolha que se opere, existe por consequência não
182
ficarmos nem com um lado, e nem com o outro lado. Se escolhermos o ser, este desaparece e
cai no não senso. Mas, se escolhermos o sentido localizado no campo do Outro, ele “só
subsiste decepado dessa parte de não senso que é, propriamente falando, o que constitui na
realização do sujeito, o inconsciente” (LACAN, 1964/1998a, p. 200). Uma vez não tendo
escolha, pois já nascemos imersos no campo do Outro materno, deixa-se para trás o ser mítico
de gozo e, no lugar da interseção, ocupada pelo não-senso, surge o S1 como significante
mestre do traço unário. Tal significante passa a representar um rastro do gozo que se apagou.
Isto, podemos observar no esquema desenvolvido por Jacques-Alain Miller, usado por
Laurent (1997, p. 43):
Alienação e Separação
Fonte: Laurent, 1997, p. 37
No primeiro esquema, vemos a alienação e, no segundo, identificamos a separação,
junto com o autor. No instante em que o sujeito é castrado, isto é, quando percebe que o Outro
é faltoso e não é o tesouro dos significantes, ele se liberta da alienação materna, separa-se do
objeto a, e então se constitui como um sujeito do desejo, estruturado no Campo do Outro do
discurso compartilhado. Emerge assim um sujeito afanisado, desaparecido na cadeia, ou,
melhor dizendo, o sujeito como efeito de significação da cadeia de significantes (S1---S2),
causado pelo objeto a.
Depois desse breve percurso sobre as operações de alienação e separação, podemos
agora abordar as especificidades que englobam cada tipo clínico, a partir de Lacan em sua
releitura à Freud: a neurose, a psicose e a perversão. Cada um desses tipos clínicos, veremos,
obedecem a um diagnóstico estrutural, pois como acabamos de elucidar, o sujeito da
psicanálise se funda em uma estrutura de linguagem no campo do Outro discurso, do discurso
183
inconsciente. Além disso, veremos a importância do significante Nome-do-Pai e do complexo
de Édipo no caminho de estruturação do sujeito, a partir de Lacan.
4.3 O complexo de Édipo como estruturante para o sujeito e o diagnóstico diferencial em
psicanálise: neurose, psicose e perversão
Embora Freud não tenha utilizado com frequência o termo estrutura, nunca tendo
falado em estruturas clínicas, segundo Sadala e Martinho (2011), a noção de estrutura estava
implícita em sua obra desde os seus primórdios, especialmente no que refere à importância do
diagnóstico diferencial para o tratamento psicanalítico. As autoras chamam atenção que no
texto A Psicoterapia da Histeria, Freud (1893-1895/1996) afirma que o material psíquico da
histeria manifesta-se tal como uma estrutura em várias dimensões. Da mesma forma, no artigo
em que fala sobre “O homem dos Ratos”, Freud (1909/1996b) também usa o termo estrutura,
desta vez para falar da complexa estrutura de um caso de neurose obsessiva. Prosseguindo, as
autoras afirmam:
De fato, Freud não utiliza com frequência o termo estrutura em sua obra; contudo, o
discurso freudiano apresenta conceitos que podem ser inseridos na categoria de
estrutura [...] Até mesmo Lacan só passou a utilizar este termo quando oficializa o
seu ensino em 1953, influenciado pela tríade estruturalista — Saussure, Jakobson e
Lévi-Strauss. Entretanto, antes do seu ensino oficial, em uma publicação de 1938,
intitulada Complexos familiares, Lacan já havia mostrado que falar de complexo é
falar de estrutura: “a família não é dominada por comportamentos biológicos, mas
estruturada por complexos simbólicos” (1938/2002, p. 19). Faz o significante
complexo operar, tal como Freud o fizera no complexo de Édipo, como um
antecedente do conceito de estrutura. Existe, de fato, certa equivalência entre a
definição de complexo e de estrutura. Sendo assim, as três formas de negação da
castração explicitadas por Freud — Verdrängung, Verwerfung, Verleugnung —
passam a ter um valor estrutural (SADALA; MARTINHO, 2011, p. 245, grifo das
autoras).
A Verdrängung (o recalque), a Verwerfung (recusa ou foraclusão) e a Verleugnung
(desmentido ou denegação) representam a forma que o sujeito se estruturou no campo da
linguagem, bem como a maneira que ele se defende do impossível da relação sexual, ou seja,
do fato de que nunca encontrará um objeto de sua plena satisfação, que se encaixe e
complemente o furo deixado por ter adentrado na linguagem. Falamos, no item anterior, de
um momento primeiro referente à constituição do sujeito, momento este que diz respeito à
formação do Eu, ao estágio do narcisismo ou estádio do espelho. Neste instante, o bebê é
então banhado de significantes na medida em que adentra na cultura, ou como vimos, antes
mesmo de nascer. Já falamos que para Lacan o simbólico pré-existe ao sujeito, pois a
184
linguagem, como estrutura, pré-existe à entrada deste sujeito num dado momento de seu
desenvolvimento psíquico. Desta forma, o bebê é falado antes mesmo de nascer e, depois, se
constitui apoiado nos significantes maternos, que dão respaldo para que este bebê adquira um
Eu-corporal e unificado.
No entanto, mencionamos também a operação de separação do sujeito, a qual
acontece em um momento retroativo, aprés-coup à alienação. É pela operação de separação
que o infante se separa do objeto a e dos significantes maternos para se estruturar no campo
da Outro da linguagem compartilhada. Acontece que para que seja possível haver a separação,
faz-se necessária a introdução de um significante que opere de modo a realizar a castração do
sujeito: o significante do Nome-do-pai, como apontou Lacan (1953/1998, p. 279-280), em
Função e Campo da fala e linguagem:
É no Nome do Pai que se deve reconhecer o suporte da função simbólica que, desde
o limiar, dos tempos históricos, identifica sua pessoa com a imagem da lei. Essa
concepção nos permite estabelecer uma distinção clara, na análise de um caso, entre
os efeitos inconscientes dessa função e as relações narcísicas, ou entre eles e as
relações reais que o sujeito mantém com a imagem e a ação da pessoa que a encarna.
Em um primeiro momento, vimos que a criança é colocada no lugar de objeto de
desejo da mãe, a qual recebe afeto e cuidados que se referem à satisfação de suas
necessidades. Quando ocupa o lugar de objeto do desejo materno, é na posição de falo da mãe
que a criança está. Assim sendo, o desejo da criança é o desejo da mãe. Nessa fase, ocorre o
assujeitamento da criança ao seu primeiro Outro (a mãe) ou alguém que esteja nesse lugar. Ao
estar na posição de SER o falo da mãe, a criança busca satisfazer-se no desejo da mãe, como
um suposto complemento do que falta a ela.
É na passagem do SER o falo materno para TER o falo que a criança se confronta o
significante da metáfora paterna, significante da lei e da castração. Por esta razão, o estádio do
espelho, apesar de proporcionar uma unidade corporal, somente, não é capaz de fazer com que
a criança se aproprie do seu corpo como uma unidade separada da mãe. Faz-se necessário a
presença de um simbólico que, decerto, promove tal separação. Como nos afirma Cabas, é
necessário que a criança simbolize a legalidade que rege a relação existente o objeto, a
imagem, o espelho e o sujeito (CABAS, 1988).
A metáfora paterna e o significante do Nome-do-Pai é o elemento que permite essa
legalização, por meio do registro simbólico, que se realiza a partir do complexo do Édipo,
complexo este que para Lacan (1957-1958/1995) é o aspecto central que nos permite abordar
as questões de estrutura. O que entra no jogo no complexo de Édipo é a introdução ou não da
185
metáfora paterna que, para o autor, concerne à função do pai, centro de tal complexo.
Segundo Lacan, o complexo de Édipo acontece em três tempos.
O primeiro momento é marcado pela já falada indiferenciação entre a criança e a
mãe, a qual, como Outro primordial, é a responsável não só por suprir as necessidades dessa
criança, mas também pelo primeiro encontro com o mundo da linguagem. Como dissemos, a
criança busca, segundo Lacan (1957-1958/1995), fazer-se objeto de desejo: to be ou not to be
o objeto da mãe. Em contrapartida, é a própria mãe que sinaliza para a criança que para além
dela, existem outros objetos que deseja, deixando entrever que ela não é seu único objeto de
desejo, justamente porque detrás dela perfila toda uma ordem simbólica da qual depende. Tal
ordem simbólica é aqui representada pelo falo. Nesse momento, podemos dizer que a
problemática fálica caracteriza-se pela dialética do SER ou não SER o objeto de desejo, pois o
pai ainda não está presente no registro simbólico da lei. Contudo, mesmo sem a presença do
pai, vemos que o simples fato da criança notar que não é único objeto de desejo da mãe, já
põe em evidência a existência do falo como algo que falta à criança, que procurará se
identificar com esses outros objetos na esperança SER o falo.
Já o segundo tempo do Édipo é marcado pela introdução da metáfora paterna, que
aparece para interditar a relação mãe-criança, sob a forma de privação: a criança se sente
privada do seu objeto real de satisfação, a mãe. O pai, como um terceiro que surge como
interdito da relação mãe-criança, representa aquilo que a mãe deseja para além da criança,
posto que à ele a mãe passa a dirigir sua atenção. Por isso, a criança se pergunta: “O que quer
essa mulher aí? Eu bem que gostaria que fosse a mim que ela quer. Há outra coisa que mexe
com ela – é o x, o significado [...] o significado das idas e vindas da mãe é o falo” (LACAN,
1957-1958/1995, p. 181). A entrada do pai no meio dessa relação é vivida pela criança como
frustração. Nesse panorama, devido ao aparecimento do pai ou alguém que ocupe esta
posição, a mãe também é privada de se satisfazer completamente através da criança como
objeto de seu desejo.
No plano imaginário, o pai intervém efetivamente como privador da mãe. O que
significa que a demanda endereçada ao Outro, caso seja transmitida como convém,
será encaminhada a um tribunal superior, se assim posso me expressar. Com efeito,
aquilo sobre o qual o sujeito interroga o Outro, na medida em que ele o percorre por
inteiro, sempre encontra dentro dele, sob certos aspectos, o Outro do Outro, ou seja,
sua própria lei. É nesse nível que se produz o que faz com que aquilo que retorna à
criança seja, pura e simplesmente, a lei do pai, tal como imaginariamente concebida
pelo sujeito como privadora da mãe. Esse é o estágio, digamos nodal e negativo,
pelo qual aquilo que desvincula o sujeito liga-o, ao mesmo tempo, ao primeiro
aparecimento da lei, sob a forma desse fato de que a mãe é dependente de um objeto,
que já não é simplesmente o objeto de seu desejo, mas um objeto que o outro tem ou
não tem (LACAN, 1957-1958/1995, p. 198-199).
186
O pai ocupa aí esse lugar de interdição entre a satisfação da mãe e da criança. A
introdução do pai permite, por assim dizer, que a criança o tome como um rival, no momento
em que ele se apresenta também como um objeto de desejo da mãe, como aquele que,
imaginariamente, seria o falo.
O deslizamento da posição de falo da criança para a instância paterna acontece,
então, por meio do aparecimento da lei do pai, fundada no princípio de que a própria mãe
depende dessa lei. Neste sentido, para que a mãe possa responder a demanda da criança, fazse necessário que antes, ela passe pela lei do pai. Nessa direção, entende-se que o desejo da
criança se constitui pelo desejo do Outro, porém não mais o Outro mãe, mas o Outro pai. Esse
deslizamento e substituição do significante materno pelo paterno, para Lacan (19571958/1995, p. 180), é o que dá nome à metáfora paterna, como afirma:
Uma metáfora, que vem a ser isso? [...] Uma metáfora, como já lhes expliquei é um
significante que surge no lugar de outro significante. Digo que isso é o pai no
complexo de Édipo, ainda que isso venha a aturdir os ouvidos de alguns. Digo
exatamente: o pai é um significante que substitui um outro significante. Nisso está o
pilar essencial, o pilar essencial, o pilar único de intervenção do pai no complexo de
Édipo. E, não sendo nesse nível que vocês procuram as carências paternas, não irá
encontrá-las em nenhum outro lugar. A função do pai no complexo de Édipo é ser
um significante introduzido na simbolização, o significante paterno. Segundo a
fórmula que um dia lhes expliquei ser a da metáfora, o pai vem no lugar da mãe, S
em lugar de S’, sendo S’ a mãe como ligada a alguma coisa que era o X, ou seja, o
significado na relação com a mãe.
Verifica-se com Lacan (1955-1956/1998) a fórmula da metáfora paterna, tal como
propõe no escrito Uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose e retomada
no Seminário 5: as formações do inconsciente:
Fórmula metáfora paterna
Fonte: Lacan, 1955-1956/1998, p. 563
É através da metáfora paterna e seu mecanismo fundamental, o recalque originário,
que a criança pode realizar essa substituição significante, colocando outro significante no
lugar do significante originário do desejo da mãe. Quando isso ocorre, o significante materno
é recalcado para outro significante tomar o lugar dele, efetivando a operação segundo a qual a
criança renuncia seu primeiro objeto de satisfação, a mãe. O significante Nome-do-pai, ao
187
instituir a lei “Não poderás ser o objeto de desejo da tua mãe”, proporciona que a criança saia
da alienação do Outro primordial para adentrar no campo de uma linguagem compartilhada,
estruturando-se no Outro regulado pela lei do pai, no entanto, uma lei recalcada e
inconsciente.
O terceiro tempo do Édipo, nos diz Lacan (1957-1958/1995, p. 200), é tão importante
como o segundo, pois nesta etapa o pai não é só aquele que priva a relação entre a mãe e a
criança, mas aquele que tem o falo e pode dar à mãe o que ela deseja: “Aqui intervém,
portanto, a existência da potência no sentido genial da palavra – digamos que o pai é um pai
potente”, simplesmente porque se revela como aquele que tem o falo. A saída do complexo de
Édipo se dá nesse tempo, onde a criança se identifica com essa posição de ter o falo ou, em
outras palavras, a criança se identifica ao Ideal do eu, como pontua o autor: “É por intervir
como aquele que tem o falo que o pai é internalizado no sujeito como Ideal do eu, e que, a
partir daí, não nos esqueçamos, o complexo de Édipo declina” (LACAN, 1957-1958/1995, p.
200).
Vimos, portanto, que a introdução do significante Nome-do-Pai é o que possibilita
conceber duas dimensões do Outro, como nos aponta Quinet (2011): o Outro como lugar do
significante, do código, e o Outro como lugar da lei. Também vimos que é no segundo tempo
do complexo de Édipo que ocorre o complexo de castração, tão fundamental para o declínio
deste complexo, no terceiro tempo. Ao passar pelo complexo de castração e sair do complexo
de Édipo, opera-se então um lugar onde o sujeito vai se estruturar, ou seja, o Outro, que é
formado pela cadeia de significantes. O sujeito e o sintoma são, assim, efeitos de um discurso
do Outro inconsciente, de uma combinatória de significantes que ex-siste à linguagem.
De acordo com Figueiredo e Machado (2000, p. 71-72), a formalização lacaniana “do
Outro como o lugar do inconsciente freudiano, evoca a Outra-cena como este lugar alhures
onde ‘o isso pensa’”. Se existe “um isso pensa”, um pensamento inconsciente recalcado pela
instituição da metáfora paterna, e se o sujeito depende do que se desenrola no Outro, só
poderemos entrever os sintomas, chistes, os atos falhos, isto é, as formações do inconsciente,
nesse nível, no do Outro. Somente nesse nível é que poderemos localizar a estrutura que
sujeito se constituiu, a considerar o modo como se defendeu e lidou com o complexo de
castração: o recalque, no caso da neurose, o desmentido na perversão e a recusa ou a
foraclusão do Nome-do-pai na psicose. É partir da verificação da presença ou ausência do
significante Nome-do-pai é que podemos fazer um diagnóstico diferencial e estrutural na
clínica psicanalítica, analisando o lugar que o sujeito se posiciona no nível do Outro. Afinal,
apesar de Lacan nos ter atentado para o falo como operador simbólico e a importância da
188
metáfora paterna, isso não é suficiente para que o sujeito venha se estruturar no nível do
Outro, é essencial que ele se posicione em determinado lugar em relação ao desejo do Outro,
lugar este que influenciará no estabelecimento dos seus laços sociais, nas relações com os
outros.
Com efeito, questionar o desejo do sujeito passa pelo campo do Outro, que é então o
lugar onde ele se estrutura, lugar da fala, como aquele a quem se dirige a demanda. Ora, se o
desejo do sujeito é o desejo do Outro, este desejo acaba adquirindo um aspecto estranho e
familiar a este sujeito. Daí o advém o fato do desejo ser errante, porque, na verdade, ele se
revela entre um significante e outro significante, sendo este motivo pelo qual o sujeito
tropeça, não sabendo dizer ao certo qual o seu desejo. É analisando o modo como ele lida com
o desejo e a falta no campo do Outro, que podemos decantar a estrutura do sujeito.
Comecemos pela psicose.
Na psicose, ocorre, como ressalta Soler (1996, p. 26), “um déficit do simbólico”.
Ocorre na psicose a foraclusão do significante Nome-do-pai: o fracasso da metáfora paterna
em significar o desejo da Mãe. Por conta disso, podemos observar no psicótico, fenômenos
(delírios e alucinações) que apontam rupturas na cadeia significante. Assim, “na psicose, o
Nome-do-pai como função simbólica [...] é precisamente, verworfen” (LACAN, 19571958/1995, p. 211). Por esta razão, “não existe aquilo mediante o qual o pai intervém como
lei” (LACAN, 1957-1958/1995, p. 211). Desta maneira, o segundo tempo, no sujeito
psicótico, não acontece como na neurose, onde a metáfora paterna operou. Onde era esperado
outro significante que pudesse substituir o significante materno e barrar a mãe, não veio nada.
Isso, por conseguinte, impossibilitou que o sujeito pudesse metaforizar o seu desejo que, até
então, era o desejo da mãe. É possível dizer que o psicótico ficou nesse momento da operação
lógica de constituição, alienado ao desejo materno.
A criança não pôde metaforizar o desejo da mãe e, no lugar de uma pergunta
neurótica sobre o que o Outro quer, o que veio foi uma certeza psicótica, isto é,
surgiu algo no real que foi tomado como uma resposta para uma pergunta que sequer
foi formulada. A consequência maior da foraclusão do Nome-do-Pai é a nãosubmissão à castração simbólica, acarretando a impossibilidade da função fálica.
Como efeito da não-operação da função fálica temos a dificuldade do sujeito
psicótico se situar em relação à partilha dos sexos, já que nesta partilha está em jogo
o significante da diferença (FIGUEIREDO; MACHADO, 2000, p. 73).
No que se refere à perversão, é no texto O fetichismo, de 1927, que Freud
(1927/2007), ao falar do complexo de castração, refere-se ao termo Verleugnung para discutir
acerca do mecanismo de defesa da perversão contra a castração, mecanismo este que designa
189
uma dupla posição de modo concomitante: reconhecimento da castração materna e negação
desse reconhecimento. Para dizer de outra forma, o perverso é aquele que desmente a
castração, colocando um objeto fetiche em seu lugar. O fetiche emerge como um modo de
negar a castração, na tentativa de não se haver com o fato da mãe não ter o falo. Para o
perverso, é como se todas as mulheres tivessem o falo e o fetiche, nesse contexto, serve para
esconder a falta fálica da mãe e, portanto, o furo do Outro.
No perverso, a metáfora paterna operou, mas o que ele tenta é renegá-la a todo
instante para não se haver com a castração. Lacan (1956-1957/1995, p. 85) aponta que é pela
via do fetiche que o perverso encontra seu exclusivo modo de satisfação, como algo que lhe
traz tranquilidade: “No que diz respeito à realização da falta como tal, a solução fetichista é,
incontestavelmente, uma das mais concebíveis, e vamos encontrá-la efetivamente realizada”.
O sujeito perverso tenta, de alguma maneira, suplantar a marca da castração do Outro. Assim,
o fetiche toma um valor de satisfação sexual, como uma função simbólica, como condição
absoluta de desejo. Para Freud, o fetiche pode ser decifrado tal como um sintoma, mesmo que
ele esteja a serviço de uma denegação da castração materna. Como um substituto do falo que
a criança acreditou existir, o fetiche representa um escudo para aquilo que a criança não quis
se deparar: o furo materno, já que isso poderia levar a perda do seu órgão, narcisicamente
investido.
Na neurose, já dissemos que a metáfora paterna operou, sendo que o sujeito pode se
haver com castração a partir de alguns caminhos, considerando o recalque: pela via do desejo
insatisfeito no caso da neurose histérica, através do desejo impossível no caso da neurose
obsessiva, ou mesmo elegendo um objeto fóbico para lidar com a angústia, quando falamos da
fobia.
No que tange à neurose histérica, o desejo para ela se coloca como um enigma, na
medida em que não se trata de desejo de um objeto, mas sim de um desejo de desejo.
Sabemos, especialmente se considerarmos o caso Dora, que o desejo da histérica se faz por
procuração, como nos coloca Lacan (1956-1957/1995), pois o sujeito convoca a todo instante
o desejo do outro para saber qual é o seu. A relação de cumplicidade que Dora tinha com o
pai em relação à Sra. K. era, de fato, sustentada pelo desejo do Sr. K., a quem pensava desejar
a Sra. K. Isso fica evidente no momento em que o Sr. K. diz a ela que não nutria nenhum
interesse pela então dama que seu pai cortejava. Decerto, se o desejo da histérica se faz por
procuração e se o Sr. K. era o seu procurador, este deixa de ser no momento em que percebe
que a mulher eleita por ela (a Sra. K.) como modelo de feminilidade não era desejada por
aquele homem, que até então estava sustentando o seu desejo.
190
O desejo da histérica também é um desejo insatisfeito, tal como é expresso pelo caso
da “Bela açougueira”. Ela adorava caviar, mas não queria que o seu marido tornasse para ela
possível realizar esse desejo. O sujeito em questão quer o que não tem ou não pode ter e se
protege mantendo o seu desejo insatisfeito. De certa maneira, a neurose histérica serve de
paradigma para pensar a diferença entre demanda e desejo. “Não me dá o que eu te peço”. Tal
é a estrutura paradoxal pela qual se revela o desejo insatisfeito na histeria. Por esta razão, para
que a histérica consiga sustentar uma relação amorosa, é necessário que alguma coisa falte
para ela. É preciso que ela possa desejar outra coisa que não aquela oferecida pelo Outro
(SOLER, 2006).
No que diz respeito à neurose obsessiva, o sujeito neutraliza o desejo de quem está a
sua volta, na tentativa de tamponar o furo do Outro. A satisfação pulsional, o gozo obtido pelo
obsessivo está na suposição de que pode anular o desejo do Outro, vivenciado por ele como
desejo de morte (LACAN, 1957-1958/1999).
Podemos afirmar que o obsessivo lida com o desejo do Outro a partir de uma
Verneinung, por uma denegação, como um meio de fazer não aparecer o furo no Outro, sob o
qual está estruturado como sujeito. Contudo, ao mesmo tempo que ele anula o desejo do
Outro, ele precisa sustentá-lo, a fim de se identificar com a sua grande questão, que versa
sobre o impossível do desejo. Gazzola (2005, p. 43) afirma: “A neurose obsessiva caracterizase assim pela subjetivação forçada da falta, do defeito fundamental, o que é a expressão da
luta que o sujeito empreende contra sua fantasia”.
No que concerne à neurose fóbica, vemos no caso paradigmático de Freud
(1909/1996a), o pequeno Hans, como a criança tenta resolver sua entrada no campo da
diferenciação dos sexos, através do sintoma fóbico direcionado ao objeto cavalo. A fobia de
cavalo denota o caminho lógico que a criança encontrou para se constituir como um sujeito do
inconsciente, estruturado no nível do Outro, regido pelas leis da castração. Para Freud, a fobia
do pequeno Hans pode ser tomada como modelo de uma neurose própria da infância, onde o
Eu depara-se com dificuldades para lidar com o complexo de castração, o qual, como vimos,
acontece no segundo tempo do complexo de Édipo. Em A ciência e a verdade, Lacan (19651966/1998, p. 882) toca nesse aspecto:
O sujeito divide-se ali, diz-nos Freud com respeito à realidade, ao mesmo vendo
abrir-se o abismo contra o qual se protegerá com uma fobia, cobrindo-o com a
superfície em que erigirá o fetiche, isto é, a existência do pênis mantida ainda que
deslocada.
191
Lacan concebe a fobia como sendo da ordem de um apelo ao pai, que aparece por
conta de certa insuficiência paterna. A compreensão lacaniana da fobia centra-se no fato de
que a criança elege um objeto fóbico como um socorro à figura do pai, que não foi suficiente
para tirar o menino da relação que mantinha com a mãe, momento em que ocupava a posição
de falo para ela. Assim, a fobia instala-se como uma tentativa de sair do lugar de falo
imaginário materno. De acordo com Lacan, a metáfora paterna atua de modo insuficiente na
fobia, que entra no jogo com o objetivo de tirar a criança do lugar de objeto de desejo do
Outro. Quer dizer, no momento em que a angústia é intolerável para a criança, ela elege um
objeto fóbico como um significante que pode bordejar, mesmo que não totalmente, esse afeto.
Com efeito, podemos dizer que a metáfora que leva em conta o cavalo aparece onde a outra
metáfora, a paterna, não operou de modo a evitar a eleição de um objeto fóbico. A eleição de
tal objeto possibilita à criança se reposicionar ante o desejo materno, não mais diretamente,
mas intermediado pelo cavalo, no caso do Hans. Ele se utiliza de uma “poesia viva”, nos fala
Lacan (1956-1957/1995, p. 411), de uma metáfora como uma tentativa de norteamento
simbólico.
Sobre a função metafórica do objeto fóbico, Lacan (1956-1957/1995, p. 411) afirma:
Isso quer dizer que o objeto fóbico vem desempenhar um papel que, em razão de
alguma carência, em razão de uma carência real no caso do pequeno Hans, não é
preenchido pelo personagem do pai. Assim, a fobia desempenha um papel
metafórico que aquele que tentei ilustrar pra vocês por esta imagem: Seu feixe não
era avaro nem odioso. Mostrei a vocês como o poeta utilizava a metáfora para fazer
surgir na sua originalidade a dimensão paterna [...] Nesta poesia viva que é,
ocasionalmente, a fobia, o cavalo não tem outra função. Ele é o elemento em torno
do qual vão girar todos os tipos de significações que formarão, afinal, um elemento
de suplência ao que faltou no desenvolvimento do sujeito.
No entanto, é importante entendermos a fobia não somente como um quadro clínico
isolado, mas sim como uma placa giratória, podendo manifestar-se pontualmente, em outros
quadros, como na neurose obsessiva e na neurose histérica.
A fobia não deve ser vista, de modo algum, como uma entidade clínica, mas sim
como uma placa giratória [...] Ela gira mais do que comumente para duas grandes
ordens da neurose, a histeria e neurose obsessiva, e também realiza a junção com a
estrutura da perversão (LACAN, 1968-1969/, p. 298).
Já falamos que o que determina a escolha da neurose é como o sujeito se insere na
estrutura, a saber, como o desejo da mãe se articula ao Nome-do-Pai. Ora, se entendermos a
fobia como uma resposta ao que falhou concernente à metáfora paterna, podemos
192
compreendê-la como um momento de defesa sujeito contra angústia. Neste cenário, o sujeito
elege um significante fóbico diante da angústia, seja para velar a manifestação da neurose,
deixando-a em suspenso, ou mesmo a escolha da neurose, quando se trata de uma fobia na
criança. No instante em que o sujeito se vê confrontado com o desejo Outro: “O que o Outro
quer de mim?”, ao invés dele responder com uma fantasia histérica pela via do desejo
insatisfeito ou com a fantasia obsessiva do desejo impossível, ele pode responder com uma
fobia. Decerto, a fobia entra como mais um mecanismo de defesa do sujeito diante a angústia
de castração. Enquanto o psicótico recusa a castração, o neurótico recalca e o perverso
denega, o fóbico lida com a castração deslocando o afeto para o objeto que ele elegeu. Porém,
não devemos entender a fobia, como foi enfatizado por Lacan, como uma entidade isolável,
mas sim como um modo de manter a neurose em suspenso.
Lacan (2008) especifica o desejo fóbico como um desejo prevenido tanto em relação
ao desejo insatisfeito da histeria quanto em relação ao desejo impossível do obsessivo. Tanto
o desejo obsessivo quanto o histérico são manobras para lidar com o impossível da relação
sexual. Ao falar da “placa giratória” no Seminário 16: de um Outro ao outro, Lacan remete à
questão da fobia dentro do campo das neuroses, instante onde o sujeito pode tomar uma
posição na estrutura, seja na neurose obsessiva ou na neurose histérica.
Pois bem, falamos de neurose (histeria, neurose obsessiva e fobia), psicose e
perversão, mas e a melancolia e a mania? Como ela é concebida no território do diagnóstico
estrutural psicanalítico?
No próximo item, abordaremos as teorizações freudianas e lacanianas da melancolia
e de seu estado sintomatologicamente oposto, como nos diz Freud (1917/2006), a mania.
Partiremos da acepção segundo a qual a melancolia e o seu oposto, a mania, têm um estatuto
estrutural, incluída dentro do campo das psicoses.
Veremos que Freud classificou a melancolia como uma neurose narcísica, ao lado da
paranóia e da esquizofrenia, aproximando-a dos quadros clínicos que envolvem as psicoses. A
partir do que nos diz Freud, avançaremos no território lacaniano para falar da melancolia
como tipo clínico da estrutura psicótica, relacionada à foraclusão do Nome-do-Pai.
193
4.4 A melancolia e a mania: um percurso em Freud e Lacan
Em 1915, Freud incluiu a melancolia entre as chamadas “neuroses narcísicas”,
juntamente com a paranóia e a esquizofrenia. As “neuroses narcísicas” foram concebidas para
Freud como opostas às “neuroses de transferência”, como a histeria e a neurose obsessiva
(FREUD, 1915/1996) por colocarem um obstáculo na direção do tratamento, especialmente
no que tange a dificuldade de se ligarem libidinalmente a um objeto externo, no caso o
analista. Contudo, sabemos que ao tecer suas construções metapsicológicas em torno do
quadro melancólico, o pai da psicanálise estava dialogando justamente com as teorizações de
Kraepelin sobre psicose maníaco-depressiva, a qual, como vimos, diferenciava-se dos quadros
psicóticos esquizofrênicos e paranoicos, então compreendida como uma psicose cíclica.
Uma vez tomada como uma afecção narcísica, tal como promulgou Freud,
conceberemos a melancolia como resultado de uma falha na constituição do Eu, mais
precisamente, no momento referente à passagem do estágio do narcisismo para a libido
objetal. Entenderemos a melancolia como uma psicose caracterizada por uma fixação na fase
do narcisismo, em detrimento da libido ficar retida no Eu e não se dirigir aos objetos do
mundo externo. Partimos do pressuposto segundo o qual a pulsão não encontrou a barreira do
recalque como um dos seus destinos, mas sim que as moções pulsionais voltaram-se para o
Eu, o qual passa a tomar ele mesmo como objeto. Na perspectiva lacaniana, diremos que
ocorreu no melancólico uma não inscrição do significante Nome-do-Pai, que não incidiu de
modo a tomar o lugar do desejo materno. Passemos, então, ao nosso percurso.
4.4.1 A melancolia, o supereu e a pulsão de morte: a concepção freudiana
Antes de iniciarmos propriamente nosso percurso freudiano em torno da melancolia,
é interessante retomarmos uma questão colocada no início deste capítulo sobre as
diferenciações entre a melancolia e a depressão. Dissemos que a depressão caracteriza-se
como um estado que pode acometer em qualquer psiconeurose de defesa, para usar os termos
de Freud, ou qualquer estrutura clínica, como nos fala Lacan. A melancolia, portanto, guarda
diferenças quanto ao estado depressivo, embora algumas manifestações sintomatológicas se
assemelhem. Para Freud, a melancolia é uma patologia narcísica, estando, portanto, no campo
das psicoses, ao lado da esquizofrenia e da paranóia. Freud deixa claro essa visão em Dois
Verbetes para um Dicionário de Sexologia, de 1923, como afirma:
194
Com esta concepção foi possível chegar à análise do Eu e fazer a separação clínica
das psiconeuroses em neuroses de transferência e afecções narcísicas. No caso das
primeiras (histeria e neurose obsessiva) acha-se disponível uma certa quantidade
libido que tende a transferir-se para outros objetos, e que é utilizada na efetivação do
tratamento analítico; já os distúrbios narcísicos (dementia praecox, paranóia e
melancolia) são caracterizados pela retirada de libido dos objetos, sendo, portanto,
pouco acessíveis à terapia analítica. Mas essa inacessibilidade terapêutica não
impediu a psicanálise de fazer ricas contribuições iniciais para uma maior
compreensão dessas doenças incluídas entre as psicoses (FREUD, 1923/2011, p.
294-295, grifo do autor).
Vimos no Capítulo 3 o quanto algumas categorias da psicopatologia clássica vieram
a perder o seu espaço nos manuais psiquiátricos atuais. O termo melancolia ficou para trás e
desapareceu tanto do DSM como da Classificação de transtornos mentais e de
comportamento (CID). Nesse panorama, a melancolia foi sendo cada vez mais desmembrada
e dissolvida para ser incluída em categoria maiores, acompanhada da substituição pelo termo
depressão, dando a entender que ambas ou são sinônimos, ou fazem parte de um quadro
clínico único. Isso, no entanto, traz sérias consequências para a direção do tratamento
psicanalítico, pois vimos que a psicanálise não se restringe as manifestações psicopatológicas
para fazer seu diagnóstico, mas sim versa na constituição do sujeito, considerando sua
infância, o complexo de Édipo e Castração, e a ausência ou presença do significante Nomedo-Pai no campo do Outro, como nos apontou Lacan. No mesmo texto supracitado de 1923,
Freud pontua a diferença da psicanálise em relação à psiquiatria: “Hoje a psiquiatria é
essencialmente uma ciência descritiva e classificatória, de orientação mais somática do que
psicológica, que carece de possibilidades de explicação para os fenômenos observados”
(FREUD, 1923/2011, p. 298).
Aliás, desde um momento primitivo de sua obra, Freud se preocupou em fazer a
distinção entre a depressão e a melancolia. Consta em Moreira (2002) que ainda em um
período arcaico de sua obra, nos seus Rascunhos, em suas Correspondências com Fliess,
Freud já se preocupara em distinguir a melancolia propriamente dita da depressão. Nessa
época, nota-se que Freud passa a abandonar a ideia segundo a qual a melancolia e os estados
depressivos corresponderiam a um quadro clínico único e indiferenciado.
No Rascunho A, Freud (1892/1996) afirma que a “depressão periódica” localizava-se
entre as “neuroses atuais”, como uma neurose de angústia. Por esta razão, os sintomas da
depressão estavam associados a uma etiologia psicogênica, resultado da inadequação ou falta
de satisfação sexual. O acúmulo de excitação sexual se transformaria em sintomas de angústia
ou depressivos. Afirmava, então: “a depressão periódica é uma forma de neurose de angústia,
que, fora desta, manifesta-se em fobias e ataques de angústia” (FREUD, 1892/1996, p. 222).
195
E depois, no Rascunho B, acrescenta: “Devo examinar a depressão periódica, um ataque de
angústia com duração de semanas ou meses, como uma terceira forma de neurose de
angústia” (FREUD, 1893/1996, p. 228, grifo do autor).
Ainda no Rascunho B, Freud (1893/1996) tece uma distinção entre a depressão
periódica, tida como uma neurose de angústia de origem psicogênica, e a melancolia
propriamente dita, a qual atribuiu uma etiologia hereditária e endógena. A depressão
periódica, como uma neurose de angústia, caracterizava-se por uma diminuição da
autoconfiança e uma expectativa pessimista. No Rascunho E, traça mais uma diferença entre a
melancolia e a depressão periódica, dizendo que “com frequência muito especial verifica-se
que os melancólicos são anestésicos” (FREUD, 1894/1996, p. 237, grifo do autor) e, portanto,
não teriam necessidade de relação sexual, embora nutrissem grande anseio pelo “amor em sua
forma psíquica” (FREUD, 1894/1996, p. 237). Em razão disso, no melancólico havia um
acúmulo de tensão sexual psíquica, enquanto que na depressão periódica ou neurose de
angústia tratava-se de um acúmulo de tensão sexual física.
No Rascunho G, Freud (1985/1996) dedica um espaço para falar especialmente da
melancolia e adverte que os sintomas melancólicos são decorrentes de um efeito de perda,
retomando o aspecto da anestesia psíquica. Este efeito estaria vinculado ao afeto concernente
ao luto, como uma tentativa de recuperar algo que fora perdido: “Assim, na melancolia, deve
tratar-se de uma perda – uma perda na vida pulsional” (FREUD, 1985/1996, p. 274, grifo do
autor). Em decorrência da perda da libido, dessa perda na vida pulsional, afirmou existir no
melancólico uma espécie de anestesia, uma anestesia libidinal, a qual, no entanto, não era
exclusiva da melancolia. Somente quando essa anestesia estivesse ligada à falta de excitação
somática, seria possível relacioná-la ao quadro melancólico. Sobre a etiologia da melancolia,
Freud (1985/1996, p. 246) reafirmou seu caráter hereditário: “A forma típica e extrema da
melancolia parece ser a forma hereditária periódica ou cíclica”. Nesse momento,
especialmente no que tange à etiologia da melancolia, verifica-se uma convergência com
Kraepelin, que atribuía à causa da psicose maníaco-depressiva ao aspecto endógeno e
hereditário.
Ao fazer um contraponto com a neurose de angústia, Freud situa a melancolia como
resultado de um acúmulo de excitação sexual psíquica, o que levaria os melancólicos à apatia
e desinteresse pelo mundo externo. O curioso é que anos depois, com seus escritos
metapsicológicos, vamos identificar uma concepção de melancolia em Freud não muito
diferente da ideia de um acúmulo de tensão sexual psíquica. Até porque, veremos a
melancolia caracterizada por um recolhimento da libido no Eu, isto é, de uma energia que não
196
se direciona ou se liga aos objetos externos, tal como a libido objetal. Freud apontará a
predominância da libido narcísica na melancolia, discriminando-a dos estados de luto.
Aliás, em 1910, no escrito Contribuições para uma discussão acerca do suicídio,
Freud (1910/1996, p. 244) atentou para a importância de estabelecer uma comparação entre a
melancolia e os estados de luto: “Podemos, acredito eu, apenas tomar como nosso ponto de
partida, a concepção de melancolia que nos é tão familiar clinicamente, e uma comparação
entre ela e o afeto de luto”.
Mas, foi efetivamente no artigo metapsicológico intitulado Luto e Melancolia
(1917/2006) que Freud pôde tecer essa distinção, agora, associando aos conceitos de
narcisismo e Ideal de Eu. Freud referiu-se ao termo melancolia para apontar um quadro
psicótico específico. Agora, ao contrário do que Kraepelin havia feito ao descrever a psicose
maníaco-depressiva, Freud ofereceu outra abordagem para a mesma, particularmente em
relação à etiologia. Ele afirmou, essencialmente com relação à mania, que apesar de sua
aparição ser frequente no quadro melancólico, esta não era condição obrigatória para o
estabelecimento do referido quadro. Além disso, foi contra a ideia de uma etiologia
completamente hereditária na melancolia, indicando a existência de uma origem de ordem
psicogênica.
Ao começar seu artigo, Freud nos diz que o esclarecimento da natureza da
melancolia passa pela questão do afeto, que também estaria envolvido no luto normal. Ele
também nos chama atenção para o fato de que a melancolia, cuja sua definição conceitual
oscila na psiquiatria descritiva, apresenta-se em formas clínicas tão diversas que seria
impossível resumi-las em um conjunto único, até porque, nos justifica, existem algumas
modalidades da melancolia que se apresentam mais no nível somático do que no psicogênico.
Considerando isso, ele propôs a se debruçar nos casos de natureza “indubitavelmente
psicogênica” da melancolia (FREUD, 1917/2006, p. 103). Sobre a melancolia, ele afirmou:
A melancolia caracteriza-se psiquicamente por um estado de ânimo profundamente
doloroso, por uma suspensão do interesse pelo mundo externo, pela perda da
capacidade de amar, pela inibição geral das capacidades de realizar tarefas e pela
depreciação do sentimento-de-Si. Essa depreciação manifesta-se por censuras e
insultos a si mesmo, evoluindo de forma crescente até chegar a uma expectativa
delirante de ser punido. Entretanto, esse quadro torna-se bem mais compreensível
quando comparado com o luto, o qual apresenta os mesmos traços, exceto um, a
depreciação do sentimento-de-Si. De fato, afora esse aspecto, todas as outras
características são iguais (FREUD, 1917/2006, p. 104).
Ao destacar a depreciação do sentimento-de-Si como um aspecto fundamental e
distintivo da melancolia em relação aos estados depressivos e de luto, Freud questiona o que
197
acontece no luto dito “normal”, para então entender o funcionamento melancólico. No caso do
luto normal, Freud nos que diz que o sujeito, quando se depara com a triste realidade da
ausência do seu objeto de amor, ele se vê numa situação de abandonar todo o investimento
que se dirigia a ele. Fato que não acontece de bom grado, pois o sujeito resiste em se desligar
libidinalmente do objeto que não existe mais, podendo até mesmo recorrer a uma fuga de
realidade, de tal modo que “se agarre ao objeto por meio de uma psicose alucinatória de
desejo” (FREUD, 1917/2006, p. 104). Porém, com um tempo, a tendência é que a realidade se
sobreponha a esta fuga e que o Eu se torne livre para investir em novos objetos, voltando a
funcionar sem inibições. Acontece, assim, um trabalho de luto que, apesar de absorver o Eu
do sujeito, tende a ter um fim.
No que se refere à melancolia, uma importante diferença identificada por Freud é
relacionada ao fato de que nela a perda do objeto escapa à consciência, é inconsciente,
distintamente do processo de luto, “no qual tal perda não é em nada inconsciente” (FREUD,
1917/2006, p. 105). O que significa que no luto o sujeito sabe muito bem o que perdeu e isso,
por si só, já possibilita uma tendência do Eu a redirecionar a libido antes investida em
determinado objeto para outros, como nos coloca Freud (1917/2006, p. 104-105): “Cada uma
das lembranças e expectativas que vinculavam a libido ao objeto é trazida à tona e recebe uma
nova carga [...] Em cada um dos vínculos vai se processando então uma paulatina dissolução
dos laços de libido”. Já a inibição melancólica parece enigmática e, diferentemente do luto, o
melancólico
mostra,
além
da
depreciação
do
sentimento-de-Si,
um
considerado
empobrecimento do Eu: “No luto, o mundo tornou-se pobre e vazio; na melancolia, foi o
próprio Eu que se empobreceu” (FREUD, 1917/2006, p. 105).
Dessa maneira, o melancólico descreve-se como sendo incapaz e moralmente
reprovável, fazendo autocensuras e insultos a si mesmo, esperando ser rejeitado e punido.
Sente-se inferior em relação a qualquer outra pessoa e isso aparentemente sem razão, pois não
pensa que pode sentir-se dessa forma por algum acontecimento da vida, inversamente,
localiza sua autocrítica a um passado, onde não recorda ter sido melhor. Para Freud
(1917/2006), esse sentimento deve-se a um delírio de insignificância, de caráter moral e que,
por conseguinte, é acompanhado por um quadro de insônia e pela recusa em alimentar-se.
Todas as características que envolvem o melancólico são resultado de um trabalho psíquico
que consome o Eu de tal modo que o doente não é capaz de ligar sua libido a objetos
exteriores a ele. Tais recriminações e injúrias quanto a si mesmo são tomadas por ele como
uma verdade e, como nos diz Freud, é por essa via que devemos seguir, pois se ele perdeu o
198
auto-respeito, deve ter motivos para isso, embora tais motivos refiram-se a uma realidade só
dele, não compartilhada.
Na melancolia, quando o sujeito se depara com a perda do objeto, ocorre uma cisão
no Eu, ou seja, uma parte do Eu identifica-se com o objeto perdido, e a outra se constitui
como um agente crítico, que recrimina, julga e ataca com severidade esse objeto que, na
verdade, é o próprio Eu tomado como objeto. Em outras palavras, o melancólico, quando
agride o objeto perdido, está agredindo o seu Eu. Freud (1917/2006, p. 107) afirma:
[...] Uma parte do Eu do paciente se contrapõe à outra e a avalia de forma crítica,
portanto, uma parcela do Eu trata a outra como se fora um objeto. A instância crítica
que nesse caso foi capaz de se separar do Eu também será, sob outras condições,
capaz de demonstrar sua independência [...] de fato temos bons motivos para
distinguir essa instância do restante do Eu. Na realidade, o que se nos apresenta aqui
é a instância comumente denominada consciência moral. Devemos incluí-la entras
as grandes instituições do Eu juntamente com a censura que parte do consciente e
com o teste de realidade. O quadro de melancolia ressalta o desagrado moral para
com o próprio Eu, e esse aspecto é mais saliente do que todas as insatisfações que o
doente possa ter em outros aspectos.
Aí está o motivo pelo qual o melancólico não se envergonha das depreciações que
faz de si mesmo perante os outros, pois é como se ele não estivesse se depreciando e sim a
este objeto, isto é, uma parcela do seu Eu que toma como objeto. Ou seja, tudo de ruim que
ele diz de si mesmo, está, na verdade, sendo dirigido a esse objeto, outra parte de seu Eu.
Mas, por que isso acontece?
Freud (1917/2006) nos responde pela via da escolha de objeto que, no melancólico
acontece de forma narcísica. Ele assinala que o sujeito, ao se decepcionar com o objeto de
amor, ao invés de retirar a libido investida nesse objeto, dirigindo-a a outro, ele a recolhe para
dentro do próprio Eu. Este recolhimento, por sua vez, produz uma identificação do Eu com o
objeto perdido: “a sombra do objeto caiu sobre o Eu” (FREUD, 1917/2006, p. 108). A partir
do momento em que o Eu se identifica com o objeto perdido, outra parte do Eu, como uma
instância julgadora, passa a acusar e depreciar o Eu identificado ao objeto, ao objeto
abandonado. “Desta forma, a perda do objeto transformou-se em uma perda de aspectos do
Eu, e o conflito entre o Eu e a pessoa amada transformou-se num conflito entre a crítica ao Eu
e o Eu modificado pela identificação” (FREUD, 1917/2006, p. 108).
Ora, se o investimento de carga libidinal passa a se concentrar no Eu identificado ao
objeto perdido, falamos, juntamente com Freud, que a melancolia diz respeito a uma fixação
narcísica. Uma vez o Eu não direcionando sua libido aos objetos exteriores a ele, mas sim
recolhendo esse investimento para o próprio Eu identificado ao objeto de amor subtraído, o
199
melancólico, de fato, não renuncia a relação amorosa em si. Como aponta Freud (1917/2006,
p. 109): “Essa substituição do amor depositado no objeto por uma identificação com o objeto
é um mecanismo de grande importância nas afecções narcísicas”. Ocorre na melancolia uma
regressão para fase oral da libido, no sentido de uma incorporação do objeto perdido. Freud
nos alerta que embora essas regressões sejam comuns nas neuroses de transferência (como na
histeria e na neurose obsessiva), na melancolia há uma fixação no narcisismo.
Uma vez tendo que abdicar do objeto, mas não podendo renunciar ao amor pelo
objeto, esse amor refugia-se na identificação narcísica, de modo que atua como ódio
sobre esse objeto substituto, insultando-o, rebaixando-o (FREUD, 1917/2006, p.
110).
Neste sentido, as autotorturas que o sujeito se coloca, dirige-se a um outro que ele
amou e que, no entanto, abandonou-o. É a esse outro que o melancólico agride, ou, melhor
dizendo, o outro que habita no seu Eu. O Eu tortura a si mesmo, mais especificamente,
recrimina, tortura, julga esse objeto que o habita, como pontua Freud (1917/2006, p. 107):
“Assim, tem-se nas mãos a chave para o quadro da doença: as auto-recriminações são
recriminações dirigidas a um objeto amado, as quais foram retiradas desse objeto e desviadas
para o próprio Eu”. Freud fala da presença de um sadismo que o Eu direciona a si mesmo
quando tomado como objeto, fato que para ele seria possível entender os casos de suicídio,
onde o “Eu somente pode matar a si mesmo se conseguir, através do retorno do investimento
objetal, tratar a si próprio como objeto” (FREUD, 1917/2006, p. 111). No entanto,
poderíamos nos perguntar: se a melancolia diz respeito a uma patologia narcísica, como pode
também odiar tanto esse objeto introjetado e amado? Podemos entender esse questionamento
através da seguinte afirmação freudiana:
Portanto, a melancolia toma uma parcela de suas características emprestada do luto;
a outra parcela retira de um processo específico de regressão, o qual parte da escolha
objetal de tipo narcísico que retorna ao estado de narcisismo. Assim, a melancolia é,
como o luto, uma reação a perda real do objeto amado. Mas, além disso, o
transforma em luto patológico: a perda do objeto de amor mostra-se com uma
ocasião muito excepcional para que a ambivalência que havia nas relações amorosas
agora se manifeste e passe a vigorar [...] Uma vez tendo que abdicar ao objeto, mas
não podendo renunciar ao amor pelo objeto, esse amor refugia-se na identificação
narcísica, de modo que atua como ódio sobre esse objeto substituto, insultando-o,
rebaixando-o, fazendo-o sofrer e obtendo desse sofrimento uma satisfação sádica
(FREUD, 1917/2006, p. 109-110).
Nesta perspectiva, Freud aponta um duplo destino para o investimento erótico no
melancólico: “em parte regrediu à identificação, em parte, porém, foi remetido – sob a
200
influência do conflito de ambivalência – ao sadismo, que é o estágio de desenvolvimento mais
próximo do conflito de ambivalência” (FREUD, 1917/2006, p. 110).
De fato, percebemos que para falar do sadismo presente na melancolia, Freud
ancora-se na teoria das pulsões, numa satisfação sádica encontrada na dor e no sofrimento e
que não se dirige ao recalque como um dos destinos da pulsão.
Em Pulsão e Destinos da Pulsão, Freud (1915/2004) nos diz que a pulsão pode ter
quatro destinos diferentes: a transformação em seu contrário, o redirecionamento contra a
própria pessoa, o recalque e a sublimação. O sadismo no melancólico encontra seu destino de
satisfação pulsional no redirecionamento da libido contra o próprio Eu tomado como objeto,
como afirma:
O redirecionamento contra a própria pessoa se torna mais plausível se
considerarmos que, afinal, o masoquismo é um sadismo voltado contra o próprio Eu
[...] A observação analítica também nos mostra, sem deixar margens para dúvidas,
que o masoquista compartilha o gozo implicado na agressão contra a sua pessoa [...]
O sadismo consiste em violência, em exercício de poder contra outra pessoa tomada
como objeto (FREUD, 1915/2004, p. 152-153, grifo do autor).
Na melancolia, o Eu o toma como objeto, identificando-se com ele. O melancólico,
então, se auto-tormenta e se auto-pune. Por outro lado, quando tocamos na questão da
identificação do melancólico com o objeto perdido, faz-se necessário compreendermos como
ocorre essa identificação, como também, o motivo pelo qual nas neuroses de transferência
esse tipo de identificação não ocorre.
Em À Guisa de Introdução ao Narcisismo, também anterior ao Luto e Melancolia,
Freud (1914/2004, p. 105) se interroga como a criança, no momento de constituição da sua
subjetividade, consegue superar o estágio do Narcisismo, ascendendo à fase da libido objetal:
“A partir desse ponto, podemos arriscar-nos a indagar por que a vida psíquica se vê forçada a
ultrapassar a barreira do narcisismo e a depositar a libido nos objetos”. Para tanto, ele retoma
o conceito de recalque, ressaltando o encontro dos investimentos libidinais depositados no Eu
com as concepções educacionais da civilização. Em outras palavras, quando confrontada com
o recalque, a libido sofre a ação de um Eu censor, aquele que avalia o que o Eu faz de si
mesmo. Também adverte que a condição de emergência da barreira do recalque tem haver
com um Ideal erigido pelo sujeito, “pelo qual mede seu Eu atual [...] Assim, a condição para o
recalque é essa formação de ideal por parte do Eu” (FREUD, 1914/2004, p. 112).
Assim, vemos que a criança, em determinado momento, confronta-se com uma
realidade na qual é preciso abandonar seu Eu ideal que, como infantil, é dotado de toda
201
perfeição e plenitude, posto que diz respeito ao momento mais narcísico da criança em relação
à mãe, instante onde se encontrava na posição de objeto de desejo materno. Dito de outra
maneira, faz-se necessário que a criança deixe de investir libido somente no seu Eu e passe a
investi-la nos objetos externos, saindo do estágio do narcisismo e adentrando na fase da libido
objetal. No caso das neuroses de transferência, o mecanismo do recalque incide de tal modo
que possibilita que a criança deposite uma parte de sua libido nos objetos. O mecanismo do
recalque sinaliza que a criança não poderá manter-se sempre no estágio do narcisismo, pois as
“admoestações próprias da educação, bem como o despertar de sua capacidade interna de
ajuizar, irão perturbar tal intenção” (FREUD, 1914/2004, p. 112). Contudo, para que a criança
deixe de lograr de todo momento de perfeição que o narcisismo oferece, ela vai procurar
recuperá-lo sob a forma de um Ideal de Eu, isto é, através de uma identificação simbólica.
Deste modo, o Ideal de Eu é aquilo que a criança projeta diante de si como o substituto do
narcisismo perdido, onde ela mesma era o seu Ideal. O Ideal de Eu emerge, então, no
momento em que o sujeito se vê diante da perda do objeto e, portanto, do recalque.
No caso da melancolia, diante da perda do objeto amado ou, então, do Ideal
narcísico, ao invés de reinvestir sua energia libidinal em outros objetos, erigindo um Ideal de
Eu (como nas neuroses de transferência), o sujeito identifica-se ao objeto ou a esse Ideal
perdido, não reinvestindo em mais nenhum outro objeto exterior aquele ao qual se identificou.
No narcisismo, observamos que a criança toma a si mesmo como objeto de amor, como Eu
ideal e, nesta medida, é este ideal que ela não quis abandonar. Isso, por sua vez, é constituinte
na realidade psíquica na melancolia. Quando Freud aponta para o objeto de amor perdido na
melancolia, ele se refere a este ideal narcísico, o qual o sujeito se recusou a abdicar.
Dito isso, podemos dizer que o Eu ideal, é um aspecto constituinte na realidade
psíquica da melancolia. No momento em que ocorre uma falha na identificação simbólica e o
sujeito está, por assim dizer, fixado em uma identificação imaginária e especular, ocorre na
melancolia um fechamento do encontro com a alteridade. O melancólico, ao fazer uma
escolha narcísica de objeto, elege um outro segundo a imagem reflexa do próprio Eu, isto é,
um outro a sua imagem e semelhança.
Nesse percurso, é interessante recorrer a outro importante artigo freudiano: O Eu e o
Id, de 1923. Este artigo marca o surgimento da segunda tópica freudiana e nos permite
compreender como se dá o processo de identificação do Eu ao objeto perdido na melancolia,
bem como o sentimento de culpa que lhe é tão característico, através do conceito de Supereu e
da pulsão de morte. Nesse texto, Freud (1923/2007, p. 40), retoma o tema da melancolia e o
doloroso sofrimento que a acompanha. Remete a questão do objeto perdido que fora
202
introjetado ao Eu. Ele nos diz que “uma carga de investimento depositada nos objetos foi
recolhida e substituída por uma identificação”. Para ele, o melancólico, no processo de sua
constituição, recusou abandonar seu primeiro objeto de satisfação ou seu Ideal, identificandose com ele. O melancólico erige esse objeto de satisfação dentro do seu Eu, através de um
mecanismo de introjeção. Por outro lado, Freud afirma que essa introjeção, de certo modo, faz
parte da constituição do sujeito, sendo “uma condição necessária para que o Id desista de seus
objetos” (FREUD, 1923/2007, p. 41).
A introjeção revela o próprio mecanismo pelo qual o Eu se torne um precipitado
desses investimentos recolhidos dos objetos dos quais desistiu, ou seja, é o meio pelo qual o
Eu se identifica a esses objetos. Freud nos fala de uma identificação simbólica, onde a
criança, tendo que abandonar seu primeiro objeto de amor em detrimento das restrições
educacionais e culturais, erige um Ideal de Eu. Só que na melancolia o sujeito recusa-se em
abandonar o objeto primordial e, ao mesmo tempo, identifica-se com ele, fazendo com que
este fique engessado na fase narcísica, não adentrando no estágio da libido objetal. O
melancólico, então, deixa que “a sombra do objeto recaia sobre o Eu”.
Freud salienta para que o Eu se identifique com os objetos dos quais desistiu e possa
ligar sua libido aos outros objetos, faz-se necessário a interdição do pai, a partir do complexo
de Édipo ou, como falamos acima, do recalque. É esta interdição que possibilita uma
modificação no Eu, transformação esta que promove uma identificação à lei do pai,
proporcionando, como vimos, uma passagem do SER o objeto de desejo e amor para TER
esse objeto. Vejamos como o sujeito que virá a se constituir como um melancólico vivencia
esse momento.
O narcisismo primário, como falamos, é marcado pelas primeiras experiências de
satisfação e, neste instante, é o Eu ideal que recebe todos os investimentos libidinais. Por este
motivo, é uma fase marcada por certa plenitude e perfeição. Já o narcisismo secundário é a
etapa na qual ocorre o surgimento do Ideal de Eu, onde o Eu, depois de renunciar seu primeiro
objeto de satisfação, ligando sua energia a libido objetal, redireciona uma parte dessa libido
novamente para si, já que, como nos acentua Freud (1914/2004), uma parte da libido sempre
fica retida no Eu. Freud aponta que o narcisismo secundário caracteriza-se pelo desejo de
recuperar toda aquela perfeição que existia no narcisismo primário, através de um Ideal.
Emerge, então, o Ideal de Eu, um modelo de Ideal. Assim, ao se deparar com a castração,
quando o Eu se vê impedido de tentar encaixar seu Eu para ser o objeto amado e desejado do
seu Outro primordial, surge todo um sentimento de desamparo, abandono e ódio em relação a
ele. Conforme Quinet (2006, p. 209), “podemos dizer que todo o processo de luto mobilizará
203
o enfrentamento da castração. O sujeito se depara com essa falta até que ele possa voltar a
colocar outra pessoa nesse lugar vazio e continuar a sua vida amorosa”. Isso é o que acontece
no processo de luto e na neurose.
Na melancolia, o sujeito, quando se depara com a situação de ter que perder o objeto,
confronta-se com a falta introjetando este objeto e identificando-se com ele. Devido a não
incidência do recalque na melancolia, o sujeito não consegue erigir um Ideal de Eu
identificado a uma versão do pai simbólico, representante da lei, indicando uma falha na
identificação simbólica. Não por outro motivo o Ideal de Eu é apresentado por Freud
(1923/2007), em o Eu e o Id, como herdeiro do complexo de Édipo, assim como o Supereu.
Nesse sentido, o complexo de Édipo possibilita a criança passar de uma identificação materna
para uma identificação paterna.
O Ideal de Eu, o herdeiro do complexo de Édipo, é também a expressão das mais
poderosas motivações do Id e um dos mais importantes destinos da libido. Ao erigir
um Ideal de Eu, o Eu logrou se apoderar do complexo de Édipo, mas, ao mesmo
tempo, submeteu-se ao Id. Enquanto o Eu é, em essência, o representante do mundo
externo e da realidade, o Supra-Eu contrapõe-se a ele como o advogado do mundo
interno e do Id. Os conflitos entre Eu e Ideal refletem, em última instância a
oposição entre o real e o psíquico, entre o mundo externo e o mundo interno
(FREUD, 1923/2007, p. 46).
Sobre o Supereu, no mesmo texto, Freud (1923/2007, p. 45) afirma:
O Supra-Eu reterá o caráter do pai, e quanto mais intenso tiver sido o complexo de
Édipo e quanto mais acentuado tenha se realizado o seu recalque, tanto mais o
Supra-Eu dominará o Eu com extrema severidade, assumindo a forma de uma
consciência moral, ou talvez um sentimento de culpa inconsciente.
É importante ressaltar que, nesse momento da obra freudiana, ao incluir o Supereu
como uma instância psíquica, como um prolongamento do Ideal de Eu, Freud propõe certa
equivalência entre ambos. Vimos que o Supereu é uma instância formada a partir da
identificação com os pais no declínio do complexo de Édipo. Ou seja, o que antes era
investimento libidinal nas figuras parentais, transforma-se em uma identificação com eles,
condição necessária para que a criança renuncie aquela satisfação pulsional anterior, referente
ao narcisismo primário e ao Eu ideal. Abdicando dessa satisfação, a criança interioriza a
identificação paterna, sendo seus desejos norteados pela Lei do Pai. No entanto, se o recalque
e a lei do pai não incidiram na melancolia, como entender o aspecto do Supereu contido nela?
Em Neurose e Psicose, Freud (1924/2007, p. 98, grifo nosso) localizou a melancolia
como uma afecção narcísica, onde haveria um conflito entre o Eu e o Supereu:
204
É preciso saber se, em uma situação de tensão causada por um conflito, ele [o Eu]
permanece fiel à sua dependência do mundo externo e tenta silenciar o Id ou se ele
se deixa subjugar pelo Id e, dessa forma, desgarra-se da realidade [...] Portando,
sugiro que, diferentemente do que tem sido feito até hoje, deveríamos, em todos os
tipos de adoecimento psíquico, sempre levar em consideração o comportamento do
Supra-Eu. Assim, poderíamos, por exemplo, postular a existência de uma categoria
de afecções que tem por base um conflito entre o Eu e o Supra-Eu. Aliás, a análise
nos indica que, um bom exemplo para essa categoria, que propomos designar
“psiconeuroses narcísicas”, seria a melancolia. Temos, portanto, boas razões para
diferenciar estados psíquicos, como, por exemplo, a melancolia, de outras psicoses.
Enquanto que nas “neuroses de transferência” (como a histeria e a obsessão) o
conflito se dá entre o Eu e o Id e nas psicoses (como a paranóia e a esquizofrenia) o conflito
aparece entre o Eu e o mundo externo, na melancolia, distinta dessas outras psicoses, existe
um conflito entre o Eu e o Supereu. O Supereu reina sobre o Eu. Podemos dizer que no
processo de constituição do sujeito melancólico, a criança fixou-se em uma identificação
primária, pois ao tecer sua rede de identificações, ela se recusa a abandonar o objeto amado,
impedindo um deslizamento de energia para outros objetos. A identificação primária, por sua
vez, relaciona-se com o Supereu, na medida em que esta instância é um prolongamento do Id.
Dessa forma, o investimento recolhido no Eu pela via dessa identificação primária e narcísica
reterá todos os objetos amorosos no interior do próprio Eu, formando a base do Supereu, que
se alimenta da energia do Id para atacar o Eu identificado com o objeto.
Nesta perspectiva, é possível compreender que na melancolia ocorre uma falha no
processo de identificação secundária, pelo fato de que o sujeito não abandonou o objeto
perdido, não se submetendo a lei do Pai e do recalque. O Supereu na melancolia diz respeito a
uma identificação direta e imediata com a dimensão mais terrível do pai, diferentemente do
Ideal do Eu que se refere à identificação secundária, ao narcisismo secundário que, por
conseguinte, permite ao sujeito uma ligação com o mundo externo e a realidade, de tal
maneira que pode ser capaz de silenciar as forças poderosas do Id e do Supereu.
Na melancolia, trata-se de uma dimensão da lei paterna não mediada, direta, que
impõe ao Eu toda a sua tirania, deixando-se subjugar ao Supereu, sendo agredido por ele. O
delírio de inferioridade, a insônia, a anorexia, o fastio, a dificuldade de lidar com o mundo
externo e as pulsões de destruição ilustram bem essa tirania do Supereu diante do Eu. As
acusações que o melancólico coloca sobre si, aparentemente sem sentido, revela o predomínio
da pulsão de morte, a qual, como sabemos, está no cerne do Supereu (FREUD, 1923/2007).
Ao recusar a abandonar o objeto amado, identificando-se com ele, já falamos que as
acusações dirigem a esse objeto que, aliás, é uma parte do Eu. Por esta razão, podemos
205
entender a identificação primária e narcísica do sujeito com o objeto perdido na melancolia
como uma tentativa de destruição de si próprio.
Ao introduzir sua segunda tópica com o Eu e o Id, atentando para a instância do
Supereu e a pulsão de morte, esta última já preconizada em Além do princípio do prazer, de
1920, Freud nos diz que o masoquismo é de fato primário, pois não decorre do retorno do
sadismo sobre o sujeito. Com efeito, ele passa a afirmar a existência de um masoquismo
original do sujeito. Neste sentido, o sadismo contra o Eu tomado como objeto presente na
melancolia é fruto de um masoquismo originário, relacionado à instância do Supereu
primitivo, vinculado a um imperativo categórico, com o registro mais temível do pai, que diz:
goza!
Ainda no ensaio sobre o Eu e o Id, Freud levanta a hipótese de que a pulsão de morte
é capaz de ser neutralizada com sucesso se isolada da sua polaridade com a pulsão de vida, a
qual, por meio do aparelho muscular, poderia se expressar como pulsão de destruição para
fora, para o mundo externo e não necessariamente ao Eu. Com essa acepção, Freud
(1923/2007, p. 48) abre o caminho para pensar a pulsão de morte que reina através do
Supereu na melancolia, ressaltando especialmente a relação entre o Id e o Supereu:
Assim, a história de formação do Supra-Eu permite compreender que antigos
conflitos entre o Eu e os investimentos de carga que o Id depositava nos objetos,
prossigam mais tarde na forma de conflitos entre o Eu e o herdeiro do Id, o SupraEu. Portanto, caso o Eu não tenha sido muito bem sucedido em lidar com o
complexo de Édipo, o investimento de energia do Eu – que provém do Id – entrará
novamente em ação, atuando como formação reativa do Eu-Ideal.
Considerando esta afirmação, é possível entendermos porque um ano depois, Freud
(1924/2007) remete à melancolia falando que nela ocorreria um conflito entre o Eu e Supereu.
Para Freud, o Supereu está perenemente mais próximo do Id, sendo capaz de representá-lo
frente ao Eu. “O Supereu mergulha profundamente para dentro do Id e por esta razão está
mais distante da consciência do que ocorre com o Eu” (FREUD, 1923/2007, p. 57).
Na melancolia, o Supereu se apoderou de tal maneira diante do Eu, que ele não ousa
objetar-se e contrapor-se ao Supereu, ao contrário, “ele se reconhece culpado e se submete às
punições” (FREUD, 1923/2007, p. 59). A melancolia caracteriza-se, dessa maneira, como
uma patologia onde o Supereu, ponto de reunião das pulsões de morte, reina frente ao Eu, o
qual, como sabemos, é um Eu empobrecido. Em o Eu e o Id, Freud (1923/2007) fala do
fenômeno de defusão ou desintrincamento das pulsões, entre a pulsão de vida e de morte. A
206
fragilidade do Eu na melancolia faz com que ocorra um predomínio da pulsão de morte em
relação à pulsão de vida. Sobre esse aspecto, citamos Quinet (2006, p. 218):
Encontramos o sujeito identificado a esse objeto que se situa lá onde reina o silêncio
da pulsão de morte. É a essa situação estrutural do melancólico, que faz com que ele
fique não só calado, mas também petrificado, o que se expressa inclusive
corporalmente, pois seu metabolismo abaixa e ele pode chegar a não evacuar ou
urinar. O delírio do melancólico é paupérrimo, tende ao silêncio, o sujeito tende à
mortificação, à cadaverização. Não há mais a pulsação da vida porque Eros se
retraiu – e é Eros que está do lado da vida, da cultura, [...] da linguagem.
Já falamos que em o Eu e o Id, Freud (1923/2007) não chega a diferenciar
claramente o Ideal de Eu do Supereu. Contudo, nas Novas Conferências Introdutórias Sobre a
Psicanálise, especificamente na Conferência XXXI, Freud (1933/1996) retoma a construção
do aparelho psíquico e a questão do Supereu, aclarando o papel desta instância na melancolia,
de modo que é possível distinguir o Ideal de Eu e do Supereu.
Ao retomar o fenômeno da cisão no Eu que acontece na melancolia, Freud
(1933/1996) aponta o Supereu como uma instância independente do Eu que retira do Id a sua
energia, representando, decerto, o papel da consciência. Contudo, não se trata de uma
consciência relativa à primeira tópica, aquela localizada no exterior do aparelho psíquico e
sim uma consciência interiorizada, que julga, avalia e observa. Trata-se de uma instância
autônoma ao Eu. Uma vez o Supereu tirando o investimento libidinal do Id, ele pode tomar o
Eu como objeto de acusação, de recriminação.
O Supereu toma como objeto de sua agressão a parte do Eu identificada ao objeto
perdido, atacando-o e inferiorizando-o. Isso, por conseguinte, oportuniza trabalharmos com a
ideia da existência de uma dupla face do Supereu, pouco explicitada na obra freudiana, a
saber: de um superego observador, crítico e punitivo, tal como aparece no delírio de
perseguição e na própria melancolia; e a outra face referente à uma instância cuidadora e
protetora do sujeito, mais próxima do Ideal de Eu. No melancólico, sabemos que o Ideal de
Eu, elemento que possibilita o sujeito adentrar no estágio da libido objetal, constituiu-se como
uma instância frágil, justamente porque o melancólico recusou-se a abandonar o Eu ideal. Tal
empobrecimento do Eu proporciona uma dominância desse Supereu mais arcaico, ligado a
uma versão de um pai real, não simbolizado e, por isso, mais cruel e avassalador.
Ao se identificar com essa versão tirânica do pai arcaico e mais primitivo, sob a
forma direta e imediata, o Eu do melancólico sofrerá se apresentando como culpável e
merecedor de castigos que lhe são infligidos. Tudo isso em razão do Supereu e da pulsão de
morte, que é soberana diante do Eu.
207
No que se refere à mania, Freud a entende como um modo de defesa do Eu diante do
Supereu (FREUD, 1923/2007). Freud afirma que os dois estados, tanto a melancolia quanto a
mania fazem parte do mesmo complexo, com a diferença que na melancolia “o Eu
provavelmente foi subjugado pelo complexo, enquanto que na mania o Eu dele se
assenhoreou ou mesmo desalojou” (FREUD, 1917/2006, p. 112). O autor nos explica que o
fato de fazerem parte do complexo reside no fato de que ambas, a melancolia e a mania,
apresentam as mesmas configurações quanto à economia psíquica. Ao negar o complexo
melancólico e o estado de luto, a mania vem como alternativa de continuar recusando a perda
sofrida, só que agora por meio de um estado de exaltação, alegria e triunfo. A disposição de
ânimo, representada por sinais de descarga da alegria e uma disposição aumentada revela-se
também como uma defesa e negação do que se perdeu.
Na mesma linha de pensamento que concebeu a melancolia, Freud aborda o estado
maníaco que acomete o sujeito após o luto considerado normal. Após vivenciar a perda do
objeto no luto, é natural que a libido se direcione a outros objetos que não mais aquele, o que
permite a expressão de uma certa voracidade do que antes se encontrava em suspenso.
Contudo, a mania entendida como um estado sintomatologicamente oposto da melancolia
revela-se como um produto de conflito que acontece no interior do Eu. O melancólico
substitui a luta pelo objeto por meio da mania, como uma defesa ou fuga dessa realidade
penosa que o sujeito se recusa a enxergar.
Em Psicologia das Massas e Análise do Eu, Freud (1921/2011, p. 97) fala de uma
fusão entre o Eu e o Ideal de Eu na mania, como se segue:
Partindo de nossa análise do Eu, não é de duvidar que na pessoa maníaca o Eu e o
Ideal de Eu se tenham juntado, de modo que o indivíduo, numa disposição de triunfo
e de felicidade consigo, não perturbada por qualquer autocrítica, pode fruir a
ausência de inibições, considerações e reproches a si mesmo. Não é evidente, mas
bastante provável, que a miséria do melancólico seja expressão de uma aguda
desavença entre as duas instâncias do Eu, na qual o Ideal desmesuradamente
sensível manifesta condenação ao Eu, de modo implacável, em delírios de pequenez
e no autorrebaixamento.
Freud (1921/2011, p. 99) assinala que na mania o “Eu seria estimulado a rebelar-se
devido ao mau tratamento que sofre por parte do seu ideal”. Assim, enquanto que na
melancolia encontramos um conflito e uma tensão entre o Eu e o Ideal, na mania ocorre uma
fusão entre ambos, resultando todos os sintomas que conhecemos: fuga de ideias, falta de
inibição, excitação motora acentuada, delírios de grandeza, compulsão sexual, entre outros.
Ora, sabemos que, em 1921, Freud ainda não havia postulado sua segunda tópica e, portanto,
208
a instância do Supereu ainda não se encontrava presente. Nessa medida, poderíamos nos
questionar se na mania não se trata de uma junção entre o Eu e o Supereu, a considerar as
passagens ao ato e toda satisfação pulsional sem limites que a acompanha.
Terminamos, aqui, nosso percurso na obra de Freud sobre a melancolia. Passaremos,
agora, a apresentar como Lacan a concebeu. Veremos que, na trilha de Freud, Lacan
compreendeu a melancolia incluída no campo das psicoses.
4.4.2 Lacan e a melancolia: a foraclusão do Significante Nome-do-Pai e o desvelamento do
objeto a
Falamos anteriormente sobre o diagnóstico estrutural e diferencial para a psicanálise,
ressaltando a não inclusão do Significante Nome-do-Pai no campo do Outro inconsciente,
estruturado por uma linguagem e lógica própria, como o aspecto nodal para pensarmos a
questão da psicose como um tipo clínico. No que tange à melancolia, entendida como
localizada no campo das psicoses, vimos com Freud a importância que a instância do Supereu
exerce, uma vez vinculada a pulsão de morte, no funcionamento melancólico.
Também mencionamos os efeitos que a inclusão do Nome-do-Pai no campo do
Outro tem na estrutura própria do sujeito, na medida em que o significante da Lei torna
possível a extração ou subtração do objeto a na neurose. Na melancolia, aludimos a uma
incorporação do objeto a partir de Freud. Com Lacan, pensaremos a melancolia como um
efeito de estrutura ocasionado pela incorporação e não separação do objeto a, enfatizando a
Voz como a versão desse objeto que predomina em tal funcionamento. Veremos que a Voz,
como um dos protótipos do objeto a, é a versão mais arcaica e primitiva presente na
constituição do sujeito. Primordialmente masoquista, a voz está estreitamente vinculada à
pulsão de morte, tão presente no melancólico. É no Seminário 10 que poderemos visualizar
esta formulação de Lacan. No entanto, faz-se necessário recorrer a outros momentos da obra
de Lacan para desenvolvermos o que colocamos em pauta no que concerne à incorporação do
objeto a na melancolia.
Sobre o Supereu, já assinalamos que Freud não deixa muito claro sua distinção em
relação ao Ideal de Eu. Ressaltamos que nas Novas Conferências Introdutórias Sobre a
Psicanálise, Freud (1933/1996) nos dá um indício de uma diferenciação entre o Supereu e o
Ideal de Eu. Lacan avança em direção de tornar mais nítida essa distinção. No Seminário 8: a
transferência, Lacan (1960-1961/1997, p. 328), aponta essa diferença:
209
[...] os autores têm de encarar a definição distinta de um ideal do eu que serviria para
restituir ao sujeito os benefícios do amor. Freud explica que o ideal do eu é aquilo
que, sendo em si mesmo originado nas primeiras lesões do narcisismo, volta a
tornar-se aprisionado por ser introjetado. Quanto ao supereu, percebe-se que é
preciso admitir que deve existir um outro mecanismo, pois, por mais introjetado que
seja, nem por isso se torna mais benéfico.
Observa-se, neste contexto, que a introjeção do Supereu não traz benefícios para o
sujeito, pois ele não o vincula a Eros e ao amor, mas sim a pulsão de morte e a culpa
desmedida. Da mesma maneira, Lacan retoma a distinção entre o Eu ideal e o Ideal de Eu:
Pode-se distinguir radicalmente o ideal de eu do eu ideal. O primeiro é uma
introjeção simbólica, ao passo que o segundo é a fonte de uma projeção imaginária.
A satisfação narcísica que se desenvolve na relação com o eu ideal depende da
possibilidade de referência a este termo simbólico primordial que pode ser
monoformal, mono-semântico, ein einziger Zug (LACAN, 1960-1961/1997, p. 344).
Mais uma vez retomamos tais distinções, pois o Eu ideal, fruto da identificação
imaginária, e o Ideal de Eu, resultado de uma identificação simbólica, não podem ser vistos de
forma disjunta. Na melancolia, vimos que a falha no processo de identificação secundária e
simbólica não oferece sustentação para o Eu ideal que, assim, fica à mercê do Supereu e da
pulsão de morte. O Ideal de eu, ao não ser interiorizado simbolicamente, fica submetido a um
Supereu feroz, arcaico, ou seja, a uma versão da Lei sem metáfora, imediata. Na melancolia,
na passagem do narcisismo primário para o secundário, ao invés do sujeito erigir um ideal de
eu, introjetou o objeto. Onde era para se erigir um ideal, o sujeito coloca no lugar o objeto que
introjetou. O melancólico não quis largar o objeto, identificando-se com ele sem mediação do
traço unário, aquele que apaga o rastro do gozo deixado pela satisfação narcísica referente ao
Eu ideal. Isso permite que o sujeito “agarre-se” a este objeto.
De igual modo, sabemos que o destino das moções pulsionais do melancólico não foi
o recalque. Também estamos cientes que Lacan fala da foraclusão do significante do Nomedo-Pai como ausente no campo do Outro na psicose. É o falo que permite que o objeto a
ascenda a condição de significante da falta no Outro, através do –φ, o falo imaginário. Sobre o
falo, citamos Lacan (1960-1961/1997, p. 366):
O falo é o pivô, diria eu, que nos permite situar aquilo que dele se distingue, ou seja,
a, e no pequeno a enquanto pequeno a, a função do objeto do desejo. No coração da
função do pequeno a, permitindo agrupar os diferentes modos de objetos possíveis
que intervém na fantasia, existe o falo. Este é o objeto, como disse, que permite
situar sua série, o ponto de origem, para frente e para trás.
210
Ora, se na medida em que não houve a substituição de um significante materno por
um paterno, ou seja, como a Lei do pai simbólico não incidiu na melancolia, o objeto a não
alcança a função -φ e assim fica excluído da série, a saber: fora do regime fálico, do gozo
sexual, intermediado pelas leis da linguagem.
No escrito De uma questão preliminar a todo a todo tratamento possível na psicose,
Lacan (1955-1956/1998a), recupera o termo Verwerfung de Freud para falar da foraclusão do
significante Nome-do-Pai. A questão da foraclusão, que até então Lacan já tratara em seu
Seminário 3: as psicoses, volta a ser discutida por ele no referido escrito. Nas palavras de
Lacan (1955-1956/1998b, p. 564, grifo do autor):
Consideremos demonstrado o que foi cerne de meu seminário sobre as psicoses, ou
seja, que esse termo se relaciona com a implicação mais necessária de seu
pensamento, quando este se confronta com o fenômeno da psicose: o termo
Verwerfung. Ele se articula nesse registro como ausência da Bejahung, ou juízo de
atribuição, que Freud postula como precedente necessário a qualquer aplicação
possível da Verneinung, que lhe opõe como juízo de existência. A Verwerfung será
tida por nós, portanto, como foraclusão do significante. No ponto em que, veremos
de que maneira, é chamado o Nome-do-Pai, pode pois responder no Outro um puro e
simples furo, o qual, pela carência do efeito metafórico, provocará um furo
correspondente no lugar da significação fálica.
Ao julgar a psicose como uma estrutura que se encontra fora do funcionamento
ligado ao juízo de atribuição, Lacan nos diz que o psicótico não encontra artifícios para
simbolizar aquilo que lhe é estranho e, na tentativa de dar sentido para o estranho que lhe
acomete, ele lança mão de um recurso delirante. O fracasso na metáfora paterna, como um
acidente simbólico, como aponta Lacan, indica a falha “que confere à psicose sua condição
essencial, com a estrutura que a separa da neurose (LACAN, 1955-1956/1998b, p. 582).
Éric Laurent (1995), ao tecer considerações sobre o funcionamento melancólico,
afirma que é a foraclusão do Nome-do-Pai que possibilita que “a sobra do objeto caia sobre o
eu”, tal como nos afirmou Freud. Assim, o autor nos coloca:
[...] é preciso reconhecer, na modalidade específica de identificação com o pai que
entra em jogo nas psicoses, o que Lacan isolou sob o nome de foraclusão do Nomedo-Pai, apontando o regime de identificação que então tem lugar. É esse mesmo
mecanismo significante que permite a modalidade de retorno do gozo que é a
Coisa que cai sobre o eu. É pela foraclusão do Nome-do-Pai que desvenda a relação
com a Coisa. Freud descobriu a identificação psicótica com o pai morto e ao mesmo
tempo a relação com a Coisa originária. O sujeito melancólico é condenado pela
instância externa por ser dividido por seu próprio gozo, cujo retorno é determinado
pela foraclusão do Nome-do-Pai. O sujeito, ao se agredir, manifesta
simultaneamente o registro da identificação significante da foraclusão e o registro do
gozo (LAURENT, 1995, p. 162).
211
Voltando ao texto De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose,
Lacan (1955-1956/1998a) nos faz observar que a dissolução imaginária que sofre o psicótico
é resultado de uma desordem provocada na significação fálica. Por este motivo, podemos
dizer com o autor que as manifestações da mania e da melancolia estão ligadas ao registro
imaginário, ao narcisismo primário (ao Eu ideal), em detrimento de uma falha na inscrição da
metáfora paterna. Para nos fazer entender sua formulação neste texto, Lacan nos traz 3
esquemas: o esquema L, o esquema R e o esquema I. Aqui, vamos apresentar somente os dois
primeiros.
Primeiramente nos remete ao esquema L, presente na página 555, a seguir:
Esquema L
Fonte: Lacan, 1955-1956/1998a, p. 555.
O eixo a—a’ representa a relação dual e imaginária, referente ao narcisismo primário
ou estádio do espelho, onde existe uma satisfação plena e especular entre a criança e a mãe.
No entanto, vemos com Lacan, que o esquema L não poderia existir sem a presença do A, o
Outro da linguagem que sustenta esta relação dual. Para Lacan, esse esquema representa o
fato de que o sujeito, seja ele neurótico ou psicótico, depende do que acontece no campo do
Outro, A. Citamos Lacan (1955-1956/1998a, p. 555):
[...] o estado do sujeito S (neurose ou psicose) depende do que se desenrola no
Outro, A. o que nele se desenrola articula-se como um discurso (o inconsciente é o
discurso do Outro), do qual Freud procurou inicialmente definir a sintaxe relativa
aos fragmentos que nos chegam em momentos privilegiados, sonhos, lapsos, chistes.
Nesse discurso, como estaria o sujeito implicado, se dele não fosse parte integrante?
Ele o é, com efeito, enquanto repuxado para os quatro cantos do esquema, ou seja, S,
sua inefável e estúpida existência, a, seus objetos, a’, seu eu, isto é, o que se reflete
de sua forma em seus objetos, e A, lugar de onde lhe pode ser formulada a questão
de sua existência.
Sendo neurótico ou psicótico o sujeito está submetido ao discurso do Outro, pois,
como vimos, a própria relação especular entre mãe e criança não pode acontecer senão através
do banho de linguagem que infans recebe de seu primeiro Outro, como tesouro dos
212
significantes. Sobre isso, afirma Quinet (2014, p. 53): “o eu se forma através da imagem do
semelhante, do outro, e esta relação é sustentada por A (Outro simbólico)”.
Entretanto, embora a relação especular a—a’ seja sustentada pelo Outro Simbólico
A, veremos que o que vai diferenciar a neurose da psicose é a saída dessa relação imaginária,
por meio da identificação à Lei do Pai. Assim, o que possibilita o sujeito sair dessa relação é a
travessia do Édipo, com a respectiva inscrição do significante do Nome-do-Pai no campo do
Outro. É tal inscrição que fará barreira e servirá de interdito a essa relação especular. Por este
motivo, é preciso que avancemos em direção ao esquema R, visto que o esquema L “é a forma
mais simplificada do estádio do espelho – é a partir do outro que o eu do sujeito se constitui”
(QUINET, 2011, p. 52). O esquema R é um desenvolvimento do esquema L, apresentando
como o Édipo é acrescido ou se insere na relação narcísica entre o infans e sua mãe. Na
página 559, De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose, Lacan (19551956/1998a) assim nos apresenta:
Esquema R
Fonte: Lacan, 1955-1956/1998a, p. 559
O esquema R nos mostra que entre a mãe e a criança, uma nova realidade se
superpõe. Trata-se do pai como aquele que interdita essa relação, proibindo-a de ser o objeto
de desejo materno, através de sua presença, a qual, como um lugar, representa a metáfora de
uma lei: “Não poderás ser o falo da tua mãe”. Quando a mãe sinaliza para criança, ao se voltar
para o pai, que ela não é seu único objeto de desejo, o pai aparece aí como aquele que tem o
falo. De outra maneira, a introdução dessa nova realidade permitida pela entrada do Pai,
possibilita a simbolização. A instância paterna é a metáfora do Pai, ou seja, é aquilo que no
discurso da mãe representa o pai. Isto significa que o desejo da mãe se encontra em outro
lugar e que, portanto, também está submetida a uma lei. Ora, nesse sentido a mãe é faltosa e
213
não existe um tesouro dos significantes: não existe um Outro onipotente e sem faltas. Como
Lacan (1955-1956/1998a, p. 585) nos aponta:
Mas, o ponto em que queremos insistir é que não é unicamente da maneira como a
mãe se arranja a pessoa do pai [...] mas da importância que ela dá à palavra dele digamos com clareza, a sua autoridade -,ou, em outras palavras, do lugar que ela
reserva ao Nome-do-Pai na promoção da lei.
Nota-se, portanto, que a inscrição da lei “reduplica, no lugar do Outro, o próprio
significante ternário simbólico, na medida em que ele constitui a lei do significante”
(LACAN, 1955-1956/1998a, p. 584). Inscrita a Lei do Pai no campo do Outro, notamos que o
lugar imaginário antes ocupado pela mãe dará lugar a outra representação, resíduo dessa
relação narcísica, a saber: a imagem especular (i), que representa imaginariamente o objeto de
desejo. No lugar de a’, onde se encontrava a criança como imagem e perfeição do outro, passa
a ser ocupado pelo próprio “eu” (moi, m), como alienado ao desejo do outro. O (I) refere-se ao
Ideal de eu, o eu como deve ser ao modelo da figura paterna e, finalmente, o Nome-do-Pai,
representando por P. Temos, então, no esquema R o tripé imaginário (φ, i, m, simbolizando
respectivamente o falo, a imagem especular e o Eu moi) e outro simbólico (P, M, I,
representando o Nome-do-Pai, as figuras do Outro materno e o Ideal de eu). Após demonstrar
o esquema R, ainda na página 559, Lacan (1955-1956/1998a, p. 559-560, grifo do autor)
apresenta uma importantíssima nota de rodapé, a qual vale citar:
É interessante localizar nesse esquema R o objeto a, para esclarecer o que ele traz
para o campo da realidade (campo que o barra). Qualquer que tenha sido a
insistência que desde então empenhamos para desenvolvê-lo – enunciado que esse
campo só funciona ao se obturar pela tela da fantasia [...] O que o esquema R expõe
é uma plano projetivo. Em especial, os pontos que não foi por acaso (nem por
brincadeira) que escolhemos as letras pelas quais eles se correspondem , m, M, i, I, e
que são aqueles com que se enquadra o único corte válido nesse esquema (ou seja, o
corte mi, MI) indicam bastante bem que esse corte isola no campo uma banda de
Moebius. Basta dizer isso, já que, a partir daí, esse campo será apenas o lugar-tenete
da fantasia ao qual esse corte fornece toda a estrutura. Queremos dizer que somente
o corte revela a estrutura da superfície inteira, por poder destacar nela os dois
elementos heterogêneos que são (marcados em nosso algoritmo ($◊a) da fantasia) o
$, S barrado da banda, a ser esperada aqui onde ela efetivamente surge, isto é,
recobrindo o campo R da realidade, e o a, que corresponde aos campos I e S.
Portanto, é como representante da representação na fantasia, isto é, como sujeito
originalmente recalcado, que o $, S barrado do desejo, suporta aqui o campo da
realidade, e este só se sustenta pela extração do objeto a que, no entanto, lhe fornece
seu enquadre.
Depois dessa preciosa afirmação de Lacan em relação ao esquema R e seus
desdobramentos, podemos agora avançar a fim de entender como ocorre a relação do
214
melancólico com o objeto a. Ora, se falamos da melancolia como uma psicose, sabemos que
não podemos atribuir à ela o modelo do esquema R. O melancólico não atravessa o Édipo,
ficando fixado na fase narcísica e do estádio do espelho, portando não é possível falar de
inscrição do Significante do Nome-do-Pai nesse tipo clínico. Igualmente, não podemos
atribuir a existência de uma fantasia neurótica na melancolia. Sua relação com objeto a, ao ser
incorporado ao invés de extraído, ocorrerá de maneira não mediada pela realidade que vimos
no esquema R.
Nesse sentido, “o olhar que não se vê e a voz que não se escuta”, para usar as
palavras de Quinet (2011, p. 54), não acontece na psicose. Pelo contrário, o objeto a incide na
psicose em uma versão direta, não mediada e não simbolizada, fato que impossibilita o
psicótico ter uma certa estabilidade no registro da realidade, pois “é preciso que o objeto a
esteja barrado, extraído do campo da realidade. O Simbólico barra o objeto a, o imaginário o
vela contendo-o – ele está presente embora velado na imagem do outro i(a) – que é desvelado
na psicose (QUINET, 2011, p. 54).
Na melancolia, o objeto a desvelado é o objeto Voz. Entenderemos, agora, o que
Lacan (1962-1963/2005), no Seminário 10: a angústia, coloca-nos sobre isso. Neste
Seminário, ao destacar a voz como uma das cinco formas do objeto a, Lacan afirma que ela é
um objeto impensável e que surge em um momento primitivo da constituição do sujeito,
motivo pelo qual o autor vai relacionar esta versão do objeto ao Supereu. Ele aponta que a voz
como objeto demarca na estrutura do Outro um vazio, que se refere à própria falta de garantia,
denotando, assim, “ecos no real” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 300).
É por isso mesmo, e não por outra coisa, que, separada de nós, nossa voz nos soa
com um som estranho. É próprio da estrutura do Outro constituir um certo vazio, o
vazio de sua falta de garantia. A verdade entra no mundo com o significante antes de
qualquer controle. Ela se experimenta, reflete-se unicamente por seus ecos no real.
ora, é nesse vazio que a voz ressoa como distinta de sonoridades, não modulada,
mas articulada. A voz de que se trata é a voz como imperativo, como aquela que
reclama obediência ou convicção. Ela não se situa em relação à música, mas em
relação à fala (LACAN, 1962-1963/2005, p. 300).
Lacan nos fala de uma voz que ressoa como um imperativo. Trata-se de uma voz
diferente daquela em que se encadeia na linguagem pela via do significante. Ele ressalta uma
voz que, vinculada ao Supereu, é apenas um som, um som que não se articula com os
significantes. Ao desenvolver a questão que envolve o objeto a enquanto voz, Lacan lança
mão do chofar e das contribuições de Theodor Reik acerca do ritual.
215
O chofar foi concebido por Lacan como um objeto para pensar “a função de
sustentação que liga o desejo á angústia” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 268). Geralmente
usado pelos judeus em datas especiais (tal como o fim do jejum na festa de ano novo), o
chofar é um chifre, comumente feito de um chifre de carneiro, que se sopra para se emitir um
som, este que parece ser, diz-nos Reik, a voz de Javé, a voz do próprio Deus” (LACAN,
1962-1963/2005, p. 272). Nesta medida, o som do chofar sinalizaria a voz de Deus,
indicando, além da materialização do objeto a sob a forma da voz, a função de ligar a angústia
ao desejo. O som do chorar e a relação que Lacan tece com o objeto voz está no fato de que
este som é potencialmente separável e que, por sua vez, refere-se a voz de Deus, ou melhor, a
voz do Outro.
A voz do Outro é nada mais do que aquilo que o infans recebe quando adentra no
mundo da linguagem, já que num primeiro momento, a comunicação vem do lado do Outro.
A criança, nesse sentido, incorpora essa voz, em forma de som, de modo direto e imediato, tal
como acontece nos fenômenos psicóticos.
De que objeto se trata? Daquilo que chamamos voz. Nós o conhecemos bem, a
pretexto de conhecermos seus dejetos, as folhas mortas, sob a forma de vozes
perdidas na psicose, e seu caráter parasitário, sob a forma dos imperativos
interrompidos do supereu (LACAN, 1962-1963/2005, p. 275).
Quando Lacan ressalta que voz do Supereu pode aparecer em forma de obediência ou
convicção, é possível pensarmos em relação à psicose o caráter da certeza manifestado em
seus fenômenos elementares. O sujeito psicótico, ao ter uma realidade psíquica capaz de fazer
barreira aos mandamentos do Supereu, fica entregue à voz incorporada do Outro em uma
dimensão toda poderosa, não barrada. A voz incorporada no momento primitivo narcísico da
constituição do sujeito, a posteriori, num movimento lógico de après coup, será extraída do
campo do Outro, a partir do declínio do complexo de Édipo e da introdução do Nome-do-Pai
neste campo, através da significação fálica.
No caso da melancolia, entendida como uma psicose, já sabemos das consequências
dessa não introdução do significante Nome-do-Pai no campo do Outro, o que traz
consequências na relação do sujeito com o objeto a. Uma vez tendo incorporado e não
extraído o objeto a, o melancólico estará à mercê do gozo de um Outro não castrado, dessa
voz do Outro imperativa do Supereu.
Não por acaso Lacan fala da distinção entre o luto e a melancolia, pontuando o
aspecto concernente ao objeto a. No luto, ele salienta que nesse processo o sujeito tenta
216
manter e sustentar todos os vínculos que perdeu, no entanto, ele faz isso restabelecendo uma
ligação com o objeto a mascarado, velado, o que, posteriormente, possibilita esse sujeito dar
ao objeto perdido um substituto. A tentativa de manter o objeto perdido se dá no luto no nível
escópico, “das ligações pelas quais o desejo se prende não ao objeto a, mas à i(a) [...] É isso
que faz a diferença entre o que acontece no luto e o que acontece na mania e na melancolia”
(LACAN, 1962-1963/2005, p. 364). Para Lacan é fundamental que fazermos uma distinção
entre o objeto a e o i(a), que é o objeto velado pelo imaginário.
Na melancolia não é o i(a) que entra em questão, mas sim é o objeto a que triunfa.
Em outras palavras, o luto está relacionado ao ideal, ancorado na castração e na Lei do pai.
Isso faz com que o objeto a apareça sob a forma de –φ, disfarçado. Já na melancolia, o fato do
sujeito não ter erigido um ideal e, por conseguinte, ao não estar vinculado à função fálica da
castração, tal como na neurose, diante da perda do objeto e queda dos ideais narcísicos, o
objeto a aparece desvelado, numa dimensão arcaica, referendada a voz do Supereu. O que
reina no melancólico é esta voz, num registro não simbolizável, a qual o significante não
alcança, sendo irredutível a ele. Com efeito, pela ausência da castração, o melancólico não
tem recursos para sustentar uma identificação aos traços do objeto pela via de i(a). Até
porque, não podemos esquecer, que o i(a), o Eu ideal, está estruturalmente relacionado ao
I(A), que é o Ideal do eu. A identificação simbólica, o Ideal do eu, sofreu um abalo e não
conseguiu significantizar a perda, o que permite ao melancólico ficar completamente fora do
registro dos ideais, deixando-se muitas vezes levar pela culpa pela certeza delirante,
característica marcante na melancolia. Desta forma, a ausência do significante Nome-do-Pai,
impossibilita um tamponamento da culpa, como nos coloca Soler (2006, p. 82):
Nesse aspecto, o nome do pai, cuja ‘verdadeira função’ é ‘unir (e não opor) um
desejo à Lei’, longe de gerar a culpa, mais faz tamponá-la. Essa é a tese que explica
o fato de a culpa só se elevar à certeza delirante nos casos de psicoses onde falta a
mediação paterna.
Podemos dizer que o melancólico é aquele que põe no ato a ação do supereu,
entregando-se a um gozo desmedido, onde a pulsão de morte não se encontra com a pulsão de
vida, fazendo o sujeito destruir a si mesmo, podendo inclusive cometer suicídio. Citamos
Lacan (1962-1963/2005, p. 364):
217
Na melancolia, trata-se de algo diferente do mecanismo do retorno da libido no luto
e, por essa razão, todo o processo, toda a dialética se constrói de outra maneira. O
objeto, Freud nos diz que é preciso – por que nesse caso? deixo de lado a questão –
que o sujeito se entenda com ele. Mas o fato de tratar de um objeto a e de, no quarto
nível, este se encontrar habitualmente mascarado por trás da i(a) do narcisismo, e
desconhecido em sua essência, exige que o melancólico, digamos, atravesse a
própria imagem e primeiro a ataque, para poder atingir, lá dentro, o objeto a que o
transcende, cujo mandamento lhe escapa – cuja queda o arrasta para a precipitação
suicida, com o automatismo, o mecanicismo, o caráter imperativo e intrinsecamente
alienado com que vocês sabem que se cometem os suicídios do melancólico. E eles
não são cometidos num quadro qualquer. Se tantas vezes isso acontece na janela, se
não através da janela, não é por acaso. É o recurso a uma estrutura que não é outra
senão da fantasia.
Nesse panorama, o objeto a, por não ter sido subtraído do campo do Outro como
causa de desejo, surge para o melancólico em sua relação mais primária: o sujeito identificado
a um objeto rebotalho, que não tem a fantasia como a realidade psíquica que poderia fazer um
anteparo a essa versão real do objeto a. Quando Lacan salienta que o sujeito melancólico
geralmente se suicida usando o recurso da janela, de jogar-se pela janela, não é por outro
motivo senão pela ausência da fantasia. Ao jogar-se pela janela, é como se sujeito estivesse
em busca de um anteparo para barrar o gozo do Outro. Assim, ele o faz em ato, passando ao
ato. O suicídio não deixa de ser um recurso contra a ação sádica do supereu, como uma forma
de fugir disso. Sobre esse aspecto, afirma Quinet (2002, p. 136): “Há aí um real não
simbolizado. Desvela-se a própria estrutura do supereu, que toma a dianteira; o sujeito é então
tratado sadicamente pelo supereu rebotalho”.
Na mania, nos fiz Lacan, é a não função do objeto a que está em causa. “O sujeito
não se lastreia em nenhum a, o que o deixa entregue, às vezes sem nenhuma possibilidade de
libertação, à metonímia pura, infinita e lúdica da cadeia significante” (LACAN, 19621963/2005, p. 365). Contudo, quando Lacan fala da não função do objeto a na mania, ele se
refere a ausência de uma função desse objeto ligado ao –φ, ou seja, aquilo que representa o
objeto a pela via da falta. Por este motivo, Soler (2007) salienta que o objeto a, na medida em
que está implícito na constituição de qualquer mensagem, está presente na mania através do
registro real em jogo na gramática. Daí a fuga de ideias e fala desenfreada na mania
caracterizar-se como um discurso que está deriva e que não obedece às leis metonímicas do
desejo, norteado pelo significante fálico. Na mania, falta “não apenas um significante-mestre,
localizador, mas também a metonímia” (SOLER, 2007, p. 94).
A ausência do significante fálico deixa entrever que na excitação maníaca o que falta
é um ponto de basta. A não extração do objeto a do campo do Outro e a não introdução da
218
metáfora paterna neste campo, não promove um deslizamento metonímico da cadeia de
significantes (S1---S2), mas sim, nas palavras de Soler (2007, p. 93):
[...] reduz –se a justaposição não orientada de elementos de linguagem que podemos
simbolizar por uma sucessão de uns: S1, S1, S1. Essa fala só parece festiva e
despreocupada, assim como tão desorientada, por estar livre das restrições
semânticas, emancipada do real que entra em jogo na gramática.
Nessa perspectiva, a mania revela a morte do sujeito, do qual este se faz marionete da
linguagem desenfreada e desordenada do Outro gozador, que lhe impõe, sem barreiras, o que
ele deve fazer. O sujeito fica, então, à deriva, “a linguagem o perpassa, no automaton dos
signos de que ele é a marionete” (SOLER, 2007, p. 94).
Dito isso, vimos como a melancolia e seu oposto do mesmo complexo, a mania, são
concebidas a partir da psicanálise de Freud com Lacan. Observamos que o diagnóstico na
clínica psicanalítica se dá pela via de um diagnóstico diferencial, pela presença ou ausência do
Significante Nome-do-Pai no campo do Outro. No caso da melancolia, mostramos que ela se
encontra entre as psicoses, portanto, constatamos que nela a foraclusão do Nome-do-Pai está
presente, o que acarreta todas as manifestações que já mencionamos.
Considerando nossos argumentos, podemos afirmar que o melancólico está na
linguagem, mas que não faz laço. Se pensarmos a partir dos discursos formulados por Lacan
e, em especial, o discurso capitalista, podemos afirmar que dificilmente o melancólico se faz
presa desse discurso. No entanto, considerando esse argumento, e os sujeitos identificados ao
diagnóstico de bipolaridade? Como poderíamos entendê-los no laço social?
Tal questionamento já nos dá pistas que entenderemos esse sujeito sob outro prisma,
aquele sobre o qual versa nossa tece: trata-se de um sujeito cindido entre o desejo e o saber.
Trata-se não do psicótico ou do melancólico propriamente dito, aquele que sofre do rechaço
do inconsciente ou da foraclusão do significante do Nome-do-Pai no campo do Outro, mas
sim daquele sujeito “que não quer saber nada disso” e, por assim dizer, liga o seu desejo,
sempre insatisfeito por estrutura, aos objetos oferecidos pelo capital, tornando objeto do
discurso capitalista. Abordaremos essa discussão no capítulo seguinte: O Sujeito no laço
social.
219
5 O SUJEITO NO LAÇO SOCIAL: A PSICANÁLISE E OS DISCURSOS
Trazer para nosso trabalho a teoria dos discursos elaborada por Lacan no Seminário
17: o avesso da psicanálise (1969-1970/1992) nos leva a entender como o sujeito
estruturalmente dividido e alienado ao discurso do Outro, articula-se à dimensão social, ou
seja, à alienação histórica. É neste Seminário que Lacan identifica através dos quatro
discursos (do mestre, da histérica, do analista e do universitário) as modalidades de ordenação
do gozo no laço social, tomando como referência o que Freud (1930/1996), em O mal-estar
na civilização, designou acerca da pulsão de morte e aquilo que a acompanha: o supereu e a
repetição.
Para Lacan (1969-1970/1992), os discursos são formas do sujeito se inserir no laço
social e, portanto, representam o mal-estar deste sujeito, na medida em que, para adentrar na
sociedade, é preciso haver uma renúncia pulsional, uma renúncia de gozo. Partindo desse
princípio, Lacan desenvolve sua teoria sobre os discursos, inaugurando assim o que ele
gostaria que fosse chamado de “o campo lacaniano”, o campo do gozo.
Nesse sentido, o Seminário 17 e seu antecessor, o Seminário 16: de um Outro ao
outro (1968-1969/2008), lidos em conjunto, podem ser concebidos como um momento em
que Lacan empreende o campo lacaniano, onde o que é da ordem do gozo é incluído no
campo da linguagem. Por esse viés, a assertiva na qual o sujeito é representado de um
significante para outro significante, a partir deste instante da obra lacaniana, ganha um
estatuto a mais, sem, no entanto, excluir o anterior: trata-se de inserir o gozo nesta estrutura
significante, articulando-o ao campo da linguagem. Afirma Lacan (1968-1969/2008, p. 21):
O sujeito, seja qual for a forma em que se produza em sua presença, não pode
reunir-se em seu representante de significante sem que se produza, na identidade,
uma perda, propriamente chamada de objeto a. É isso que é designado pela teoria
freudiana concernente à repetição. Assim, nada é identificável dessa alguma coisa
que é o recurso ao gozo, um recurso no qual, em virtude do sinal, uma outra coisa
surge no lugar do gozo, ou seja, o traço que o marca. Nada pode produzir-se aí sem
que um objeto seja perdido. Um sujeito é aquilo que pode ser representado de um
significante para outro significante. Não será isso calcado no que Marx decifrou, isto
é, a realidade econômica, o sujeito do valor de troca é representado pelo valor de
uso? É nessa brecha que se produz e cai a chamada mais-valia. Em nosso nível, só
importa essa perda. Já não é idêntico a si mesmo, daí por diante o sujeito não goza
mais. Perde-se alguma coisa que chama mais-de-gozar.
Lacan é claro ao dizer que para se fazer representar entre os significantes, é
necessário que se produza uma perda. Falamos no capítulo anterior que essa perda refere-se
ao objeto a, que se institui como causa de desejo, motor do circuito pulsional. Quando se
220
insere no mundo da linguagem e o sujeito passa a se estruturar neste campo, ele tentará
recuperar esse objeto para sempre perdido por meio de fragmentos de gozo, pela via do que
Lacan passa chamar também de objeto mais-de-gozar. Ressaltamos anteriormente a função
causa de desejo do objeto a. Agora, daremos ênfase a sua função mais-de-gozar, que diz
respeito à tentativa de recuperação disso que se perdeu, pela renúncia pulsional.
Por este motivo, Lacan fala no aspecto que toca a repetição, pois é na tentativa de
restituir algo do que perdeu que o sujeito repete situações que lhe causam desprazer e, por
isso, estão associadas com a pulsão de morte e o gozo. É a partir da inscrição do traço unário e
sua consequente articulação com outro significante no campo do Outro, é que se engendra o
discurso e o mal-estar constituinte do sujeito.
Dito de outra maneira, ao entrar na linguagem e na cultura, o sujeito paga um preço.
Esse preço é o mal-estar. O mal-estar próprio da civilização produz o mal-estar estrutural do
sujeito, pois como já nos disse Freud (1930/1996), entre todas as formas de mal-estar, a maior
delas é o relacionamento com os outros homens. Estar no laço social requer renúncia
pulsional, visto que o sujeito não pode gozar sem limites. Este fato, por si só, institui uma
economia pulsional, uma economia de gozo, a qual, depois, cobra seu preço: ela buscará
recuperar fragmentos deste gozo que se perdeu e tentará fazer isso através do mais-de-gozar.
O objeto a mais-de-gozar, podemos compreendê-lo, sob esse prisma, como um índice do malestar na civilização. Ora, mas o que tudo isso se relaciona com o conceito marxiano de maisvalia?
Lacan trouxe esse conceito marxiano para referir à economia política. Não por acaso.
Neste ponto, pensamos ser importante dizer de que maneira isso se conecta com o tema de
nossa pesquisa.
Se o sujeito é trans-histórico, isto é, é estruturado no campo do Outro do discurso e,
se falamos de uma conexão entre a economia pulsional desse sujeito e a alienação histórica
onde ele está inserido, neste capítulo, visamos discutir o aparelhamento do gozo no discurso
capitalista, considerando como se articula a divisão irredutível do sujeito com a máquina de
produzir falta-a-gozar, no referido discurso. De um lado, estamos considerando a própria
economia de gozo trans-histórica do falasser e, de outro, a economia política, relacionada ao
capitalismo e ao fetichismo da mercadoria.
Sustentados na teoria dos discursos de Lacan, discutiremos como a proliferação do
transtorno bipolar pode representar um paradigma do discurso capitalista, na medida em que
este, na tentativa de recusar a castração, propõe uma copulação entre a verdade e a produção.
Através do significante “bipolar”, o capital enquadra uma modalidade de gozo que, vindo do
221
saber universal, tem o potencial de fazer surgir um discurso que tenta foracluir o sujeito do
desejo e sua contradição, promovendo uma cisão entre a pulsão ($) e o saber (S2). Assim,
quando falamos do significante “bipolar”, aludimos a uma potência de significante capaz de
se “expandir na linguagem como um rastro de palavra [...] que se engancha, que faz discurso”
(LACAN, 1969-1970/1992, p. 201). No que tange ao discurso capitalista, veremos que se
trata de um discurso que trabalha no sentido de uma massificação e generalização. Nesse
contexto, o significante “bipolar” aparece como um traço identificatório entre os sujeitos,
operando na direção de suprimir o que pode ser de singular.
Contudo, antes de abordarmos o discurso capitalista e seus efeitos no sujeito e nos
laços sociais que estabelece, faz-se necessário fazermos uma incursão nos outros discursos
propostos por Lacan: o discurso do mestre, da histérica, do analista e do universitário. Em
1972, sabemos que na Conferência que deu em Milão, Lacan referiu-se ao discurso capitalista
como uma corruptela do discurso do mestre, discurso que, como veremos, é o que inaugura o
mal-estar na civilização e a própria estrutura do sujeito dividido e desejante.
É interessante lembrar que o Seminário 17 foi ministrado por Lacan na Universidade
de Pantheón, entre 1969 e 1970, e teve como objetivo central falar da psicanálise como um
discurso, tomando como referência o seu avesso: o discurso do mestre. Citamos Lacan: [...]
“pois trata-se este ano de pegar a psicanálise pelo avesso e, talvez, justamente, dar-lhe seu
estatuto jurídico do termo. Isto, em todo caso, sempre teve a ver, e no grau mais elevado, com
a estrutura do discurso” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 16). É também interessante ressaltar
que a escolha da capa do Seminário 17 não foi um caso impensado. A capa retrata o líder dos
estudantes, Daniel Cohn-Bendit, conhecido como Danny, le Rouge (o Vermelho), sorrindo
para um policial, encarregado da repressão. Este Seminário foi proferido em um ambiente de
completa ebulição das revoltas estudantis que abalaram Paris, a partir do Maio de 1968.
Dito isso, não foi à toa que Lacan (1969-1970/1992) partiu do discurso do mestre
para falar dos outros três discursos, como mencionamos. Os discursos do mestre, do
universitário e do analista referem-se às três profissões impossíveis apontadas por Freud
(1930/1996), a saber: governar, educar e analisar, respectivamente. A esses três impossíveis,
Lacan acrescenta o fazer desejar para se referir ao discurso da histérica, o qual, embora não
esteja baseado em uma profissão, trata-se de um impossível pautado em uma vocação própria.
No que concerne ao discurso da histérica salienta Bousseyroux (2012, p. 103): “[...] há, no
fazer desejar, do qual a histérica faz, não profissão, mas vocação, uma vontade de impossível
bem particular. A histérica não quer só gozar da impotência do mestre. Ela (ele) quer gozar,
excetuando-se da impossibilidade de fazê-la (fazê-lo) gozar”
222
Esses quatro discursos propostos por Lacan (1969-1970/1992) são modalidades de
laço social que representam uma estrutura necessária, as quais ultrapassam em muito a
palavra. O discurso é um discurso sem palavras:
É que sem palavras, na verdade, ele pode muito bem subsistir. Subsiste em certas
relações fundamentais. Estas, literalmente, não poderiam se manter sem a
linguagem. Mediante o instrumento da linguagem instaura-se um certo número de
relações estáveis, no interior das quais certamente pode inscrever-se algo bem mais
amplo, que vai bem mais longe das enunciações efetivas (LACAN, 1969-1970/1992,
p. 11).
No Seminário anterior, Lacan (1968-1969/2008, p. 11) começa justamente
escrevendo na lousa o seguinte enunciado: “A essência da teoria psicanalítica é um discurso
sem palavra”. O que, de fato, queria ele nos dizer com isso?
Quando Lacan remete à palavra “discurso” não é gratuitamente, pois é exatamente
sobre isso que ele vai se ocupar tanto no Seminário 16 quanto no Seminário 17. No Seminário
16 ele afirma que o discurso é aquilo que institui determinado campo e não sem
consequências. Nesse sentido, ressalta que “é o discurso da física que determina o físico, e
não o contrário” (LACAN, 1968-1969/2008, p. 33), dando a entender que nunca existiria um
físico sem antes a interferência de um discurso. Igualmente, podemos pensar que só
apareceram as histéricas quando houve um discurso propício para isso. Lacan aponta para um
discurso tecido de linguagem, por uma sintaxe que ordena, por assim dizer, o laço social, que
está para além da fala. Por esta razão, ele nos diz que a fala não pode dar conta de tudo e,
portanto, não existe universo do discurso. Existe algo que ultrapassa a fala e as palavras.
Conforme Bruno (2011, p. 234, tradução nossa): “Que um discurso possa dizer-se
‘sem palavras’ indica suficientemente que a palavra não é o único destino da linguagem. Este
pode ser um grafo, que implica a estrutura e instala sua lógica”. Isso significa dizer que para
Lacan um discurso não sinônimo de um conjunto de palavras, mas sim se refere a um
conjunto no sentido matemático do termo. Lacan traz matemas discursivos. Uma fórmula, ao
ser instituída, existirá para além de qualquer fala ou palavra. Estará sempre ali, designando
algo. O que marca a teoria lacaniana dos discursos é que, para ele, não há universo do
discurso. No Seminário 16, Lacan (1968-1969/2008) faz todo um esforço para demonstrar que
a estrutura é o real, indo além da afirmação standard que tanto caracterizou o Seminário 11, a
saber: um significante é o que representa o sujeito para outro significante, incluindo o gozo
nessa estrutura.
223
O que caracteriza o real da estrutura discursiva é o objeto a mais-de-gozar. É o
objeto que representa o gozo, aquilo o sujeito tem de irrepresentável e, portanto, sempre
fracassa ao tentar se representar na linguagem. Diz respeito a um excesso que não cessa de
não se realizar. Quanto mais falamos e produzimos palavras, mais deixamos para trás um
resto, um mais-de-gozar. Uma vez imersos no discurso, produz-se uma perda, uma entropia de
gozo. O mais-de-gozar, nessa perspectiva, inaugura na teoria lacaniana o campo do gozo, o
qual, como ressaltamos, vem demarcar o aspecto do real da estrutura da linguagem, uma
estrutura que existe para além da fala e da palavra. Nessa direção, todo discurso produz uma
verdade inacessível. É sob esse prisma que Lacan formula os quatro discursos.
Concebidos como aparelhos de linguagem que estruturam o campo do gozo por se
sustentarem em uma impossibilidade de satisfazer plenamente a pulsão, os discursos não
precisam necessariamente da fala para estar atuando. São enunciados que nem sempre são
evidentes ou explícitos (QUINET, 2006).
De acordo com Lacan (1969-1970/1992, p. 177, grifo do autor), os discursos são
ocasionais, sendo uma estrutura necessária que subsiste na relação entre significantes: “Os
discursos nada mais são do que a articulação significante, o aparelho, cuja mera presença, o
status existente, domina e governa tudo o que eventualmente pode surgir de palavras. São
discursos sem palavras, que vem em seguida alojar-se nele”.
Lacan elabora os quatro discursos recorrendo à escrita algébrica, oferecendo a cada
um deles um matema específico. Já falamos que o discurso representa um modo de
enquadramento de laço social, de estruturação do laço. A estrutura do discurso é coordenada
por quatro elementos, os quais podem mudar de posição de acordo com cada discurso, são
eles: S1, S2, $ e a. Esses elementos são distribuídos em quatro lugares diferentes, imutáveis: o
agente, o outro, a verdade e a produção.
A estrutura do discurso
Lugar do sujeito
Lugar do “outro significante”
Fonte: Lacan, 1969-1970/1992, p. 98 (adaptado pela autora)
O lugar do agente é aquele que domina e enquadra o discurso ou o laço social. É
aquele que governa, determina e transforma os outros elementos, que age de modo imperativo
224
e irrecusável, exercendo influência sobre os outros. O outro é o dominado que, como o
próprio nome diz, é aquele quem se deixa dominar, precisando do agente para se constituir. Já
o lugar da verdade é o que se encontra velado no discurso e só é acessível por um semi-dito,
em decorrência da barreira do gozo, que interdita o acesso dessa verdade à produção. Por fim,
a produção é o efeito do discurso, aquilo que resta dele (QUINET, 2006).
Veremos que Lacan deixará claro que no andar de cima do matema o que está em
questão é a impossibilidade, ou seja, é o impossível que todo discurso agrega quanto ao seu
objetivo, seja governar, educar, fazer desejar ou analisar. O andar inferior representa a
impotência do discurso revelada pela barreira de interdição ao gozo, que impede o acesso da
produção à verdade. Do lado esquerdo e no sentido vertical, encontramos o sujeito (onde
nasce todo discurso), e à direita é o lugar do “outro significante”, para onde o discurso se
dirige. Esta relação entre o sujeito e o “outro do significante”, representa a condição de uma
alteridade radical, razão pela qual não se pode falar de uma relação intersubjetiva entre eles
(SOUZA, 2008).
Dessa maneira, mesmo que essa noção de discurso venha estabelecer um tipo de
“laço social” entre estes dois lugares, o do sujeito e o do “outro significante”, não se
produz uma interlocução, nem mesmo a possibilidade de um “diálogo” entre eles.
Essa noção de discurso, portanto, não contempla qualquer relação intersubjetiva
(SOUZA, 2008, p. 116, grifo do autor).
Sobre os elementos do discurso, S1 é o significante mestre, que representa aquilo que
é atravessado e determinado pela ação significante, é o que está fora da cadeia significante,
mas que, ao mesmo tempo, é condição para o surgimento dela. Trata-se de um significante
vazio de significação. O S2 é o saber com o qual S1 se articula para produzir um efeito de
significação. Segundo Bruno (2011), o S2 diz respeito à articulação significante e não é
somente um significante, tal como o S1. O $ é o sujeito dividido pela barra da linguagem,
castrado, sujeito suposto efeito da cadeia de significantes. O $ é o sujeito de sua divisão
intrínseca, spaltung (BRUNO, 2011). E o a é o que se produz como decorrência do trabalho
da articulação significante e se refere ao objeto que não pode ser reintegrado ao campo do
Outro. O objeto a funda a teoria lacaniana do valor, pois é por meio dela que Lacan se baseia
para construir a homologia14 entre o conceito marxiano de mais-valia e o objeto mais-degozar (BRUNO, 2011). Segundo Lowenstein (2003, p. 254), o objeto a mais-de-gozar “tem
14
Homologia designa a semelhança estrutural existente entre elementos distintos e, assim, não se trata
simplesmente de uma analogia, que se refere a uma similaridade imagética ou metafórica. Portanto, o que
Lacan, ao promover uma homologia entre a mais-valia e o mais-de-gozar, leva em conta o fator da estrutural.
225
duas faces: é o que o discurso não pode absorver e, ao mesmo tempo, é sua condição,
condição do discurso”.
5.1 De um discurso sem palavras: os quatros discursos
Ao falar de um discurso sem palavras, Lacan nos remete à existência de uma
estrutura fundamental, definida pela relação entre um significante e outro significante, da qual
resulta a emergência de um sujeito ($). Ele situa essa estrutura fundamental localizando a
exterioridade do significante mestre (S1) como um ponto nodal que permite tanto o
surgimento do discurso quanto à inauguração do campo do Outro. É neste campo que se
desenrola a bateria ou a cadeia de significantes (S1---S2---S3---S4), a qual conhecemos como
o saber (S2). É a partir de S1, do significante mestre, tomado como ponto de origem e exterior
à cadeia, é que se torna possível o aparecimento do saber (S2) no campo do Outro, que tem na
linguagem sua estrutura própria (LACAN, 1969-1970/1992).
No Seminário 16, Lacan (1968-1969/2008) já apontara para a exterioridade do
significante mestre como condição necessária para instituição do campo do Outro como saber
(S2), recorrendo tanto às séries de Fibonacci quanto à dialética hegeliana do senhor e do
escravo, esta que, aliás, serve-se ainda bastante no Seminário 17. Entretanto, vale salientar
que ao falarmos da exterioridade do significante mestre como condição necessária para o
surgimento do campo do saber (S2), queremos com isso dizer que ela possibilita que este
significante precise se fazer dois, fazer-se par, mesmo sendo um significante exterior.
Mas, voltando ao Seminário 16, Lacan (1968-1969/2008, p. 354) afirma que o ser
falante acredita ser dois, “senhor de si mesmo”. E depois acrescenta: “Basta olhar para
qualquer um para saber que, no mínimo, ele se toma por dois” (1968-1969/2008, p. 354). Ora,
o autor nos chama atenção para a relação constitutiva do falante, aludindo à dialética do
senhor e do escravo para falar tanto da origem do mal-estar na civilização quanto do próprio
mal-estar constitutivo do falasser. Afirma, então:
A exploração do homem pelo homem começa no nível da ética, exceto que, no nível
da ética, vemos melhor do que se trata, ou seja, que é o escravo que é o ideal do
senhor. É o escravo que dá ao senhor o que lhe falta, seu um-a-mais. O ideal está aí,
é o serviço do serviço (LACAN, 1968-1969/2008, p. 354, grifo do autor).
Sob esse olhar, vemos um senhor perfeitamente escravizado. “Ele é o cornudo da
história”, nos diz Lacan (1968-1969/2008, p. 354), simplesmente porque ele precisa do
226
escravo para existir como senhor: o escravo é o seu ideal. Entretanto, Lacan nos adverte que
devemos conceber o ideal de eu como um corpo, como um corpo que obedece, motivo pelo
qual este corpo é visado pelo senhor. Dito de outro modo, podemos dizer que na medida em
que o escravo com seu corpo e trabalho dá ao senhor o que lhe falta, seu um-a-mais, o senhor
é visto neste contexto como escravo do escravo. Já o escravo, como ideal do senhor, está a
serviço do serviço. O escravo goza de um saber e de um trabalho, no entanto, este gozo lhe é
extraído pelo senhor de forma a não mais conseguir recuperá-lo. O senhor extrai um gozo
desse outro que trabalha e, assim, produz-se sempre um resto, um mais-de-trabalho, um maisde-gozo, um mais-de-gozar, o qual, uma vez perdido, nunca mais poderá ser restituído
completamente, a não ser por meio de fragmentos.
Lacan (1968-1969/2008) traz à baila a exploração do homem pelo homem através do
senhor e do escravo para traçar uma homologia com o que acontece com o sujeito quando se
aliena na linguagem ou, mais especificamente, nesta estrutura fundamental de linguagem que
está para além da fala e da palavra, instituída por um par ordenado S1—S2. O S1, como
significante mestre e exterior ao campo do Outro “cotejou o um na mesa” (LACAN, 19681969/2008, p. 355, grifo do autor) deste campo. “É preciso partir não do Outro, mas desse um
Outro, o um do significante inscrito no Outro” (LACAN, 1968-1969/2008, p. 355, grifo do
autor). Ao cotejar esse um no campo do Outro, ele joga o dois, tal como na série de
Fibonacci15:
A série de Fibonacci
1)
S1
1) 2) 3) 5) 8) 13)
S2
Fonte: Lacan, 1968-1969/2008, p.355 (adaptado pela autora)
Vemos que o S1, ao cotejar o um no campo do Outro (S2), começa a fazer série e,
nesta medida, observamos que o S1 precisa se articular a outro significante no campo do
Outro para fazer cadeia, pois como novamente afirma Lacan (1968-1969/2008, p. 352, grifo
15
Na matemática, a Sequência de Fibonacci, é uma série de números inteiros, onde cada termo subsequente
corresponde a soma dos dois anteriores. A sequência recebeu o nome do matemático italiano Leonardo de
Pisa, mais conhecido por Fibonacci, que descreveu, no ano de 1202, o crescimento de uma população de
coelhos, a partir desta. O Número de Ouro ou Proporção Áurea é uma constante real algébrica conhecida pela
letra grega (PHI) extraída da Sequência de Fibonacci. Ele que possui o valor aproximado de 0, 618. Esta
proporção é utilizada nas artes de um modo geral como uma proporção buscando o harmônico, não devendo
ser confundida com o número Pi π (de valor numérico aproximado de 3,14) que pertence aos números
irracionais.
227
do autor): “É na condição de inicialmente inscrito como significante unário que o sujeito se
anuncia ao um Outro que está ali, no Outro, e em relação ao qual ele tem que se colocar como
um”.
Para que possa se fazer dois, o significante mestre, como traço unário, deve se
colocar como um no Outro. Lacan (1968-1969/2008) nos demonstrou que a série de
Fibonacci, embora seja infinita, ela não é ilimitada, tem um limite. Este limite é representado
pelo número áureo ou número ouro (a= 0,618). Ou seja, quanto mais a série cresce, o que se
repete é justamente esse valor. É isso o que se produz como repetição. Não por outra razão
Lacan aproxima o número áureo ao objeto a na sua função mais-de-gozar. Quando,
particularmente nas lições VIII e IX do Seminário 16, Lacan faz uso da sequência de
Fibonacci não é por outro motivo senão para apontar que o fenômeno da repetição obedece a
uma lógica de formação que tende sempre a um limite. Este limite é representado pelo
número ou proporção áurea, que o autor faz equivaler ao objeto a mais-de-gozar. O objeto a,
tal como o número áureo, é o que resta da concatenação significante. É o índice do que se
repete no discurso e, assim, pode ser concebido como o elemento que a linguagem não
consegue abarcar totalmente.
Antes de formalizar os quatro discursos como formas de aparelhamento de gozo no
laço social, sabemos que Lacan fez todo um esforço para demonstrar logicamente a
inconsistência do Outro. Ele o fez não apenas através da sequência de Fibonacci, mas também
através da teoria dos conjuntos. Só assim ele pôde, de fato, conceber o real da estrutura e
demonstrar que não existe o Outro do Outro. O que Lacan nos mostrou é que o fato de um
discurso poder sustentar a si mesmo, isso não significa que ele consiga aplacar um todo, sem
excluir a si próprio. Trata-se de um paradoxo, que ele especifica a partir da teoria dos
conjuntos, no Seminário 16, onde discute acerca da topologia do Outro.
Junto com o autor, observamos que sempre haverá uma falta no universo do discurso.
Uma vez A representando o campo do Outro, veremos que é impossível que A contenha a si
mesmo. Temos, então, o par ordenado S
A e depois formamos um conjunto que contenha
o referido par. Assim, A contém os elementos S e A.
228
Fonte: Lacan, 1968-1969/2008, p. 56
Posteriormente, novamente colocamos dentro de A o mesmo par (S
A) e depois
da mesma maneira, de forma que chegamos ao seguinte resultado:
Fonte: Lacan, 1968-1969/2008, p. 57
Se continuarmos a fazer essa operação indefinidamente, notaremos que seria um
processo infinito, pois é impossível que A contenha a si mesmo. Essa falha lógica diz respeito
ao paradoxo de Russell. Lacan (1968-1969/ 2008) também recorre ao exemplo do catálogo
que não pode conter todos os catálogos, para apontar o mesmo paradoxo. Sobre o referido
paradoxo e a inconsistência do Outro, afirma Lowenstein (2003, p. 253):
O Outro só contém S1, S2, S3, todos diferentes do que o Outro representa como
significante: o universo do discurso. A condição é que no interior do Outro não se
encontre nenhum A como elemento. O ponto de apoio de Lacan para explicar isso é
uma contradição descoberta pelos lógicos matemáticos que se colocou em crise. É o
que Russell desenvolveu como paradoxo do barbeiro, que é semelhante ao seguinte
paradoxo: uma classe de livros não é um livro e portanto não pertence a si mesma;
trata-se de uma classe que não está incluída em si mesma, ao contrário de uma classe
de ideia que é uma ideia e pertence a si mesma.
Por outro lado, na mesma medida em que Lacan nos mostra que esta tarefa é infinita,
também demonstra que ela tem um limite e esse limite revela-se no objeto a mais-de-gozar,
pois, nos diz Lacan, o Outro é em-fôrma de a. Em outros termos, o Outro encontra o seu
limite no objeto a, tal como havia proposto pela sequência de Fibonacci, indicando o número
áureo como aquele que sempre se repete. Não por acaso é que o título do Seminário de 16 é
229
de um Outro ao outro. Trata-se, na verdade, de um extremo que vai de A ao a (grifo nosso).
O outro é o a. O autor apresenta essa conceituação através da seguinte figura, que se encontra
na página 241 do referido Seminário 16:
A inconsistência do Outro e seu furo irredutível
Fonte: Lacan, 1968-1969/2008, p. 241.
Nesse contexto, o pequeno a não é uma parte do campo do Outro, mas sim é
igualado ao peso do Outro em seu conjunto, estando numa função êxtima:
Essa relação deixa intacta o lugar em que inscrevi o a. Ele não deve ser tomado
como uma parte. Tudo se enuncia sobre a função do conjunto, como deixando o
elemento em si como potencial de conjunto, justifica que esse resíduo, embora
distinguido sob a função do a, seja igualado ao peso do Outro em seu conjunto.
Aqui, ele está num lugar que podemos designar pelo termo êxtimo, conjugando o
íntimo com a exterioridade radical. Ou seja, isso se dá na medida em que o objeto a
é êxtimo, e puramente na relação instaurada pela instituição do sujeito como efeito
de significante, e como determinado por si só, no campo do Outro, uma estrutura de
borda (LACAN, 1968-1969/2008, p. 241).
Tal como falamos do numero áureo, do objeto a como aquilo que faz limite a série
infinita de Fibonacci, vemos através da mostração dos conjuntos que é o pequeno a que
também faz um limite à interminável introdução de subconjuntos no conjunto maior que é o
do grande Outro, o qual, como vimos, não pode conter a si mesmo. O mais-de-gozar faz
limite ao saber e, portanto, revela o real da estrutura.
É o real da estrutura que faz limite ao saber, mostrando-nos que, como sujeitos
somos cindidos. Assim como não existe um A que possa conter A, afirma Lacan (19681969/2008), não existe o si mesmo:
Como efeito de saber, somos cindidos. Na fantasia, ($ a), S barrado, punção,
pequeno a; somos, por mais estranho que pareça, causa de nós mesmos. Só que não
existe o si mesmo. Há, antes, um ‘si’ dividido [...] O saber serve ao senhor. Volto a
isso hoje para destacar que o saber nasce do escravo (LACAN, 1968-1969/2008, p.
377, grifo do autor).
230
O saber nasce do escravo, mas para que esse saber possa ser fabricado por ele, é
preciso que haja a inscrição do traço unário, adverte Lacan. Para que o escravo ofereça o seu
um-a-mais que falta ao senhor, este deve jogar com o um no campo do Outro, definido por
Lacan como um conjunto vazio. O sujeito, para ser efeito do que é produzido pelo saber do
escravo, só pode emergir no momento em que o traço se inscreve no campo do Outro. O
Outro como conjunto vazio, deve absorver o traço, “para que o sujeito possa, sob a forma de
um significante, ser representado perante esse traço” (LACAN, 1968-1969/2008, p. 378).
Lacan (1968-1969/2008) nos apresenta isso sob a forma do seguinte esquema:
Esquema do um-a-mais
1
1, Ø
Fonte: Lacan, 1968-1969/2008, p. 378
Uma vez o traço sendo absorvido pelo campo do Outro, torna-se possível a inscrição
de uma série, mas de modo retroativo, posto que “o traço unário surge a posteriori, portanto,
no lugar do S1, do significante como aquilo que representa o sujeito para outro significante”
(LACAN, 1968-1969/2008, p. 378). O elemento que representa o sinal do conjunto vazio, à
direita, Lacan sinaliza que é o objeto a. É o “em-fôrma de A” (LACAN, 1968-1969/2008, p.
378, grifo do autor). O objeto a aparece como efeito da repetição promovida pela inscrição do
traço:
O objeto surge da repetição
1
1, a
S2
Fonte: Lacan, 1968-1969/2008, p. 378.
O sinal do conjunto vazio como “em-fôrma de A” é outro meio de representar a
inconsistência lógica do Outro e, principalmente a função que o objeto mais-de-gozar assume
na estrutura desse campo. O mais-de-gozar, ao mesmo tempo em que indica que o Outro não
é consistente, está aí para mostrar que o sujeito, ao se constituir no campo do Outro, sempre
tentará totalizar esse campo e, ao fazer isso, produzirá sempre uma perda, a qual,
paradoxalmente, tentando recuperá-la, acaba por reproduzi-la novamente. Isso é o que instala
231
o processo criativo de produção e deslizamento significante. É desse modo que o sujeito se
constitui: a partir de uma estrutura lógica e não toda de linguagem e que, assim, muito escapa
à fala e a palavra.
O S2, ou seja, o campo do Outro como saber, constitui-se a partir de 1+a. Ou, para
dizer de outra maneira, o campo do Outro é formado pelo S1 (significante unário do sujeito) e
o objeto a, o qual, entendido como fragmento do corpo, é o real, o que não é apreendido pelo
significante. Nessa lógica, o gozo é incluído no campo da linguagem, sendo esta podendo ser
também concebida como um corpo. Trata-se de um corpo, aparelhado e afetado pela
linguagem. É então, por intermédio dessa estrutura mínima [S1,(a)] que se funda e se sustenta
a própria noção de um discurso entendido como sem palavras. Só que, como vimos, o
significante-mestre está lá no campo do Outro como uma exterioridade interna. Ele cotejou
um significante no campo do Outro para fazer cadeia e instituir a bateria de significantes
como tal (S1—S2—S3—S4—S5—S6, etc).
Por esta razão, o escravo é o ideal do senhor, porque sem o significante que cotejou
no campo que é do escravo (S2 como saber) o senhor não poderia jamais agregar como sua
verdade um sujeito suposto. Este, sabemos, só pode surgir pelo efeito de significação da
cadeia de significantes. Por fim, será pela interveniência de S1 sobre o campo do saber (S2)
que o discurso como estrutura fundamental vai se constituir. Essa constituição, por
conseguinte, acontecerá por meio de uma impossibilidade de tudo saber, por conta da
inconsistência lógica do Outro. Para Bousseyroux (2001, p. 22, grifo do autor):
Nessa formalização conjuntural do axioma do sujeito (representado por um
significante para outro significante), o S2, enquanto saber, se desloca sem cessar,
pois o próprio saber é equivalente ao esperado da relação S1-S2. Embora o par
ordenado (S1, S2) seja substituível pelo S2, este último é colocado de alguma forma
fora da página.
Sendo assim, será através dessa formalização axiomática, ordenada por um par S1-S2
é que conceberemos a estrutura mínima de um discurso, entendendo que o S2, enquanto saber,
embora se desloque sem cessar, deve ser entendido como aquele que ex-siste, que está “fora
da página”. Lembremos o que afirma Lacan (1970/2003) em Radiofonia a respeito do
inconsciente: ele é o que ex-siste aos discursos, o que não significa que ele não exerça sua
função. Portanto, de acordo com Teixeira (2002, p. 38):
232
Podemos dizer, portanto, que o inconsciente está presente em cada um dos discursos
na forma de ex-sistência. Está assim determinado pela sua condição de saber nãotodo, responsável pela escansão e passagem de um discurso a outro, em decorrência
do que escapa, situado neste limite, ”fora da página”, dado pelo S2, em sua própria
natureza de deslocar-se sem cessar, metonimizando o gozo e inscrevendo o gozo do
Outro, articulando, enfim, a cadeia discursiva. É isto que a psicanálise mostra com
os discursos, a incompletude do aparelho, neste caso revelada pela impossibilidade
real de completar o saber.
Sob essa ótica, passaremos agora a abordar cada um dos discursos. Começaremos
pelo discurso inaugural, aquele que introduz o mal-estar do sujeito na civilização, inserindo-o
no laço social: o discurso do mestre.
5.1.1 O discurso do mestre e a produção de mais-de-gozar
Lacan toma o discurso do mestre para falar do mito de origem, descrito por Hegel na
Fenomenologia do Espírito o qual, como ressaltamos, deu-se a partir da exploração do
homem pelo homem. O discurso do mestre, como o discurso da civilização retrata a luta
mortal de puro prestígio entre dois homens que buscam reconhecimento um do outro. Nesta
luta, há um vencedor e um vencido. O mestre, que saiu como vencedor, teve que abrir mão do
gozo da vida, enquanto o vencido, que virou escravo, perdeu a liberdade, mas ficou com o
saber sobre o gozo.
Assim, embora o escravo esteja a serviço do mestre senhor, este precisa do escravo,
pois além de deter o saber sobre o gozo, sem a servidão do escravo, o mestre não tem o seu
prestígio. O trabalho está do lado do escravo e é resultado da exploração do homem pelo
homem. O mestre, na posição de agente neste discurso é aquele que tenta dominar, governar,
amestrar o laço social. Para Lacan (1969-1970/1992, p. 73) esta é a característica de um
discurso: “[...] a referência de um discurso é aquilo que ele confessa querer dominar, querer
amestrar. Isto basta para catalogá-lo em parentesco com o discurso do mestre”.
O discurso do mestre mostra-nos a impossibilidade de governar. Neste discurso
quem ocupa o lugar do agente o é o significante mestre (S1). É o significante referente ao
traço unário, exterior ao saber e que coteja o um no campo do Outro (S2) para assim fazer
cadeia. O S1, diz-nos Lacan, é exterior ao saber, ao A, que ele designa como campo do Outro.
É ele que intervém na cadeia de significantes (S2). Nas palavras de Lacan (1969-1970/1992,
p. 11-12, grifo do autor):
233
[...] a partir da exterioridade do significante S1, aquele de onde parte nossa definição
do discurso tal como iremos acentuá-la, neste primeiro passo, com um círculo
marcado com a sigla A, ou seja, o campo do grande Outro. Mas, simplificando,
consideramos S1 e, designada pelo signo S2, a bateria dos significantes. Trata-se
daqueles que já estão ali, ao passo que no ponto de origem em que nos colocamos
para fixar o que vem a ser o discurso, o discurso concebido como estatuto do
enunciado, S1, é aquele que deve ser visto como interveniente. Ele intervém numa
bateria de significante que não temos direito algum, jamais, de considerar dispersa,
de considerar que já não integra a rede do que se chama um saber. Isto se estabelece
primeiro nesse momento em que S1 vem representar alguma coisa por sua
intervenção no campo definido, no ponto em que estamos, como campo estruturado
de um saber. E o seu suposto, upokeimenon, é o sujeito, na medida em que ele
representa um traço específico, a ser distinguido do indivíduo vivo.
Lacan (1969-1970/1992) representa o discurso do mestre através do seguinte
matema, na página 12:
O discurso do mestre
Fonte: Lacan, 1969-1970/1992, p. 12.
No lugar do agente ou do mestre-senhor, o S1 intervém em S2, que trabalha e produz
um gozo. É o escravo que, como S2 e trabalhador incansável, detém os meios do saber,
possuindo o um-a-mais que falta ao senhor. Lacan (1969-1970/1992, p. 12) chama de saber “o
gozo do Outro”. É o escravo que possui o saber. O Saber (S2) está no lugar do Outro. Com
efeito, o fato do saber estar no Outro e do escravo ser o ideal do senhor, isso guarda a verdade
escondida do mestre: ele é castrado ($). Ele precisa do escravo para se fazer dois e ter
prestígio.
Sob outra ótica, é do escravo que o senhor extrai um gozo. O escravo, ao produzir
um saber, deixa para trás um resto a recuperar: um mais-de-gozar (o objeto a). O escravo, no
lugar do Outro e como trabalhador incansável, terá uma parte de seu trabalho que nunca será
pago e, que, por conseguinte, ele nunca conseguirá restituir. Marx falou de mais-valia e Lacan
falou de mais-de-gozar, para apontar o índice do mal-estar na civilização. Afirma Lacan
(1969-1970/1992, p. 84): “O que Marx denuncia na mais-valia é a espoliação do gozo. No
entanto, essa mais-valia é o memorial do mais-de-gozar, é o seu equivalente do mais-degozar”. Dito isso, a espoliação que se trata é do próprio saber. Aí está o segredo implícito no
234
discurso: o trabalhador ou o escravo é apenas uma unidade de valor e, neste sentido, o maisde-gozar se conta, entra no cálculo do que se ganha, do que se acumula. Isso tudo porque o
saber, esse saber do trabalhador, ele nunca é pago como se deve. Produz-se sempre um maisde-trabalho, um mais-de-gozar, um resíduo, um excedente.
Lacan leu Marx, o que lhe permitiu tecer uma homologia entre o conceito marxiano
de mais-valia e o que ele veio a designar com o objeto mais-de-gozar. Lacan parte do
princípio do que está em Marx (2008) em O Capital. Para Marx, a peculiaridade do modo de
produção capitalista reside na diferença entre o valor da mercadoria produzida pelo
trabalhador e o valor de sua força de trabalho. Esta é entendida no contexto do capitalismo
como uma mercadoria: o trabalhador vende sua força de trabalho, tanto que esta pode até
mesmo ser especulada no que hoje percebemos através da expressão “mercado de trabalho”.
A força de trabalho, como uma mercadoria, fabrica outras mercadorias, as quais possuem um
valor diferente no mercado. É da diferença entre o que se paga pelo que se produz e o que se
vende a partir disso é que surge a mais-valia. Da mesma forma que a mais-valia surge por
meio da exploração da força de trabalho, Lacan nos dirá que o mais-de-gozar emerge de uma
espoliação do gozo, de uma produção de saber a partir do trabalho do inconsciente como
saber (S2). De fato, afirma que no plano do discurso do mestre, é precisamente a da
recuperação de mais-valia que se trata (LACAN, 1969-1970/1992). Afirma Lustoza (2009, p.
45):
Há perda de gozo na medida que o trabalhador passa boa parte de seu dia
trabalhando além do que ele precisaria para sobreviver, na medida que ele tem sua
existência roubada sacrificando preciosas horas de sua vida mortal ao senhor
capitalista. E o que há de mais espantoso no capitalismo é a maneira como essa
espoliação do gozo é encoberta, tudo se passando como se o trabalhador recebesse
pela sua jornada o preço justo.
Segundo Oliveira (2004) Lacan extrai o conceito de mais-de-gozar a partir do que
Freud afirmou sobre repetição. Talvez não seja ocasional o fato de Lacan recorrer ao texto
freudiano Além do Princípio do Prazer, de 1920, para aludir justo ao conceito de gozo.
Afinal, por que o sujeito insiste em repetir algo que lhe causa desprazer? É através disso que
Lacan desenvolve o conceito de gozo, mas também, é a partir da compulsão à repetição, que
ele vislumbra a noção de mais-de-gozar. Ora, se o sujeito insiste em repetir uma situação que
o causa desprazer e sofrimento, é porque ele tenta recuperar algo, seja o que for, uma
experiência. A castração e a entrada na linguagem o impediram de satisfazer completamente a
pulsão. Existiu aí uma renúncia pulsional. Algo que ele teve que deixar para trás ao adentrar
235
na linguagem. Entretanto, sempre existirá uma parte do que se perdeu que ele não desistirá de
recuperar, senão ao menos através de fragmentos, pela via do mais-de-gozar. Por este motivo,
entendemos que o mais-de-gozar, estruturalmente, pode ser concebido como índice do malestar do sujeito na civilização.
Especialmente no Seminário 16 e no Seminário 17, Lacan tece a homologia entre a
mais-valia e o mais-de-gozar articulando o trabalho e o que se perde desse trabalho, isto é, a
renúncia ao gozo. No discurso do mestre, o objeto a mais-de-gozar encontra-se no lugar da
produção. O escravo trabalha, goza de um saber e o que se produz disso é um mais-de-gozar.
Sempre sobra um resto de trabalho, um a mais, um excedente que não é pago pelo senhor.
Dito de outra maneira, “ao vender sua força de trabalho para o mercado, o trabalhador vende
algo que será pago, mas também algo que não será jamais pago” (OLIVEIRA, 2004, p. 87).
Nesta operação, surge o mais-de-gozar, o qual ressurgirá como sintoma, como algo que o
sujeito mesmo será incapaz de nomear.
Ainda sobre a homologia que faz Lacan entre a mais-valia e o mais-de-gozar,
Pacheco Filho (2016a) afirma que assim como a condição para a existência da mais-valia se
dá por uma parcela do valor-de-uso da força de trabalho que não se converte em valor de troca
e, portanto, não é remunerada, a emergência do mais-de-gozar acontece quando algo do
sujeito não se converte em significante. O que se extrai daí é o objeto a mais-de-gozar. Só que
para que isso aconteça é preciso entrar no jogo, se apalavrar, entrar no mundo da linguagem e
jogar com os significantes. Dito de outro modo significa entrar na linguagem e se constituir
como um ser falante, representado de um significante para outro significante. Não à toa o
sujeito é o que está no lugar da verdade no discurso do mestre, mostrando sua alienação ao
campo do Outro, ao campo do discurso, o qual, por sua vez, não consegue tudo converter em
linguagem, ou tudo recobrir de significantes, surgindo então o objeto a mais-de-gozar.
Lacan nos adverte que no matema do discurso do mestre o lugar que figura o desejo
é o da verdade (onde está o sujeito-$) e, sob o outro (o S2), está onde se produz a perda de
gozo, o mais-de-gozar (a). O escravo trabalha para produzir mais-valia para o senhor. Isso
porque ele, o senhor, é um sujeito barrado ($). Trata-se aí do que está velado no discurso do
mestre, porque foi o senhor que tudo renunciou, renunciou a gozo em primeiro lugar, “porque
se expôs a morte e continua extremamente fixado a essa posição, cuja articulação hegeliana é
clara. Ela sem dúvida privou o escravo da disposição do seu corpo, mas isso não é nada –
deixou-lhe o gozo” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 113). No entanto, apesar do senhor deixar
ao escravo o gozo, este gozo volta para as mãos do senhor em forma de mais-de-gozar.
Citamos Lacan (1969-1970/1992, p. 113):
236
Como é que o gozo volta a ficar ao alcance do senhor para manifestar sua exigência?
[...] O senhor faz, em tudo isso, um pequeno esforço para que a coisa funcione –
quer dizer, dá a ordem. Simplesmente cumprindo a função de senhor, ele perde
alguma coisa. Essa coisa perdida é por aí que pelo o menos algo deve ser-lhe
restituído – precisamente o mais-de-gozar.
Com efeito, concordamos com Lacan quando situa o mais-de-gozar como aquilo que
marca o discurso do mestre e o próprio mal estar na civilização: a exploração do homem pelo
homem, da qual falamos há pouco. Ao entendermos o discurso do mestre como o discurso
que inaugura o sujeito no âmbito do falasser, da renúncia pulsional, também podemos
compreender com Lacan que não dá para falar de discurso sem falar do mais-de-gozar, visto
que ele é efeito do discurso, efeito do mal-estar e da extração de gozo, promovida pelo sujeito
na entrada no laço social. Ele deixa isso explícito no Seminário 16 quando fala da função do
mais-de-gozar: “Essa função aparece em decorrência do discurso. Ela demonstra, na renúncia
de gozo, um efeito do próprio discurso” (LACAN, 1968-1969/2008, p. 18).
Assim, é por meio deste discurso que o sujeito se aliena e se divide. Por esta razão,
podemos dizer que o discurso do mestre é homólogo ao discurso do inconsciente, pois ele ao
mesmo tempo em que marca a entrada do sujeito na linguagem e no laço social, também
demarca que para sempre será um sujeito dividido, faltoso e desejante, barrado pelo recalque
e que, por isso, nunca poderá satisfazer-se plenamente no que diz respeito à pulsão. Ficará
assujeitado à fantasia e causado sempre a recuperar um gozo pela via do objeto mais-degozar. Além disso, o sujeito será determinado por saber falho, não todo, “marcado por uma
irrupção de lapsos e tropeços em que se revela o inconsciente” (LACAN, 1969-1970/1992, p.
30). Por isso, salienta Lacan (1969-1970/1992, p. 31) que:
Para operar com o esquema do discurso do M maiúsculo, digamos que o escravo,
invisivelmente, é o que constitui um inconsciente não revelado que dá a conhecer se
essa vida vale a pena que se fale dela. O que, de verdades, de verdades verdadeiras,
fez surgir tantos desvios, ficções e erros.
Deste modo, no momento em que acontece a alienação pela linguagem, um traço
aparece no lugar do rastro de gozo: é o traço único ou traço unário, o qual, como S1 “intervém
no campo já constituído dos outros significantes, na medida em que eles já se articulam entre
si como tais, que ao intervir junto a um outro, do sistema, surge isto, $, que é o que chamamos
de sujeito como dividido” (LACAN, 1969-1970/1992, p 13). Disso, pontua Lacan, “surge
alguma coisa definida como uma perda. É isto que designa a letra que se lê como sendo objeto
a” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 13).
237
O objeto a é o que se articula com a repetição e a pulsão de morte, ou seja, com o
gozo. É justamente nesse ponto, do gozo, que Lacan quer nos chamar atenção, pois ele nos
fala de um saber que se localiza no gozo do Outro, de um Outro que goza de um saber. Nessa
perspectiva, ele inclui o gozo na dimensão do saber, isto é, na dimensão da linguagem e do
significante. Não podemos esquecer que ele nos diz que o escravo, como ideal, é um corpo
que obedece ao senhor e que goza. Nessa lógica, o saber, aqui, pode ser entendido como um
corpo que goza, um aparelho de linguagem que goza de um saber. Sobre essa questão, salienta
Lacan:
Vocês sem dúvida me dirão que, sem suma, nisso estamos sempre dando voltas – o
significante, o Outro, o saber, o significante, o Outro, o saber, etc. Mas é justamente
aí que o termo gozo nos permite mostrar o ponto de inserção do aparelho (LACAN,
1969-1970/1992, p. 14, grifo do autor).
Em seguida, pontua em Radiofonia: “O corpo, a levá-lo a sério é, para começar,
aquilo que pode portar a marca adequada para situá-lo numa sequência de significantes”
(LACAN, 1970/2003, p. 407). Trata-se então de um corpo-saber que, por isso, tem relação
com gozo e com a pulsão de morte. Em outras palavras, trata-se de um saber inconsciente
estruturado por uma linguagem que se vincula com o que está para além do princípio do
prazer: o gozo. “Há uma relação primitiva entre saber e gozo” (LACAN, 1970/2003, p. 17). E
é na juntura entre o gozo sexual e o saber que o campo do gozo vincula-se ao campo da
linguagem (LACAN, 1969-1970/1992).
Essa juntura pode ser representada pelo esquema do par ordenado primordial (S1--S2), de onde o sujeito se representa, de um significante a outro significante, somando-o a isso
certa perda, em razão de uma divisão. Essa perda é também hiância, um buraco, é o objeto em
torno do qual se situa toda a dialética da frustração, o objeto mais-de-gozar. O mais-de-gozar
aparece como um bônus, como um modo de recuperar fragmentos do que se perdeu. Afirma
Lacan (1968-1969/2008 p. 114) no Seminário 16:
[...] o mais-de-gozar é diferente do gozo. O mais-de-gozar é aquilo que corresponde
não ao gozo, mas à perda de gozo, na medida em que dele surge o que se torna a
causa conjunta do desejo de saber e da animação, que recentemente qualifiquei de
feroz provém do mais-de-gozar.
Como dissemos anteriormente, do saber como trabalhador incansável sempre fica um
resto que não pode ser recuperado, um resto não pago, uma mais-valia, um mais-de-trabalho,
um mais-de-gozar. Um gozo não pago, é isso que se produz! E é esse gozo, como um
238
excedente, que o sujeito tentará recuperar como um bônus, ao menos parcialmente. Nessa
perspectiva, desde que haja significante, não há relação sexual:
O significante não é feito para as relações sexuais. Desde que o ser humano é
falante. Está ferrado, acabou-se essa coisa perfeita, harmoniosa, de copulação, aliás,
impossível em qualquer lugar da natureza. A natureza apresenta séries infinitas, que
em sua maioria, aliás, não comportam nenhuma copulação, o que mostra a que ponto
pesa pouco as intenções da natureza que isso constitua um todo, uma esfera
(LACAN, 1969-1970/1992, p. 34).
Não por outra razão Lacan atribui ao discurso do mestre o impossível de governar
totalmente: o mestre é castrado. É esta a verdade que o mestre esconde. Não é ele que detém o
meio de gozo. É o escravo que detém o saber meio de gozo. Ele governa, porque extrai um
gozo do escravo, do qual ele não restitui jamais. O mais-de-gozar, como o que se produz no
discurso do mestre, sinaliza um gozo que nunca se recupera. A função do objeto mais-degozar indica uma entropia no circuito discursivo do mestre, onde, da articulação significante,
o saber é meio de gozo:
Tal saber é meio de gozo. E quando ele trabalha, repito, o que produz é entropia.
Essa entropia, esse ponto de perda, é o único ponto, o único ponto regular onde
temos acesso ao que está em jogo no gozo. Nisto se traduz, se arremata e se motiva
o que pertence à incidência do significante no destino do ser falante. Isto pouco tem
a ver com sua fala, com sua palavra. Isto tem a ver com a estrutura, que se aparelha.
O ser humano, que sem dúvida é assim chamado porque nada mais é que húmus da
linguagem, só tem que se emparelhar, digo, se apalavar com esse aparelho. A partir
daí começa o trabalho. É com o saber como meio do gozo que se produz o trabalho
que tem um sentido, um sentido obscuro. Esse sentido obscuro é o da verdade.
(LACAN, 1969-1970/1992, p. 53).
Quando ocorre o emparelhamento dos significantes pela via do discurso do mestre
ocorre um efeito de entropia, um desperdiçamento. Nesse desperdício, o gozo se apresenta e
adquire um status em forma de Mehrlust, nos diz Lacan, de mais-de-gozar. Uma vez
apreendido no registro da perda, “alguma é necessária para compensar, por assim dizer, aquilo
que de início é número negativo [...] Só a dimensão da entropia dá corpo ao seguinte – há um
mais-de-gozar a recuperar” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 52).
No discurso do mestre, além de existir uma impossibilidade total de governar por
conta da castração do mestre, existe uma impotência do alcance à verdade, na medida em que
o mais-de-gozar (como produção) não pode ter nenhuma relação com a verdade ocupada pelo
sujeito ($). O discurso do mestre interdita a copulação entre o sujeito barrado e o objeto no
lugar da produção, ou seja: não há relação sexual. O sujeito só pode relacionar-se com os
objetos produzidos pelo saber (S2), indiretamente, pela via dos significantes. Trata-se da
239
impotência do discurso, localizada na segunda linha do matema. Não existe uma relação
direta entre sujeito e objeto.
Desse modo, a verdade ($) não pode copular com a produção (objeto mais-de-gozar),
como afirma Lacan: “Só que, no nível dessa segunda linha, não existe nem sombra de flecha.
E não apenas não há comunicação, mas há algo que obtura. O que é que obtura? [...] O que
resulta do trabalho [...] chama-se produção” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 185). Ou seja,
existe a barreira da impotência entre o produto e a verdade e não há como sair disso, ressalta
Lacan, seja qual for os significantes mestres que se inscrevam no lugar de agente.
Sobre o aspecto que toca na primeira linha, referente à impossibilidade do discurso,
Lacan (1969-1970/1992, p. 185) afirma:
A primeira linha comporta uma relação que está indicada aqui por flecha, que se
define sempre como impossível. No discurso do mestre, por exemplo, de fato é
impossível que haja um mestre que faça seu mundo funcionar. Fazer com que as
pessoas trabalhem é ainda mais cansativo do que a gente mesmo trabalhar, se tivesse
mesmo que fazê-lo. O mestre nunca faz isso. Ele dá um sinal, o significante mestre,
e todo mundo corre. Daí é que serve partir – de que, com efeito, é totalmente
impossível. Isto é palpável todos os dias.
No que se refere à impotência, é importante salientar que a barreira que existe no
andar inferior diz respeito à interdição do gozo. O sujeito só pode “catar migalhas de gozo”
(LACAN, 1969-1970/1992, p. 264). Em razão disso, Lacan aproxima a parte de baixo do
discurso do mestre com a fantasia ($ a), na medida em que indica a relação do a com o
sujeito dividido marcada pela impossibilidade de completude. Isso porque “em seu ponto de
partida fundamental, o discurso do mestre exclui a fantasia”. E é isto exatamente “o que faz
dele, em seu fundamento, totalmente cego” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 114). No que tange
à impossibilidade no matema do discurso do mestre, citamos Bruno (2011, p. 264, grifo do
autor, tradução nossa):
[...] A razão desta impossibilidade é possível ler no matema, na linha inferior que
separa os termos da esquerda e da direita pela barreira do gozo. $ de um lado (da
esquerda) e a do outro (da direita) não tem relação entre si. Do sujeito ao objeto a e
vice-versa não existe relação alguma. O sujeito é fundamentalmente falta-de-gozo,
separado do objeto mais-de-gozar [...] Tal como disse Lacan, de outro modo, é dizer
que não existe relação sexual.
Ao entender o discurso do mestre como homólogo ao discurso do inconsciente,
observamos o escravo (S2) no lugar do saber meio de gozo e o sujeito no lugar da verdade
como dividido. Nessa condição, o sujeito só pode ter acesso ao objeto a indiretamente pela via
240
dos significantes, através do saber inconsciente que o constituiu como sujeito do desejo. Esse
aspecto, para nós, será de suma importância quando trabalharmos o discurso capitalista e suas
diferenças com relação ao estatuto do seu saber, a considerar o discurso do mestre.
O que se evidencia no discurso do mestre é que não há relação sexual e, portanto, a
inexistência de um gozo pleno, posto que o objeto a mais-de-gozar só existe na condição de
uma renúncia pulsional. O discurso do mestre, assim, tenta governar a pulsão no intuito de
eliminar, fazer subsistir a realidade do sintoma (a fantasia). Por esta razão, o discurso do
mestre é o avesso do discurso psicanalítico, o qual trabalha no sentido de fazer aparecer o
sintoma.
Por outro lado, a impossibilidade de se governar é revelada pelo aparecimento do
sintoma e nessa direção, a psicanálise é o que nos ensina que o discurso do mestre, como
homólogo ao discurso do inconsciente, não é senão um saber a deriva que nenhum sujeito
pode dominar. Nas palavras de Bruno (2011, p. 268-269, grifo do autor, tradução nossa): “Um
saber sem sujeito, é a única definição que devemos reter se quisermos separar o inconsciente
de uma ideologia de domínio”. Assim sendo, é lícito considerar que é justamente a
impossibilidade de tudo governar que permite a irrupção do sintoma e o aparecimento de
outros discursos, tal como o discurso da histérica e o próprio discurso analítico.
Partindo da mesma lógica, mostraremos como se dão os outros discursos: o discurso
da histérica, do analista e do universitário. Elucidado o discurso do mestre, passaremos agora
ao discurso da histérica, este que aparece para desbancar e denunciar a impossibilidade de
tudo governar do discurso do mestre. O discurso capitalista, como veremos, é um caso a parte,
pois mostraremos que ele trabalha tentando eliminar a barreira de interdição ao gozo, fazendo
parecer que tudo é possível, como uma torção do discurso do mestre.
5.1.2 O discurso da histérica e a fabricação de um desejo de saber
Em Radiofonia, Lacan (1970/2003) aponta o histérico como o sujeito dividido, que
demonstra o puro inconsciente em exercício, enquadrando o senhor para que ele produza um
saber um sobre o gozo. O sujeito histérico quer saber como se goza e faz o outro achar o
“caminho das pedras” para ele. Essa é a questão. O sujeito dividido, causado pela falta,
fabrica um desejo de saber no outro, ocupado pelo mestre.
No discurso da histérica quem ocupa o lugar do agente é o sujeito dividido ($), que
se dirige ao significante mestre (S1), na esperança que ele produza um saber (S2). A verdade
que sustenta o agente é o objeto a, representante da falta. É isso que movimenta o discurso da
241
histérica. Bruno (2011) salienta que o discurso da histérica põe em evidência o modo de laço
social propriamente neurótico, posto que, o desejo, ao estar na posição de dominante no
discurso, refere-se a todo sujeito e não somente à neurose histérica, mas também à neurose
obsessiva. O autor ressalta: “[...] o sujeito histérico, homem ou mulher, apresenta-se como o
único que sabe que não sabe. É sua definição de sujeito” (BRUNO, p. 240, grifo do autor,
tradução nossa).
No que concerne à posição de dominante no discurso da histérica, pontua Lacan
(1969-1970/1992, p. 45): “No nível do discurso da histérica, é claro que essa dominante, nós a
vemos aparecer sob a forma de sintoma. É em torno do sintoma que se situa e ordena tudo o
que é do discurso da histérica”. Nesse sentido, quando a lei que agencia o discurso do mestre
é questionada como sintoma, irrompe o discurso da histérica, o qual é movido pela falta (o
objeto a), como se vê:
O discurso da histérica
Fonte: Lacan, 1969-1970/1992, p. 13.
Do lado esquerdo, observamos o sujeito representado pelo $ e o objeto a,
simbolizando a falta e a castração. Do outro lado, verificamos o significante mestre (S1) e o
saber (S2) que se produz. O sujeito dividido ($), movido por uma falta (a), elege e demanda
que um mestre (S1) produza um saber (S2) que dê conta dela. No entanto, notamos que existe
a impotência que se coloca na parte de baixo do matema, isto é, existe a barreira de interdição
ao gozo entre o a e S2: nenhum saber produzido pelo mestre pode apreender a verdade
daquilo que faz desejar o sujeito histérico. Ou seja, nada que o mestre produza como saber vai
dar conta de tamponar a falta desse sujeito.
A verdade velada no discurso da histérica é que sua falta (a) nunca será tamponada e
nem satisfeita, pois ela não se conjuga com o saber (S2), o qual ocupa o lugar da produção. A
impotência existente entre a verdade e a produção fica evidenciada pela própria insatisfação
histérica, que permanecerá para sempre na falta, uma vez que o a estará ali para fazer sua
função, disjunto de S2. O resultado disso é que o Outro (S1), nunca será capaz de dar conta da
demanda do sujeito dividido, isto é, de tamponar o vazio que revela a verdade do discurso da
242
histérica. Assim, o movimento do discurso da histérica, pautado na impotência do saber, é
contínuo:
É um movimento perpétuo, fundado na impotência do saber (S2), para dar razão da
causa do desejo (a), que mantém o desejo, mas como insatisfeito. Ao mesmo tempo,
ao castrar o amo, o sujeito histérico não deixa incólume o pai e suprime por esta via
o agente real que poderia induzir-lhe a consentir a castração materna (BRUNO,
2011, p. 271, tradução nossa).
No Seminário 17, Lacan (1969-1970/1992) remete ao caso da bela açougueira para
falar que o que a histérica quer, na verdade, é manter o desejo insatisfeito: “Não me dá o que
eu te peço, só quero caviar se não tiver!”. É isso que, no fundo, a bela açougueira diz ao seu
marido. Ela faz de tudo para que ele não consiga satisfazer o seu desejo.
Mas, sob outro ponto de vista, na linha de cima da impossibilidade, a histérica, como
um sujeito dividido, ao fazer o outro desejar, guarda o seu lado industriosa, porque fabrica um
homem, como afirma Lacan (1969-1970/1992, p. 34, grifo do autor):
Eis o que quer dizer o discurso da histérica industriosa como ela é. Ao dizer
industriosa, assim no feminino, fazemos da histérica uma mulher, mas isto não é
privilégio seu. Muitos homens se analisam e, só por este fato, são forçados a
também passar pelo discurso histérico, pois essa é a lei, a regra do jogo. Trata-se de
saber o que se obtém disso no que se refere à relação entre homem e mulher. Vemos
então a histérica fabricar, como pode, um homem – um homem que seria movido
pelo desejo de saber.
O discurso da histérica fabrica, portanto, um desejo de saber. É no tocante a esse
ponto que Lacan aponta para a histericização do discurso como condição para que haja
análise. Ele questiona: “Não estará aí, afinal, o próprio fundamento da experiência analítica?”
(LACAN, 1969-1970/1992, p. 35) Ao se interrogar sobre isso, afirma que a histérica, como
sujeito e no lugar dominante do discurso, histeriza o discurso, produzindo a “associação livre
soberana, em suma, do campo” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 35). Talvez não seja por outro
motivo que Lacan encarna o caráter original do discurso da histérica na função de um enigma,
de um semi-dizer, de uma verdade que “nunca se pode dizê-la a não ser pela metade”
(LACAN, 1969-1970/1992, p. 36). E o que faz o discurso histérico senão elevar seu sintoma
no estatuto de um enigma a ser decifrado?
Deste modo, ao buscar um saber no Outro, o sujeito histérico, coloca-se como um
produtor de sintomas ambulante. É um sujeito dividido exemplar que, sob a forma dos seus
sintomas, põe o outro a trabalhar. Por este motivo é que Lacan (1969-1970/1992) vai nos
dizer que é ao redor do sintoma que se situa e se ordena o discurso da histérica. É esse
243
discurso quem dá as coordenadas. Pelo sintoma, a histérica interpela o Outro e pergunta:
Quem eu sou? Do que eu padeço? Sou homem ou mulher? Com isso, ela propõe um enigma
para o Outro (S1), o qual é convocado a responder.
Para Vidal (2004, p. 16) o discurso da histérica trabalha em função da falta-a-gozar
como ponto de partida de sua articulação, “falta que também se encontra na sua produção.
Com essa falta, traduzida em insatisfação, o discurso da histérica provoca no Outro um saber
que pouco lhe serve, pois, disso, ela não quer saber nada”. De acordo com Quinet (2006, p.
17), o discurso da histérica é marcado pelo sujeito da interrogação, “que faz o mestre não só
querer saber, mas produzir um saber”.
E foi tentando decifrar esse enigma colocado pelas histéricas que Freud criou a
psicanálise e sua teoria sobre o inconsciente. Neste contexto, o saber (S2) aparece aí
justamente ocupando o lugar da produção. Sustentadas pela falta (a) como verdade, as
histéricas dirigiram-se à Freud como sujeitos divididos ($) e demandaram dele, como um
mestre (S1), à construção de um saber (S2) sobre o sofrimento de que padeciam. Assim,
nasceu a psicanálise e, nesta medida, poderíamos entender que seu surgimento, ao menos em
parte, como um resultado do discurso da histérica.
Entretanto, como todo discurso, já falamos da impossibilidade e impotência do
discurso da histérica. Por mais que Freud tenha se esforçado e tenha, de fato, conseguido
construir um saber considerável sobre a histeria e inventado a psicanálise, sabemos que a
neurose é um poço sem fim. Contudo, não podemos esquecer que Freud não respondeu ao
discurso da histérica somente como mestre, mas sim como analista. Sabemos também da
impossibilidade do discurso do analista, como o próprio Freud nos apontou. Como analista,
ele estava ciente da verdade que guardava a neurose histérica. Com Lacan, podemos entender,
na mesma lógica, que a verdade velada no laço social do discurso da histérica é o objeto a. A
histérica precisa ser o objeto a para ser desejada. Nas palavras de Lacan (1969-1970/1992, p.
186-187):
Tomemos agora o discurso da histérica tal como ele se articula – ponham o $ em
cima e à esquerda, o S1, à direita, o S2 embaixo, o a minúsculo no lugar da verdade.
Também não é possível que, pela produção de saber, se motive a divisão, o
dilaceramento sintomático da histérica. Sua verdade é que precisa ser o objeto a para
ser desejada. O objeto a é afinal de contas um pouco magrelo, embora, é claro, os
homens adorem isso e não possam sequer vislumbrar se fazer passar por outra coisa
– outro sinal da impotência cobrindo a mais sutil das impossibilidades.
A impossibilidade no discurso da histérica revela-se na eleição de um mestre para
logo em seguida destituí-lo. Como mencionamos, ela quer caviar se não tiver, quer um
244
mestre, mas ele não pode saber demais, enfim, ela quer um mestre, mas um mestre que,
contraditoriamente, deixe-lhe na falta. É em torno dessa impossibilidade que o discurso da
histérica gira em torno. Assim, valoriza-se a falta e o objeto a é o índice e a verdade disso. O
gozo da histérica é o gozo da insatisfação. Por outro lado, “o discurso da histérica revela a
relação do discurso do mestre com o gozo, dado que o saber vem ali no lugar do gozo [...]
Seguindo o efeito do significante-mestre, a histérica não é escrava” (LACAN, 19691970/1992, p. 98). Ela procura um mestre para ser o seu escravo, ela quer que ele saiba, mas
não pode saber demais. Isso nos remete à questão do mestre castrado.
Na lição intitulada O mestre castrado Lacan (1969-1970/1992) nos relembra o “caso
Dora” de Freud para falar de toda a destinação simbólica que o pai ocupa na neurose histérica.
Afirma Lacan (1969-1970/1992, p. 99-100, grifo do autor):
Significa proferir implicitamente que o pai não é apenas o que ele é, que é um título
como ex-combatente – ex-genitor. Ele é pai, como o ex-combatente, até o fim de sua
vida. Significa implicar na palavra pai algo que está para sempre, de fato, em
potência de criação. É em relação a isto, nesse campo simbólico, que temos que
observar, que o pai, na medida em que desempenha esse papel-pivô, maiúsculo, esse
papel-mestre no discurso da histérica, é isto precisamente que chega a sustentar, sob
esse ângulo de potência de criação, sua posição em relação à mulher, mesmo estando
fora de forma. É isto que especifica a função que designamos como pai idealizado.
Assim, ao sustentar um pai idealizado e que, portanto, não existe, a histérica sustenta
um discurso faltoso e, portanto, fabrica um mestre, mas um mestre que nunca sabe tudo. Por
isso, salienta Lacan, ela reina sobre o mestre. Para ele, mérito do discurso da histérica está em
manter na instituição discursiva a pergunta o que vem a ser relação sexual, ou seja, como o
sujeito pode sustentar essa pergunta como enigma, posto que, de fato, esta resposta está
recalcada. A verdade é inacessível ao sujeito e ela faz, à sua maneira, uma espécie de greve ao
saber, ao mesmo tempo em que o incita. A histérica, para Lacan (1969-1970/1992, p. 98-99):
Não entrega seu saber. No entanto, desmascara a função do mestre com quem
permanece solidária, valorizando o que há de mestre no que é o Um com U
maiúsculo, do qual se esquiva na qualidade de objeto de seu desejo. Aí está a função
que temos demarcado há muito tempo, ao menos no campo da minha escola, sob a
denominação de pai idealizado.
Nesta medida é que Lacan aproximará o discurso da histérica com o discurso
universitário, pois ele impulsiona certa produção de saber. Ele tece essa aproximação em
Radiofonia. Afirma que “por mais paradoxal que seja a asserção, a ciência ganha impulso a
partir do discurso da histérica” (LACAN, 1970/2003, p. 436). Por se situar no lugar do agente
245
como um sujeito dividido, a histérica seria “o inconsciente em exercício, que põe o mestre
contra a parede de produzir um saber” (LACAN, 1970/2003, p. 436). Para Lacan, a própria
teoria do movimento na física só veio a evoluir quando ela se livrou do sentimento de
impulsão, isto é, quando emergiu o retorno do recalcado dos significantes em torno da
equivalência entre o repouso e o movimento retilíneo uniforme. Em outras palavras, a
histérica, com seu discurso, revela o retorno do recalcado e faz o mestre gozar, trabalhar, para
assim produzir um saber para ela, a qual, nunca será completo, porque guarda como verdade
uma falta-a-gozar. Veremos que o analista, diferentemente, com seu discurso, não se dirigirá
ao sujeito histérico como um mestre, mas sim como um objeto causa de desejo.
5.1.3 O discurso do analista e a verdade de um saber não-todo
No discurso do analista quem ocupa o lugar do agente é o objeto a. É ele quem está
em causa, ele é o objeto causa de desejo do outro, do sujeito dividido ($). O analista,
subsidiado por uma verdade (S2) não responde a demanda do sujeito no lugar do mestre,
embora este solicite que o mesmo esteja nesta posição. Ao invés disso, o psicanalista põe o
sujeito a falar, de modo que ele possa produzir algo a partir de seus próprios significantes
mestres. Lacan escreve o matema o discurso do analista da seguinte maneira:
O discurso do analista
Fonte: Lacan, 1969-1970/1992, p. 29.
“A posição do analista, eu a articulo da seguinte forma – digo que ela é feita
substancialmente do objeto a” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 44). Isso porque, afirma Lacan,
o objeto a é justamente aquilo que se apresenta como mais opaco. É dessa opacidade que é
feito o discurso do analista, ele tem um “efeito de rechaço” (LACAN, 1969-1970/1992, p.
44). Tal efeito é fruto da própria posição dominante que ocupa o psicanalista, a do objeto a.
O saber (S2), no lugar da verdade, é o que está velado no discurso do analista e diz
respeito a um saber falho e não totalitário, refere-se a uma verdade que só pode ser semi-dita.
O saber no lugar da verdade nos ensina que a verdade como saber é um enigma. É isso que o
psicanalista sustenta com a sua verdade. Daí o psicanalista trabalhar com a interpretação:
“Um saber como verdade – isto define o que deve ser a estrutura da interpretação” (LACAN,
246
1969-1970/1992, p. 37). A interpretação visa atingir a enunciação e não o enunciado, isto é,
aquilo que o sujeito diz e não sabe o que está dizendo. É neste aspecto que encontramos o
inconsciente, em seu estatuto de enigma. Sobre o que se espera de um psicanalista, pontua
Lacan (1969-1970/1992, p. 55, grifo do autor):
Mas o que se espera de um psicanalista, evidentemente seria preciso tratar de
compreender o que isso quer dizer. Está aí, assim, ao alcance da mão – muito
embora eu tenho o sentimento de estar sempre redizendo -, o trabalho é para mim, e
o mais-de-gozar, para vocês. O que se espera de um psicanalista é, como disse da
última vez, que faça funcionar seu saber em termos de verdade. É por isto mesmo
que ele se confina em um semi-dizer [...] É ao analista, e a ele somente, que se
endereça essa fórmula que tantas vezes comentei, Wo es war, soll Ich werden. Se o
analista trata de ocupar esse lugar no alto e à esquerda que determina seu discurso, é
justamente porque de modo algum está lá por si mesmo. É lá onde estava o mais-degozar, o gozar do outro, que eu, na medida em que profiro o ato analítico, devo
advir.
O analista, como causa de desejo, coloca-se então na mira do desejo de saber do
analisando, dizendo a ele: “Vamos lá, diga tudo o que lhe passar pela cabeça, por mais
dividido que seja, por mais que isso manifestamente demonstre que ou bem você não pensa,
ou bem não é absolutamente nada” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 112). Ao dar à palavra ao
analisando, esta palavra não está desvinculada do afeto, pois este nada mais é do que “o
produto da tomada do ser falante num discurso, na medida em que esse discurso o determina
como objeto” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 160).
Assim como o discurso do mestre e o da histérica, o discurso do analista também traz
consigo uma impossibilidade: o impossível de curar. Vimos que o que se produz é um
significante-mestre, fato curioso, aponta Lacan. Entretanto, trata-se de um significante mestre
diferente, que surge em outro estilo, em outro contexto, posto que ocupa outra posição no
discurso, colocando-se como um produto de um trabalho do sujeito. São os significantes
únicos, unários que marcaram o sujeito em sua constituição, os quais são produzidos em
análise, sob transferência.
O que se coloca como impossível de curar e, assim, de analisar totalmente, é que não
existe um sentido último para o gozo do sintoma e o sujeito, de certo, tem que lidar com isso.
Não há metalinguagem e a verdade não pode ser toda dita. O saber é falho e, por isso mesmo,
o sujeito nunca encontrará uma explicação “completa”, aquela que vai dar conta de justificar
todos os seus sintomas: S1 não se conjuga com S2, produção e verdade não copulam. Aí está
a impotência do discurso do analista. No que tange ao discurso do analista, afirma
Bousseyroux (2012, p. 106, grifo do autor):
247
E à qual impossível restringe o discurso do analista? Aqui, a restrição do impossível
é aquela impensável de um discurso que não pode ser sustentado senão pelo o que
dele seja ejetado! O discurso do analista restringe seu agente ao silêncio, lá onde o
discurso da histérica o restringe a se fender por uma fala. O discurso do analista é
um discurso essencialmente sem fala. Isso se dá pelo fato de que não é possível que
o sujeito que aí fala como analisante tenha seu desejo de falar saturado pelo objeto
que, entretanto, causa seu dizer e que o analista encarna por seu silêncio de
semblante de objeto.
A diferença é que o analista dirige o tratamento levando em consideração o
impossível da relação sexual e a inconsistência lógica da estrutura do Outro, ou seja, que a
linguagem não aplaca tudo. Por este motivo é que o analista não consegue sustentar uma
análise caso ele não esteja despido das idealizações que giram em torno da completude. O
analista, na posição de objeto causa de desejo, presentifica a falta, fazendo com que o sujeito
se dê conta do que diz, provocando equívocos no discurso, visando um esvaziamento de
sentido. Sobre isso, vale citar a seguinte passagem que Lacan extrai de Radiofonia, a qual
consta no Seminário 17:
O psicanalista só se sustenta se não tiver contas a ajustar com o seu ser. O famoso
não-saber com que caçoam de nós só lhe toca o coração porque, quanto a ele, ele
não sabe nada. Tem repugnância à moda de desenterrar uma sombra para fingir que
é carniça, a se fazer cotar como cão de caça. Sua disciplina o penetra porque o real
não é, antes de mais nada, para ser sabido – é o único dique para conter o idealismo
[...] Para dizer a verdade, é só de onde é falso que o saber se preocupa com a
verdade. Todo saber que não é falso não se importa com ela. Ao ser averiguado, só
tem sua forma como surpresa, surpresa, de um gosto aliás duvidoso, quando, pela
graça de Freud, é de linguagem que nos fala, posto que não é senão seu produto
(LACAN, 1969-1970/1992, p. 197, grifo do autor).
Essa passagem de Radiofonia refere-se ao questionamento em torno da
incompatibilibidade entre saber e verdade. Lacan responde à pergunta dizendo que saber e
verdade não são complementares, visto que não comportam um todo, sofrem uma limitação.
A verdade situa-se no que do real faz função no saber ou, em outras palavras, o que do gozo,
faz função no campo da linguagem. Não existe um casamento possível entre a verdade e o
saber, no sentido de uma complementação, o que não significa que não sejam incompatíveis.
Em se tratamento do discurso, considerando o lugar entre a verdade e a produção, já
dissemos que essas não se conjugam. No discurso do analista, a impotência é marcada pela
interdição do gozo entre o saber (S2) no lugar da verdade e o significante-mestre (S1) no
lugar da produção. O saber no lugar da verdade no discurso do analista demarca aí sua
dimensão real, ou seja, daquilo que não pode ser sabido devido a um furo que a verdade faz
no saber, revelando que existe um limite para dizer toda a verdade. Sobre o discurso do
analista, citamos Bruno (2011, p. 274, grifo do autor, tradução nossa):
248
A resolução da transferência que condiciona a resolução da experiência analítica,
está então ao alcance do analisante desde o momento em que, não sem paciência,
constata-se de que este significante (S1) não o representa para outro significante
(S2). Entre o que diz (S1) e o que sabe (S2), existe essa disjunção que proíbe (interdita) o gozo. Assumir essa disjunção implica assumir o seguinte: o que sabe não é o
sujeito, senão o sintoma.
Isso porque o saber que se ancora o psicanalista localiza-se em uma verdade que
supõe “o que do real faz função no saber, o que se acrescenta a ele (ao real)” (LACAN,
1970/2003, p. 443). Discutimos no capítulo anterior que o sintoma é uma verdade que retorna
nas falhas do saber. Agora, dizemos que o sintoma é uma verdade que retorna nas falhas do
saber, porque esse saber é um corpo que goza e que, por isso, traz consigo o aspecto real de
sua estrutura. O real é justamente o que denota a falha de todo saber, justamente porque não
existe um Outro do Outro, ou um conjunto que contenha a si mesmo, tal como Lacan (19681969/2008) nos mostra no Seminário 16. Não existe um conjunto dos conjuntos. O
significante-mestre (S1) é êxtimo. Pertence ao Outro sem pertencê-lo ao mesmo tempo.
O saber (S2), ele é corpo, inscreve-se no corpo através do aparelho de linguagem.
Esta linguagem corta o corpo, estabelecendo assim os objetos parciais (o olhar, o seio, as
fezes, a voz). Dito de outra forma, a incorporação do simbólico ao corpo, produz o gozo e
também o alimenta. Por esta razão, o saber (S2), entendido como campo do Outro, é real, a
estrutura é real, porque se trata de um corpo, de um Outro corpo, que se aparelha em uma
estrutura de linguagem, a qual encontra seu limite no o a: no objeto mais-de-gozar.
[...] o S2, como gozo do Outro, representa aí o saber do inconsciente, revelando que
é impossível de ser todo dito por ocupar o lugar da verdade. Nessa conjugação de
impossibilidades, Lacan recoloca a função do recalque, que só se alcança pela noção
do semidizer, evocando o equívoco próprio ao significante no campo da linguagem,
evidenciado no lapso, no chiste, no ato falho, que outrora situou nas entrelinhas da
fala (TEIXEIRA, 2002, p. 40).
Sendo assim, a verdade a qual se sustenta o psicanalista é real, nos diz Lacan, pois se
ancora em um saber não-todo. É a essa verdade que se dirige o psicanalista, para o furo da
estrutura, para o impossível da relação sexual, para aquilo que cai do saber. Onde todos estão
capturados por encontrar uma verdade absoluta e não furada, o psicanalista caminha na
contramão e é justamente aí que se encontra sua incidência política, nesta articulação com
real, aponta Lacan (1970/2003), na direção contrária ao discurso capitalista, o qual, veremos,
encontra sua parceria no discurso universitário com sua pretensa totalização do saber.
249
5.1.4 O discurso universitário e a pretensa totalização do saber
No discurso universitário, vemos o saber (S2) ocupar a posição de agente
sustentando-se no significante-mestre (S1) no lugar da verdade:
O discurso Universitário
Fonte: Lacan,1969-1970/1992, p. 29.
Lacan (1969-1970/1992) denomina o discurso universitário como o discurso do
mestre moderno ou do mestre pervertido, que se especifica por ser não de saber-de-tudo, mas
de tudo-saber. Ele relaciona o saber que se coloca como dominante neste discurso com a
burocracia e afirma que “o que se opera entre o discurso do senhor antigo e do senhor
moderno, que se chama capitalista, é uma modificação no lugar do saber” (LACAN, 19691970/1992, p. 32). Trata-se de uma transmutação, na medida em que o escravo é despossuído
daquele de quem detinha o saber. Além do escravo não ser mais aquele que ocupa o lugar de
quem trabalha, não é mais o senhor antigo quem está no lugar de dominante do discurso. O
significante-mestre (S1) agora está situado no lugar da verdade. No discurso universitário,
todos somos proletários, estamos à disposição do saber (S2) tirânico e totalitário. Estamos no
lugar de objeto a.
Para Lacan, o discurso universitário não é o discurso do professor, mas é o discurso
que produz o professor, recalcando “o significante mestre sob a barra, no lugar da verdade, de
sorte que ao saber S2 é suposto um autor S1” (BOUSSEYROUX, 2012, p. 108). O saber,
nesse discurso, é um saber douto e professoral, referido ao experts, os quais os alunos se
colocam como objetos desse saber hegemônico, sendo o Outro despojado de sua função de
saber. Nesse discurso, como objeto a, somos todos proletários. Sobre onde se situa o
proletário, Lacan (1969-1970/1992, p. 157) afirma:
Ele só pode estar no lugar onde deve estar, em cima e à direita. No lugar do grande
Outro, não é? Precisamente, ali o saber não conta mais. O proletário não é
simplesmente explorado, ele é aquele que foi despojado de sua função de saber. A
pretensa libertação do escravo teve, como sempre, outros correlatos. Ela não é
apenas progressiva. Ela é progressiva à custa de um despojamento.
250
Lacan falou do proletário no discurso do mestre antigo, antes representado pelo
escravo. Ele dizia que seu estatuto era completamente claro: seu lugar era de saída o saber.
Todavia, com a evolução do discurso do mestre, subtraiu-se o saber do escravo e “a ciência,
tal como atualmente se apresenta, consiste justamente nessa transmutação de função”
(LACAN, 1969-1970/1992, p. 157). Foi essa transmutação na função que permitiu esse
despojamento, esse desalojamento que levou a universidade a um saber que faz referência a
um saber do manual.
Não por outro motivo Lacan faz referência no Seminário 17 à Conferência que
proferiu Foucault, em 1969, intitulada O que é um autor? para trazer à tona essa questão e
para discutir que tipo de ciência o discurso universitário estaria produzindo ou, melhor,
forjando, com “essas coisinhas, gadgets e coisa e tal, que por enquanto ocupam o mesmo
espaço que nós no mundo” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 157). Ao se interrogar “que importa
quem fala?” (LACAN, 1969/2001, p. 264), Foucault aponta justamente para o lugar que o
autor deixou de ter no campo científico, revelando o apagamento do nome do autor e, decerto,
nas palavras de Lacan, a transmutação do lugar do saber, provocada pelo discurso
universitário. Essa modificação do estatuto do saber permitiu um saber massificado,
transformado em mercadoria, que se reduz ao manual e ao seu potencial de troca no mercado,
ao passo que, antes, ele tinha um valor de uso, sendo suas autorias também valorizadas.
No campo da psiquiatria, não vamos muito longe. Hoje temos um Manual de
Psiquiatria, que de tão potente faz parte de nossa vida cotidiana. Esses manuais não deixam de
produzir gadgets para angariar mais e mais consumidores. Essa é a apropriação que o discurso
capitalista faz ciência moderna, a qual, falaremos a seguir. No entanto, desde já, observamos
Lacan identificar no desenvolvimento do discurso do mestre, através do discurso
universitário, o cerne da emergência do discurso capitalista.
Bruno (2011), ao falar da disjunção entre os lugares da produção ($) e a verdade (S1)
no discurso universitário, salienta que tal disjunção revela um abismo onde o sujeito
produzido por este discurso se vê na situação de ter que supor um autor no que tange ao saber
(S2). Dito de outra maneira, a impotência do discurso universitário, considerando onde o
sujeito como produção se encontra, refere-se à impotência de poder localizar um significante
mestre que possa constituir-se como aquele que lhe garanta algum saber. Nesse contexto, o
sujeito não vê outra saída senão supor um autor ao saber (S2), este que comanda a ordem do
discurso como agente. Trata-se de um saber do manual, mas que todos supõem que exista ali
um autor ou autores. O significante mestre (S1), como a verdade no discurso universitário, é o
autor suposto no saber (S2), como agente do discurso universitário.
251
O que entra em questão é uma tirania do saber:
O fato de que o tudo-saber tenha passado para o lugar do senhor, eis o que, longe de
esclarecer, torna um pouco mais opaco o que está em questão – isto é, a verdade. De
onde sai isso, o fato de que haja nesse lugar um significante senhor? Pois é
precisamente o S2 do senhor, mostrando o cerne do que está em jogo na nova tirania
do saber, isto o torna impossível que nesse lugar apareça, no curso do movimento
histórico – como tínhamos, talvez, esperanças, - o que cabe à verdade. O sinal da
verdade está agora em outro lugar. Ele deve ser produzido pelos o que substituem o
antigo escravo, isto é, pelos que são eles próprios produtos, como se diz,
consumíveis, tanto quanto outros. Sociedade do consumo, dizem por aí. Material
humano, como se enunciou um tempo – sob os aplausos de alguns que ali viram
ternura (LACAN, 1969-1970/1992, p. 32-33).
Nessa direção, o saber deixa de ser meio de gozo e, como nos diz Bruno (2011, p.
259, tradução nossa): uma das consequências do discurso universitário é o desconhecimento
do inconsciente. O autor afirma: “é dizer a incompatibilidade entre o saber e o sujeito”. Se o
saber torna-se pretensamente totalitário e sem furos, deixando de ser o trabalhador ideal, um
meio de gozo, ele perde o acesso que poderia ter ao sujeito.
Trata-se de um saber, tal como um cavalo de Tróia às avessas, metáfora que Lacan
utiliza no Seminário 16 e volta a usar no Seminário 17 para designar um saber-totalidade, um
saber acumulação, que quanto mais se produz, mais se acumula, melhor, pois produz maisvalia. É um saber mercadoria. Nasce, assim, um mercado de saber e a absolutização do saber
nesse mercado.
Tal absolutização, ao se impor hegemônica, coloca o outro do discurso no lugar de
objeto, de objeto a. São os estudantes, ou os as-tudados (grifo nosso), neologismo de Lacan
para falar dos estudantes que trabalham, trabalham e trabalham para produzir conhecimento
em forma de mercadoria. São os estudantes como objetos do saber (S2---a). O mal-estar que
disso se produz revela-se na posição do sujeito dividido ($), como se verifica no discurso no
lugar da produção. Assim, os estudantes, como astudados, são todos unidades de valor,
créditos. Segundo Lacan (1969-1970/1992, p. 194):
Quanto mais ignóbil – não disse obsceno, não se trata disso há bastante tempo -,
melhor será. Isto esclarece verdadeiramente a reforma recente da universidade, por
exemplo. Todos, unidades de valor, créditos – tendo na algibeira de vocês o bastão
da cultura, marechal à bessa, mais medalhas, como nos concursos de animais, que
vão etiquetá-los com o que ousa chamar de mestria. Formidável, terão disso em
profusão.
Se no discurso do mestre o escravo é o ideal de eu do senhor e o servo ocupa o lugar
de saber, no discurso do mestre moderno (no discurso universitário), ocorre uma modificação
252
no lugar do agente: o S2 passa a estar neste lugar. Isto, por conseguinte, faz com que o
escravo deixe de ser o ideal de eu do senhor, porque ele é despossuído do seu saber. O
discurso universitário produz o mito do eu ideal, do eu que domina, “do eu pelo qual alguma
coisa é pelo menos idêntica a si mesma, a saber, o enunciador, eis precisamente o que o
discurso universitário não pode eliminar do lugar onde se acha a sua verdade” (LACAN,
1969-1970/1992, p. 65). Referimo-nos a um discurso que agencia um espelhamento, diz
Lacan, uma Eu-cracia (LACAN, 1969-1970/1992, p. 65, grifo do autor).
Nada curioso, pois em seguida Lacan fala da psicose para salientar a estrutura que
não quer saber nada da verdade da castração e que, por isso, funciona na base do
espelhamento. No nível do discurso e do laço social, a universidade e a ciência moderna,
ressaltamos isso no capítulo anterior, nada quer saber da verdade que não pode ser toda dita,
ou, para falar de outra forma, não introduz o Nome-de-pai na consideração científica, ficando
assim capturada pela Eu-cracia.
Em Radiofonia, ressalta Lacan (1970/2003) que é por estar em progresso com
relação ao discurso universitário que o discurso do analista possibilita circunscrever o real,
considerando a impossibilidade que exerce sua função. Dito de outra maneira, o discurso do
psicanalista atenta para o real da estrutura, supondo um saber na estrutura, ocupado no
referido discurso pelo lugar da verdade. O discurso do analista aproxima a linguagem do real
fazendo uma “novação”, no dito de Lacan (LACAN, 1970/2003, p. 446), revelando o que do
gozo faz furo em seu cálculo.
Essa Eu-cracia ou o mito do eu ideal no discurso universitário faz surgir como
dominante “um saber desnaturado de sua localização primitiva no nível do escravo por ter-se
tornado puro saber do senhor, regido por seu mandamento” (LACAN, 1969-1970/1992, p.
110). O significante-mestre, ocupando o lugar da verdade, permite com que qualquer
possibilidade de enigma seja esmagada, silenciada. A verdade da ciência se revela como:
“Vai, continua. Não pára. Continua a saber sempre mais” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 110,
grifo do autor).
Contudo, o que o significante-mestre intenta esconder é justamente o que este lugar
contém de enigma, ou seja, o que esse discurso esconde como verdade. A verdade é que quem
trabalha é sempre o outro que, como mencionamos, são os estudantes no lugar do objeto a
(S2---a). Ao tomar como referência as ciências humanas, Lacan (1969-1970/1992, p, 111,
grifo do autor) afirma que é preciso fabricar a palavra astudado. Já falamos desse neologismo.
Citaremos agora nas palavras de Lacan (1969-1970/1992, p. 111, grifo do autor):
253
O estudante se sente astudado. É astudado porque, como todo trabalhador – situemse nas outras pequenas ordens -, ele tem que produzir alguma coisa [...] O mal-estar
dos astudados, entretanto, não deixa de ter relação com o seguinte – apesar de tudo,
solicita-se que eles constituam o sujeito da ciência com sua própria pele, o que,
segundo as últimas notícias, parece apresentar dificuldades na área das ciências
humanas. E é assim que, para uma ciência tão bem assentada por um lado, e tão
evidentemente conquistadora por outro – o bastante para se qualificar de humana,
sem dúvida porque toma os homens como húmus -, ocorrem coisas que nos
permitem sair-nos bem e compreender o que comporta o fato de substituir no plano
da verdade o puro e simples fundamento, o do mestre. Não pensem que o mestre
está sempre aí. O que permanece é o imperativo categórico Continua a saber. Não há
mais necessidade de que ali haja alguém. Estamos todos embarcados, como nos diz
Pascal, no discurso da ciência.
O simples fato de existir um imperativo categórico (que diz: goza e produza saber!),
por si só, faz a máquina do discurso universitário andar, mesmo que o mestre não esteja
encarnado na figura de alguém. Isso é o discurso sem palavras de que fala Lacan. Estamos
todos apalavrados, aparelhados por uma linguagem. Somos sujeitos e não homens. Não existe
uma ciência do homem, afirmou Lacan (1966/19921998) em A ciência e a verdade, mas
apenas o seu sujeito. Daí reside todo o problema das ciências humanas. Nessa produção de
conhecimento das ciências humanas, a crítica de Lacan está no fato de que, ao tentar fabricar
um homem ideal (um homem abstrato) como seu objeto de estudo, há um pensamento que
reside na crença segundo a qual a objetificação do homem possa produzir um resultado
cientificamente palpável. O fato é que isso, para Lacan, é uma tarefa infértil, porque o que
existe é um sujeito dividido. Se, portanto, considerarmos que só existe o sujeito da ciência,
diremos então que ciência só pode ser castrada. No entanto, essa castração, a ciência não quer
ver. Ao invés disso, produz-se um saber em massa e, os astudados, colocados no lugar de
objetos no discurso (a), acabam deixando como resto seu próprio mal-estar como sujeitos ($),
tal como percebemos no matema do discurso universitário, onde no lugar da produção está o
sujeito dividido.
O astudado é aquele que entra na universidade e sai convencido de que não sabe
nada. Ao contrário, seu mal-estar é revelado pelo fato de que deve saber mais e mais, produzir
e trabalhar mais e mais. A relação que se estabelece (S2---a) mostra a impossibilidade de
educar, mas também a tentativa discursiva de aparelhar o gozo de tal modo que o campo do
Outro possa ser completado pelo objeto a, encarnado pelos astudados.
A burocracia se revela na quantidade de monografias, teses, artigos, dissertações que
a universidade consegue produzir, além, é claro, na quantidade de mestres, doutores e
bacharéis. Tudo sob o modo do espelhamento. É uma produção em massa, à imagem e
semelhança do modelo de saber. Não importa o estilo e singularidade de cada um, o que
254
importa são as regras e normatizações, o que consta no manual. Cada saber produzido, cada
tese terminada, cada doutor formado, entra no cavalo de Tróia, entra para contabilidade, se
conta, se calcula, entra na economia do mercado, na economia de gozo do discurso.
No Seminário de 16, na aula Mercado do saber, greve da verdade, Lacan (19681969/2008) remete a uma homogeneização dos saberes no mercado e se refere ao mais-degozar como aquilo que representa o mal-estar na civilização, a considerar o princípio do valor
do saber, este que passa a ter valor de troca, valor de mercadoria. Afirma Lacan (19681969/2008, p. 42): “A unidade de valor, esse papelzinho que pretendem conceder a vocês, é
isso. É o sinal daquilo em que o saber se transformará cada vez mais nesse mercado chamado
universidade”. Esse papelzinho nada mais é do que o diploma. Através do diploma a
universidade enfeitiça a mercadoria, fazendo os estudantes acreditarem que podem conseguir
tudo com ele. Acontece uma absolutização do mercado de saber.
O mercado de saber só consegue sua absolutização no momento em que consegue
aparecer como totalitário, totalizante. Dessa maneira, isso é o que pretende o discurso
universitário, fazer o saber parecer consistente, sem furos, totalizante. Dizendo de outra
maneira, esse discurso tenta fazer um conjunto que aplaque todos os conjuntos. No entanto,
Lacan afirma que, logicamente, esta tarefa é infértil.
Trazendo novamente a discussão para o território de nossa pesquisa, tomaremos
como referência a expansão do diagnóstico de bipolaridade. Antes, a categoria psicose
maníaco-depressiva, cunhada por Kraepelin, agora foi desmembrada em transtorno, elencada
em subcategorias contida no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que
se diz ateórico, pragmático e operacional. Por ser um Manual, muitas vezes é difícil
encontrarmos nele a referência a um autor. Aliás, mesmo na sua introdução, como
procuramos demonstrar no capítulo 2, a APA deixa claro que esse não é seu objetivo. Ele não
parte de UM autor ou de teorias heterogêneas (tal como podemos ver na psiquiatria clássica)
que podem dialogar ou confrontar-se entre si, mas sim buscam compilar um saber
homogêneo, considerando as estatísticas e o que é a maioria.
Tomando como base a ideia do transtorno e particularmente a noção de espectro no
campo da psiquiatria e partindo do que Lacan (1968-1969/2008), no Seminário 16,
demonstrou logicamente em relação à inconsistência do Outro, poderíamos, então, interrogar:
a noção de espectro e de transtorno não seria uma forma de fazer um Outro consistente? Uma
vez incluindo tipos e subtipos para os transtornos mentais, em especial, o transtorno bipolar,
não seria essa tarefa uma tentativa de criar um conjunto de todos os conjuntos? Ou, no caso
255
do DSM, de instituir um catálogo de todos os catálogos? Se pegarmos a noção de espectro,
por exemplo, facilmente, podemos desenvolver uma mostração de conjuntos e subconjuntos.
Conforme Akiskal e Vazquez (2006), encontramos oito tipos de Transtorno bipolar
(TB), considerando a noção de espectro: TB tipo I, tipo II, tipo II ½, tipo III, tipo III½, IV, V
e VI.
O Espectro Bipolar
TB tipo I
TB tipo II
TB tipo II ½
TB tipo III
TB tipo III ½
TB tipo IV
TB tipo V
TB tipo VI
Fonte: Própria autora.
Em nome do prestígio, o discurso universitário sempre encontra espaço para alojar
mais significantes no campo do Outro (ou, para usar um jargão do senso comum, sempre cabe
mais um!), mas com um preço: o mal-estar na civilização. Novamente, aludimos a metáfora
do cavalo de Tróia às avessas. “Por esse apelo, por esse 1 que se iguala ao 1 no jogo da
dominação, o cavalo de Tróia absorve cada vez mais em seu ventre, e isso custa cada vez mais
caro. Esse é o mais estar na civilização” (LACAN, 1968-1969/ 2008, p. 357).
É necessário lembrar que se trata sempre de uma tentativa, pois vimos que quanto
mais se criam categorias, mais se torna clara a inconsistência do discurso, porque a série é
infinita: não existe universo do discurso. Não mais, também sabemos o que coloca um limite
à série infinita: o objeto a. Discutiremos isso a seguir, mas logo podemos afirmar que o objeto
256
a é o que sinaliza a divisão irredutível do sujeito, ou seja, a essa tentativa de totalização do
discurso. É desse pretenso intuito totalitário do saber que o discurso capitalista vai se
apropriar para agenciar saberes e produzir mercadorias, visando destituir o desejo do sujeito,
colocando-o numa posição de consumidor. Passemos ao discurso capitalista.
5.2 O Discurso Capitalista e a recusa da castração
Lacan apontou a emergência do discurso capitalista em uma conferência que proferiu
em Milão, em junho de 1972, intitulada O discurso psicanalítico. Nesta conferência, ele
escreveu o matema do referido discurso como se segue:
O discurso capitalista
Fonte: Lacan, 1972.
Ao introduzir o matema do discurso capitalista, Lacan deixa evidente o quanto não
estava alheio aos efeitos desse discurso no sujeito e nos laços que estabelece. Como
percebemos, o discurso capitalista apresenta uma mutação no discurso do mestre, onde os
lugares $ e S1 mudam de posição. Vale ressaltar que pouco antes da Conferência de Milão,
Lacan dava indícios que enxergava a possibilidade dessa mutação. Isso aconteceu no
Seminário 17. Destacamos uma passagem onde ele antevê essa modificação que ele chama de
capital: “Falo dessa mutação capital, também ela, que confere ao discurso do mestre seu estilo
capitalista” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 178). Depois ele afirma: “Alguma coisa mudou no
discurso do mestre a partir de certo momento da história [...] o importante é que, a partir de
um certo dia, o mais-de-gozar se conta, se contabiliza, se totaliza. Aí começa o que se chama
de acumulação do capital” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 189).
Como salientamos, Lacan só utiliza propriamente o termo discurso capitalista e
desenvolve o seu matema na dita conferência e depois volta a fala dele em Televisão
(1974/2003) e no Seminário 19: o saber do psicanalista (1971-1972/2001). Contudo,
pensamos que o Seminário 17, com efeito, forneceu as bases para as formulações lacanianas
posteriores no que tange ao discurso capitalista. Em razão disso, em alguns momentos,
257
faremos algumas digressões nesse sentido. Por exemplo, ainda no referido Seminário, ele nos
chama atenção que no instante em que alguma coisa mudou no discurso do mestre, ao seu
estilo capitalista, aponta que o significante-mestre aparece como inabalável, inatacável, “por
terem sido dissipadas as nuvens da impotência” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 189).
Desse modo, Lacan se pergunta sobre o significante mestre (S1): “Onde ele está?
Como nomeá-lo? Como discerni-lo, a não ser, evidentemente, por seus efeitos mortíferos?
(LACAN, 1969-1970/1992, p. 189). Primeiro, através do discurso universitário, Lacan
apontou a dificuldade de encontrarmos o autor por trás do saber dominante neste discurso, na
medida em que o significante mestre (S1) estava sob saber (S2) que era preciso supor. Agora,
no discurso capitalista, vemos que o significante-mestre, inabalável e inatacável, ao ocupar o
lugar da verdade, é representado pelo capital.
Observamos, através do matema do discurso capitalista, que o sujeito dividido ($)
passa agora a ocupar o lugar que antes, no discurso do mestre, era do significante mestre (S1).
Além disso, verifica-se a flecha que, do lado sujeito, ao invés de partir de baixo para cima,
segue o percurso do Sujeito ($) ao (S1). O que também chama atenção no discurso capitalista
é a supressão da barreira da impotência e da interdição do gozo. Trata-se de um discurso que
tenta fazer parecer que tudo pode. Por este motivo, afirma Lacan (1971-1972/2001) que é um
discurso que agencia um aparelhamento de gozo que recusa16 a castração, promovendo um
acesso a uma verdade totalitária, sem furos.
No discurso do mestre, falamos que o outro (S2) está no lugar do saber meio de gozo
e, neste sentido, o inconsciente está no lugar do outro como saber (S2). Uma vez o
inconsciente nesta posição, o sujeito só pode ter acesso ao mais-de-gozar indiretamente,
justamente pela via desse saber, pelo ordenamento da cadeia de significantes (S1—S2—S3—
S4). É só através deste ordenamento que o sujeito pode recuperar fragmentos do que ele
perdeu, através do mais-de-gozar, por meio de um acesso indireto. Também sabemos que é
pelo impossível de governar do discurso do mestre que pode irromper algo da ordem de um
sintoma-enigma, de modo a promover um giro discursivo, uma histericização do discurso.
Referimo-nos ao discurso da histérica. É através desse discurso que uma análise pode se fazer
possível. Aliás, Lacan (1969-1970/1992) aponta, inclusive, algo de uma relação fundamental
16
Lacan usa o termo recusa no Seminário 19. Veremos que Pierre Bruno (2011), na tradução espanhola
utilizada, sustenta-se na expressão foraclusão. Resolvemos seguir o uso de cada autor sabendo das
particularidades de tradução, no entanto, guardando o seu sentido. Entendemos que tanto recusa quanto
foraclusão dizem respeito a um mecanismo de defesa da psicose, todavia os autores fazem uso das expressões
inserindo-as em um plano do discurso (para se referir ao laço social) e não à estrutura do sujeito.
258
entre o discurso do mestre e o discurso do analista. Ao fazer referência à práxis psicanalítica,
ele nos diz:
Pode-se medir a importância dessa prática por ela ser localizável em relação ao que
foi designado como discurso do mestre. Não se trata aqui de uma relação de
distância, nem de sobrevôo, mas de uma relação fundamental – a prática analítica é
propriamente iniciada por esse discurso do mestre (LACAN, 1969-1970/1992, p.
161).
É interessante, pois em seguida Lacan joga com a homofonia significante m’estar
(LACAN, 1969-1970/1992, p, 162, grifo do autor). Refere-se ao significante mestre como
aquele que promove o mal-estar e, assim, possibilita que algo possa aparecer como sintoma.
Ora, mas por que trazer à tona novamente o discurso do mestre? Embora ele seja o avesso do
discurso psicanalítico, Lacan apresenta sua importância e mesmo sua relação fundamental
com este discurso, posto que nele a interdição da barreira do gozo se faz presente. Já o
discurso capitalista se aproveita da insatisfação constitutiva do sujeito para oferecer a ele uma
promessa de felicidade e completude.
Em Televisão, Lacan (1974/2003, p. 517) apontou para a miséria do discurso
capitalista e, não surpreendentemente, aludiu justamente ao inconsciente como “trabalhador
ideal”: o inconsciente é um saber meio de gozo. Mas, nesse contexto, Lacan trouxe Marx ao
debate a fim de pontuar uma mudança no estatuto do inconsciente como saber que trabalha.
Marx, ao instituir a mais-valia no cerne da economia capitalista, permitiu, segundo Lacan,
acontecer um desenvolvimento do discurso do mestre. Afirmamos que já no Seminário 17
Lacan (1969-1970/1992) apontou que já seria possível encontrarmos a chave capitalismo
numa certa evolução do discurso do mestre. Vejamos o que Lacan (1974/2003, p. 517) nos diz
em Televisão:
Um parêntese aqui: será que o inconsciente implica que se o escute? A meu ver, sim.
Mas certamente não implica que, sem o discurso a partir do qual ex-siste, ele seja
avaliado como um saber que não pensa, não calcula e não julga, o que não o impede
de trabalhar (no sonho, por exemplo). Digamos que ele é o trabalhador ideal, aquele
a quem Marx fez a nata da economia capitalista, na esperança de vê-lo dar
continuidade ao discurso do mestre: o que de fato aconteceu, se bem que de uma
forma inesperada.
No panorama no discurso capitalista, o inconsciente, como “trabalhador ideal” está
não mais a serviço do senhor antigo, mas sim do senhor chamado capital. O capital tornou-se
o significante-mestre (S1), ocupando o lugar da verdade no discurso. O S1 dirige-se ao saber
(S2) que, no lugar do outro, está a serviço do “mestre-capital”, dispondo de sua força de
259
trabalho, de seu saber-fazer, para produzir mais-de-gozar, mercadorias, gadgets. Este objeto
mais-de-gozar aparece como mercadoria a ser consumida pelo sujeito, o qual, dialeticamente,
também é consumido pelas mercadorias.
Segundo Quinet (2006), o discurso capitalista, exclui o outro do laço social, visto que
o sujeito passa a se relacionar somente com as mercadorias, suprimindo assim a alteridade
própria do discurso. Nesse panorama, o sujeito ($) é reduzido a um consumidor comandado
pelo significante mestre capital (S1), que agencia o saber científico (S2) para a produção de
mercadorias (gadgets) para serem consumidas. O autor propõe o seguinte esquema,
considerando o matema do discurso capitalista:
consumidor
capital
ciência
gadgets
Fonte: Quinet, 2006, p. 39.
Os gadgets, Lacan (1969-1970/1992) chamou de “latusas”. No Seminário 17, na
lição Os sulcos da Aletosfera, Lacan criou os neologismos “aletosfera” e “latusa” para falar da
ciência moderna e do que ela fabrica com o objetivo de velar o mal-estar do sujeito. Ele usa a
expressão “latusas” para se referir à proliferação de objetos feitos para causar o desejo no
âmbito dominado pelo discurso da ciência, afirmando: “O importante é saber o que acontece
quando a gente entra verdadeiramente em relação com a latusa como tal” (LACAN, 19691970/1992, p. 172). E depois salienta ao falar da angústia: “[...] havendo latusa, ela não é sem
objeto. Foi daí que parti. Uma aproximação melhor à latusa é que ela deve nos acalmar um
pouquinho” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 172).
Conforme Braunstein (2010, p. 149, grifo do autor), Lacan aborda as “latusas” como
os artefatos produzidos pela ciência nutridos de uma rápida obsolescência, “objetos que
chamaríamos de prêt à porter, ou melhor, prêt à jouir, que funcionariam como análogos aos
objetos causa de desejo, do objeto a”. A “latusa” aparece como um desses objetos para
tamponar a angústia, como uma maneira de dissimular o real da castração. O discurso
capitalista, muito sabiamente, em um casamento com a ciência, aproveita-se disso para
oferecê-la ao sujeito, como uma espécie de encantamento, para causar o seu desejo, como um
fetiche: uma promessa de bem-estar eterno.
Dito de outra maneira, esses objetos, as “latusas” que a ciência fabrica, de certo,
representam a esperança do sujeito de conseguir um gozo pleno, sem barreiras. Afinal, é
recusando a castração e desmentindo a interdição do gozo que o discurso capitalista faz
260
parecer que a relação sexual é possível. As “latusas” emergem como saber-mercadoria tal
como Lacan (1969-1969/2008) evidenciou no Seminário 16.
Assim, o discurso capitalista faz parecer que tudo é possível e, ao fazer isso,
promove um curto-circuito de tal maneira que é difícil o sujeito escapar desse discurso, na
medida em que ele trabalha com a esperança de que, um dia, o sujeito encontrará um objeto
que finalmente o deixará pleno e completo, não levando em consideração a inacessibilidade
da verdade. Assinala Bruno (2011, p. 292, grifo do autor, tradução nossa):
[...] o discurso capitalista se constrói de tal forma que não leva em consideração esta
inacessibilidade da verdade. O lugar da verdade não somente é acessível senão que é
o lugar obrigado a aceder ao saber. A verdade, no discurso capitalista, põe-se no
mesmo estatuto da astrologia, não é falsificável.
Teoricamente, o sujeito barrado ($) deveria agenciar o discurso, no entanto, ele é
agenciado, causado pelos objetos em forma de mercadoria, tornando-se objeto do próprio
discurso. O resultado disso é um apagamento do sujeito diante do objeto, que aparece como
fetiche, como um objeto que pode tamponar sua falta irredutível: dar-lhe a garantia de uma
satisfação imediata e completa. O sujeito vira um consumidor e o seu desejo se converte em
demanda, tal como é reformulada, interpretada pelo outro, através do S2 que, por sua vez, está
a serviço de S1.
A inexistência de flecha entre o agente e o outro no discurso capitalista, conforme
Bousseyroux (2012), faz com que o sujeito ($) não faça laço com o saber (S2), tal como
ocorre no discurso do mestre. Nesse contexto, o saber de que se trata se refere ao trader do
mundo globalizado do capitalismo financeiro, aquele “que compra, vende, especula sobre
valores e que encarna a figura daquele que trabalha pela cifração de gozo, por ser o escrito
operador de mercado” (BOUSSEYROUX, 2012, p. 105). Aqui, o saber não é mais o
inconsciente como meio de gozo, o trabalhador ideal, aquele que faz o cálculo do gozo, mas
sim o cálculo do mercado, que está a serviço do capital. O saber (S2) já chega para o sujeito
formatado como mercadoria.
De acordo com o matema do discurso capitalista, no trajeto que vai de $ até S2, fazse necessário passar pelo S1, pelo significante-mestre do capital, que irremediavelmente o
transformará em consumidor. “Me diz o que desejas que eu o transformo em demanda, assim,
digo o que realmente tu precisas!”. Para isso, o sujeito tem que tirar a mão do bolso: comprar.
Nesse sentido, o consumidor torna-se um elemento essencial nesse discurso. No que concerne
ao sujeito no discurso capitalista, consideramos a afirmação de Braunstein (2010, p. 152):
261
[...] o agente do discurso é aí o mesmo que na histeria, ou seja, o sujeito ($) em sua
incurável divisão, o desejante e dividido sujeito do inconsciente. Somente que, neste
caso, não é o agente ($) quem se dirige ao saber (S2), seu “outro”, para que produza
“objetos” a, forçando-o a atuar de acordo com sua vontade [...]. Quem continua
“ordenando” é o S1: o moderno mestre capitalista. Ele o faz a partir do lugar da
verdade e se dirige ao outro. O saber, de todo modo, sem escutar as injunções
procedentes do lugar do agente ($), senão as que vêm do lugar da verdade (isto é, do
significante mestre), opera por meio do saber científico (S2), produzindo esses
objetos desejáveis.
Para o autor, o discurso capitalista impede que o sujeito tenha acesso ao saber, senão
através dos objetos de consumo, dos objetos mais-de-gozar. O sujeito, mais especificamente,
a pulsão, o seu desejo, ficam à deriva nesse discurso, pronta para se conectar ao objeto a no
formato mercadoria, seja ele qual for. “Em termos psicanalíticos, a pulsão se encontra, no
discurso capitalista, solta no inconsciente” (BRUNO, 2011, p. 286, tradução nossa).
Referimo-nos, aqui, a uma cisão entre a pulsão (lê-se sujeito - $), que fica deriva no discurso
capitalista (permitindo um gozo desvairado que conduz o sujeito à posição de consumidor), e
o saber (S2), que se encontra inacessível ao sujeito e escrava do capital. Há uma barreira no
circuito desse discurso da qual é muito difícil sair.
Todavia, quando nos remetemos ao termo cisão, é interessante mencionar que nesse
caso apontamos para uma cisão que acontece no discurso, diferente de uma cisão estrutural do
Eu, aquela que Freud (1938/2007) deixou claro em seu artigo A cisão do Eu no Processo de
Defesa. Citamos Freud (1937/2007, p. 173-174):
Imaginemos uma criança cujo Eu se encontrava a serviço de uma exigência
pulsional imperiosa à qual ele habitualmente atendia. Contudo, abruptamente esse
Eu é submetido a uma experiência assustadora que lhe indica que, se continuar a
satisfazer essa pulsão, enfrentará um perigo real quase insuportável. O Eu terá então
que optar por reconhecer a existência desse perigo real, submeter-se a ele e
renunciar à satisfação pulsional, ou renegar (verleugnen) a realidade, o que lhe
permitiria se convencer de que não há razão para qualquer temor, e manter-se
concentrado na busca de satisfação pulsional. Haveria, nesse caso, portanto, um
conflito entre a reivindicação pulsional e as objeções por parte da realidade [...] Ela
responde esse conflito com duas reações opostas, ambas válidas e ativas. Por um
lado, com o auxílio de certos mecanismos, ela rechaça a realidade e rejeita quaisquer
proibições; por outro, ao mesmo tempo, ela reconhece o perigo que emana da
realidade, acata dentro de si esse medo como sintoma e mais adiante tenta lidar com
esse medo [...] Ambas as partes em disputa recebem um quinhão: permite-se obter a
satisfação almejada e, ao mesmo tempo, tributa-se à realidade o respeito necessário
[...] Assim, as duas reações opostas com as quais o Eu respondeu ao conflito passam
a subsistir como núcleo de uma cisão no Eu.
Nessa passagem, Freud procura explicar como se ocorre o processo de cisão no Eu,
onde uma parte do Eu rechaça as proibições da realidade a fim de satisfazer suas pulsões, mas
por outro lado, em reação a tal rejeição, desenvolve um sintoma como uma formação de
262
compromisso com essa mesma realidade. Essa cisão, nos mostra Freud, que os processos que
envolvem o Eu não dizem respeito a uma síntese, ao contrário, acompanham uma série de
conflitos e contradições. No que tange ao discurso capitalista, falamos de uma cisão no
discurso, onde o que é rechaçado é a própria divisão irredutível do sujeito, aquilo que não se
pode domar nem eliminar: o mal-estar pulsional. No lugar do que é rejeitado, aparece um
objeto para obturar esse lugar e assim denegar a castração, a saber: os gadgets. Nesse cenário,
o sujeito dividido é transformado em consumidor, na medida em que supostamente, para ele,
nada pode faltar e o furo jamais pode aparecer. O discurso capitalista está sempre
proporcionando uma mercadoria para não se sinta furado.
Para Bruno (2011), o discurso capitalista transforma o proletário do discurso
universitário em consumidor, colocando-o no lugar do agente, como $. Nessa condição, o
sujeito, como agente, não manda em nada, porque além dele ser causado pelos objetosmercadoria, tais objetos são comandados pelo mestre (S1) que, ao ocupar o lugar da verdade,
seguindo as flechas que comandam o discurso, chega até a produção. O que antes não era
possível torna-se, então, acessível.
Daí consiste a astúcia do discurso capitalista, pois ao estar no lugar de agente, de
sujeito barrado e, portanto, faltoso, ele se vê na situação de procurar algo para se sentir
completo e tamponar o buraco de sua castração. Trata-se do o objeto a mais-de-gozar sob a
forma de mercadoria, o qual a economia capitalista produz extensivamente, implicando num
consumo sempre progressivo. Dentro do ciclo (dinheiro-mercadoria-dinheiro+dinheiro) e num
consumo extensivo, seria razoável pensar que tal ciclo pudesse ter um fim e entrar em um
colapso. No entanto, esse colapso não acontece porque o que sustenta o discurso capitalista é
o que Lacan (1970/2003), em Radiofonia, denomina de falta-a-gozar. Isto quer dizer que
quanto mais se consome, mais aumenta a distância de se alcançar o gozo do que se consome
ou, então: “quanto mais bebo, mais sede tenho” (BRUNO, 2011, p. 299, grifo do autor,
tradução nossa).
O que o discurso capitalista pretende é apagar qualquer impossibilidade ou
impotência, esmagando toda e qualquer possibilidade de fantasia, ao contrário do que
podemos encontrar no discurso do mestre, homólogo ao discurso do inconsciente. São as
flechas que, ao permitirem um circuito fechado, deixam o sujeito capturado pelas
mercadorias.
Para Soler (2011), o discurso capitalista estabelece uma realidade de falta-a-gozar,
onde o único laço que se estabelece é entre o sujeito e o objeto a mais-de-gozar. Em
decorrência disso, é um discurso em que se estabelece pouco laço social, ou melhor, o laço
263
que se dá é entre as mercadorias, motivo pelo qual o sujeito se sente sozinho em suas buscas,
as quais, segundo a autora, são pouco criativas. O Outro está a serviço do mercado e por isso a
linguagem também estaria restrita a ele. O sujeito, uma vez estruturado neste campo, seria
aquele sempre incitado a consumir, mais e mais. Sobre a diferença do discurso capitalista em
relação aos outros discursos, pontua Bousseyroux (2012, p. 104-105):
Observamos que o lugar da verdade é o único através do qual nenhuma flecha chega
e que é também o único de onde partem duas flechas, que vão em direção ao agente
e em direção ao outro do discurso. Este aqui indica que a verdade é inacessível –
salvo no quinto discurso, o discurso capitalista, o único discurso que faz laço
associal, porque seu laço ignora a perda ligada à barreira do gozo, em sua função de
barrar a passagem da produção do discurso à verdade (grifo do autor).
Se o que caracteriza um discurso é a ordenação do laço social por conta de uma
renúncia pulsional, faz sentido dizer, juntamente com Bousseyroux (2012), que o discurso
capitalista produz um laço “associal” na medida em que substitui a relação entre pessoas pela
relação entre as coisas, entre os objetos-mercadorias. Segundo Pacheco Filho (2016b, grifo do
autor), a aceleração indiscriminada da forma-mercadoria revela o que Marx denominou
fetichismo da mercadoria, fazendo com que a relação social entre humanos assuma a
modalidade fantasmagórica de uma relação entre coisas, a tal ponto que os produtos do
trabalho humano pareçam dotados de vida própria. Trata-se de uma relação com o que o outro
tem e do que eu posso obter dele, sem renunciar!
O discurso faz parecer que não há uma renúncia pulsional, prometendo o casamento
da produção com a verdade. A verdade totalitária em jogo no discurso capitalista, afirma
Bousseyroux (2012, p. 105), é o dinheiro, o “engolidor”, aquele que quanto mais se bebe,
maior é a sede. O salto que o discurso capitalista dá em relação ao discurso do mestre é que
nele não há nem explorador, nem explorado, existe apenas o consumidor, o qual, do seu lugar
de agente, tem um acesso imediato “a verdade da potência mercadológica do capital
financeiro” (BOUSSEYROUX, 2012, p. 105).
A sociedade regida pelo discurso capitalista se nutre pela fabricação da falta de
gozo, produz sujeitos insaciáveis em sua demanda de consumo. Consumo de
gadgets que essa mesma sociedade oferece como objetos de desejo. Promove assim
uma nova economia libidinal (QUINET, 2006, p. 39).
No que diz respeito à questão do laço no discurso capitalista, assim como
Bousseyroux (2012), Pierre Bruno (2011) também ressalta que é preciso tomar cuidado ao
afirmar que no discurso capitalista não existe laço e que, por isso, não deve ser visto como um
264
discurso pelo fato da ausência da interdição do gozo. O autor adverte que o simples fato da
barreira do gozo estar ausente não basta para dizer que o discurso capitalista não é um
discurso, pois a característica sine qua non do discurso é que não há discurso que não seja
semblante. Isso quer dizer que o discurso capitalista, como todo discurso, faz semblante e que,
mesmo que tente fazer copular verdade produção, trata-se de uma tentativa. Tudo porque o
sujeito é insaciável. Existe algo na estrutura do sujeito que é irredutível: sua divisão. Por mais
objetos que o discurso se ofereça como aquele que vai completar o sujeito, sabemos que isso é
engodo. Esse objeto não existe!
Em se tratando da neurose, desde que entramos na linguagem, não há escapatória,
estamos no discurso, fazemos laço, seja como for, mesmo que seja “associal”, ou pela via de
mercadorias, do corpo do outro. No caso de nossa pesquisa, pode ser até mesmo pela via do
significante “bipolar” produzido pela ciência. Basta recordarmos dos sites que citamos na
introdução, da ABRATA, por exemplo, ou mesmo de blogs de pessoas diagnosticadas com o
transtorno que oferecem sugestões de como conviver com a doença e os efeitos colaterais dos
medicamentos que a acompanha. Nesse caso, trata-se de um laço “associal” porque o sujeito
identificado ao diagnóstico de bipolaridade está aí no lugar de um consumidor, estando
alienado aos significantes da ciência, ditado pelo capital, por essa verdade pretensamente
hegemônica. Desta maneira, “faço um laço a partir dos remédios que tomo que são iguais ao
outro, ou dos sintomas que tenho que são os mesmos do outro”. O laço se dá por meio do que
o outro tem, seja um diagnóstico, um sintoma, ou a medicação.
O sujeito ($) aí está cindido do saber inconsciente, não tem acesso a ele. Este sujeito
tem acesso a outro saber, um saber moldado, fabricado e congelado, embalado para presente:
são os gadgets, produzidos pela tecno-ciência. Assim, pontua Pacheco Filho (2016a), no
discurso capitalista é a insatisfação estruturalmente constitutiva do sujeito humano que é
colocada a serviço do gozo de consumir mercadorias, a fim de manter o aparelhamento do
sistema econômico, político e social do referido discurso.
Com isso, podemos agora avançar no sentido de discutir nosso problema que revela a
tese em questão: como a proliferação do transtorno bipolar pode ser concebida como um
paradigma do discurso capitalista, na medida em que mascara a cisão entre a pulsão ($) e o
saber (S2) promovida pelo referido discurso?
265
5.2.1 A proliferação do transtorno bipolar como paradigma do discurso capitalista e a cisão
entre o Sujeito ($) e o Saber (S2)
Tomando como referência o matema do discurso capitalista e o que foi discutido até
que aqui, propomos o seguinte esquema, considerando nossa tese:
Sujeito-consumidor ($)
Capital (S1)
(S2) DSM (ciência, significante bipolar)
(a) anti-depressivos/estabilizadores de humor
Fonte: Adaptado da autora da tese a partir de Quinet, 2006.
Como já apontado na introdução de nossa tese, estamos considerando o DSM um
protótipo de uma modalidade discursiva agenciada pelo capital e, portanto, não estamos
restringindo a medicina ao DSM. Aliás, sabemos que existem as particularidades de cada
fazer psiquiátrico. No entanto, queremos destacar o aspecto totalitário e potente deste Manual
não só no que ele pretendeu transformar a psiquiatria, mas também no seu alcance para além
da própria especialidade psiquiátrica e do campo médico em si.
Destacamos especialmente a publicação do DSM-III como um marco nesse aspecto.
Conforme Banzato (2004), o DSM-III foi a primeira classificação coordenada por critérios
diagnósticos pautados em comportamentos observáveis e explícitos (baseados em sinais e
sintomas das desordens mentais). Além disso, foi o sistema pioneiro fundamentado no sistema
multiaxial adotado oficialmente, sendo as manifestações descritas por meio dos
comportamentos do paciente. Outra característica importante abraçada nesta terceira versão
foi à concepção orgânica da patologia mental, a qual, para Serpa Júnior (1998, p. 240), pode
ser entendida como consequência da “necessidade de uma maior objetivação e quantificação
no domínio da psiquiatria”, aliada a exigência de conseguir créditos de pesquisa e contratos
com seguradoras.
A necessidade de objetivação e quantificação, por conseguinte, ocasionou uma
mudança que julgamos determinante no DSM-III, a saber: o abandono da rigorosa
diferenciação entre os transtornos mentais orgânicos e os não orgânicos. Na terceira versão,
todas as patologias passaram a ser consideradas essencialmente orgânicas. No DSM-I, a
divisão centrava-se entre as desordens mentais vinculadas a uma disfunção cerebral orgânica
e aquelas ocorridas sem qualquer perturbação primária de funcionamento cerebral
(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1952). No DSM-III, foi suposto que todos
os processos psicológicos, normais ou anormais, dependem da função cerebral (APA, 1980).
266
O que se tira daí é que se todos os processos psicológicos e patologias mentais dependem da
função cerebral, todos os tratamentos possíveis principais terão o mesmo destino: atuar nas
funções cerebrais e nos neurotransmissores. Dessa forma, a patologia mental pode ser melhor
quantificada, objetivada e operacionalizada e, portanto, podemos falar que a doença mental
pode ser mais facilmente domesticada a serviço da contabilidade do discurso capitalista. Ora,
se toda patologia mental é cerebral, ela deve ser obrigatoriamente tratada com medicamentos.
No momento em que pretendeu ser ateórico e deixou o aspecto etiológico de lado, o
DSM-III demonstrou sua preferência por valorizar o que poderia supostamente representar um
“consenso”, dando ênfase à descrição das manifestações psicopatológicas. Essa atitude,
baseada em um agrupamento de sintomas para assim determinar uma homogeneização do
saber na prática psiquiátrica, sustentou-se em fins políticos e econômicos. Para Guarido
(2007), a ausência de uma “linguagem universal” no campo psiquiátrico tinha como efeito
despesas às seguradoras e aos órgãos governamentais responsáveis por financiar as pesquisas
na saúde pública. Além do mais, a credibilidade dessa especialidade médica abarcava
benefícios a importantes corporações privadas, tais como planos de saúde e indústrias
farmacêuticas.
Nessa perspectiva, comenta Aguiar (2004, p. 42):
O DSM-III promoveu uma reviravolta no campo psiquiátrico, que se apresentou
como uma salvação da profissão. Não se tratava apenas de disputas teóricas internas
ou de progresso científico. Ele surge como efeito da presença cada vez maior de
grandes corporações privadas no campo da psiquiatria, como a indústria
farmacêutica e as grandes seguradoras de saúde. O Congresso americano, que
desacreditava o National Institute of Mental Health (NIMH) no começo dos anos
1970, justamente devido à baixa confiabilidade dos diagnósticos psiquiátricos,
passou a aumentar os recursos financeiros destinados à pesquisa após o DSM-III.
Em 1994, os fundos de pesquisa do NIMH chegaram a US$ 600 milhões, bem mais
que os US$ 90 milhões de 1976, e, sob a influência do instituto, o congresso foi
persuadido a declarar os anos 1990 como “a década do cérebro”.
Consta em Healy (1997) que as décadas de sessenta e setenta foi o período em que as
indústrias farmacêuticas produtoras dos antidepressivos Inibidores de Monoaminoxidase
(IMAOS) começaram a investir em campanhas publicitárias, visando persuadir a classe
médica sobre a eficácia dos antidepressivos no combate das “depressões atípicas”, criando
assim um novo mercado consumidor.
Nesse caminho, aparecia outro olhar de conceber a doença mental: o uso dos
medicamentos usado não como auxílio à psicoterapia, mas sim como instrumento principal de
tratamento. Segundo Shorter (1997), a publicidade sobre os efeitos dos antidepressivos teve
como consequência 10 milhões de prescrições desses medicamentos nos EUA, em 1980. Já o
267
lançamento do Prozac, em 1988, pode ser considerado um marco na história da psiquiatria,
posto que teve o potencial de expandir e popularizar a depressão na sociedade.
Para Serpa Júnior (1998) o que aconteceu no campo psiquiátrico nesse período foi
denominado de “remedicalização” da patologia mental. Conforme o autor, este fato foi
estimulado particularmente pelas:
Mudanças no sistema de reembolso dos tratamentos médicos, que tornaram menos
admissíveis uma certa vagueza nas definições diagnósticas e na duração dos
tratamentos em psiquiatria. Do ponto de vista da pesquisa, os financiamentos
começaram a dirigir-se mais e mais para pesquisas em psiquiatria biológica (SERPA
JÚNIOR, 1998, p. 240).
Por este motivo, fizemos questão de trazer dados estatísticos na apresentação de
nossa tese, demonstrando o aumento da prescrição de antidepressivos e estabilizadores de
humor, com o intuito de mostrar que esse fato põe em evidência a maneira como o sofrimento
mental vem sendo concebido cada vez mais pela psiquiatria: sob a forma de uma doença
estritamente cerebral que precisa ser medicada. Por outro lado, o movimento expansionista
das categorias diagnósticas revelam que tal concepção vem tomando força, na medida em que,
neste enquadre, poucos escapam de ter algum tipo de “doença do cérebro” ou “transtorno
mental”.
Destacamos, aqui, o transtorno bipolar, o qual, antes tido como uma psicose, passou
a ser uma doença afetiva, dividida em tipos e subtipos. Sabemos o resultado disso: a
probabilidade de mais pessoas serem diagnosticadas com o transtorno torna-se bem maior. As
estatísticas estão aí para mostrar isso, ainda mais quando a noção de espectro entra no jogo.
Sobre esse aspecto, Quinet (2006, p. 22) afirma:
[...] até que ponto o desenvolvimento das neurociências e da psicofarmacologia se
presta ao discurso capitalista? O dinheiro investido em suas pesquisas não poderia
estar invertendo a ordem das coisas? Em vez de termos drogas cada vez mais
eficazes para combater novos males decorrentes da transformação da sociedade, será
que não são os “males” que agora são criados e categorizados em novas síndromes
para serem então tratados pelas novas drogas?
Esta passagem é fundamental para pensar na interrogação de nossa tese, porque
partimos do princípio de que a proliferação do transtorno bipolar aparece como um fato no
campo do social, como um fenômeno resultado e produto de discurso capitalista, como algo
que se conta e se contabiliza para a manutenção desse discurso. O DSM, ao produzir e
268
desmembrar categorias que envolvem o transtorno bipolar17 acaba abarcando mais e mais
consumidores, seja de estabilizadores e humor ou mesmo de antidepressivos, os quais, como
sabemos, também podem ser receitados para bipolares, dependendo do tipo que o sujeito se
enquadra.
Por outro lado, tal proliferação esconde a cisão que o discurso capitalista promove
entre o sujeito ($) e o saber (S2). Já falamos do laço “associal” em voga nesse discurso pela
ausência da seta entre o lado sujeito e o lado do “outro significante”, bem como pela
inexistência da barreira de interdição do gozo. Pois bem, trabalharemos agora partindo desse
raciocínio.
Todos esses discursos, uma vez que permitem a impossibilidade da relação sexual,
não mantém um circuito fechado e permitem, assim, um giro discursivo. Desta maneira, do
discurso mestre, pode advir o discurso da histérica. Da mesma maneira, do discurso da
histérica pode emergir um analista, através do discurso do analista. Já o discurso capitalista,
observamos que o “não querer saber do impossível da relação sexual”, trará consequências na
estrutura do sujeito.
No discurso do mestre, pela impossibilidade existente no discurso, o saber em
questão é um saber furado, saber meio de gozo. Isso quer dizer que para se obter algum saber,
é preciso gozar, produzir mais-de-gozar. É esse o saber que o inconsciente (como trabalhador
ideal) do discurso do mestre fabrica. É justamente a impossibilidade do significante tudo
recobrir (pois quanto mais se articulam significantes, mais se produz mais-de-gozar), é que
advém a possibilidade de aparecer algo que provoque uma ruptura com o discurso do mestre:
o sintoma ou a histericização do discurso, através do discurso da histérica. É partir desse
discurso que o desejo entra em cena como agente e pode ser escutado de modo que o sujeito
possa, ele mesmo, produzir um saber. O discurso do analista é o que permite essa operação,
sustentando-se no impossível de tudo saber e analisar.
Entretanto, o que faz o discurso capitalista é fabricar um saber congelado, que não
proporciona um deslizamento significante (S1—S2—S3). Com isso, esse discurso acaba
promovendo uma abolição do desejo de saber em prol de uma tirania do gozo. “Não queira
saber, goze!”. O sujeito é reduzido à pulsão e domesticado pelo saber científico, agenciado
pelo capital, surge no discurso capitalista apartado do saber inconsciente que o constituiu,
ficando a mercê de um suposto absoluto, que pretende ser consistente e sem furos. Trata-se de
um saber a ser obedecido, um saber que não pode ser colocado a prova.
17
Tocamos nessa questão quando falamos no discurso universitário e na tentativa deste de totalizar o saber,
criando classes e subclasses de categorias diagnósticas.
269
No que tange a esse aspecto, Bruno (2011) pontua que o discurso capitalista, ao
recusar a castração tentando tamponar a divisão irredutível do sujeito, através dos objetosmercadoria, produz um indivíduo cindido em si mesmo, muito precisamente sob a forma do
sujeito asilado do seu inconsciente ($//S2). Essa cisão entre o sujeito ($) e o saber
inconsciente (S2), promovida pelo discurso capitalista, destitui a dimensão do inconsciente
referida ao “trabalhador ideal”. O S2 em questão no discurso capitalista diz respeito ao saber
em sua copulação com capital, tal como Lacan (1968-1969/2008, p. 39) assinalou:
O saber [...] não é o trabalho. Às vezes equivale ao trabalho, mas também pode nos
ser dado sem ele. O saber, em última instância, é o que chamamos de valor. O valor,
às vezes, encarna o dinheiro, mas o saber também vale o dinheiro, e cada vez mais.
É isso que deve nos esclarecer. Esse é o valor de quê? Está claro: é o valor da
renúncia de gozo.
Ao falar da absolutização do mercado e da mercantilização do saber, Lacan chama
atenção para um saber no estatuto de mercadoria que pode ser vendido, especulado,
comprado, alugado, exportado, enfim, um saber com valor e potencial de troca. Para isso, é
preciso que haja uma homogeneização dos saberes no mercado, uma unificação da ciência.
Em outras palavras, é dizer: “precisamos falar a mesma língua!”. No campo da psiquiatria,
isso aconteceu através do Manual, do DSM. O Manual, ao representar a ciência capitalizada,
falseia um discurso que pode dizer toda a verdade, impondo-se totalitário.
A perspectiva apontada por Bruno (2011), no que concerne ao Romance de Robert
Louis Stevenson (2008), O médico e o Monstro, vai ao encontro do que traz Lacan. Não é sem
intenção que o autor o toma esse para escrever sobre o discurso capitalista, visto que se
desenrola em um contexto da modernidade, época em que a ciência e a burguesia estavam em
plena ascensão. A parceria o médico e o monstro, representada pelo Dr. Jekyll e Mr. Hyde,
respectivamente, simbolizam para o autor, a crítica de uma ideologia que constituem em seu
material o rechaço da divisão subjetiva.
Como bem destaca Bruno (2011), o livro intitulado O estranho caso do Dr. Jekyll e
Mr. Hyde18, de Stevenson, foi lançado em 1886, três anos após a morte de Marx e dois anos
antes do artigo de Freud sobre a Histeria para a enciclopédia de Villaret. O autor assinala que
embora a problemática do duplo esteja bastante presente nessa história, marcada
particularmente pelo romantismo negro alemão, não é exatamente isso que ele pretende
chamar atenção. Para o autor, não é nada disso que se trata: Hyde não é o duplo de Jekyll e
18
Título original: The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Versão em português utilizada “O estranho caso
do Dr. Jekyll e Mr. Hyde”. Robert Louis Stevenson (1886). Braulio Tavares (Trad.). São Paulo: Editora
Hedra, 2008.
270
nem Jekyll é o duplo de Hyde. Dr. Jekyll e Mr. Hyde referem-se um sujeito. Todavia, trata-se
de um sujeito clivado, cindido, resultado de um discurso, o discurso capitalista.
Bruno (2011) parte do seguinte princípio: Jekyll é o inconsciente foracluído de Hyde.
No entanto, antes de dar prosseguimento a esse argumento de Pierre Bruno, é interessante
abordamos brevemente o referido conto.
Stevenson (2008) conta a história do Dr. Henry Jekyll, e sua relação conflituosa com
uma “outra personalidade” que o habitava, o diabólico Mr. Edward Hyde. Tudo começa
quando o Dr. Jekyll solicita ao seu amigo e advogado Dr. Utterson que elabore seu
testamento, constando como seu maior beneficiário um desconhecido Mr. Hyde.
Surpreendido, curioso e preocupado com o amigo, Dr. Utterson passa então a investigar sobre
a identidade de Mr. Hyde, posto que nunca escutara Jekyll do então amigo.
Nessa busca, o advogado encontra um amigo pessoal do Dr. Jekyll, o também
médico Dr. Lanyon, que lhe fala da existência de um laboratório nos fundos da casa de Jekyll,
local onde via Mr. Hyde frequentemente. Em meio as suas buscas, Utterson consegue
encontrar Hyde e se surpreende pela aparência do homem: aparentava um físico grosseiro e
deformado. Esse fato, por sua vez, deixa Utterson ainda mais intrigado sobre aquele homem
que Dr. Jelyll queria como seu maior beneficiário. Assim, vai conversar com o médico e lhe
questiona. Este lhe responde apenas o necessário, sem entrar em detalhes. Depois disso, o
advogado decide não mais interferir na situação.
Um ano se passa e um crime deixa a cidade de Londres aterrorizada: um conhecido
cidadão londrino Sir Danvers Carew foi ferozmente assassinado, sendo atacado a socos,
pontapés e golpes de bengala. Coincidentemente, este cidadão era cliente do advogado
Utterson. Todavia, um detalhe curioso intrigou o advogado, a bengala encontrada no local do
crime era do Dr. Jekyll. Utterson desconfiou primeiramente de Hyde, que vai até a casa de
Jekyll adverti-lo sobre a periculosidade desse amigo, apontado pelas investigações como o
principal suspeito. Diante disso, Dr. Jekyll disse ao advogado que fazia muito tempo que não
via Mr. Hyde e que este, inclusive, havia lhe deixado uma carta de despedida.
Depois de algum tempo sem ser visto em lugar algum, Mr. Hyde é visto por Dr.
Lanyon, o qual, por ter descoberto algo de muito misterioso acabou tendo um choque violento
e falecendo pouco tempo depois. Porém, antes de morrer, entregou um bilhete à Utterson,
fazendo-o prometer que só o abriria após a morte de Jekyll.
Mais um tempo se passa e o mordomo do Dr. Jekyll vai até Utterson dizendo que o
médico estava há dias trancado no porão, empossado de uma voz completamente diferente.
Utterson, quando chega na casa, arromba a porta do porão e se depara com Mr. Hyde vestido
271
com as roupas do Dr. Jekyll caído no chão, morto. Ao lado dele, encontra uma carta assinada
pelo próprio médico. Nesta carta, o médico afirmava ter um lado obscuro que não aceitava.
Por isso, criou uma fórmula que o transformasse em outra pessoa, para que esse lado sombrio
pudesse emergir. Entretanto, seu plano saiu do controle de tal maneira que ele próprio já não
era mais capaz de comandar as modificações que a fórmula lhe causava, o que ocasionou,
inclusive, o assassinato do importante cidadão londrino que, segundo ele, aconteceu sem o seu
assentimento.
Embora não mais ingerisse a fórmula, Dr. Jekyll não conseguia mais fazer com que
as transformações chegassem a um fim, percebendo o quanto de Hyde habitava dentro dele.
Dito de outra maneira, o “lado Hyde” passou a ser tão dominante em Jekyll, de tal forma que
ele se via obrigado a trancafiar-se no porão, visto que não conseguia mais dominar a pessoa
monstruosa que existia dentro dele. Vendo que o Mr. Hyde não poderia mais ser o Dr. Jekyll
novamente, a única saída foi o suicídio. Matar a si próprio, foi a única alternativa que o Dr.
Jekyll encontrou de abortar o lado monstruoso que o habitava. A fórmula, feita por Jekyll para
tentar domar seu lado monstruoso e pulsional, não alcançou seu êxito. A única saída foi o
suicídio, visto que não conseguia mais voltar a ser Dr. Jekyll novamente.
Retomando a análise que Bruno (2011) faz a partir do conto, ele nos demonstra como
o personagem “Dr. Jekyll e Mr. Hyde”, uma vez sendo a mesma pessoa, pode ser
compreendido como um paradigma do discurso capitalista, pois aparece para mostrar uma
cisão entre o Sujeito ($) e o saber (S2) que se produz nesse discurso. Assim, ao invés de
considerar o personagem “Jekyll e Hyde” um esquizofrênico, o autor afirma que se trata da
representação de um sujeito separado de seu inconsciente. Parte do princípio que Jekyll é o
inconsciente excluído de Hyde, do qual ele não tem acesso, tendo em vista que a barreira do
gozo foi eliminada, a considerar o matema do discurso capitalista. A fim de tecer essa
articulação, ele localiza o Dr. Jekyll no lugar do saber (S2). É um doutor, médico, um homem
de saber. Já Mr. Hyde está na posição do sujeito ($), simbolizando a parte pulsional de cada
um de nós. Sustentando-se em Bruno (2011) e no que foi desenvolvido até aqui, propomos o
seguinte esquema:
Hyde ($)
Dr. Jekyll (S2)
S1
Fonte: Adaptado de Bruno, 2011.
a
272
Bruno (2011) parte da ideia segundo a qual, o discurso capitalista, no momento em
que elimina a barreira de interdição ao gozo, propõe um circuito de tal forma que o saber
(Jekyll) fica inacessível ao sujeito que, neste caso, é o Hyde, sujeito pulsional à mercê dos
objetos produzido pelo homem da ciência, o qual, no caso do conto, foi fórmula para conter os
impulsos hostis de Hyde.
O acesso ao inconsciente está radicalmente fechado porque a barreira do gozo foi
eliminada. Assim, o inconsciente vai trabalhar por sua conta e risco. Se o
inconsciente está em S2, como Jekyll, quer dizer que, contrariamente as ideias
psicanalíticas geralmente aceitas, que fazem Hyde o inconsciente de Jekyll, é Jekyll
o inconsciente de Hyde. Porque Jekyll é o inconsciente de Hyde e que este está, pela
estrutura do discurso capitalista, fechado, Hyde, não é o inconsciente senão a pulsão.
O Dr. Jekyll e Mr. Hyde são as figuras emblemáticas da cisão (BRUNO, 2011, p.
89, tradução nossa).
Ao contrário do que comumente pensaríamos no campo psicanalítico, o inconsciente
não está do lado do sujeito dividido, figurado em Hyde, mas sim no saber (S2) produzido pela
ciência representado pelo Dr. Jekyll. No plano do laço, o discurso capitalista produz essa
cisão, deixando o sujeito entregue ao gozo e a pulsão, sem saber ao certo o que deseja. Uma
vez entregue ao gozo, ele se lança a consumir mercadorias produzidas pela ciência, que
surgem como objetos de consumo. Pacheco Filho (2012) fala de uma tendência totalitária da
alienação que o discurso capitalista provoca, na medida em que deixa o sujeito capturado
pelas mercadorias. O sujeito fica reduzido à pulsão e ao gozo, ficando cada vez mais distante
da dimensão do desejo. Hyde é a pulsão, que está solta, pronta a se conectar a um objeto
produzido pela ciência, representado pelo Dr. Jekyll.
O discurso do analista, embora tenha uma seta que vai de a ao $ (a
$), vimos que
esse discurso trabalha em cima de uma impossibilidade. Neste discurso o desejo do sujeito (o
analisante) não pode encontrar sua satisfação no objeto a (no analista) que se faz causa de
desejo para ele. Mesmo que o analista, na posição de causa de desejo, anime o sujeito a falar,
existe um ponto de impossibilidade, que se refere ao impossível de experimentar o gozo do
Outro. Diferentemente, o discurso capitalista sustenta a possibilidade do objeto a tamponar a
divisão irredutível do sujeito.
O Dr. Jekyll tenta rechaçar sua própria divisão subjetiva com uma fórmula, tarefa
que fracassa, visto que o lado diabólico tomou conta totalmente dele, ao passo que teve que
matar-se. Deste modo, a fórmula elaborada pelo Dr. Jekyll para que pudesse conviver com seu
outro lado, com efeito, consistiu numa prótese ortopédica para esconder a divisão do sujeito
(BRUNO, 2011). A fórmula, o remédio, o antidepressivo (juntamente com o diagnóstico que
273
o acompanha), trazendo para os nossos dias, seja lá o que for, entra na função de mascarar
essa cisão produzida pelo discurso capitalista entre pulsão ($) e o saber (S2), reforçando uma
alienação totalitária e um ordenamento de gozo que afasta o sujeito do seu desejo.
O Dr. Jekyll, apesar de todas as tentativas de abolir o aspecto pulsional que o
habitava, foi fadado ao fracasso, pois sabemos da impossibilidade de erradicar a pulsão, na
medida em que é ela que nos caracteriza como desejantes, falantes. Tanto é que Jekyll só
consegue se desfazer do seu “lado Hyde” no momento em que morre, matando a si mesmo,
posto que a pulsão só tem seu fim com a morte. Enquanto estivermos vivos, não dá para
escapar da pulsão. Nisso, Freud (1915/2004) é bastante claro.
A ciência, representada pelo Dr. Jekyll procurou, através da produção de uma
fórmula, amestrar, domesticar, algo que não se consegue dominar: a pulsão. E foi justo ela,
sob o modo mais tenaz, que tomou posse do corpo de Jekyll definitivamente através de Hyde,
ao ponto do mesmo não conseguir mais manter o controle da situação: a fórmula não deu
conta de fazer Jekyll voltar a si. Mas, não é justamente isso que a ciência procura ao fazer em
sua parceria com o capital? Forjar uma “fórmula” capaz de mascarar o que é mais
contraditório e assim mais característico do sujeito, sua divisão irredutível?
Em outras palavras, a copulação ciência-capital diz ao sujeito: “calma, não fique
triste, nós temos o que você precisa!”. E o discurso capitalista faz isso literalmente,
oferecendo uma espécie fórmula mágica que supostamente vai sanar o desejo do sujeito
convertido em demanda, deixando-o cada vez mais perdido no circuito das mercadorias. De
fato, o personagem “Jekyll e Hyde” não deixa de representar o protótipo do homem imerso
nesse discurso. Trata-se de um homem perdido com relação ao seu próprio desejo,
mergulhado num mundo de objetos oferecidos pela ciência feitos para gozar, mais e mais. O
homem, reduzido a um consumidor de mercadorias, com a licença da palavra, é quase um
“puro sujeito pulsional”, destinado a consumir com toda a voracidade pulsional que ele pode.
Para retomar o raciocínio de Bruno (2011), no discurso capitalista, a pulsão está solta, à mercê
do capital. O sujeito, neste contexto, ao consumir, some!
Nessa perspectiva, o discurso capitalista, ao se caracterizar como uma torção do
discurso do mestre, promove uma cisão disso que é pulsional do sujeito dividido ($) com o
que é da ordem do saber inconsciente (S2), o qual, no contexto do citado discurso, não é mais
desse saber que se trata, mais de um saber trader, agenciado pelo capital. Ao surgir como
corruptela do discurso do mestre, o saber (S2) do discurso capitalista não é mais um saber
meio de gozo, fundado via discurso do mestre, mas um saber que foraclui o sujeito dividido e
qualquer indício de divisão subjetiva. Por isso, Jekyll, ao estar na posição do saber (S2)
274
dominado pelo capital, rechaça sua divisão e delega a Hyde o lugar de sujeito ($). Nesta
operação, Jekyll se insere no discurso capitalista ocupando a posição de um saber que suprime
o desejo, construindo entre o sujeito Hyde e o objeto causa de seu desejo uma relação tal que
este passa a completá-lo (a
$) com sua divisão (BRUNO, 2011).
Contudo, afirmamos que Jekyll e Hyde são a mesma pessoa e, assim, Jekyll não está
totalmente ausente em Hyde. Ora, mas se Jekyll está presente em Hyde, por que a necessidade
de se transformar no médico novamente?
A essa pergunta, responde-nos Bruno (2011) dizendo que o fato de Jekyll manter os
dois lados de sua personalidade retrata o fato de que o que resiste ao discurso capitalista é a
divisão do sujeito. Apesar de fazer parecer que tudo é possível, a divisão do sujeito é que o
não se consegue eliminar, visto que ela é senão constitutiva. Referimo-nos a divisão do sujeito
que irredutível ao significante, como bem nos colocou Lacan (1962-1963/2005) no Seminário
10. Por mais que o discurso capitalista busque recusar a castração no laço social tamponando
a divisão do sujeito ofertando objetos-mercadoria para tamponá-la, essa divisão é fundamental
e constituinte, simplesmente porque não existe relação sexual e a pulsão nunca será satisfeita
totalmente: não existe um objeto que satisfaça a pulsão ao ponto do sujeito não desejar mais.
Paradoxalmente, é por sempre estar insatisfeito que o sujeito, pode continuar nesse circuito do
gozo de consumação incessante de objetos, pensando que um dia vai encontrar um objeto que
o deixe pleno e feliz!
Por outro lado, se o que resiste ao discurso capitalista é a divisão do sujeito o que
poderia ser a solução e também o fracasso desse discurso, afirma Bruno (2011), seria o
retorno ao discurso do mestre. Se Hyde passasse a ocupar a posição de significante mestre
(S1) e deixasse o lugar de sujeito ($) no discurso, lugar este rechaçado por Jekyll com horror,
isso implicaria para ele aceitar Hyde como agente da castração (como um mestre castrado),
situação que o então médico não desejaria de maneira alguma. O S1 retornaria ao lugar de
agente e o $ tomaria o lugar da verdade. Nesse panorama, o saber (S2) voltaria ao estatuto de
“trabalhador ideal”, como meio de gozo e, nesta medida, não poderíamos mais falar de uma
cisão discursiva entre o $ e o S2. Conforme o autor, o inconsciente restabeleceria seus direitos
e se abriria a possibilidade de uma psicanálise.
Ao tomarmos o pensamento de Pierre Bruno (2011) acerca de “Jekyll e Hyde”, no
contexto do discurso capitalista, como homologia para pensar nossa tese em questão, dizemos
que a proliferação do transtorno bipolar pode ser compreendida como um paradigma do
discurso capitalista, porque aparece para mascarar a cisão entre o sujeito ($) e o saber (S2)
produzida por esse discurso. O DSM, ao ocupar a posição do saber (S2) do manual e
275
agenciada pelo capital (S1), prolifera e expande categorias para assim possibilitar a produção
de novos psicofármacos, novos gadgets, a serem consumidos pelo sujeito dividido.
O Significante “bipolar” vindo do Outro do discurso não deixa de ter como função
velar, mascarar, nomear o que muitas vezes não podemos nomear: a angústia e o mal-estar de
existir. Além disso, tal significante aparelha um gozo de forma a alienar o sujeito do seu
desejo. Esse significante e o medicamento que o acompanha, seja um antidepressivo ou um
estabilizador de humor, surge como uma prótese ou uma bengala para saturar o que o discurso
tecno-científico não consegue tamponar. Ressaltamos, no capítulo 2, o desenvolvimento da
categoria que hoje se entende por transtorno afetivo bipolar. Antes era psicose maníacodepressiva, hoje é um transtorno afetivo desmembrado em tipos e subtipos. Falamos também
de uma supervalorização do patológico com a introdução da noção de espectro no campo
psiquiátrico, onde dificilmente alguém escapa da régua da anormalidade. Trata-se de um
continuum que tende a ficar maior.
O que o discurso capitalista faz é deixar o sujeito do desejo cada vez mais
“preguiçoso”, para ser um pouco irônica. O que queremos dizer com isso? Ele não deixa o
inconsciente trabalhar. É claro, permito-me aqui fazer uma alegoria depois de tudo o que
exploramos em relação à teoria dos discursos. Mas, o fato é que o sujeito fica menos criativo.
Tudo é dado pronto para ele. É neste sentido que no plano discursivo falamos de uma
clivagem entre o saber (S2) e o sujeito ($) e, assim, falamos de um inconsciente (S2)
fabricado por uma tecno-ciência e agenciado pelo capital. É válido mencionar que estamos o
tempo todo nos remetendo a uma cisão no discurso e não na estrutura e, portanto, não estamos
dizendo que o discurso capitalista produz sujeitos psicóticos. Estamos aludindo a uma recusa
da castração no discurso, no laço social e não à foraclusão do significante Nome-do-pai, tal
como abordamos quando falamos do diagnóstico estrutural no campo da psicanálise.
A respeito da psicose, em especial da melancolia hoje desmembrada entre os
transtornos bipolares, é lícito mencionar, que o melancólico propriamente dito dificilmente se
deixa levar pela identificação a um significante submetido ao capital, pelo contrário, faz
resistência ao discurso capitalista justamente por sua dificuldade de se inserir no laço social.
A foraclusão do significante Nome-do-Pai, como mecanismo fundamental que caracteriza a
estrutura psicótica, faz com que o psicótico, embora esteja na linguagem, isso não significa
que ele faça laço social tal como na neurose. Porque falar dos discursos como formas de
tratamento do real do gozo pelo simbólico, requer lidar com renúncia pulsional e com a
impossibilidade da relação sexual. Na psicose, por conta da ausência da metáfora paterna, o
sujeito fica preso aos significantes maternos e, assim, não se insere no discurso
276
compartilhado, sustentado pelo Nome-do-Pai. Nesse sentido, afirma Quinet (2006, p. 52, grifo
do autor) que o psicótico é representado no plano discursivo “pelo avesso ao laço social
estabelecido”.
Ele é esse fora que nos remete ao fato de que nós estamos presos aos discursos.
Nesse sentido, ele [o psicótico] é livre: livre dos discursos estabelecidos e seus
avessos. Isso significa que há uma impossibilidade real relativa ao gozo, real a ponto
de fazê-lo entrar na circulação dos laços sociais. O louco, como avesso dos
discursos, nos interroga sobre a forma como nos relacionamos com os outros. Ele
tem uma função interpretante para nós. Lacan o situa também como o mestre e
senhor na cidade do discurso, no campo social da polis, na qual faz sua entrada
como cavalo Tróia – imagem que nos faz sentir o poder e a ameaça para a Ordem
estabelecida que o louco representa (QUINET, 2006, p. 52, grifo nosso).
Deste modo, o melancólico propriamente dito, ao entendermos estruturalmente (no
âmbito psicanalítico) como um psicótico, não se fará presa desse discurso. É nesse ponto que
reside, com efeito, nossa crítica, pois a troco de quê podemos entender a proliferação do
transtorno bipolar? Acreditamos existir na conexão entre a alienação estrutural do sujeito e
sua alienação histórica uma chave para o entendimento de tal proliferação. O aumento de
pessoas diagnosticadas com o transtorno aparece para mascarar a cisão entre o sujeito ($) e o
saber (S2) no discurso capitalista, a considerar que este discurso recusa a castração,
destituindo o saber como meio de gozo e a impossibilidade própria do discurso do mestre,
discurso este que inaugura a entrada do sujeito dividido no laço social.
A propósito do discurso capitalista, afirma Lacan (1971-1972/2001), no Seminário
19: o saber do psicanalista:
O que distingue o discurso do capitalista é a Verwerfung, a rejeição; a rejeição fora
de todos os campos do simbólico com aquilo que eu já disse que tem como
consequência a rejeição de quê? Da castração. Toda ordem, todo discurso
aparentado ao capitalismo deixa de lado o que chamaremos, simplesmente, as coisas
do amor, meus bons amigos. Vocês vêem isso, hein, não é pouca coisa (LACAN
1971-1972/2001, p. 49).
O sujeito é expropriado da possibilidade de produzir saber e é reduzido à pulsão, a
um consumidor que, por sua vez, terá seu sofrimento devidamente nomeado e tratado. Com a
noção de espectro, às vezes o sujeito não tem para onde fugir. Ao falar do discurso
universitário, salientamos que ele não deixa de ser uma forma de criar um catálogo de todos
os catálogos, de fazer existir um Outro do Outro, isto é, um Universo do discurso. Entretanto,
quando mais um tipo de transtorno bipolar aparece, mais em evidência se coloca a divisão do
sujeito, tal como se impõe a função do objeto a na série de Fibonacci ou mesmo na tentativa
277
de criar um conjunto de todos os conjuntos. O objeto a está aí não só para dizer que o campo
do Outro é em-fôrma de a, mas também para explicar a divisão irredutível do sujeito à
qualquer função significante. Proliferam-se categorias, aumentam-se o número de pessoas
diagnosticadas com transtorno bipolar, no entanto, isso não diminui em nada o aspecto
intrínseco ao sujeito, ou melhor, à sua divisão irredutível.
Para terminar, dizemos que a proliferação do transtorno bipolar representa, com
efeito, um paradigma do discurso capitalista no momento em que se coloca como um índice
de que o saber totalitário (S2, representado pelo saber do Manual). Este saber, dominado pelo
capital forja, tal como o Dr. Jekyll, um “inconsciente” fechado, congelado, totalitário, que
determina à moda de um imperativo, exatamente o que o sujeito deve consumir: um objeto a
suplementar em forma de mercadoria (seja um antidepressivo ou estabilizador de humor), sem
abrir para outras possibilidades. Nesse circuito, o sujeito ($), como consumidor é a pulsão,
Mr. Hyde, asilado, cindido do inconsciente.
278
6 PARA CONCLUIR
A presente tese visou, antes de tudo, restituir não só a relevância da clínica
psiquiátrica no tratamento do que hoje se chama “os transtornos mentais” (especialmente em
relação ao transtorno bipolar), mas também como a psicanálise, dirigida ao sujeito do desejo
(sujeito do inconsciente), insere-se nesse contexto, de um discurso dominado pela lógica do
DSM.
Quando aludimos ao termo “clínica” para se referir à psiquiatria, destacamos a
origem da palavra, a qual vem de Kliniké, posição que revela a atitude de inclinar-se a escutar
o pathos, o sofrimento do outro (BERLINCK, 2000). Debruçar-se sobre o objeto
psicopatológico, a loucura, era um ato que a psiquiatria clássica fez em sua época, construindo
um rico e heterogêneo conhecimento em torno da patologia mental.
Ao apresentarmos os diferentes discursos sobre a loucura até a modernidade com o
surgimento da psiquiatria como um campo específico de saber da medicina e, depois, ao
tomar como fio condutor as influências teóricas para a edificação da categoria denominada
psicose maníaco-depressiva cunhada por Kraepelin, nosso objetivo foi justamente mostrar que
a psiquiatria, com efeito, fora atravessada por uma clínica e psicopatologia no sentido mesmo
apontado por Berlinck (2000).
A partir da inauguração do DSM-III, a modificação operada nas categorias mentais e
particularmente sobre a psicose maníaco-depressiva, demonstrou outro rumo no âmbito do
território psiquiátrico. Através da terceira versão desse Manual, viu-se uma tentativa da
psiquiatria de se auto-afirmar cada vez mais como uma ciência médica, o que produziu efeitos
desastrosos. Um deles foi o objetivo ateórico, pragmático e operacional a que se propôs o
DSM, promovendo uma homogeneização do saber psiquiátrico e, com isso, o apagamento da
heterogeneidade das psicopatologias que existiam na psiquiatria clássica. Dentre as várias
psicopatologias, escolheram uma: a psicopatologia de Kraepelin.
O grupo dos chamados “neokrapelinianos” resolveu retomar as ideias de Kraepelin
na terceira versão do Manual. Tal escolha, para nós, não foi um mero acaso. A psicopatologia
kraepeliniana é a que se mostra mais organicista, no entanto, mesmo assim, sempre esteve
focada em pesquisas e na observação detalhada da chamada entidade mórbida. O fato é que
este grupo, sob a máscara de Kraepelin, até certo ponto, não seguiu com rigor o que o grande
psiquiatra preconizou. Tanto é que a sua psicose maníaco-depressiva deixou de ser psicose e
passou a ser concebida como um transtorno (disorder) afetivo. O que se viu foi uma pretensa
279
retomada kraepeliniana em nome de um objetivo maior: moldar a psiquiatria a partir de uma
roupagem biológica e menos filosófica e psicanalítica.
A partir daí, produziu-se um afastamento, um distanciamento (não seria melhor
dizer, um ruptura!) entre a psiquiatria e a psicanálise. Antes do DSM-III, existia um diálogo
entre os dois campos de saber. Como mostramos, antes do surgimento do DSM-III, o que
conhecíamos como psiquiatria psicodinâmica, de um modo ou de outro, ainda se fazia
presente no Manual. No DSM-I, mostramos, aliás, sua grande influência.
O aparecimento do DSM-III, ao impor um caráter normativo, baseado em estatísticas
e generalizações, dissolveu a psicose maníaco-depressiva e expandiu as categorias,
provocando uma supervalorização do patológico. Nesse movimento, a psicose maníacodepressiva passou a ser concebida como um tipo de transtorno bipolar e qualquer um, a
depender dos sintomas que apresente, pode ser enquadrado em um tipo ou subtipo do
complexo bipolar ou do espectro bipolar. Não por acaso, trouxemos Georges Canguilhem
para nossa discussão. Ao dissolver a clínica, o DSM impôs a lógica normativa pautada na
epidemiologia, sem considerar a própria normatividade de cada um, tal como propôs o
referido autor; ou, para falar em termos psicanalíticos, sem considerar a história subjetiva
inconsciente particular do sujeito.
Nessa racionalidade diagnóstica, a fisiologia colocou-se preponderante em relação à
patologia, ao pathos. Aliás, era justamente o pathos o elmento que ainda mantinha algum
diálogo entre a psicanálise e a psiquiatria, visto que ambas, embora fundamentadas em
metodogias distintas, produziam um conhecimento sobre o objeto psicopatológico: a loucura.
Eliminou-se o pathos e a psicopatologia e, com ela, suprimiu-se a clínica, pois como vimos
em Canguilhem (2009), é por existirem doentes é que pode existir o médico e, até mesmo, a
própria fisiologia. Hoje, inverteu-se a ordem de importância: se existem as patologias mentais
é porque existe toda uma fisiologia, uma média estatística, uma psicofarmacologia que
enquadra e define categorias nosográficas e, dessa forma, é possível dizer que o DSM acaba
sustentando um agenciamento de laço, onde o que menos importa é o que doente tem a dizer.
Tal foi a importância que intentamos dar a uma parcela da psiquiatria clássica, esta que ainda
priorizava o aspecto psicopatológico e a clínica propriamente dita. Sendo assim, concordamos
com Quinet (2006, p. 22) quando afirma que “não existe clínica dessubjetivada”. Para ele,
trata-se “de uma ética da diferença, que a psicanálise contra-põe à prática normativa da
psiquiatria enquanto serva do capital” (QUINET, 2006, p. 22).
É neste mote que a nossa pesquisa encontrou seu alcance político: questionar o que
está instituído no discurso dominante capitalista, mostrando a importância de sempre procurar
280
resgatar o que é diferente e o que escapa a tentativa de totalização do discurso. Não queremos,
com isso, colocar o discurso analítico em prevalência em relação aos outros discursos.
Sabemos da relevância do discurso universitário em produzir conhecimento, inclusive dentro
do terreno da psiquiatria e da própria medicina. Afinal, o que seria dos psicóticos maníacodepressivos sem o aparecimento do lítio?
Da mesma forma, também ressaltamos a importância do discurso do mestre para a
própria constituição do sujeito e de sua entrada no laço social. Aliás, é partir do discurso do
mestre é que se pode irromper um sintoma de modo a denunciar o furo desse discurso, pela
via do aparecimento do discurso da histérica. Nessa perspectiva, nossa crítica esteve focada na
apropriação que fez o capital do saber produzido pelo discurso universitário. Que o discurso
universitário pretenda totalitário, provocando uma incompatibilidade entre o sujeito ($) e
saber (S2), isso nós sabemos, o problema é como este saber que é incompatível com o sujeito
passa a estar a serviço do capital.
Como bem ressaltamos, o discurso universitário, assim como os discursos do mestre,
do analista e da histérica, sustentam-se em uma impossibilidade e, assim, permitem um giro,
uma mudança discursiva. Já o discurso capitalista, ao tentar suprimir a barreira de interdição
ao gozo, recusando a castração e tamponando a divisão do sujeito a partir dos objetosmercadorias, propõe um circuito fechado. Ao fazer isso, o discurso capitalista deixa o sujeito
praticamente sem saída, na medida em que se sustenta em um enquadramento de gozo que
impossibilita este sujeito de desejar. Ora, se ele não deseja, para o sujeito não existe a falta, a
não ser a falta-a-gozar. Trata-se de um discurso que incita o sujeito a consumir sempre mais e
mais, fazendo com que este pouco pense sobre o que quer, acerca do que lhe faz mal, ou do
que lhe causa mal-estar.
O discurso capitalista é um discurso que não propõe um deslizamento e, portanto,
não suscita o sujeito a “trabalhar” no sentido psicanalítico do termo (S1—S2---S3—S4). Esse
discurso, agenciado pelo capital, impossibilita o aparecimento de um saber meio de gozo, isto
é, do inconsciente como “trabalhador ideal” (LACAN, 1970/2003), lugar onde se situa o saber
na posição do Outro no discurso do mestre. No discurso capitalista, vemos um saber tal como
observamos em “Jekyll”. Trata-se de um saber que fabrica uma mercadoria (uma fórmula, um
medicamento) para calar a pulsão avassaladora e que não se cala jamais, visto que é o que nos
constitui como humanos e como sujeitos de desejo.
Nesse sentido, a proliferação do transtorno bipolar na contemporaneidade é
concebida para nós como um paradigma do discurso capitalista, no instante mesmo que serve
para velar a cisão entre o sujeito ($), reduzido a pulsão consumidora de objetos, e o saber
281
(S2), o qual está fechado para ele e que, ao mesmo tempo, trabalha como um trader, como um
saber formatado, especulado, pronto para se transformar em mercadoria. O sujeito só tem
acesso à mercadoria configurada a partir do Manual. Trata-se de “saber encapsulado”, pronto
para o consumo. “Você está triste, não se preocupe, não se questione, você tem este
transtorno, tome o medicamento X”. Nem sempre com essas palavras, mas sim com essa
estrutura é que o discurso capitalista provoca essa cisão. O transtorno bipolar aparece, nesse
panorama, como uma das máscaras dessa cisão.
Ao tomarmos o DSM como um protótipo de um discurso a favor do capital
(particularmente com o surgimento do DSM-III), nosso objetivo foi ressaltar o que
evidenciamos de uma apropriação do discurso universitário pelo capital. Mais uma vez, é
relevante salientar que não foi nosso intuito advogar contra a medicação antidepressiva ou
contra os estabilizadores de humor. Falamos o quanto eles podem ser necessários e o quanto
são determinantes em muitos casos. O problema é a sua banalização e quando ele deixa de ser
um medicamento necessário de tratamento e entra no circuito de uma mercadoria, de um
gadget, de um objeto que serve simplesmente para tamponar uma contradição intrínseca do
sujeito, contradição esta que o discurso capitalista não quer se haver.
Sabemos que as
importantes pesquisas nesta área são financiadas pelas indústrias farmacêuticas. Daí é
possível observar todo e qualquer conflito de interesses. O lado bom é que para quem
realmente necessita. O malefício está justamente na vulgarização, a qual pensamos estar
associada ao aspecto da mercadoria que envolve os medicamentos para tratar a doença
mental.
Sobre essa questão, para Andrew Solomon (2014, p. 379), apesar dos benefícios
propiciados pela indústria famarcêutica, não se pode esquecer que ela é uma indústria,
“afetada por todas as complexidades bizarras do capitalismo moderno”. Solomon (2014) narra
uma experiência em que participou de sessões educativas preparadas por empresas do ramo
farmacêutico. Em uma delas, onde ocorria o lançamento de um novo antidepressivo, ele relata
que embora a sessão acontecesse sob os auspícios de um órgão regulador, o que observou foi
“uma festa incongruentemente animada, repleta de pistas de dança, grelhas de churrasco e
formação de casais. Era a epítome dos Estados Unidos corporativos, de intensa concorrência”
(SOLOMON, 2014, p. 379). Vale, aqui, continuar o emblemático relato do autor:
Para as palestras, os representantes se reuniam num imenso centro de conferências.
O tamanho do público – mais de 2 mil pessoas – era impressionante. Quando todos
se sentaram, surgiu no palco uma orquestra inteira, como os gatos de Cats, tocando
“Get Happy” e, em seguida, “Everybody Wants to Rule the World”, do Tears for
Fears. Nesse clima, uma voz ao estilo Mágico de Oz nos dava boas-vindas ao
282
lançamento de um fantástico novo produto. Fotografias gigantes do Grand Canyon e
um córrego silvestre eram projetadas em telas de seis metros, e as luzes ergueram
para revelar um palco criado para assemelhar a um canteiro de obras. A orquestra
começou a tocar trechos do The Wall, do Pink Floyd [...] O diretor da força de
vendas passou por cima das ruínas para contemplar o próprio triunfo enquanto
números apareciam na tela; ele discorreu a respeito de lucros futuros como se tivesse
acabado de ganhar um prêmio de programa de auditório (SOLOMON, 2014, p. 379,
grifo do autor).
É explícito no relato de Solomon (2014) o quanto os medicamentos para tratar da
patologia mental estão inseridos na engrenagem capitalista e adquirem a forma de uma
mercadoria encantada, a moda de um fetiche, que servem não apenas para extinguir um mal,
mas também “promete” um “a mais”. Talvez seja aí que esteja o engodo. Inserida na
“sociedade do espetáculo capitalista”, os medicamentos entram na série do que supostamente
pode tamponar o vazio constitutivo e irredutível do sujeito do desejo e, neste sentido, não
estão a serviço do tratamento de uma patologia, mas sim estão a serviço do gozo!
A proliferação de diagnósticos envolvendo o transtorno bipolar, facilitada por uma
abrangência quanto às categorias mentais, pode ser que ajude o médico na identificação
rápida de um diagnóstico, tornando os processos burocráticos e pragmáticos mais fluidos
(especialmente quanto ao diálogo com os planos de saúde). Por outro lado, isso acarreta
impactos ao sujeito que nem sempre é escutado como deveria, na medida em que mais
facilmente pode ser enquadrado em alguma categoria. Diagnosticar é preciso para direção do
tratamento, tal como demonstramos inclusive dentro do campo psicanalítico. No entanto,
dependendo de como o diagnóstico é feito e para que servirá, ele pode nos conduzir ou para
uma singularização ou para uma generalização.
O diagnóstico em psiquiatria deve ser visto como um instrumento e não como uma
meta, pois, se assim for, ela funcionará mais como uma especialidade serva de uma
normalização e do capital, rotulando sujeitos que fogem a uma regra pretensamente bem
estabelecida, do que trabalhando a favor de (re)inserir esses sujeitos na sociedade. De fato, o
problema está no medicamento não como complemento de um tratamento, mas quando serve
de suplemento, ocupando o um a mais do gozo, motor do discurso capitalista.
283
REFERÊNCIAS
AGUIAR, Adriano Amaral de. A psiquiatria no divã: entre as ciências da vida e a
medicalização da existência. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004.
AKISKAL, Hagop; VAZQUEZ, Gustavo. Una expansión de las fronteras del trastorno
bipolar: validación del concepto de espectro. Vertex: Revista Argentina de Psiquiatría,
Argentina, v. 17, n. 69, p. 340-346, Sep./Oct. 2006. Disponível em: <http://polemos.com
.ar/docs/vertex/vertex69.pdf#page=21>. Acesso em: 3 mar. 2016.
ALBERTI, Sônia; ELIA, Luciano. Psicanálise e ciência: o encontro dos discursos. Revista
Mal-estar e Subjetividade, Fortaleza, v. 3, n. 3, p. 779-802, set. 2008.
ALBERTI, Sônia; MARQUES, Ana Paula Lettieri Fulco. Um estudo, uma denúncia e uma
proposta: a psicanálise na interlocução com outros saberes em saúde mental, como avanço do
conhecimento sobre o sofrimento psíquico. Revista Latinoamericana de Psicopatologia
Fundamental, São Paulo, v. 8, n. 4, p. 721-737, dez. 2005. Disponível em: <http://www.r
edalyc.org/pdf/2330/233017491010.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2016.
ALBERTI, Sônia. O hospital, o sujeito, a psicanálise – Questões desenvolvidas a partir de
uma experiência de dezoito anos no NESA/UERJ. Revista da Sociedade Brasileira de
Psicologia Hospitalar, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 143-160, jun. 2008.
ALCÂNTARA, Igor et al. Avanços no diagnóstico do transtorno do humor bipolar. Revista
de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, v. 25, supl. 1, p. 22-32, abr. 2003.
AMARANTE, Paulo (Org.). Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil.
2. ed. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública, 1995. (Panorama ENSP).
ASKOFARÉ, Sidi; ALBERTI, Sônia. Estrutura e discurso: problemas e questões do
diagnóstico. Revista Affectio Societatis, Medellín, v. 8, n. 15, p. 1-21, dec. 2011.
ASKOFARÉ, Sidi. Da subjetividade contemporânea. A peste: revista de psicanálise e
sociedade e filosofia, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 165-175, jan./jun. 2009.
______. O real da política: em quê e por que governar é impossível? A peste: revista de
psicanálise e sociedade e filosofia, São Paulo, v. 5, n. 1-2, p. 119-131, jul./dez. 2013.
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de
transtornos mentais: DSM-IV-TRTM: texto revisado. 4. ed. Tradução de Claudia Dornelles.
Porto Alegre: Artmed, 2002.
ANGELL, Márcia. A epidemia da doença mental. Revista Piauí, São Paulo, n. 59, ago. 2011.
Disponível em: <http://piaui.folha.uol.com.br/materia/a-epidemia-de-doenca-mental/>.
Acesso em: 9 ago. 2016.
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais (DSM-I). Washington, 1952.
284
______. Manual de Diagnóstico e Estatística dos Distúrbios Mentais (DSM-III). 3. ed.
Lisboa: Editora Portuguesa de Livros Técnicos e Científicos, 1986.
______. Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais. 4. ed. rev. DSMIV-TR. Lisboa: Climepsi, 2000.
______. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: DSM-IV-TRTM: texto
revisado. 4. ed. Tradução de Claudia Dornelles. Porto Alegre: Artmed, 2002.
______. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V). 5. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2014.
BANZATO, Cláudio. Multiaxial diagnosis in psychiatry: review of the literature on DSM and
ICD multiaxial schemas. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, Rio de Janeiro, v. 53, n. 1, p. 2737, 2004.
BERCHERIE, Paul. (1985). Os fundamentos da clínica: história e estrutura do saber
psiquiátrico. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1989. (O Campo
freudiano no Brasil).
BERLINCK, Manoel Tosta. Psicopatologia fundamental. São Paulo: Escuta, 2000.
(Biblioteca de psicopatologia fundamental).
BERRIOS, German. Classificações em psiquiatria: uma história conceitual. Revista de
Psiquiatria Clínica, São Paulo, v. 35, n. 3, p. 113-127, 2008.
BERRIOS, German; HAUSER, Renate. Kraepelin – Seção clínica II. In: BERRIOS, German;
PORTER, Roy (Ed.). Uma história da psiquiatria clínica: a origem dos transtornos
psiquiátricos: vol. 2: as psicoses funcionais. Tradução de Lazslo Antonio Ávila. São Paulo:
Escuta, 2012. (Série Pathos). p. 457-472.
BERRIOS, German. Transtornos de humor. In: BERRIOS, German; PORTER, Roy (Ed.).
Uma história da psiquiatria clínica: a origem dos transtornos psiquiátricos: vol. 2: as
psicoses funcionais. Tradução de Lazslo Antonio Ávila. São Paulo: Escuta, 2012. (Série
Pathos). p. 599-632.
BIRMAN, Joel. A psiquiatria como discurso da moralidade. Rio de Janeiro: Graal, 1978.
______. Descartes, Freud e a experiência da loucura. Natureza humana, São Paulo, v. 12, n.
2, 2010. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151724302010000200001>. Acesso em: 22 ago. 2015.
______. Despossessão, saber e loucura: sobre as relações entre a psicanálise e a psiquiatria
hoje. In: QUINET, Antônio (Org.). Psicanálise e psiquiatria: controvérsias e convergências.
Rio de Janeiro: Rios Ambiciosos, 2001. (Bacamarte, 3). p. 21-29.
BIRMAN, Joel. Freud e a Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. (Filosofia passo-apasso; 27).
285
BOGOCHVOL, Ariel. Bipolar, maníaco, depressivo. Opção Lacaniana online. Nova Série,
v. 5, n. 15, p. 1-20, 2014. Disponível em: <http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_15
/Bipolar_maniaco_e_depressivo.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2016.
BOUSSEYROUX, Michel. Fundações do Campo Psicanalítico. Heteridade, Belo Horizonte,
n. 1, p. 21-28, 2001.
______. Práticas do impossível e teoria dos discursos. A peste: Revista de psicanálise e
sociedade e filosofia, São Paulo, v. 4, n. 1, p. 101-112, jan./jun. 2012.
BRAUNSTEIN, Néstor. O discurso capitalista: Quinto discurso? O discurso dos mercados
(PST) sexto discurso? A peste: revista de psicanálise e sociedade e filosofia, São Paulo, v.
2, n. 1, p. 143-165, jan./jun. 2010.
BRUNO, Pierre. Lacan, passador de Marx: la invención del síntoma. Barcelona, Centro de
Investigación Psicoanálisis e Sociedad, 2011.
CABAS, Antônio Godino. A função do falo na loucura. Tradução de Claudia Berliner.
Campinas: Papirus, 1988.
______. O sujeito na psicanálise de Freud a Lacan: da questão do sujeito ao sujeito em
questão. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010.
CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. Tradução de Maria Thereza Redig de
Carvalho Barrocas. 6. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009. (Campo teórico).
CAPONI, Sandra. As classificações psiquiátricas e a herança mórbida. Scientiæ Studia, São
Paulo, v. 9, n. 1, p. 29-50, 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ss/v9n1/a03v9n1
.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2016.
CASTRO, Marinella; CHOUCAIR, Geórgea. Brasileiro gasta R$ 1,8 bi com antidepressivos e
estabilizadores de humor. Economia (on line), Belo Horizonte, jan. 2013. Disponível em:
<http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2013/01/26/internas_economia,346135/brasilei
ro-gasta-r-1-8-bi-com-antidepressivos-e-estabilizadores-de-humor.shtml>. Acesso em: 14
ago. 2016.
CLAVREUL, Jean. A Ordem médica: poder e impotência do discurso médico. Tradução de
Jorge Gabriel Noujaim et al. São Paulo: Brasiliense, 1983.
DIAS, Mauro Mendes. O problema da identificação na posição depressiva. In:
FINGERMANN, Dominique; DIAS, Mauro Mendes (Org.). Por causa do pior. São Paulo:
Iluminuras, 2005. p. 119-132.
DUNKER, Christian Ingo Lenz; KYRILLOS NETO, Fuad. A crítica psicanalítica do DSMIV – breve história do casamento psicopatológico entre psicanálise e psiquiatria. Revista
Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, São Paulo, v. 14, n. 4, p. 611-626, dez.
2011a. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rlpf/v14n4/v14n4a03.pdf>. Acesso em: 25
jan. 2015.
286
______. A psicopatologia no limiar entre psicanálise e a psiquiatria: estudo comparativo sobre
o DSM. Vínculo, São Paulo, v. 8, n. 2, p. 1-15, dez. 2011b. Disponível em: <http://pepsic.bv
salud.org/pdf/vinculo/v8n2/a02.pdf>. Acesso em: 3 mar. 2016.
DUNKER, Christian Ingo Lenz. Questões entre a psicanálise e o DSM. Jornal de
Psicanálise, São Paulo, v. 47, n. 87, p. 79-107, 2014. Disponível em: <http://pepsic.bvsal
ud.org/pdf/jp/v47n87/v47n87a06.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2016.
ELIA, Luciano. A letra na ciência e na psicanálise. Estilos da Clínica, São Paulo, v. 13, n.
25, p. 64-77, dez. 2008. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/estic/v13n25/a05v1325
.pdf>. Acesso em: 10 out. 2015.
______. Psicanálise: clínica e pesquisa. In: ALBERTI, Sônia; ELIA, Luciano (Org.). Clínica
e pesquisa em psicanálise. Rio de Janeiro: Rios Ambiciosos, 2000. p. 19-35.
ENGSTROM, Eric. Kraepelin: Seção social. In: BERRIOS, German; PORTER, Roy (Org.).
Uma história da psiquiatria clínica: a origem dos transtornos psiquiátricos: vol. 2: as
psicoses funcionais. Tradução de Lazslo Antonio Ávila. São Paulo: Escuta, 2012. (Série
Pathos). p. 473-486.
ERLICH, Hilana; ALBERTI, Sônia. O sujeito entre psicanálise e ciência. Psicologia em
Revista, Belo Horizonte, v. 14, n. 2, p. 47-63, dez. 2008. Disponível em:
<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/per/v14n2/v14n2a04.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2016.
FACCHINETTI, Cristiana. Philippe Pinel e os primórdios da Medicina Mental. Revista
Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, São Paulo, v. 11, n. 3, p. 502-505,
set. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141547142008000300014>. Acesso em: 12 abr. 2015.
FIGUEIREDO, Ana Cristina; MACHADO, Ondina Maria Rodrigues. O diagnóstico em
psicanálise: do fenômeno à estrutura. Ágora, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 65-86, jul./dez.
2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/agora/v3n2/v3n2a04.pdf>. Acesso em: 5 jan.
2016.
FIGUEIREDO, Ana Cristina; VIEIRA, Marcus André. Psicanálise e ciência: uma questão de
método. In: BEIVIDAS, Waldir (Org.). Psicanálise, pesquisa e universidade. Rio de
Janeiro: Contracapa, 2002. p. 13-33.
FINGERMANN, Dominique. O nome e o pior. In: FINGERMANN, Dominique; DIAS,
Mauro Mendes (Org.). Por causa do pior. São Paulo: Iluminuras, 2005. p. 21-39.
FOUCAULT, Michel. (1961[1972]). História da loucura na idade clássica. São Paulo:
Perspectiva, 2014.
______. (1963). O nascimento da clínica. Tradução de Roberto Machado. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2008. (Campo teórico).
______. (1969). O que é um autor? In: FOUCAULT, Michel. Ditos e escritos: Estética –
literatura e pintura, música e cinema. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. v. 3. p.
264-298.
287
FRANCES, Allen. Voltando ao normal. Rio de Janeiro: Versal, 2016.
FRAYSE-PEREIRA, João Augusto. O que é loucura. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1984.
(Primeiros passos, 73).
FREITAS, Alexandre Simão. Michel Foucault e o cuidado de si: a invenção de formas de
vida resistentes na educação. ETD: Educação Temática Digital, Campinas, v. 12, n. 1, p.
167-190, jul./dez. 2010. Disponível em: <http://ojs.fe.unicamp.br/ged/etd/article/view/22
51/2568>. Acesso em: 21 jan. 2016.
FREUD, Sigmund. (1892). Extratos dos documentos dirigidos a Fliess. Rascunho A. I. In:
Publicações Pré-psicanalíticas e Esboços Inéditos (1886-1889). Tradução de Jaime
Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1996. (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas
Completas de Sigmund Freud, v. 1).
______. (1893). Extratos dos documentos dirigidos a Fliess. Rascunho B. In: Publicações
Pré-psicanalíticas e Esboços Inéditos (1886-1889). Tradução de Jaime Salomão. Rio de
Janeiro: Imago, 1996. (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de
Sigmund Freud, v. 1).
______. (1893-1895). A Psicoterapia da histeria. In: Estudos sobre a Histeria (1893-1899).
Tradução de Jaime Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1996. (Edição Standard Brasileira das
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, v. 2).
______. (1894). Extratos dos documentos dirigidos a Fliess. Rascunho E. In: Publicações
Pré-psicanalíticas e Esboços Inéditos (1886-1889). Tradução de Jaime Salomão. Rio de
Janeiro: Imago, 1996. (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de
Sigmund Freud, v. 1).
______. (1895). Extratos dos documentos dirigidos a Fliess. Rascunho G. In: Publicações
Pré-psicanalíticas e Esboços Inéditos (1886-1889). Tradução de Jaime Salomão. Rio de
Janeiro: Imago, 1996. (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de
Sigmund Freud, v. 1).
______. (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In: Um Caso de Histeria, Três
Ensaios sobre a Sexualidade e outros Trabalhos (1901-1905). Rio de Janeiro: Imago, 1996.
(Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, v. 7).
______. (1909). Análise de uma fobia em um menino de cinco anos. In: Duas Histórias
Clínicas (o Pequeno Hans e o Homem dos Ratos) (1909). Tradução de Jaime Salomão. Rio
de Janeiro: Imago, 1996a. (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de
Sigmund Freud, v. 10).
______. (1909). Notas sobre um caso de neurose obsessiva. In: Duas Histórias Clínicas (o
Pequeno Hans e o Homem dos Ratos) (1909). Tradução de Jaime Salomão. Rio de Janeiro:
Imago, 1996b. (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund
Freud, v. 10).
288
______. (1910) Contribuições para uma discussão acerca do suicídio. In: Cinco Lições de
Psicanálise, Leonardo da Vinci e outros Trabalhos (1910). Tradução de Jaime Salomão.
Rio de Janeiro: Imago, 1996. (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas
de Sigmund Freud, v. 11).
______. (1912). Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. In: O Caso
Schreber, Artigos sobre Técnica e outros Trabalhos (1911-1913). Rio de Janeiro: Imago,
1996. (Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud, v. 12).
______. (1914). À Guisa de Introdução ao Narcisismo. In: Escritos sobre a psicologia do
inconsciente: 1911-1915. Tradução de Luiz Alberto Hanns. Rio de Janeiro: Imago, 2004.
(Obras psicológicas de Sigmund Freud, v. 1).
______. (1915). Neuroses de transferência. In: Conferências Introdutórias sobre
Psicanálise (Parte III) (1915-1916). Tradução de Jaime Salomão. Rio de Janeiro: Imago,
1996. (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, v.
16).
______. (1915). Pulsão e Destinos da Pulsão. In: Escritos sobre a psicologia do
inconsciente: 1911-1915. Tradução de Luiz Alberto Hanns. Rio de Janeiro: Imago, 2004.
(Obras psicológicas de Sigmund Freud, v. 1).
______. (1917). Luto e Melancolia. In: Escritos sobre a psicologia do inconsciente: 19151920. Tradução de Luiz Alberto Hanns. Rio de Janeiro: Imago, 2006. (Obras psicológicas de
Sigmund Freud, v. 2).
______. (1917). Psicanálise e Psiquiatria. In: Uma Neurose Infantil e outros Trabalhos
(1917-1918). Rio de Janeiro: Imago, 1996. (Edição Standard Brasileira das Obras Completas
de Sigmund Freud, v. 17).
______. (1920). Além do princípio de prazer. In: Escritos sobre a psicologia do
inconsciente: 1915-1920. Tradução de Luiz Alberto Hanns. Rio de Janeiro: Imago, 2006.
(Obras psicológicas de Sigmund Freud, v. 2). p. 135-136.
______. (1921). Psicologia das Massas e Análise do Eu. In: Psicologia das massas e análise
do Eu outros textos (1920-1923). Tradução Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia
das Letras, 2011. (Obras Completas de Sigmund Freud, v. 15). p. 13-113.
______. (1923). O Eu e o Id. In: Escritos sobre a psicologia do inconsciente: 1923-1940.
Tradução de Luiz Alberto Hanns. Rio de Janeiro: Imago, 2007. (Obras psicológicas de
Sigmund Freud, v. 3).
______. (1923). “Psicanálise” e “Teoria da Libido” (dois verbetes para um dicionário de
sexologia). In: Psicologia das massas e análise do Eu outros textos (1920-1923). Tradução
Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. (Obras Completas de
Sigmund Freud, v. 15). p. 273-308.
______. (1924). Neurose e psicose. In: Escritos sobre a psicologia do inconsciente: 19231940. Tradução de Luiz Alberto Hanns. Rio de Janeiro: Imago, 2007. (Obras psicológicas de
Sigmund Freud, v. 3).
289
______. (1925[1924]). Um estudo autobiográfico. In: Um Estudo Autobiográfico, Inibições,
Sintomas e Ansiedade/Análise Leiga e outros Trabalhos (1925-1926). Rio de Janeiro:
Imago, 1996. (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund
Freud, v. 20).
______. (1927). Fetichismo. In: Escritos sobre a psicologia do inconsciente: 1923-1940.
Tradução de Luiz Alberto Hanns. Rio de Janeiro: Imago, 2007. (Obras psicológicas de
Sigmund Freud, v. 3).
______. (1930). O mal-estar na civilização. In: O Futuro de uma Ilusão, O Mal-Estar na
Civilização e outros Trabalhos (1927-1931). Tradução de Jaime Salomão. Rio de Janeiro:
Imago, 1996. (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund
Freud, v. 21).
______. (1933). Conferências introdutórias sobre a psicanálise. In: Novas Conferências
Introdutórias sobre Psicanálise e outros Trabalhos (1932-1936). Tradução de Jaime
Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1996. (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas
Completas de Sigmund Freud, v. 22).
______. (1938). A cisão do Eu no Processo de Defesa. In: Escritos sobre a psicologia do
inconsciente: 1923-1940. Tradução de Luiz Alberto Hanns. Rio de Janeiro: Imago, 2007.
(Obras psicológicas de Sigmund Freud, v. 3).
GARCIA, Claudia Amorim; COUTINHO, Luciana Gageiro. Os novos rumos do
individualismo e o desamparo do sujeito contemporâneo. Psychê, São Paulo, v. 8, n. 13, p.
125-140, jan./jun. 2004. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psyche/v8n13/v8n13a
11.pdf>. Acesso em: 2 dez. 2015.
GAZZOLA, Luiz Renato. Estratégias na neurose obsessiva. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2005. (Campo freudiano no Brasil).
GUARIDO, Renata. A medicalização do sofrimento psíquico: considerações sobre o discurso
psiquiátrico e seus efeitos na Educação. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 33, n. 1, p. 151161, jan./abr. 2007.
HADDOCK-LOBO, Rafael. História da loucura de Michel Foucault como uma “história do
Outro”. Veritas: Revista de filosofia da PUCRS, Porto Alegre, v. 53, n. 2, p. 51-72, abr./jun.
2008. Disponível em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/veritas/article/view
/4458/3367>. Acesso em: 3 jan. 2016.
HARARI, Roberto. Uma introdução aos quatros conceitos fundamentais de Lacan.
Campinas: Papirus, 1990.
HEALY, David. The anti-depressant era. Cambridge: Harvard University Press, 1997.
HOFF, Paul. Kraepelin: Seção clínica I. In: BERRIOS, German; PORTER, Roy (Org.). Uma
história da psiquiatria clínica: a origem dos transtornos psiquiátricos: vol. 2: as psicoses
funcionais. Tradução de Lazslo Antonio Ávila. São Paulo: Escuta, 2012. (Série Pathos). p.
431-456.
290
KAMMERER, Théophile; WARTEL, Roger. Diálogo sobre os diagnósticos. In: LACAN,
Jacques et al. A querela dos diagnósticos. Tradução de Luiz Forbes. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1989. (O campo freudiano no Brasil). p. 27-44.
KEHL, Maria Rita. A atualidade das depressões. In: SAFATLHE, Vladimir; MANZI,
Ronaldo (Org.). A filosofia após Freud. São Paulo: Humanitas, 2008. p. 343-362.
______. O tempo e o cão: a atualidade das depressões. São Paulo: Boitempo, 2009.
KOBELINSKI, Michel. O inventário das curiosidades botânicas da Nouvelle France de
Pierre-François-Xavier de Charlevoix (1744). História, Ciências, Saúde-Manguinhos, Rio
de Janeiro, v. 20, n. 1, jan./mar. 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/hcsm/
v20n1/02.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2016.
KOYRÉ, Alexandre. Estudos de história do pensamento científico. 2. ed. Tradução de
Márcio Ramalho. Rio de Janeiro: Forense, 1991. (Campo teórico).
KUHN, Thomas. The structure of scientific revolutions. 2nd ed. Chicago: University of
Chicago Press, 1970. (International encyclopedia of unified science. Foundations of the unity
of science, v. 2, n. 2).
LACAN, Jacques. A lógica do fantasma: seminário 1966-1967. Recife: Centro de Estudos
Freudianos do Recife, 2008.
______. Du discours psychanalytique. Conférence à l’Université de Milan, le 12 mai 1972.
Disponível: <http://pagespersoorange.fr/espace.freud/topos/psycha/psysem/italie.htm>.
Acesso em: 22 set. 2016.
______. (1946). Formulações sobre a causalidade psíquica. In: Escritos. Rio de Janeiro:
Zahar, 1998. (Campo freudiano no Brasil). p. 152-194.
______. (1949). O estágio do espelho como formador da função do eu. In: Escritos. Tradução
de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro, 1998. (Campo freudiano no Brasil). p. 96-103.
______. (1953). Função em campo da fala e da linguagem. In: Escritos. Tradução de Vera
Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. (Campo freudiano no Brasil). p. 238-324.
______. (1955-1956). De uma questão preliminar a todo tratamento possível na psicose. In:
Escritos. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998a. (Campo freudiano
no Brasil). p. 537-590.
______. (1955-1956). O seminário: livro 3: as psicoses. Tradução de Aluísio Menezes. 2. ed.
rev. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998b. (Campo freudiano no Brasil).
______. (1956-1957). O seminário: livro 4: a relação de objeto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1995. (Campo freudiano no Brasil).
______. (1957-1958). O seminário: livro 5: as formações do inconsciente. Tradução de Vera
Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995. (Campo freudiano no Brasil).
291
______. (1960-1961). O seminário: livro 8: a transferência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1997. (Campo freudiano no Brasil).
______. (1960/1998) Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In:
.Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, (1960/1998).
______. (1961-1962). O seminário: livro 9: a identificação. Recife: Centro de Estudos
Freudianos de Recife, 2011.
______. (1962-1963). O seminário: livro 10: a angústia. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2005. (Campo freudiano no Brasil).
______. (1964). O seminário: livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. 2.
ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998a. (Campo freudiano no Brasil).
______. (1964). Posição do inconsciente. In: Escritos. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1998b. (Campo freudiano no Brasil). p. 843-864.
______. (1965-1966). A Ciência e a verdade. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
p. 869-892.
______. (1966). O lugar da psicanálise na medicina. Opção Lacaniana, n. 32, dezembro,
2001.
______. (1967). Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola A
comissão de garantia. In: Outros Escritos. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2003. (Campo freudiano no Brasil). p. 248-264.
______. (1968-1969). O seminário: livro 16: de um outro ao outro. Tradução de Vera
Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. (Campo freudiano no Brasil).
______. (1969-1970). O seminário: livro 17: o avesso da psicanálise. Tradução de Ari
Roitman. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992. (Campo freudiano no Brasil).
______. (1970). Radiofonia. In: Outros Escritos. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2003. (Campo freudiano no Brasil). p. 400-447.
______. (1971-1972). O Seminário: livro 19: o saber do psicanalista. Recife: Centro de
Estudos Psicanalíticos de Recife, 2001.
______. (1974). Televisão. In: Outros Escritos. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2003. (Campo freudiano no Brasil). p. 508-543.
LANTÉRI-LAURA, Georges. Prefácio. In: BERCHERIE, Paul. Os fundamentos da clínica:
história e estrutura do saber psiquiátrico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,1989. p. 13-20.
LAURENT, Eric. Alienação e separação II. In: FELDSTEIN, Richard; FINK, Bruce;
JAANUS, Maire (Org.). Para ler o Seminário 11 de Lacan: os quatro conceitos
fundamentais da psicanálise. Tradução de Dulce Duque Estrada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1997. (Campo freudiano no Brasil).
292
LAURENT, Eric. Versões da clínica psicanalítica. Tradução de Aluísio Menezes. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1995. (Campo freudiano no Brasil).
LEADER, Darian. Simplesmente bipolar. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2015. (Transmissão da psicanálise).
LIMA, Cláudia Henschel de. O que é uma ciência que inclua a psicanálise. Revista da
Universidade Rural. Série Ciências Humanas e Sociais, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1-2, p.
115-129, 2002. Disponível em: <http://www.editora.ufrrj.br/revistas/humanasesociais/rch/rc
h24n1_2/humanas24n1-2p115_129oqueeumaciencia.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2015.
LOWENSTEIN, Alicia. O paradoxo do senhor. Escola Letra Freudiana, Rio de Janeiro, v.
22, n. 30, p. 251-255, 2003.
LUSTOZA, Rosane Zétola. O discurso capitalista de Marx a Lacan: algumas consequências
para o laço social. Ágora, Rio de Janeiro, v. 12, n. 1 , p. 41-52, jan./jun. 2009. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/agora/v12n1/03.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2016.
MACHADO, Roberto. Foucault: a filosofia e a literatura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.
MARIGUELA, Márcio Aparecido. Jacques Lacan, passador de Politzer. Revista Literal 9,
Campinas, p. 199-221, 2006. Disponível em: <https://marciomariguela.com.br/wp-content
/uploads/2010/04/jacques_lacan_o_passador_de_georges_politzer_literal9.pdf>. Acesso em:
10 dez. 2016.
MARX, Karl. (1827). O Capital. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
MATOS, Evandro Gomes de; MATOS, Thania Mello Gomes de; MATOS, Gustavo Mello
Gomes de. A importância e as limitações do uso do DSM-IV na prática clínica. Revista de
Psiquiatria do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, v. 27, n. 3, p. 312-318, set./dez. 2005.
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rprs/v27n3/v27n3a10.pdf>. Acesso em: 14 jul.
2016.
MILLER, Jacques-Alain; MILNER, Jean-Claude. Você quer mesmo ser avaliado? São
Paulo: Manole, 2006.
MILNER, Jean-Claude. A obra clara: Lacan, a ciência e a filosofia. Tradução de Procópio
Abreu. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996. (Transmissão da psicanálise, 43).
MORAIS, Jamile Luz. Corpo, feminino e subjetivação: uma análise a partir de sujeitos
portadores de Lúpus Eritematoso Sistêmico. 2010. 118 f. Dissertação (Mestrado em
Psicologia) – Programa de Pós-graduação em Psicologia, Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas, Universidade Federal do Pará, Belém, 2010.
MOREIRA, Ana Cleide Guedes. Clínica da melancolia. São Paulo; Belém: Escuta;
EdUFPA, 2002. (Biblioteca de psicopatologia fundamental).
MORENO, Ricardo Alberto et al. Distimia: do mau humor ao mal do humor. 3. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2010. (Biblioteca Artmed).
293
MORENO, Ricardo Alberto; MORENO, Doris Hupfeld; RATZKE, Roberto. Diagnóstico,
tratamento e prevenção da mania e da hipomania no transtorno bipolar. Revista de
Psiquiatria Clínica, São Paulo, v. 32, supl. 1, p. 39-48, 2005.
OLIVEIRA, Cláudio. “O capitalista ri”: uma leitura d’O capital de Marx em Lacan. Escola
Letra Freudiana, Rio de Janeiro, v. 23, n. 34-35, p. 85-92, 2004.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. CID-10: classificação estatística internacional de
doenças e problemas relacionados à saúde. 10. ed. rev. São Paulo: Universidade de São Paulo,
1997. v.1.
PACHECO FILHO, Raul Albino. A teoria do valor e o laço ‘associal’ no capitalismo:
homologias entre Marx e Lacan. In: ENCONTRO INTERNACIONAL DOS FÓRUNS E DA
ESCOLA DE PSICANÁLISE DOS FÓRUNS DO CAMPO LACANIANO (IF-EPFCL), 9.,
Medellín, 2016. Anais... Medellín: Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano,
2016a.
______. Compra um Mercedes Benz prá mim? Psicologia Revista, São Paulo, v. 24, n. 1, p.
15-44, 2015.
______. Há disseminação da perversão no capitalismo contemporâneo?. In: ENCONTRO
NACIONAL DA ESCOLA DE PSICANÁLISE DO CAMPO LACANIANO, 17., 2016, São
Paulo. Anais... São Paulo: Escola de Psicanálise do Campo Lacaniano, 2016b.
______. O frenesi teórico sobre o sujeito do capitalismo tardio. In: RUDGE, Ana Maria;
BESSET, Vera (Org.). Psicanálise e outros saberes. Rio de Janeiro: Companhia de Freud;
FAPERJ, 2012. v. 1. p. 183-205.
PACHECO, Maria Vera Pompêo de Camargo. Esquirol e o surgimento da psiquiatria
contemporânea. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, São Paulo, v. 6,
n. 2, p. 152-157, jun. 2003. Disponível em: <http://www.fundamentalpsychopathology.org/
uploads/files/revistas/volume06/n2/esquirol_e_o_surgimento_da_psiquiatria_contemporanea.
pdf>. Acesso em: 3 dez. 2015.
PAOLIELLO, Gilda. O problema do diagnóstico em psicopatologia. Revista
Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, São Paulo, v. 4, n. 1, p. 86-93, mar,
2001. Disponível em: <http://www.redalyc.org/pdf/2330/233018218008.pdf>. Acesso em: 21
abr. 2016.
PASSOS, Izabel Christina Friche; BARBOZA, Maria Aline Gomes. Tempos e espaços da
loucura: uma leitura foucaultiana. In: PASSOS, Izabel Christina Friche (Org.). Loucura e
sociedade: discursos, práticas e significações sociais. Belo Horizonte: FAPEMIG;
Argvmentvm, 2009. p. 43-57.
PRATES PACHECO, Ana Laura Prates. O corpo e os discursos: dominação e segregação nos
laços encarnados. A peste: revista de psicanálise e sociedade e filosofia, São Paulo, v. 1, n.
2, p. 225-244, jul./dez. 2009.
294
PEREIRA, Mário Eduardo Costa. A crise da psiquiatria centrada no diagnóstico e o futuro da
clínica psiquiátrica: psicopatologia, antropologia médica e o sujeito da psicanálise. Physis
Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 24, n. 4, p. 1035-1052, out./dez. 2014.
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/physis/v24n4/0103-7331-physis-24-04-01035.pdf>.
Acesso em: 11 jul. 2016.
______. A “loucura circular”de Falret e as origens do conceito de “psicose maníacodepressiva”. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, São Paulo, v. 5, n.
4, p. 125-129, out./dez. 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ rlpf/v5n4/14154714-rlpf-5-4-0125.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2016.
______. Griesinger e as bases da "Primeira psiquiatria biológica". Revista Latinoamericana
de Psicopatologia Fundamental, São Paulo, v. 10, n. 4, p. 685-691, dez. 2007. Disponível
em: <http://www.scielo.br/pdf/rlpf/v10n4/a10v10n4.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2016.
______. Kraepelin e a questão da manifestação clínica das doenças mentais. Revista
Latinoamericana de Psicopatoogia Fundamental, São Paulo, v. 12, n. 1, p. 161-166, mar.
2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rlpf/v12n1/a11v12n1.pdf>. Acesso em: 13
jan. 2016.
______. O DSM-IV e o objeto da psicopatologia ou psicopatologia para quê? Estados gerais
da psicanálise: rede dos estados gerais da psicanálise. São Paulo, [2000]. Disponível em:
<http://egp.dreamhosters.com/EGP/98-dsm-iv.shtml>. Acesso em: 15 abr. 2015.
______. Pinel: a mania, o tratamento moral e os imcios da psiquiatria contemporanea. Revista
Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, São Paulo, v. 7, n. 3, p. 113-116, set.
2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rlpf/v7n3/1415-4714-rlpf-7-3-0113.pdf>.
Acesso em: 13 jan. 2016.
______. Questões preliminares para um debate entre a psicanálise e a psiquiatria no campo da
psicopatologia. In: COUTO, Luiz Flávio Silva (Org.). Pesquisa em psicanálise. Belo
Horizonte: SEGRAC, 1996. p. 43-54.
PEREZ, Cassiana Purcino; PASSOS, Juliana. O excesso de medicação em uma sociedade que
precisa ser feliz. ComCiência, Campinas, n. 161, set. 2014. Disponível em:
<http://comciencia.scielo.br/pdf/cci/n161/03.pdf>. Acesso em: 3 ago. 2016.
PINEL, Philippe. Tratado médico-filosófico sobre a alienação mental ou a mania (1801)
(extratos sobre a mania e sobre o tratamento moral). Revista Latinoamericana de
Psicopatologia Fundamental, São Paulo, v. 7, n. 3, p. 117-127, 2004. Disponível em:
<http://www.redalyc.org/pdf/2330/233017762011.pdf>. Acesso em: 2 mar. 2016.
QUEIROZ, André. Escritura e vertigem: a questão de Beckett, a questão de Foucault. In:
QUEIROZ, André; CRUZ, Nina Velasco e (Org.). Foucault hoje? Rio de Janeiro: 7letras,
2007. p. 26-32.
QUINET, Antônio. Extravios do desejo: depressão e melancolia. Rio de Janeiro: Rios
Ambiciosos, 2002.
295
______. Psicose e laço social: esquizofrenia, paranóia e melancolia. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2006.
______. Teoria e clínica da psicose. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2011.
(Campo teórico).
RADDEN, Jennifer; SADLER, John. The virtuous psychiatrist: character ethics in
psychiatric practice. Oxford; New York: Oxford University Press, 2010.
ROUDINESCO, Elisabeth. Filósofos na tormenta: Canguilhem, Sartre, Foucault, Althusser,
Deleuze e Derrida. Tradução de André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.
RODRIGUES, Maria Josefina Sota Fuentes. O diagnóstico de depressão. Psicologia USP,
São Paulo, v. 11, n. 1, 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ar
ttext&pid=s0103-65642000000100010>. Acesso em: 23 jun. 2016.
SADALA, Glória; MARTINHO, Maria Helena. A estrutura em psicanálise: uma enunciação
desde Freud. Ágora, Rio de Janeiro, v. 14, n. 2, p. 243-258, jul./dez. 2011. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/agora/v14n2/a06v14n2.pdf>. Acesso em: 2 out. 2016.
SADLER, John. Values and psychiatric diagnosis. Oxford; New York: Oxford University
Press, 2005. (International perspectives in philosophy and psychiatry).
SAFATLE, Vladimir. O que é uma normatividade vital? Saúde e doença a partir de Georges
Canguilhem. Scientiæ Studia, São Paulo, v. 9, n. 1, p. 11-27, 2011. Disponível em: <http://
www.scielo.br/pdf/ss/v9n1/a02v9n1.pdf>. Acesso em: 18 set. 2016.
SANTOS, Tânia Coelho dos; LOPES, Rosa Guedes. Psicanálise: ciência e discurso. Rio de
Janeiro: Companhia de Freud, 2013.
SAUVAGNAT, François. Considerações críticas acerca da classificação DSM e suas
implicações na diagnóstica contemporânea. Analytica, São João Del-Rei, v. 1, n. 1, p. 13-27,
jul./dez. 2012. Disponível em: <http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/analytica/article/view
File/231/281>. Acesso em: 12 ago. 2016.
SCLIAR, Moacyr. Do mágico ao social: trajetória da saúde pública. São Paulo: SENAC,
2002.
______. Saturno nos trópicos: a melancolia européia chega ao Brasil. São Paulo: Companhia
das letras, 2003.
SERPA JÚNIOR, Octavio Domont de. Mal-estar na natureza. Rio de Janeiro: Te Corá,
1998.
SHORTER, Edward. A history of psychiatry: from the era of the asylum to the age of
Prozac. New York: John Wiley and Sons, 1997.
SIBEMBERG, Nilson. Autismo e psicose infantil. In: JERUSALINSK, Alfredo; FENDRIK,
Silvia (Org.). O livro negro da psicopatologia contemporânea. São Paulo: Via Lettera,
2011. p. 93-101.
296
SOLER, Colette. Declinações da angústia. São Paulo: Escuta, 2012a.
______. Los diagnósticos. Freudiana, Barcelona, n. 16, p. 21-33, jan./abr. 1996.
______. O discurso capitalista. Stylus: Revista de Psicanálise, Rio de Janeiro, n. 22, p. 5568, maio 2011. Disponível em: <https://issuu.com/epfclbrasil/docs/stylus_22>. Acesso em: 12
nov. 2016.
______. O inconsciente a céu aberto da psicose. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2007. (Transmissão da psicanálise).
______. O que Lacan dizia das mulheres. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2006.
______. Seminário de leitura de texto: ano 2006-2007: Seminário A angústia, de Jacques
Lacan. São Paulo: Escuta, 2012b. (Coleção Pathos).
SOLOMON, Andrew. O demônio do meio-dia: uma anatomia da depressão. 2. ed. Tradução
de Myriam Campello. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.
SOUZA, Aurélio. Os discursos na psicanálise. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2008.
STEVENSON, Robert Louis (1886). O estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Tradução
de Braulio Tavares. São Paulo: Hedra, 2008.
TEIXEIRA, Angélia. A incompletude do saber. In: MAGALHÃES, Sonia Campos et al. O
saber do psicanalista. Salvador: Associação Científica Campo Psicanalítico, 2002, p. 29-43.
TEIXEIRA, Marco Antônio Rotta. Melancolia e depressão: um resgate conceitual na
psicanálise e na psiquiatria. Revista de Psicologia da UNESP, São Paulo, v. 4, n. 1, p. 41-56,
2005.
THORNTON, Tim. Essential philosophy of psychiatry. Oxford; New York: Oxford
University Press, 2007. (International perspectives in philosophy and psychiatry).
VALAS, Patrick. Um fetiche para os ignorantes: a psicossomática. Revista Escola Letra
Freudiana, Rio de Janeiro, v. 22, n. 33, p. 113-126, 2004.
VIDAL, Eduardo. O dito do inconsciente e os discursos. Escola Letra Freudiana, Rio de
Janeiro, v. 23, n. 34-35, 2004.
WANG, Yuan-Pang. Aspectos históricos da doença maníaco-depressivas. In: MORENO,
Ricardo Alberto; MORENO, Doris Hupfeld (Org.). Da psicose maníaco-depressiva ao
transtorno bipolar. São Paulo: Segmento Farma, 2008. p. 13-46.
ZARAFIAN, Édouard. Um diagnóstico em psiquiatria: para quê? In: LACAN, Jacques et al.
A querela dos diagnósticos. Tradução de Luiz Forbes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1989. (O
campo freudiano no Brasil). p. 45-51.