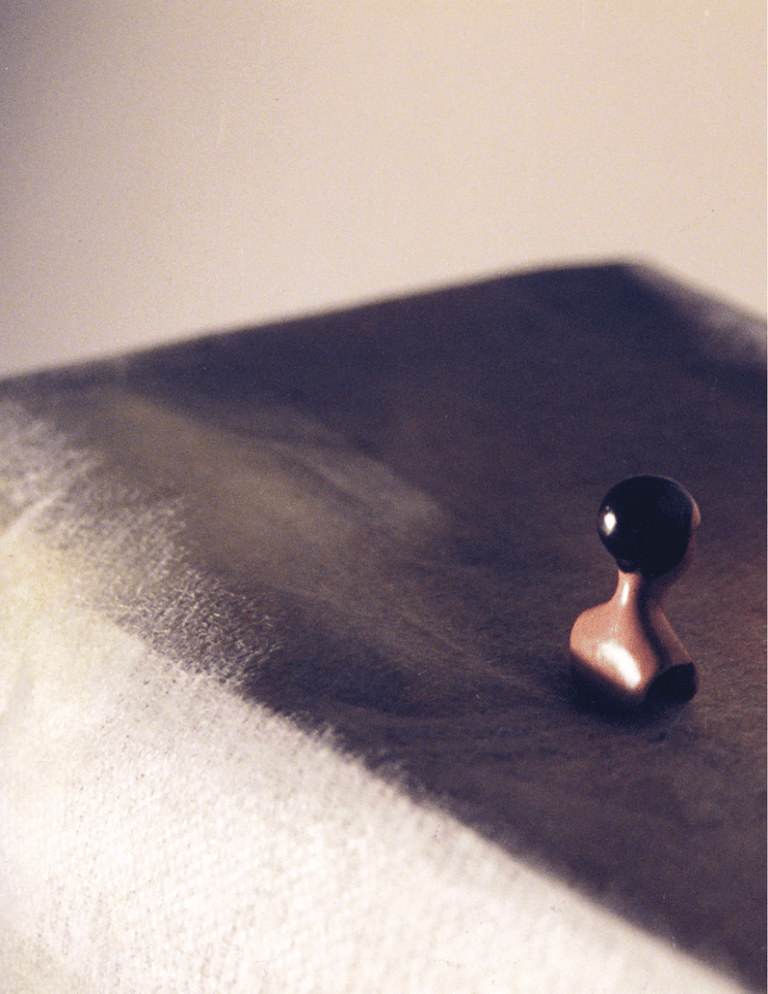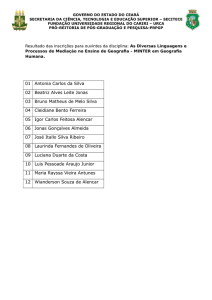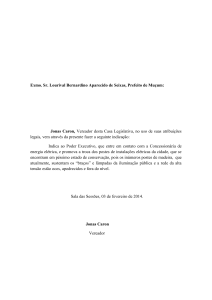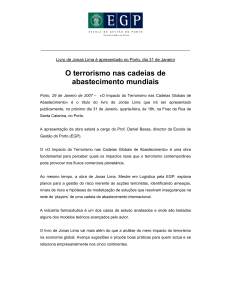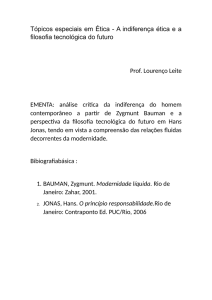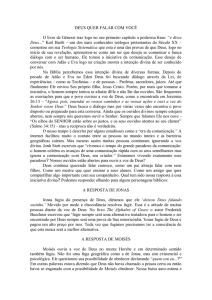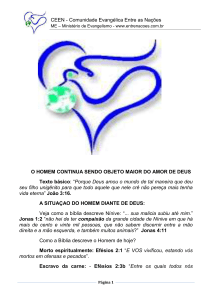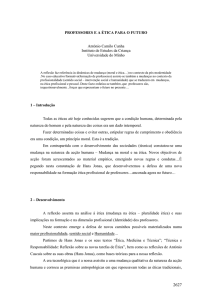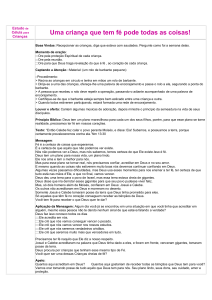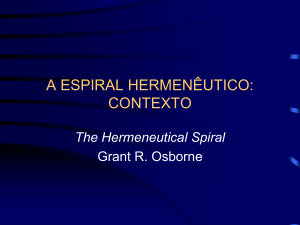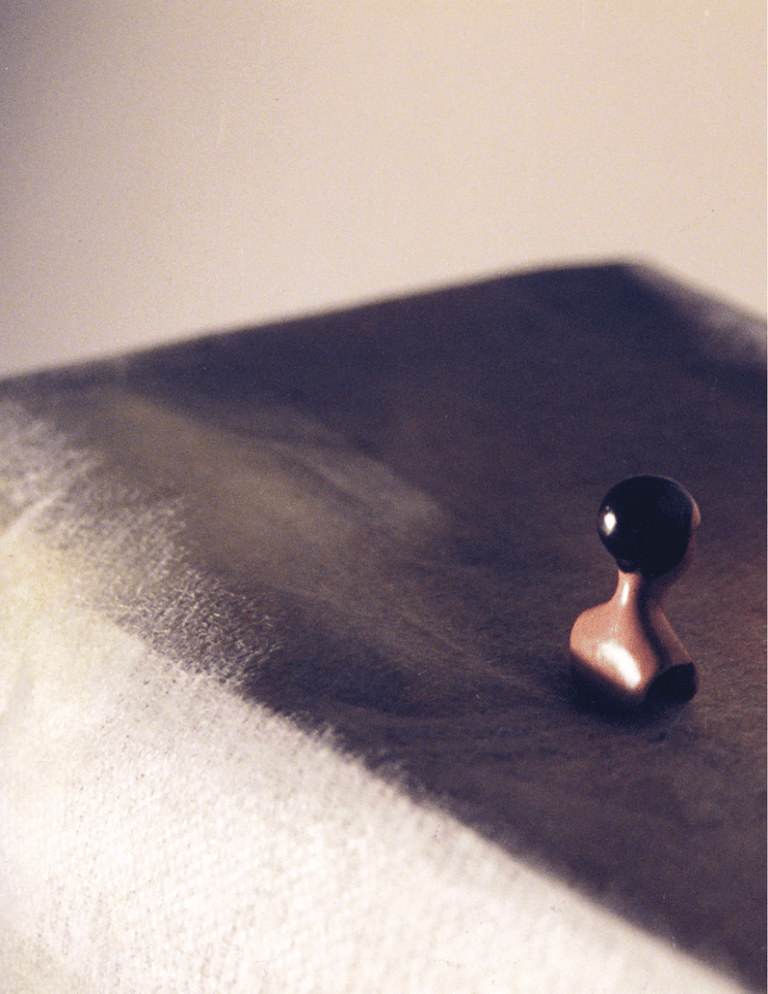
Cultura e Literatura Judaicas
"Face e Contraface"
ângulo 120, 2010,
69
Cultura e Literatura Judaicas
Entre a história e os espaços subjetivos:
"O lance de dados", de Samuel Rawet
Berta Waldman
Professora Titular em Literatura Hebraica e Judaica, área de
Língua e Literatura Hebraica da Universidade de São Paulo.
Resumo
Este trabalho propõe a leitura de uma peça inédita de Samuel Rawet - “O lance de dados”- que trata de um colaborador
judeu durante a Segunda Guerra Mundial. O caráter estático da peça e a tendência ao diálogo repetitivo indicam que,
nela, a situação importa mais do que a ação. Esta é desdramatizada: não há um encaminhamento lógico com começo,
meio e fim, e sim uma sucessão de episódios justapostos.
O período abarcado pela peça, cuja ação transcorre no Rio de Janeiro, é o de alguns anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. A forma, debruada em longas falas filosóficas, é um lugar em que se podem divisar aspectos históricoculturais. A interferência do Existencialismo sartreano – filosofia surgida após a Segunda Guerra Mundial – é nítida na
composição do texto de Rawet e na configuração de seu personagem protagonista.
Se o autor constrói a peça num tempo e numa circunstância que oferecem poucas saídas ao personagem, ele também
induz o leitor a pensar a questão de diferentes ângulos, afastando as posições categóricas e contundentes.
Palavras-chaves
Holocausto – judaísmo – colaboracionismo – culpa.
Abstract
This paper proposes a reading of an unpublished play by Samuel Rawet – “O Lance de Dados” (Throw of Dice) – which
deals with a Jewish collaborator during World War II. The play’s static character and the tendency to repeat the dialogue
indicate that situation is more important than action here. The latter is undramatized: there is no logical sequence, with
beginning, middle, and end, but only a succession of juxtaposed episodes.
The play takes place in Rio de Janeiro, a few years after the end of WW II. In its form, which includes long philosophical
speeches, historical and cultural aspects can be perceived. The interference of Sartrean Existencialism – a philosophy
that appeared after the war – is clear in the text’s composition, and in the configuration of its protagonist.
Even though the author sets the play at a particular time and in specific circumstances, which allow the character few
possibilities of escape, he also leads the reader to examine the question from different perspectives, avoiding categorical
and forceful positions.
Keywords
Holocaust – Judaism – Collaborationism – Guilt.
70
www.fatea.br/angulo
Cultura e Literatura Judaicas
I.
Samuel Rawet1 (1929, Klimontow-Polônia- 1984,
Sobradinho-Brasília), escritor que viveu no Brasil a
maior parte de sua vida, além de contista e ensaísta
teve uma participação pouco divulgada na história da
dramaturgia nacional. Integrou o grupo Café da manhã
criado por Dinah Silveira de Queiróz, do qual participaram também Fausto Cunha, Renard Perez, Fábio
Lucas, Nataniel Dantas e outros interessados em teatro. Escreveu peças como “Os Amantes”, de 1957, que
chegou a ser encenada no Teatro Municipal do Rio de
Janeiro. Já “O lance de dados”, trabalho inédito2 sobre um colaborador judeu durante a Segunda Guerra Mundial, não foi representado. Sabe-se que Rawet
pretendia publicá-lo pela editora Vertente, por volta
de 1977, mas isso não ocorreu. Apesar de a ficção de
Rawet ter sido reunida e publicada, o teatro mantémse em parte inédito.
O título da peça alude diretamente ao título do
poema de Stéphane Mallarmé (1842-1898) “Um lance
de dados” (em francês, “Un coup de dés”), publicado
em fins do século XIX. Esse poema permite várias possibilidades de leitura devido à disposição não linear
dos versos, que inclusive traçam um desenho labiríntico, que parte do verso inicial “Un coup de dés jamais
n’abolira le hasard”, recuperado no final do poema. A
indeterminação e a imprevisibilidade sugeridas aludem à impossibilidade de enfeixar uma constelação de
possíveis num projeto único. O acaso do jogo de dados
está em que o resultado de um determinado lance independe de toda a sequência histórica dos lances anteriores, ou seja, o lance não tem passado, e a direção
dos resultados pode mudar completamente a qualquer
momento.
Na dobra metalinguística, o poema aponta para
o processo de criação, situando-o no intervalo entre a
contingência e a necessidade; a primeira conduz o processo à diversidade; a segunda, à eficiência.
Alterando o artigo indefinido que passa a definido, o título da peça de Rawet – “O lance de dados”afunila a ideia de jogo a uma referência única, restringindo-lhe a multiplicidade de alternativas. Além
disso, “O lance de dados” também pode ser lido como
“dados (informações antes ocultas) que vão sendo lançados, apresentados”. A análise do título será retomada ao longo do estudo da peça.
“O lance de dados” compõe um teatro de significações, intensidades, forças e pulsões de presença. O
ângulo 120, 2010, p. 70-78.
Se Deus não existe, tudo é permitido.
Fiódor Dostoievsky
(Irmãos Karamazov)
caráter estático dessa dramaturgia, com tendência ao
diálogo repetitivo, opõe-se à dinâmica progressiva e linear do drama. Nela, mais que ação, importa a situação.
Ainda que a peça de Rawet não apresente uma
ação no sentido do claro desenvolvimento de uma
fábula, ela ativa sua dinâmica por meio da mudança
de situações, espécie de quadros em movimento e instalações provisórias que viabilizam o encadeamento
do espetáculo, com base em acirradas competições de
palavras e silêncios, numa sucessão de quadros com
pouca tensão e algum suspense.
A exigência de mais uma experiência partilhada
que transmitida, mais impulso de energia que informação, constrói-se a partir de uma “palheta estilística”
composta pela parataxe, determinante de estruturas
não-hierarquizadas, em que os elementos cênicos não
se ligam uns aos outros de forma evidente, além de
não se ilustrarem, nem funcionarem por mecanismos
de reforço e redundância.
Para resistir ao bombardeio de informações, a
peça adota uma estratégia de economia dos elementos
cênicos, em processos de repetição e ênfase na duração
ou no ascetismo dos espaços vazios. Privilegiando o
silêncio, o vazio e a redução minimalista dos gestos
e dos movimentos, criam-se elipses a serem preenchidas pelo espectador, de quem se exige uma postura
produtiva.
Certamente, a peça insere-se nas transformações
ocorridas no teatro pós Segunda Guerra Mundial,
quando as elites testemunharam, com inegável espanto, a emergência de novos dramaturgos, que produziram retratos bem pouco lisonjeiros do período.
Neste “novo teatro” despontam Beckett, Ionesco,
Adamov, Sartre, Camus, Genet, Osborne, Albee, Gelber, Dürrenmatt, entre outros, todos eles relacionados a uma nova estética, qualificada genericamente
por Geneviève Serreau como um “teatro de irrisão”
(S E R R E A U , 2005, p. 561).
Também no Brasil, entre 1960 e 1970, diversos
espetáculos exacerbaram as características modernistas, incidindo num ultramodernismo experimental
que serviu como ante-sala para a pós-modernidade.
O primeiro deles é “O Rei da Vela”, texto de 1933 de
Oswald de Andrade, encenado pelo Teatro Oficina
em 1967, sob direção de José Celso Martinez Corrêa.
Considerado não-montável durante décadas, o texto
reuniu na ocasião plenas condições de existência no
palco, no centro do redemoinho advindo com o estro
de Artaud, Brecht e Grotóvski, submersos em gene-
71
Cultura e Literatura Judaicas
roso banho tropicalista. “Cemitério de Automóveis”,
no mesmo ano, escancarou com agudeza nunca vista
o universo sadomasoquista de Arrabal, pelas mãos
do argentino Victor García que, dois anos mais tarde,
apresenta de forma exuberante “O Balcão” de Jean
Genet, organizando metáforas e alegorias vetorizadas
em retórica neobarroca, num inusual espaço vertical
(cf. MOSTAÇO, 2005, p. 571).
II.
“O Lance de dados” conta com cinco personagens: Jonas, Helena, Ana, Marcos e Júlia.
O cenário é único, o salão de estar de uma residência em Santa Teresa, mantendo-se de começo a fim.
O palco funciona como uma espécie de espaço alegórico da História, que não existe nas imagens externas,
mas nas subjetividades em confronto. O protagonista
é Jonas, herói que não se sustenta numa individualidade psicológica, sendo antes a expressão de um movimento interior de ideias e ideais que encontra eco
na utilização simbólica de elementos cênicos. Como já
mencionado, a ação é desdramatizada: não há um encaminhamento lógico com começo, meio e fim, e sim
uma sucessão de episódios justapostos.
O período abarcado pela peça é o de alguns anos
após o fim da Segunda Guerra Mundial.
Segue uma paráfrase da peça que, por ser inédita,
é de difícil acesso.
P R I M E I R O AT O
Cena I
Jonas está sentado, lê um livro e, ao seu lado há
uma taça de chá. Helena entra trazendo o barulho de
fora – é Carnaval. Ela conta que viu um bloco e comenta a alegria mesclada com melancolia3, na canção, na
dança requintada. Helena tenta imitá-la, faz as vezes
da negra gorda, ótima bailarina. A condição estrangeira dos dois é logo denunciada, no tipo de olhar que
lançam à festa de Carnaval, na qual eles percebem uma
notação de tristeza, estabelecendo-se uma distância
entre o casal e os da terra. Quem são os requintados?
Essa questão é levantada e Jonas manifesta-se:
“E os requintados somos nós... (Amargo) animais
enfarpelados com uma carapaça de cultura...”(p. 3)
Há um travo amargo na conversa dos dois, enquanto tomam chá, hábito europeu mantido. Vê-se que
não é amor ou paixão que une o casal, mas uma necessidade que se formaliza num trato, numa decisão
racional:
Jonas: “[...]estirpar as ilusões, foi o nosso trato,
não foi?” (p. 4).
Passar a vida calmamente, sem grandes entusias-
72
mos, despercebida, guardando o apelo do que podia
ter sido e não foi, um lamento pelo que é e não será,
tudo sem acordar os monstros, esse é o propósito de
Jonas.
Pelo diálogo, sabe-se que o casal se encontrou
pela primeira vez em janeiro de 1948, na mesa de um
bar, em Berlim. Ela estava assustada e refletia em seus
olhos uma história não compreendida e não dissipada.
Odiava os que agiam como se nada tivesse acontecido.
O que aconteceu é elíptico na peça, mas a referência
são os campos de extermínio nazistas. As falas são filosóficas, extensas, e não há preocupação em dar-lhes o
tom de naturalidade. Reatar uma vida ordenada, sem
esperanças de qualquer espécie, nem projetos otimistas, esse é o impulso de Jonas.
“Garantimos a solidão necessária de cada um,
e a comunicação suficiente para afastar-nos do desespero. Em outras condições, poderia dizer que sou
feliz.” (p. 8)
A tonalidade filosófica é sempre guiada pelo personagem masculino.
Jonas: “quando puxei a cadeira, você nada respondeu, apenas ergueu os olhos para mim, como está
fazendo agora. Eu conhecia olhares semelhantes, não
idênticos. Olhos de medo e fuga, pupilas de espanto e
asco, reflexos de um outro lado, de um avesso, de um
negrume, de uma noite ainda não dissipada” (p. 5).
Há um ponto de confluência entre ambos quando
olham para a mesma direção, protegidos por uma vidraça, sem se mesclar com a multidão:
Jonas: “Às vezes, olhávamos para a rua, através
da vidraça, e sentíamos que ali dentro estávamos
bem” (p. 6).
A retomada dos momentos do primeiro encontro
servem para situar o leitor diante de histórias de vida
vinculadas à Segunda Guerra Mundial. O tom é sempre o da sondagem no imponderável, no vazio.
Jonas: “Sentado, agora, aqui, como estou, o que
sou eu?” (p. 6). Somos outros de nós mesmos, à medida que o tempo passa;
[A luz começa a baixar durante a fala de Jonas]
Os dois estavam ocos quando se encontraram
numa madrugada e resolveram se vincular em nome
do passado comum (os dois são judeus, alimentaramse dos mesmos hábitos, da mesma cultura, e foram
submetidos aos mesmos princípios de exclusão).
Nessa altura, há uma volta ao presente da ação
e é sexta-feira. Helena busca castiçais, velas, fósforos
para acender as velas de shabat. É dela a fala:
“Às velas ligavam-se tantas coisas”(p. 9).
Helena era de uma aldeia e sua família só pensava em arranjar-lhe um noivo.
A exterioridade das marcas judaicas faz emergir
a pergunta: o que é ser judeu? Pergunta que será retomada mais adiante.
Surge indiretamente uma terceira pessoa na cena.
www.fatea.br/angulo
Cultura e Literatura Judaicas
Jonas avisa que telefonaram para Helena. Não sabe
quem, não deixou nome. Uma senhora. E vai tornar a
procurá-la no mesmo dia.
Cena II
Entra em cena Ana, a personagem anunciada anteriormente.
Helena chora em seu colo. As duas tinham estado no mesmo campo de concentração (não nomeado)
e mencionam o medo vivido no campo, medo de ser
escolhida para morrer.
Ana: “Nós contávamos com o acaso, a possibilidade
do eleito, porque alguém sobreviveria, disso tínhamos certeza. É impossível matar todo mundo. Um
pelo menos há de escapar. E nós nos considerávamos
esse Um, esse eleito, e cada qual via no outro o condenado, o morto, o ausente, já.” (p. 12)
Ana: ... “E de todos os lados só se ouvem exortações:
esqueçam, esqueçam, esqueçamos todos, o futuro,
confiemos no futuro. Eles, os que ficaram de fora, podem e devem esquecer o que nos aconteceu. Mas nós?
...” (p. 12)
A questão daquele que morreu e do que sobreviveu é posta na peça e também a necessidade da memória e do testemunho.
Jonas aparece e é apresentado a Ana. Ela fita-o
insistentemente, mas silencia tê-lo reconhecido.
Ana comunica que Marcos vive com ela, que Kátya (filha?) morreu alguns meses antes do fim da guerra, e sai de forma abrupta e perturbada.
S E G U N D O AT O
O primeiro ato apresenta, como se viu, duas
personagens sobreviventes da Guerra, unidas por um
casamento baseado em acordos; já o segundo ato remete à quebra da harmonia desta união, através do
aparecimento de uma terceira personagem, também
sobrevivente do Holocausto.
Primeiro quadro
Toca o telefone, atendem e ninguém responde do
outro lado da linha, de modo a introduzir um clima
de suspense.
Jonas prossegue no mesmo tom filosófico tratando da ideia de Deus, lançada primeiramente por Helena:
Helena: “Como era boa e calma a entrega de nós mesmos a um ente supremo” (p. 16).
Jonas: “Quanto se enganam os que afirmam que viver sem Deus é mais fácil. O que crê, sofre para crer,
e essa fé retalhada pela luta deve ser mais sublime
do que a simples entrega beata. Das profundezas,
ângulo 120, 2010, p. 70-78.
das profundezas mais sórdidas recolhe um eco de
perdão e de esperança. (Pausa) Sem Deus, somos
todos homens limitados pelo nascimento e pela morte. Qualquer ideia que procure nos fixar um sentido
para além dos limites de nossa existência é apenas
um substituto do que se eliminou. O que sobra somos nós mesmos, divididos, empenhados numa ação,
atordoados, mas limitados pela morte inevitável. E é
com o horror dessa visão que aguardamos o nosso
muro. Nenhuma esperança para nossas faltas, faltas
impostas por uma consciência criada por séculos de
crença, e que, agora, despida desse halo, vêm com os
imperativos da lei” (p. 16).
“Num mundo sem Deus, entre que polos transitamos
a não ser do abismo de nossa degradação para os píncaros de nossa capacidade de ser sublimes” (p. 16).
Helena recusa-se a acompanhar as elucubrações
do marido transtornado, atenta para o céu azul, limpo
de nuvens. Eles não olham mais para a mesma direção.
Com os elementos trazidos com a entrada de Ana, a
união do casal se quebra.
Enquanto Helena quer uma mudança na atmosfera conjugal, talvez um filho, Jonas quer a repetição
do mesmo.
A peça remete à infância de Jonas: os pais se
odiavam, cobriam-se de insultos, e ele era filho único.
Pobres, o esforço para que ele estudasse foi grande.
Terminou um curso de Letras, desconfiando do sem
sentido de tudo, quando estourou a guerra.
De repente, Helena e Jonas começam a falar em
separação.
A entrada de Ana na vida do casal torna incômoda a bolha em que vivem. O desespero de Ana faz
Helena ver que o mundo prossegue. Ela se dá conta de
que vive na aceitação do que lhe vem às mãos; acredita
que só um filho poderia tirá-los do universo de frases,
da atmosfera saturada de decisões lógicas.
Jonas reluta: “O que temos para lhe oferecer, a
não ser o produto de duas neuroses?” (p. 22).
Segundo quadro
Mesmo dia, à noite. Cena vazia, às escuras. Ruído
de automóvel que chega. Passos de Jonas em direção à
porta de entrada. Deixa-a aberta. Acende a luz. Entra a
empregada, vinda do interior.
Júlia – a empregada - conta que Helena saiu
nervosa, depois de um telefonema, dizendo que iria à
casa de dona Ana e não sabia a que horas voltaria. É
sábado de carnaval, e a empregada quer sair. Ela vai,
depois de servir um chá.
Surge Marcos, armado, nervosíssimo.
Jonas se dá conta, pelo sotaque, que o outro era
estrangeiro, judeu como ele, e devia estar no país há
menos de um ano. Marcos aponta-lhe um revólver
para pôr fim “à vida sórdida, essa vida que para se
salvar... de que não foi capaz?” (p. 25)
A alusão a algo ocorrido no passado retorna e o
leitor percebe que a presença de Marcos significa um
73
Cultura e Literatura Judaicas
acerto de contas. O comportamento deste é impulsivo,
raivoso, empolgado, contrastando com a atitude controlada de Jonas. Marcos é um homem de ação, uma
figura heroica, que pode matar por uma ideia. Jonas
vai até uma cômoda e dela retira um arsenal de suicida: um punhal, uma corda com laço feito, frascos de
tóxico, seringas, ampolas, uma navalha, um revólver,
aguardando a decisão anunciada por Marcos. Enquanto grita que Jonas é um monstro, este replica, chamando-o “herói de merda!” Marcos revela ser filho de Ana
e afirma que está disposto a
“matar um homem que durante a guerra, enquanto os
judeus morriam, colaborou com os alemães, fez fortuna, e apesar disso, continua vivo. (Pausa)
Eis a minha biografia, sumária, mas só essa lhe interessa/.../” (p.26)
Jonas oferece dinheiro a Marcos, que recusa. Jonas
apunhala Marcos no peito
A empregada apreensiva chama por Jonas que lhe
diz:
“Não foi nada, Júlia! Nada! (Pausa) Apenas um ladrão! Apenas um ladrão” (p.27)
T E R C E I R O AT O
Jonas está deitado no sofá, ao entardecer. Helena
aparece e atravessa a sala.
Jonas pede a ela um comprimido para dor-decabeça.
Os dois conversam sobre o tempo, as plantas, o
céu, a luz do dia. Helena evita ficar com Jonas, que insiste em conversar, uma conversa solta só para manter
contato.
Jonas narra a Helena um conto hassídico de um
discípulo de Baal Shem Tov que era coxo e relata o
entusiasmo de seu mestre quando se punha a rezar e
como bailava e saltitatava embriagado pela oração. O
entusiasmo do discípulo era tal que, ao imitar o mestre, passa a saltar e a dançar, curando-se de seu mal.
Jonas gostaria de contar uma história, mas falta-lhe o
mestre.
Outro relato de Jonas concentra-se em sua cidade natal, onde também vivia um homem baixo, gordo,
pernas arqueadas, que durante meses fazia pequenos
trabalhos: entregava encomendas, levava recados, trazia lenha, consertava o fogão, e, de repente, aparecia
na rua gritando, esmurrando o chapéu, rasgando a camisa, dando pontapés na parede. Seu maior inimigo
era o chapéu, o qual ele golpeava de todos os modos,
gritando: animal, animal. Helena não comenta a história, ela quer saber por que Jonas matou Marcos. A
história verdadeira. Jonas tergiversa. Marcos poderia
ter cometido um ato irracional, irrefletido, espontâneo,
por mais abjeto que seja.... quem o condenaria?
Jonas sugere que haveria uma intenção de furto
da parte de Marcos. Isso e a intenção de silenciá-lo,
porque Jonas também conhecia algo do passado de
74
Marcos que o comprometeria. Helena pede a Jonas que
conte alguma outra versão e ameaça partir.
Jonas conta que ele conhecia Ana, ainda da Europa. Antes do encontro deles no Brasil. Conheceu Ana
logo depois da guerra e também a Marcos, seu filho.
Conta-lhe o que foram aqueles anos do após guerra:
confusão, em meio à euforia para aqueles que haviam
enfrentado a guerra e sobrevivido
A luz principia a baixar. A noite se acentua. Jonas quer recomeçar tudo com Helena, zerar a relação,
ir para outro lugar e começar do momento em que se
conheceram.
A culpa não é mais deste Jonas. “Por que devo
carregar uma culpa se já não é minha, se é de ontem,
de anteontem, se é culpa de um dia que foi, já não
é?”(p. 39).
Helena insiste que quer a história verdadeira. Jonas pede para ela pegar a sacola de couro na cômoda,
que contém uma navalha, um revólver, uma corda, alguns frascos , ampolas. Jonas diz que tinha o material
à mão porque poderia ser-lhe útil. Falta o punhal, que
encontraram no corpo de Marcos.
Helena está saindo, quando chega Ana, e impede
a saída, afirmando que vinha para morar com eles, já
que Marcos estava morto e ela não poderia trabalhar.
A peça mescla, assim, o conflito de ideias permeado
pelo existencialismo e a noção trágica de que a vingança deve se seguir a um crime. Termina, entretanto,
numa nota de cinismo ao juntar perpetrador e vítima
no mesmo espaço.
A peça termina com a fala de Jonas, pedindo à
empregada que recolhesse os pacotes de Ana e que
preparasse um quarto, pois ela a partir daquele instante iria morar na casa. E, para marcar a continuação
dos hábitos de vida, em eco, a frase final:
Jonas: “Depois, pode servir o chá, Júlia” (p.43)
III.
O autor é econômico nas rubricas, que são essencialmente descritivas, podendo indicar a marcação
no palco. Quando respeitadas, elas ora conduzem a
encenação segundo os moldes pretendidos pelo autor,
ora estimulam a imaginação do leitor, mantendo um
hábito das narrativas literárias. A partir daí, origina-se
uma dupla possibilidade de fruição do texto teatral:
aquela que se efetiva pela via da encenação, o “teatro”
propriamente dito, e aquela que se exerce pela leitura
do texto dramático, na qual se percebem melhor suas
características de narrativa.
A forma, debruada em longas falas filosóficas, é
um lugar em que se podem divisar aspectos históricoculturais da peça. A interferência do Existencialismo
sartreano – filosofia surgida após a Segunda Guerra
Mundial – é nítida na composição do texto de Rawet e
na configuração de seu personagem protagonista.
O filósofo francês Jean-Paul Sartre (1905-1980)
www.fatea.br/angulo
Cultura e Literatura Judaicas
não escreveu apenas obras filosóficas, mas também
ensaios, romances e peças de teatro. Em sua obra de
caráter existencial, Sartre não deu uma importância
excessiva ao problema religioso, pois não estava preocupado em discutir acerca da existência ou não existência de Deus. Antes, sua filosofia consiste em colocar
o homem como responsável por todos os seus atos.
Lançado num mundo sem justificativa, o indivíduo
projeta-se no futuro, escolhe um sentido para sua vida,
já que ela não possui um sentido a priori. Desta forma, o existencialismo de Sartre está inteiramente estruturado no fato de que a existência humana precede
sua essência, e esta é construída através da liberdade
responsável que o homem manifesta ao escolher sua
própria vida. Nada, nem mesmo Deus, pode justificar
o homem ou retirá-lo de sua liberdade total e absoluta,
ou ainda salvá-lo de si mesmo.
Dizer que a existência precede a essência não é
simplesmente suprimir Deus e negar a natureza humana em função da realidade humana. Dizer que a
existência precede a essência é colocar o homem como
um nada lançado no mundo, desprovido de uma definição. O homem surge no mundo e, “de início, não é
nada: só posteriormente será alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo” (SARTRE, 1987, p. 6) .
Ora, isso implica também o fato de que o homem só se
faz num constante projeto, num incessante lançar-se
no futuro. Somente assim o homem irá se definir como
ser existente e consciente de si mesmo.
O existencialismo impõe ao homem a inteira responsabilidade no exercício de suas ações. Ao escolher
sua vida, o homem também escolhe todos os homens.
O valor de sua escolha é determinado pelo fato de que
ele não pode escolher o mal. Nas palavras de Sartre: “o
que escolhemos é sempre o bem e nada pode ser bom
para nós sem o ser para todos” (SARTRE, idem, p. 7).
A imagem que moldamos de nós deve servir, em última instância, para todos os homens. Nesse sentido, o
homem não é só responsável por si, mas também pela
humanidade inteira.
Sendo assim, o existencialismo ateu de Sartre busca manter sua coerência atribuindo ao homem o compromisso de construir a sua própria essência. Lançado
no mundo sem perspectivas, o homem determina sua
vida ao longo do tempo, e descobre-se como liberdade,
ou seja, como escolha de seu próprio ser no mundo. Ao
falar da condição do homem, Sartre relaciona-o com a
angústia, o desamparo e o desespero. Mas o que significa definir o homem nestes termos?
A angústia consiste simplesmente na descoberta
de que o homem, quando escolhe, não é apenas o legislador de si mesmo, mas alguém que, ao mesmo tempo,
escolhe a si mesmo e a humanidade inteira. O homem
que descobre isso não consegue escapar de sua total
e absoluta responsabilidade, que gera o sentimento original de angústia. Por isso é o próprio homem
quem determina o valor de sua escolha, pois ele tem o
constante dever de se perguntar: “o que aconteceria se
todo mundo fizesse como nós?” (SARTRE, idem, p. 7).
ângulo 120, 2010, p. 70-78.
Assim, a ação do homem, vista como a escolha constante de seu destino, é propriamente constituída por
angústia.
Ao se referir ao desamparo, Sartre quer simplesmente dizer que “Deus não existe e que é necessário
levar esse fato às últimas consequências” (SARTRE,
idem, p. 8). Desamparo significa que o homem não possui nada a que possa se segurar, nem dentro nem fora
dele; não existem bases para direcionar suas ações, a
não ser sua liberdade e responsabilidade. Não existem
valores eternos preestabelecidos que impedem o homem de agir, nenhuma justificativa ou desculpa que o
retire de sua escolha. Em qualquer situação, somos nós
que escolhemos, subjetivamente, aquilo que provém
de nossa própria vontade. O homem está só: “o desamparo implica que somos nós mesmos que escolhemos
o nosso ser. Desamparo e angústia caminham juntos”
(SARTRE, idem, p. 12). Não obstante, o desespero está
ligado ao fato de que o existencialista não espera nada
de um mundo transcendente. Se o desamparo é ausência de Deus, o desespero é não esperar por ele. As
circunstâncias, deste modo, não podem servir como
evasivas para nossos atos, nem como subterfúgios
para nossos fracassos. Desespero: o que torna nossa
ação possível é apenas a nossa própria vontade. Por
isso Sartre escreve: “o homem nada mais é do que o
seu projeto; só existe na medida em que se realiza; não
é nada além do conjunto de seus atos, nada mais que
sua vida” (SARTRE, idem, p. 13). Projeto, liberdade,
responsabilidade e existência que escolhe sua essência
são termos constantes na obra de Sartre. Assim, podemos dizer que é inerente à condição do homem sua situação autêntica de angústia, desamparo, desespero.
Para Sartre, o absurdo do mundo é absoluto por
sua constante possibilidade, isto é, tudo é gratuito: a
vida humana não tem sentido algum, e para superar
este caráter contingente da existência, o homem inventa Deus. Cabe exclusivamente ao homem dar um
sentido à sua vida.
A contingência faz do homem um ser solitário,
que conta somente com sua subjetividade para agir.
É pura ilusão acreditar que a vida humana possui um
sentido dado por Deus. A única coisa que a vida oferece ao homem é sua própria liberdade, pois já que a
vida não possui um significado preestabelecido, só podemos contar com nossa solidão, nossa absoluta individualidade. “A ausência de Deus era visível em todos
os lugares. As coisas estavam sós, sobretudo o homem
estava só. Estava só como um absoluto” (BEAUVOIR,
1981, p. 591). Se Deus não existe, somente o homem
pode decidir, sozinho, o melhor caminho para suas escolhas que determinarão sua vida e sua essência.
O percurso feito até aqui permite observar que a
afirmação de Sartre acerca da condição humana perpassa toda a sua obra, e se resume no fato de o homem
ser um Deus fracassado, pois se projeta na realização
de uma síntese impossível. Desta forma, a recusa de
Deus, ainda que pouco evidente, está presente em
todo seu pensamento.
75
Cultura e Literatura Judaicas
IV.
Retornando à peça de Rawet, nota-se que o Existencialismo marca presença na fala do protagonista e
nos traços que o compõem. O vazio de Deus, a solidão,
a defesa da liberdade de escolha do próprio destino,
o sem-sentido da vida pautam a conduta de Jonas, ao
mesmo tempo que o palco se torna o espaço alegórico e fantasmático da História, destituída, no entanto,
das imagens externas, sempre subjetivadas. Assim, a
Segunda Guerra, episódio que une (e separa) todos os
personagens, é elíptica, mantém-se entre parênteses,
subentendida, aludida no modo de ser de cada um,
pois ninguém passa por ela impunemente. A ideia de
confinamento e a incapacidade de troca intersubjetiva
estão marcadas no espaço único em que se desenvolve
a peça, nas falas longas, repetitivas e nos silêncios.
Todos os personagens são judeus, ainda que não
se saiba o que isso significa. Todos passaram por campos de concentração e sobreviveram. Um deles, o protagonista, colaborou com os alemães em troca de sua
sobrevivência. Ele se insere, assim, naquilo que Primo
Levi chamou de “zona cinzenta”, em seu livro Os afogados e sobreviventes.
O autor dedica o segundo capítulo deste livro
para discutir a facilitação da história quando ela evita
os meios tons e a complexidade; neste caso, ela reduz
a torrente de acontecimentos humanos aos conflitos,
e os conflitos aos duelos, à oposição nós e eles. Não
era simples a rede de relações humanas no interior dos
Lager; não se podia reduzi-la a dois blocos, o das vítimas
e o dos opressores. Muitos sobreviventes lembram o prisioneiro funcionário, que ao invés de lhes pegar a mão,
tranquilizá-los, ensinar-lhes o caminho, se arroja sobre
os recém chegados, gritando numa língua desconhecida,
golpeando-lhes o rosto. Ele quer domá-los, quer apagar
a centelha de dignidade que eles ainda conservem e que
ele perdeu (cf. LEVI, 1990, pp. 19-20).
Por que surge a “zona cinzenta”?
A zona cinzenta apresenta contornos mal definidos, que ao mesmo tempo separam e unem os campos
dos senhores e dos escravos. Sua estrutura interna é
complexa, a ponto de confundir nossa necessidade de
julgar. A área do poder quanto mais estreita, mais precisa de auxiliares externos. O nazismo não podia prescindir deles, pois seu propósito era manter o poder no
interior da Europa subjugada e alimentar as frentes de
guerra que enfrentavam a resistência crescente dos
adversários. Os colaboradores que provinham do lado
inimigo, tornam-se indignos de confiança, pois traíram
uma vez e poderão trair outras. A eles são relegados
os trabalhos sujos e de comprometimento crescente,
de modo a contrairem com os mandantes um vínculo
de cumplicidade, que os impede de voltar atrás. Do
ponto de vista dos nazistas, entende-se a abertura para
a participação de colaboradores. Mas o que movia os
colaboradores?
Segundo Levi, quanto mais feroz a opressão, tanto mais se difunde entre os oprimidos a disponibilida-
76
de de colaboração com o poder. Essa disponiblidade
é matizada por nuanças e diferenças infinitas: “terror,
engodo ideológico, imitação barata do vencedor, ânsia míope por um poder qualquer, /.../ covardia, e até
lúcido cálculo dirigido para escapar das regras e da
ordem imposta” (LEVI, idem, p. 21). Diante de casos
humanos como esses, reflete o autor, “é imprudente
precipitar-se emitindo um juízo moral. Deve estar claro que a máxima culpa recai sobre o sistema, sobre a
estrutura mesma do Estado totalitário” (LEVI, idem, p.
22). É difícil avaliar a participação dos colaboradores,
mas se a condição de vítima não exclui a culpa, e esta é
objetivamente grave, Levi ressalta que não há tribunal
humano ao qual atribuir sua avaliação.
Jonas, o protagonista da peça de Rawet, é um colaborador que se defende argumentando que aquele que cometeu o crime está no passado, permaneceu
preso à transgressão. Por mais que o ato não possa ser
julgado, fica a pergunta: é possível existir semelhante
experiência moral sem culpa? Não será a experiência
da culpa aquela que tira o homem da banalidade do
mal e o devolve à ação transformadora de si mesmo e
do mundo à sua volta?
Por outro lado, se o Existencialismo impõe ao homem a inteira responsabilidade no exercício de suas
ações, existe um valor nessa escolha, determinado pelo
fato de que ele não pode escolher o mal. Nas palavras
de Sartre: “o que escolhemos é sempre o bem e nada
pode ser bom para nós sem o ser para todos” (SARTRE,
op. cit. p. 7). A imagem que moldamos de nós deve servir, em última instância, para todos os homens.
Uma saída para Jonas seria reexaminar o próprio
passado e sentir-se culpado, e assim circunscrever sua
liberdade de escolha a um tempo definido, podendo se
sentir como outro de si mesmo, conforme se auto-proclama. Entretanto, ele mantém em segredo sua aliança
com o nazismo e continua vivendo num mesmo registro, até que surgem as testemunhas desta conduta.
Esta ganha visibilidade aos olhos de Helena após algumas peripécias e principalmente após o assassinato
de Marcos, que invade a casa de Jonas, armado para
matá-lo. Os dois são antípodas: Marcos é espontâneo e
pretende fazer justiça com as próprias mãos, matando
um homem que ele considera culpado, enquanto Jonas
é maquinador. Ele estava preparado para um possível
acerto de contas com o passado, o que se pode depreender a partir de seu arsenal de objetos para matar e
provocar a própria morte. Mas sai ileso e acaba por
apunhalar Marcos. Jonas tenta forjar um motivo para a
morte de Marcos, mas Helena insiste em querer saber
a verdade, verdade que se mantém ambígua na peça:
o que Ana e Marcos sabem a respeito da atuação de
Jonas? É a verdade o que Jonas conta para Helena a
propósito de sua colaboração com o inimigo? Ele conhece as atividades de Marcos? Por que este foi procurado pela polícia? Será que ele foi mesmo procurado
pela polícia?
O final da peça surpreende, pois Helena descobre, em Jonas, um homem com quem não quer mais
www.fatea.br/angulo
Cultura e Literatura Judaicas
conviver. Está de partida e é impedida por Ana, que
está chegando na casa do casal, para ficar. Sem o filho,
já velha, ela se justifica dizendo que não tem como se
manter, nem para onde ir. Há um peso irônico na inversão de sinais da última cena: a vítima opta por conviver com aquele que atuou do lado do perpetrador,
embaralhando ainda mais a rede intrincada que perfaz
a “zona cinzenta”. Suspende-se a vingança em nome
dos mortos e sacrificados e os três (Helena permanece
ou parte?) se juntam para viver uma vida em comum.
Talvez possa se afirmar que há um duplo padrão
que rege a peça de Rawet: ele está disposto a aceitar os
dados relacionados à Shoá na história, mas impõe suas
predileções metafísicas sobre suas personagens, mesmo quando essas predileções violam as necessidades
psicológicas nelas criadas por sua participação na história. O resultado é que o movimento da história, que
fomos preparados para encarar como rigorosamente
objetivo, assume a liberdade, e mesmo o capricho da
subjetividade, enquanto o comportamento dos personagens, que deveria se orientar para as possibilidades
da vontade humana, assume a aura da ambiguidade.
Ainda em relação à Shoá, o compromisso de guardar a
memória dos mortos e o empenho em evitar a repetição do ocorrido também corroboram para alimentar o
duplo padrão: de um lado, Ana fala em nome dos que
passaram pelo campo de concentração:
Ana: “/.../ Eles, os que ficaram de fora, podem e
devem esquecer o que nos aconteceu. (pausa) Mas
nós?...” (p. 12).
De outro lado, o empenho de Jonas é o de esquecer, pois ele passou pelo campo de concentração, mas
colaborou com o perpetrador.
É preciso lembrar ou esquecer?
Retomando o conto hassídico do coxo contado
por Jonas, pode-se afirmar que o mestre foi destituído,
inaugurando um espaço de orfandade, de vazio. Deus,
o pai, o rabi, qualquer autoridade moral, não há mais
exemplos a serem seguidos, instaurando-se a desordem, como única possibilidade. Daí o título da peça
apresentar o artigo definido, fazendo eco à univocidade dos caminhos, não obstante a possibilidade infinita
de cada um poder escolher o seu próprio destino.
Quanto à noção de culpa, o domínio de um passado retornado na forma de pesadelo sobre um presente
não redimido só poderia ser rompido pela força analítica de uma memória que presentificasse a história em
sua revisão moral. Não é isso o que ocorre, mas uma
cristalização de ideias que se tornam automáticas, instrumentalizadas, alijando as posições que contrariem
o status quo estabelecido. A linguagem torna-se pouco
nuançada, repetitiva, impotente para se subtrair de
um cerco de morte, contrastado pelo mundo exterior,
representado por ecos carnavalescos, em que dança,
música e canto apontam para uma outra história e
outra esfera de existência. De um lado, há a presença
do estrangeiro e nele a relação problemática do judeu
ângulo 120, 2010, p. 70-78.
frente a si mesmo, frente aos demais e frente ao que
é ser judeu; de outro, o Brasil idealizado e apresentado simbolicamente na apoteose do Carnaval, sempre
fora, num território apenas tangível pela doméstica
que faz o trânsito entre o espaço interno e o externo.
Helena, a companheira de Jonas, tenta trazer, na
primeira cena da peça, o carnaval para dentro da casa,
numa imitação dos passos da negra da escola de samba. Mas, retomando o conto hassídico, esta não era sua
mestra e ela não alcança imitá-la:
Helena - “No caminho vim observando uma negra
imensa, gorda, com os olhos meio fechados, umas
canelas finas para tanto peso. Como pisava manso!
(Imita-lhe os gestos) De leve! Como girava as nádegas! Os braços pareciam mover-se com ares de dama
de uma corte perdida, na mais requintada dança de
salão... (Cantarola). Tem pena de mim... tem... Tem
pena da minha dor... tem...
Jonas – Helena!
Helena – (Cai em si. Sorri) Apesar do contágio, nunca
poderia atingir o mesmo requinte. Seria uma contrafação ridícula.
Jonas – nenhum de nós o conseguiria. E os requintados somos nós... (Amargo) animais enfarpelados com
uma carapaça de cultura que se funde ao primeiro
contágio com uma situação limite. Então somos mais
bárbaros, e sem ingenuidade, e sem pureza, e sem orgulho sequer de sermos bárbaros (Controla-se) Um
pouco de chá, Helena?”
Do ponto de vista da eficácia teatral pode-se dizer
que o final da peça não só surpreende, mas se constitui
como uma espécie de deus ex machina, pois não há um
suporte convincente que o justifique. O autor resolveria melhor seu argumento se conduzisse ao extremo
a relação construída entre homem e mulher, tomando
como referência a Segunda Guerra Mundial. A partir
do momento em que Ana e Marcos entram em ação,
marcando a necessidade de vingança fundamentada
na tragédia, cria-se um embate com o Existencialismo,
pondo em questão os imperativos morais, num pano
de fundo em que ao homem cabe o direito de escolha
de seu próprio destino. Como o embate é complexo, o
autor junta as partes numa virada surpreendente, que
cabe, por exemplo, nas peças de fundo melodramático
de Nelson Rodrigues, mas não na peça em pauta.
Se radicalizada a primeira parte da peça de Rawet,
teríamos um resultado próximo a “Huis Clos” (em
português, “Entre quatro paredes”), de Sartre. Nela,
este autor prende até a morte quatro personagens num
espaço fechado e intransponível. Aí, cada personagem
é carrasco do outro, alavancando a exposição do que
há por trás de cada um. Assim, o autor questiona a
condição humana, suas crenças e ações, enquanto
releva a linha tênue que separa o ato bom e o ato mau
praticado por seres humanos.
O enfrentamento entre Jonas e Helena, se explorado em sua radicalidade, traria para a superfície
cênica as subjetividades no tempo presente da ação,
77
Cultura e Literatura Judaicas
escapando da necessidade de trazer o passado através
do testemunho de outros personagens, alcançando,
assim, a contração da ação e do drama. O intercurso
do deus ex machina quebra o andamento da peça que
procura recuperar sua unidade na pirueta da fala final, retomando um mote que pontua a peça e atribui
autoridade ao protagonista recolocado ironicamente
em seu lugar.
Jonas: “Depois, pode servir o chá, Júlia” (p.43)
Se há um esforço na reflexão de Primo Levi em
enxergar a História para além do binômio amigo-inimigo, vítima-algoz, a peça retoma-o, ao se assentar
na oposição nós- eles, em que o estrangeiro, o não-nacional, está inserido num lugar intransponível. Com
ela, Rawet recupera o tema do estrangeiro, do judeu
imigrante e/ou egresso do campo concentração e os esforços despendidos para sua difícil adaptação no Brasil. No intervalo entre dois espaços, duas culturas, em
meio à orfandade de Deus e à orfandade social, não é
fácil apontar quem é o vilão da história. Isso porque
o autor conduz o leitor/expectador a pensar a partir
de perspectivas diversas, aproximando-o ao território
da ambiguidade, isto é, da aceitação permanente de
outros sentidos. Se o autor constrói a peça num tempo
e numa circunstância que oferecem poucas saídas ao
personagem, por outro lado, ele induz o leitor a pensar
a questão de diferentes ângulos, afastando as posições
categóricas e contundentes. Um caminho estreito para
um entendimento amplo.
Referências
ABBAGNANO, Nicola. A Sabedoria da Filosofia. Petrópolis, RJ:
Vozes, 1989.
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Holocausto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
BEAUVOIR, Simone de. A Cerimônia do Adeus. Trad. Rita Braga. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.
BETTONI, Rogério A. http://criticanarede.com/termos.html. Comunicação apresentada na V Semana de Filosofia, FUNREI,
1999, ISSN 1749 8457,Copyright © 1997–2009
BORNHEIM, Gerd A. Sartre: Metafísica e Existencialismo. São
Paulo: Perspectiva, 1984.
FREYRE, Paulo. Retrato do Brasil: ensaio sobre a tristeza brasileira. 3ª. edição. São Paulo: Duprat-Mayença, 1929.
GAGNEBIN, Laurent. “La Foi”, in Connaître Sartre. Paris: Resma, 1972.
GUINSBURG, Jacó. Diálogos sobre teatro. Org. Armando Sérgio da Silva. São Paulo: Edusp, 1992.
GUINSBURG, Jacó e BARBOSA,Ana Mae. O Pós-modernismo.
São Paulo: Perspectiva, 2005.
JEANSON, Francis. Sartre. Trad.: Elisa Sales. Rio de Janeiro: José
Olympio, 1987.
LEVI, Primo. Os afogados e os sobreviventes. Trad. Luiz Sergio
Henriques. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.
MOSTAÇO, Edélcio. “O teatro Pós-moderno”. In: GUINSBURG
e BARBOSA. O Pós-modernismo, São Paulo: Perspectiva, 2005.
NOGARE, Pedro Dalle. Humanismos e Anti-Humanismos. Petrópolis, RJ: Vozes, 1988.
SARTRE, Jean-Paul. A Náusea. Trad. Rita Braga. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1986.
______. As Moscas. Trad. Nuno Valadares. Lisboa: Editorial Presença, 1986.
Notas
______. As Palavras. Trad. J. Guinsburg. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1984.
______. Diário de uma Guerra Estranha: Novembro de 1939,
Março de 1940. Trad. Aulyde Soares Rodrigues. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1983.
1 A obra ficcional de Samuel Rawet mereceu organização e
republicação recente. Ver Contos e Novelas Reunidos. (org.
André Seffrin). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.
______. O Diabo e o Bom Deus. Trad. Maria Jacintha. São Paulo:
Difusão Europeia do Livro, 1965.
2 Agradeço ao pesquisador e crítico literário André Seffrin os
originais da peça gentilmente cedidos.
______. O Ser e o Nada: Ensaio de Ontologia Fenomenológica.
Trad. Paulo Perdigão. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.
3 Paulo Freyre afirma em relação à cultura popular de que
eram expressão o bumba-meu-boi, o cavalo-marinho, a festa
de Reis-, nas quais a risada do negro quebrava “a apagada e
vil tristeza” que aos poucos tomara conta das casas-grandes.
Freyre considerava que não só negros e mulatos eram tristes, como também o caboclo, calado, desconfiado, era “quase um doente em sua tristeza” (FREIRE, 1929, p. 512).
78
______. O Existencialismo é um Humanismo. Trad.: Rita Correia Guedes. São Paulo: Nova Cultural, 1987. (Os Pensadores).
______. Sursis: Os Caminhos da Liberdade, 2. Trad. Sérgio
Milliet. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1983.
SERREAU, Geneviève. “Histoire du ‘Nouveau Théâtre’”. Paris:
Gallimard, 1964. In: GUINSBURG e BARBOSA. O Pós-modernismo, São Paulo: Perspectiva, 2005.
SZONDI, Peter. Teoria do drama moderno (1880-1950). Trad.
Luiz Sérgio Repa. São Paulo: Cosac&Naify, 2001.
www.fatea.br/angulo