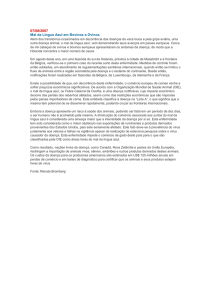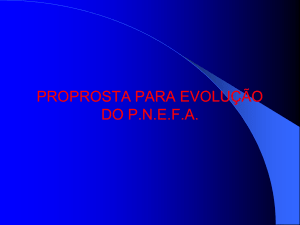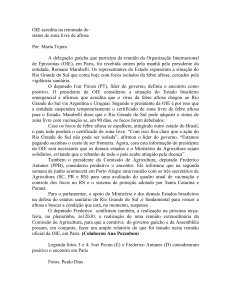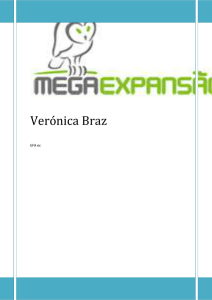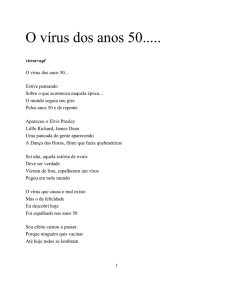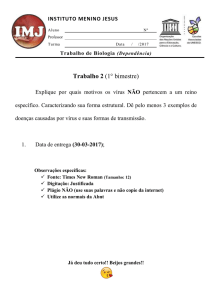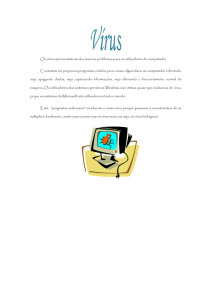UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL
Disciplina: SEMINÁRIOS APLICADOS
A FEBRE AFTOSA E SEU PLANO DE CONTINGÊNCIA NO BRASIL
Willian Vilela Rocha
Orientadora: Wilia Marta Elsner Diederichsen de Brito
GOIÂNIA
2012
ii
WILLIAN VILELA ROCHA
A FEBRE AFTOSA E SEU PLANO DE CONTINGÊNCIA NO BRASIL
Seminário apresentado junto à disciplina Seminários
Aplicados do Programa de Pós-Graduação em
Ciência Animal da Escola de Veterinária e
Zootecnia da Universidade Federal de Goiás.
Nível: Doutorado
Área de concentração:
Sanidade Animal, Higiene e Tecnologia de Alimentos
Linha de pesquisa:
Etiopatogenia, epidemiologia, diagnóstico e controle
das doenças infecciosas dos animais
Orientadora:
Profª. Drª. Wilia Marta Elsner Diederichsen de Brito
Comitê de orientação:
Prof. Dr. Vitor Salvador Picão Gonçalves – UnB
Profª. Dra. Valéria de Sá Jayme– UFG
GOIÂNIA
2012
iii
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 1
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................ 3
2.1 Histórico ........................................................................................................... 3
2.2 Etiologia ........................................................................................................... 4
2.3 Epidemiologia .................................................................................................. 9
2.4 Saúde Pública ................................................................................................ 13
2.5 Patogenia ....................................................................................................... 15
2.6 Diagnóstico .................................................................................................... 18
2.7 Profilaxia ........................................................................................................ 23
2.8 Impacto no agronegócio ................................................................................. 25
2.9 Plano de Contingência ................................................................................... 28
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................. 36
REFERÊNCIAS ................................................................................................... 37
1 INTRODUÇÃO
A atualidade da questão da febre aftosa (FA) é indiscutível e, apesar de
já existirem recursos tecnológicos capazes de promover o rápido diagnóstico,
controle e erradicação desta enfermidade, ainda não há perspectiva de obter-se,
em futuro próximo, sua eliminação no âmbito da sanidade animal. Embora alguns
países a tenham erradicado há mais de um século, os avanços no conhecimento
da FA e a tecnologia disponível ainda não foram suficientes para impactar
significativamente a sua morbidade no mundo, especialmente nos países em
desenvolvimento.
A FA é considerada uma das mais graves infecções virais em animais,
devido a sua rápida transmissão sobre uma grande quantidade de suscetíveis.
Como essa enfermidade ainda é endêmica em várias regiões do mundo
representa uma ameaça constante para os países que atualmente estão livres da
doença, uma vez que a introdução do vírus ocasionará uma epidemia, com
graves consequências à pecuária e ao bem-estar animal. Representa, ainda,
uma importante ameaça para o bem estar da população, devido ao seu impacto
sobre a economia nacional de diversos países, cuja estabilidade financeira
depende do comércio exterior e este, por sua vez, depende diretamente da
confiabilidade dos alimentos de origem animal, que devem ser oriundos de
animais isentos dessa enfermidade (BACKER et al., 2012).
É uma enfermidade altamente contagiosa, de curso agudo, que
acomete animais biungulados (cascos fendidos), como bovinos, ovinos, caprinos
e suínos. Caracteriza-se pelo aparecimento repentino de vesículas na boca,
narinas, patas e tetos. Tais vesículas se rompem facilmente, originando úlceras e
erosões. (LONGJAM et al., 2011).
Em áreas endêmicas, a FA é mais grave em regiões de pecuária
tecnificada, de alta produção, particularmente de gado leiteiro e de suínos, sendo
uma enfermidade incompatível com as práticas pecuárias modernas (PATON et
al., 2009).
Embora possam ocorrer óbitos principalmente em animais jovens, a
doença se caracteriza pela queda dos índices de produtividade, sendo que os
2
maiores impactos provocados atualmente pela doença são a perda de
credibilidade e as restrições impostas no agronegócio local, nacional e
internacional (KIRK, 2012).
A Organização Mundial de Saúde Animal - OIE (2012c) preconiza que
o comércio internacional de animais, produtos de origem animal, alimentos e
material genético para animais, produtos biológicos e patológicos, deve ser
realizado sem que isso implique em riscos para a saúde pública ou sanidade
animal. Para tanto, um estado ou país que queira exportar animais, seus produtos
e subprodutos, deve promover medidas de prevenção, controle e erradicação de
várias enfermidades, dentre elas se destaca a FA.
O Brasil tem zonas livres de FA sem vacinação, com vacinação e áreas
que ainda são de risco para a doença. O Estado de Goiás se enquadra na zona
livre com vacinação, com previsão da retirada da vacina em 2015. Tanto o
referido estado quanto o País são altamente dependentes do agronegócio,
portanto devem promover esforços para manutenção da condição sanitária
existente, bem como implementar ações para a conquista do status de livre de FA
sem vacinação. Nesse contexto, é primordial a existência de um plano de
contingência que contemple ações para prevenção do ingresso da FA, bem como
ações emergenciais,caso a doença se instale.
Diante do exposto, objetivou-se, com o presente trabalho, mostrar
aspectos relevantes relacionados à febre aftosa, como também explicitar os
procedimentos a serem adotados no Brasil, em caso de suspeita ou ocorrência de
um foco da enfermidade.
3
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Histórico
A primeira descrição registrada de FA ocorreu em 1514, quando o
médico italiano Girolamu Fracastorius, descreveu, na Itália, a ocorrência de uma
doença vesicular em bovinos com sinais e sintomas semelhantes aos dessa
enfermidade (GRUBMAN & BAXT, 2004).
Em 1686, Leclainche descreveu os achados de médicos europeus que
verificaram lesões em animais semelhante às “aftas” humanas, pois fora
observada a formação de vesículas na boca, e que os animais “babavam
copiosamente”. Em 1764 o médico Jean-Jackes Paulet relatou a ocorrência de
enfermidade súbita com lesões nas bocas e cascos, acometendo bovinos e
suínos e que os animais se curavam espontaneamente. Em 1765, Jean-Baptiste
Sagar, um médico da Morávia (hoje República Tcheca), relatou a observação de
lesões vesiculares em bovinos, pequenos ruminantes e suínos. Nos suínos o
médico relatou a perda dos estojos córneos, deixando a falange exposta
(BLANCOU, 2002).
No século XVIII a FA se disseminou de forma tão intensa pela Europa,
que os criadores desenvolveram métodos pragmáticos para reduzir o impacto da
doença. A aftização era a infecção deliberada do gado com materiais infecciosos
obtidos em propriedades infectadas da região, evitando assim um período de
incerteza e um período de longa duração da doença na fazenda. A quantidade de
focos só reduziu drasticamente depois da implementação da vacinação
(GRUBMAN & BAXT, 2004).
O médico veterinário italiano Francisco Toggia descreveu um surto de
FA ocorrido em Piemonte, entre 1799 e 1800. Em sua descrição o autor citou: "Em
vez de chamar esta doença de “fonzetto”, “vaiuolo” ou “mal del rospo”, considerei
que deveria chamá-la de “febbre aftosa”, ao qual deve ser adicionado o termo
epizootia para enfatizar a rapidez com que ela se espalha e é transmitida.”
(HATSCHBACH, 2012).
4
Os maiores avanços no conhecimento da FA e de seu controle
ocorreram nos últimos 120 anos. Uma das primeiras descobertas foi feita por
Löffler e Frosch, em 1897, demonstrando que o agente etiológico da FA era uma
partícula filtrável. Efetivamente, a FA foi a primeira enfermidade animal atribuída a
um vírus. Durante as primeiras décadas do século XX, a diversidade antigênica
do vírus foi reconhecida, conduzindo à descrição dos seus sete sorotipos. Em
1922 Vallée e Carre identificaram os tipos O e A; Waldmann e Trautwein
caracterizaram o tipo C no ano de 1926; Em 1948 Galloway et al. identificaram os
sorotipos SAT1, SAT2 e SAT3. Por fim, em 1957, Brooksby e Rogers
descreveram o ASIA1 (DOEL, 2003).
Os primeiros registros de FA nas Américas foram: Estados Unidos em
1870; Argentina 1865; Uruguai 1870; Chile 1871. Nestes países a doença surgiu
com a importação de reprodutores bovinos de raças europeias, no incremento da
indústria frigorífica. No Brasil, os primeiros casos ocorreram em 1895, no Rio
Grande do Sul e em Minas Gerais. No início do século XX a doença se espalhou
no resto do País. Na Bolívia ocorreu no ano de 1912, na Colômbia 1950 e no
Equador, em 1956 (SUTMOLLER et al., 2003; LYRA & SILVA, 2004).
A primeira vacina inativada foi desenvolvida em 1937, por Waldmann et
al., utilizando vírus oriundo de epitélio e líquido vesicular da língua de bovinos
infectados experimentalmente. A inativação foi feita com formaldeído, tendo como
adjuvante o hidróxido de alumínio. A saponina foi usada como adjuvante pela
primeira vez em 1951 e o adjuvante oleoso só foi descrito em 1961 (DOEL, 2003).
Em 1992 foi instituído no Brasil, o Programa Nacional de Erradicação e
Prevenção da Febre Aftosa – PNEFA, que definiu o compartilhamento das ações
entre a iniciativa privada e o serviço oficial, definindo as responsabilidades de
cada um. O último foco da FA em Goiás ocorreu em agosto de 1995 e, no Brasil
em abril de 2006, no Estado do Paraná (BRASIL, 2007a; OIE, 2012e).
2.2 Etiologia
O vírus da FA pertence à família Picornaviridae, gênero Aphthovirus.
Possui sete sorotipos imunologicamente distintos: A, O, C, denominados
5
“clássicos”, de ocorrência mundial; South African Territories 1-3 (SAT1, SAT2,
SAT3) e ASIA1. Tais sorotipos não conferem imunidade cruzada. A presença de
múltiplos subtipos e variantes causa dificuldade no diagnóstico laboratorial e no
controle da FA. Tais variações são decorrentes de mutação decorrente de erros
ocorridos durante a recombinação do RNA, podendo gerar novas variantes do
vírus da FA (OIE, 2012a). Nem mesmo as variantes de um mesmo subtipo
possuem entre si uma completa imunidade cruzada (BREHM et al., 2008).
Os RNA vírus são menores que os DNA vírus. O genoma do vírus da
FA possui cerca de 8.500 bases de extensão, enquanto que alguns herpesvirus
(DNA) podem atingir mais de 300.000 pares de bases. Uma hipótese para
explicar isto seria a de que as polimerases virais de RNA estão mais propensas a
erros do que as de DNA, no processo de replicação do genoma. Assim, a
fidelidade de replicação poderia limitar o tamanho do genoma (MACLACHLAN &
DUBOVI, 2011).
O Aphthovirus é um dos menores vírus de que se tem conhecimento e
possui 30 nanômetros de diâmetro. Não possui envelope e seu genoma é
constituído por uma fita de cadeia simples de ácido ribonucleico - RNA, sensopositivo, com cerca de 7.000 a 8.500 bases circunscritas por quatro proteínas
estruturais de modo a formar um capsídeo de forma icosaédrica (BORCA et al.,
2012).
FIGURA 1 – Vírus da febre aftosa em micrografia
crioeletrônica. Pode-se visualizar as proteínas
estruturais VP1 (azul); VP2 (verde); VP3
(vermelho) e o círculo GH em forma de bolha.
Fonte: http://ars.els-cdn.com/content/image/3-s2. 0-B9780
12374104004027-gr1.jpg (2012)
6
A estrutura do vírus da FA, em micrografia crioeletrônica, evidenciando
as proteínas externas do capsídeo está disposta na Figura 1.
Uma característica estrutural importante do capsídeo é o circulo GH da
proteína VP1, uma superfície exposta em forma de um laço flexível. Os peptídeos
correspondentes a esta região são altamente imunogênicos e induzem níveis
elevados de anticorpos neutralizantes (BURMAN et al., 2006).
O virion é uma partícula que tem coeficiente de sedimentação 140S,
cujo genoma é constituído por uma cadeia simples de RNA, recoberto por 60
cópias de cada uma das proteínas estruturais. A organização do genoma do vírus
é mostrada na Figura 2.
produtos
de
clivagem
parcial
proteínas estruturais
proteínas não estruturais
FIGURA 2 – Mapa esquemático do genoma do vírus da febre
aftosa com a localização das proteínas
estruturais e não estruturais e os produtos de
clivagem parcial de proteínas.
Fonte: Adaptado de Grubman & Baxt, 2004.
Com base nos produtos de clivagem iniciais, a genoma é dividido em
quatro regiões, sendo (1) a região L, que codifica o componente N-terminal da
poliproteína, identificada como um fator de virulência viral e que contém dois
códons de iniciação AUG, que vão codificar as proteínas Lab e Lb. Nesta região é
que se liga a extremidade 5’ onde se fixa a proteína 3B, iniciadora da replicação
viral; (2) a região P1 onde se localizam as proteínas estruturais VP4; VP2; VP3 e
VP1; (3 e 4) as regiões P2 e P3, onde se localizam as 12 proteínas não
7
estruturais. No final da porção P3 se insere a extremidade 3’ (GRUBMAN & BAXT,
2004).
Vale lembrar que o processo de purificação, inserido nas vacinas mais
recentes, excluiu de sua composição as proteínas não estruturais, portanto a
constatação desse tipo de proteínas em testes sorológicos, evidencia replicação
viral e não imunidade vacinal.
Alguns fatores ligados ao genoma já são conhecidos há vários anos.
PICCONE et al., em 1995, ao produzirem genomas sintéticos sem o gene L
demonstraram que apenas o genoma cuja síntese de poliproteína iniciava no
segundo códon AUG, era capaz de produzir vírus vivo. GRUBMAN & BAXT
(2004) comprovaram que mutações com a deleção do segundo códon AUG
impediam a replicação viral, enquanto que a deleção do primeiro código AUG em
nada influía no processo de replicação. Tais estudos permitiram concluir que a Lb
é a proteína biologicamente funcional in vivo.
A região do genoma mais estudada é a VP1. Diferenças na sequência
de RNA entre os genes VP1 dos sete sorotipos podem variar de 30 a 55%, e
dentro de um mesmo sorotipo, as variantes são definidas por diferenças entre 15
a 20%. As análises filogenéticas mais eficientes são obtidas no VP1. A OIE,
através de seu laboratório de referência para FA, localizado em Pirbright, na
Inglaterra, possui milhares de sequencias parciais ou completas do VP1
representando todos os sete sorotipos do vírus da FA. Sequências de novos
isolados são comparadas com aqueles armazenados no banco de dados e
árvores filogenéticas são construídas, permitindo controlar as movimentações
virais e rastrear a origem de diferentes estirpes de vírus (SAMUEL & KNOWLES,
2001).
Os RNA vírus em geral, e o da FA em particular, têm taxas de mutação
elevadas, no intervalo de 10-3 a 10-5 por sitio de nucleotídeos, em cada replicação
do genoma, devido à falta de mecanismos de correção de erro durante o
processo de replicação. Esta elevada taxa de erros conduz a diferentes genomas
replicados do genoma original parental e, dependendo do número de mutações,
podem gerar novas variantes do vírus (GRUBMAN & BAXT, 2004).
BORCA et al. (2012) demonstraram que o subtipo O1 Campos, do vírus
da FA sofre variação antigênica em condições de crescimento diferentes. Os
8
autores comprovaram mudanças in vitro e in vivo, decorrentes da simples
variação de um aminoácido na posição 56 na proteína VP3 estrutural. Quando o
aminoácido na posição é a histidina (O1Ca-VP3-56H), a variante era termoestável
e produzia sinais clínicos típicos de FA. Caso fosse arginina (O1Ca-VP3-56A) a
variante não seria patogênica.
Em pesquisa realizada em 2010, PACHECO et al., ao estudarem
mutações ocorridas na proteína 3B, iniciadora da replicação viral do subtipo A24
Cruzeiro, concluíram que as variantes mutantes resultantes das alterações
ocorridas naquela parte do genoma, ao infectarem bovinos desenvolveram
doença clínica semelhante à causada pelo A24 Cruzeiro parental. Por
conseguinte, a ruptura do domínio ou eliminação de proteínas individuais em 3B
não afetaram a capacidade do vírus de se replicar in vitro, nem de causar a
doença clínica nos animais.
Analisando os resultados dos dois estudos acima, denota-se que para
que as mutações gerem variantes epidemiologicamente diferentes, elas devem
ocorrer em locais específicos do genoma.
Às vezes os picornavírus podem encapsidar genomas com deleções ou
extensas mutações em um ou mais genes. Os vírus sob estas condições perdem
a capacidade de se replicarem automaticamente (FLORES, 2007).
O vírus da FA resiste à refrigeração e ao congelamento. O aquecimento
a temperaturas acima de 70° C por 30 minutos o inativa. É inativado ainda pelo
hidróxido de sódio a 2%, carbonato de sódio a 4%, ácido cítrico a 0,2%, ácido
acético a 2%, hipoclorito de sódio a 2% e ainda o cloreto de peroximonossulfato
de sódio e potássio. Resiste aos compostos quaternários de amônia, iodóforos e
fenol, especialmente quando em presença de matéria orgânica. (OIE 2012a)
Sobrevive em pH neutro, sendo rapidamente inativado em pHs abaixo
de 6 e acima de 9. Ao contrário de outros picornavírus, o capsídeo do vírus da FA
se dissocia em pH inferior a 6,5. Tal dissociação se dá entre os fragmentos
proteicos VP2 e VP3, em função da repulsão eletrostática decorrente do pH ácido
(GRUBMAN & BAXT, 2004).
O vírus pode sobreviver em leite e em alguns produtos lácteos, em
caso de pasteurização simples, no entanto, é inativado por procedimentos de
ultra-pasteurização (UHT). A estabilidade do vírus aumenta em temperaturas mais
9
baixas e pode sobreviver na medula óssea ou linfonódios congelados. O vírus
pode persistir por dias a semanas em matéria orgânica em ambiente úmido e
fresco. Ele é inativado em superfícies secas e pela radiação UV da luz solar
(ALEXANDERSEN et al., 2003).
2.3 Epidemiologia
Em 1546, Fracastore já havia concluído pela natureza contagiosa da
FA, quando percebeu que um animal pode transmiti-la para o resto do rebanho.
Também reconheceu a natureza epizoótica da doença ao verificar que a mesma
poderia se difundir de uma região para outra (BLANCOU, 2002).
Os biungulados, que correspondem a ordem Artiodactyla, são
praticamente as únicas espécies suscetíveis à infecção natural pelo vírus da FA,
embora os casos da doença tenham sido excepcionalmente observados em
outras espécies, incluindo os seres humanos. Os solípedes e carnívoros são
refratários à doença (BLANCOU, 2002). Segundo MACLACHLAN & DUBOVI
(2011), mais de 70 espécies silvestres, de 20 famílias diferentes, são suscetíveis à
FA.
A FA atinge espécies domésticas como bovinos, suínos, ovinos,
caprinos e bubalinos e também animais silvestres como cervos, antílopes, porcos
selvagens, elefantes e girafas. Capivaras e ouriços são suscetíveis. Ratos,
camundongos, porcos da Guiné e tatus podem ser infectados experimentalmente
(OIE 2012a). Os camelos africanos podem apresentar resistência a alguns
subtipos, e camelídeos sul americanos como a lhama e alpaca são pouco
suscetíveis e praticamente não possuem significado epidemiológico (WERNEY
&KAADEN, 2004).
O hospedeiro natural para os sorotipos SAT 1 e SAT3 da FA, é o búfalo
do Cabo (Syncercus cafer), no qual o vírus se replica e persiste com o mínimo de
patologia da doença. Não se tem conhecimento de nenhuma outra espécie
hospedeira silvestre para os outros sorotipos (THOMSON et al., 2003).
Depois que a enfermidade se instala em uma área, seu controle tornase difícil, visto que o vírus se replica rapidamente, é altamente contagioso,
10
podendo afetar, como já citado, uma grande variedade de animais domésticos e
de vida livre, sendo que, em algumas espécies animais, pode ocorrer de forma
subclínica (THOMSON & BASTOS, 2003).
Mesmo com a taxa de mortalidade situada abaixo de 5%, a FA é
considerada a doença mais importante dos animais, uma vez que provoca
enormes prejuízos em termos de produtividade da pecuária e do comércio.
Embora raramente cause morte em animais adultos, o vírus pode causar lesão
grave no miocárdio, levando a óbito animais jovens (LONGJAM et al., 2011).
Ocasionalmente, a FA pode ser letal para animais selvagens, como o
surto ocorrido na África do Sul no final do século XIX, ocasionando a morte de um
grande número de impalas (Aepyceros melampus). Em 1988, em Israel, ocorreu
uma alta mortalidade em gazelas da montanha (Gazella gazella). Além de causar
morte de animais silvestres, também há o fato destes transmitirem a doença para
animais domésticos, onde, especialmente em situações de pecuária intensiva, a
doença pode ser altamente debilitante e resultar em sérios prejuízos econômicos.
(THOMSON et al., 2003).
As causas de reintrodução mais frequentes são o contato com animais
suscetíveis de países ou estados vizinhos que ainda tenham a doença, o ingresso
de animais, produtos e subprodutos de origem animal, legal ou ilegalmente,
através de portos, aeroportos e fronteiras, ingresso de meios de transportes
contaminados e falhas nas medidas de biocontenção de laboratórios que
manipulam o agente (PITUCO, 2012). Seres humanos também desempenham um
importante papel na difusão da enfermidade, visto que podem albergar o vírus no
trato respiratório, daí a necessidade de três a cinco dias de quarentena, após
exposição (OIE, 2012a).
A FA é a primeira doença para a qual a OIE estabeleceu uma lista
oficial de países e zonas livres. Zona representa uma parte de um país
claramente delimitada, com uma subpopulação animal com condição sanitária
definida. A zona livre de FA é certificada em função da ausência de ocorrência de
focos e de circulação viral por prazos estabelecidos; existência de adequado
sistema de vigilância sanitária animal; existência de legislação compatível; e
presença de uma adequada estrutura do serviço veterinário oficial; a zona tampão
corresponde ao espaço geográfico estabelecido para proteger a condição
11
sanitária dos rebanhos de uma zona livre frente aos animais, seus produtos e
subprodutos de risco oriundos de um país ou de uma zona com condição sanitária
distinta, de forma a impedir a introdução do agente patogênico. A zona infectada
representa o espaço geográfico de um país que não reúne as condições
necessárias para ser reconhecido como zona livre (BRASIL, 2007b).
Trata-se de uma doença de notificação obrigatória e a normatização
dos aspectos técnicos relativos à enfermidade está disposta no Código dos
Animais Terrestres, mais especificamente no capítulo 8.5 do referido manual (OIE,
2012d).
Atualmente, 87 países detêm a condição de livres de FA sem
vacinação e dez possuem pelo menos uma zona livre nesta condição. Apenas o
Uruguai é considerado livre de FA com vacinação e a Argentina, Bolívia, Colômbia
e Brasil têm pelo menos uma zona com este status (OIE, 2012g). Na Figura 3
está categorizado o status sanitário conferido pela OIE, para cada país, no ano de
2011. Tal condição é conferida, em conformidade com as notificações de
enfermidades, bem como pelas auditorias feitas pela entidade.
Mapa do Status oficial para FA dos países membros da OIE
Atualizado em 05 de dezembro de 2011
Mapa do Status oficial para FA dos países membros da OIE
País/zona livre sem vacinação
Livre sem vacinação – status suspenso
País/zona livre com vacinação
Livre com vacinação – status suspenso
Status não reconhecido
FIGURA 3 – Classificação dos países de acordo com a situação sanitária
para a febre aftosa no ano de 2011, segundo a Organização
Mundial de Saúde Animal – OIE.
Fonte: OIE, 2012g.
12
A erradicação da FA e a condição de “livre sem vacinação” criaram em
alguns países uma população altamente suscetível de animais. Isto significa que
um potencial surto poderia se disseminar rapidamente dentro e entre os países,
portanto planos devem ser estabelecidos para minimizar os riscos. Na União
Europeia, caso seja confirmada a FA em qualquer estado membro, estão
previstos o abate e a destruição dos rebanhos infectados, desinfecção das
instalações, assim como a restrição da movimentação animal e a vigilância de
rebanhos dentro das zonas delimitadas ao redor dos rebanhos infectados. Tais
procedimentos devem ser aplicados para conter o surto de forma rápida e segura
(UNIÃO EUROPÉIA, 2003).
O Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa –
PNEFA foi instituído em 1992 e tem como objetivos a erradicação da FA em todo
o território nacional e a sustentação desta condição sanitária. Seus objetivos
encontram-se inseridos no Plano Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa e
estão em consonância com as normas da OIE. Sua execução é compartilhada
entre o MAPA, órgãos estaduais de defesa agropecuária e iniciativa privada
(BRASIL, 2007a).
Os bovinos e bubalinos do Brasil, localizados na zona não livre de FA,
se concentram em 11 Unidades da Federação - UFs, compreendendo 23.687.916
bovinos e 808.574 bubalinos, enquanto que aqueles localizados na zona livre de
FA estão em 17 UFs, sendo 189.628.151 bovinos e 369.806 bubalinos.
Analisando os quantitativos de ambos os estratos, denota-se a existência
estimada no País, de 213.196.067 bovinos e 1.178.380 bubalinos, sendo que
88,6% dos bovinos e 31,4% dos bubalinos do Brasil estão localizados na zona
livre de FA (BRASIL, 2012a).
As zonas livres de FA no Brasil, reconhecidas pela OIE, estão
dispostas na Figura 4. Geralmente os Estados detêm apenas um status em seu
território. Uma exceção é o Estado do Pará, por ter uma melhor estrutura de
defesa sanitária e uma pecuária mais desenvolvida na sua região centro sul. A
outra exceção é o Estado do Amazonas, que tem os municípios de Guajará e
Boca do Acre com condições diferenciadas visto que os mesmos sequer têm
acesso rodoviário com o restante do Estado e o comércio da produção de tais
municípios está relacionado com o Estado do Acre (BRASIL, 2012c).
13
FIGURA 4 – Zonas livres de febre aftosa no Brasil,
reconhecidas pela OIE.
Fonte: Brasil, 2012c.
2.4 Saúde Pública
Enfermidades animais prejudicam a população humana de diversas
formas, podendo afetar a saúde e o bem estar, como no caso das zoonoses, ou
mesmo reduzir a disponibilidade de alimentos proteicos para a população, em
decorrência da diminuição da produtividade dos rebanhos.
Os
agentes
biológicos
englobam
uma
enorme
variedade
de
microrganismos, toxinas e alérgenos que podem prejudicar a saúde humana,
incluindo-se aí aquelas que causam doenças infecciosas. A exposição a esses
fatores coloca em risco a saúde dos seres humanos. Essa exposição pode
ocorrer
de
diferentes
maneiras,
seja
através
do
uso
intencional
de
microorganismos específicos, como ocorre em laboratórios e indústrias de
biotecnologia, como também por contato com animais infectados ou mesmos
produtos oriundos desses animais (HAAGSMA et al., 2011).
A FA é considerada uma zoonose, embora o homem raramente se
14
infecte e manifeste clinicamente a enfermidade, sendo um hospedeiro acidental.
Mesmo sendo zoonose, não é considerada como problema de saúde pública,
visto que desde 1921, pouco mais de 40 casos foram diagnosticados no mundo
(PITUCO, 2012).
A baixa suscetibilidade do ser humano foi comprovada ainda no século
XIX, quando pesquisadores alemães e franceses inocularam voluntários com
material da lesão do úbere das vacas com FA, a fim de distinguir a infectividade
do vírus da FA, da varíola bovina e da pseudo-varíola. A inoculação do vírus da FA
só gerou sintomas e lesões em uma criança e esta se recuperou rapidamente. A
transmissão pela ingestão de leite cru ficou comprovada em 1834, quando três
veterinários da Prússia (hoje Alemanha) beberam, cada um, por três dias
consecutivos, um litro de leite de uma vaca infectada por FA. Todos os três
apresentaram lesões, com erupções na boca e nas mãos (BLANCOU, 2002).
Durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreram pesquisas no intuito de
usar o vírus da FA como arma biológica, não visando o contágio de seres
humanos, mas de animais, na forma de causar epizootias e reduzir a
disponibilidade de alimento no território inimigo (HILLEMAN, 2002). Também a
ameaça de liberação proposital do vírus da FA na era pós 11 de setembro de
2001, fez com que vários governos, dentre os quais o Reino Unido e dos Estados
Unidos da América, apoiassem o desenvolvimento de novas técnicas de
diagnóstico e controle de doenças, bem como o planejamento de ações
objetivando reduzir o impacto de um possível reingresso da FA (GRUBMAN &
BAXT, 2004).
O contágio de seres humanos ocorre, como já descrito, por contato
com animais enfermos ou material infeccioso, através de lesões mínimas da pele,
pelos quais o vírus penetra no organismo. Pode ocorrer também pela ingestão de
leite não pasteurizado. Não existe registro da transmissão entre seres humanos.
O período de incubação varia de dois a oito dias, com evolução similar à dos
animais, porém de forma mais branda. Clinicamente, a FA pode ser confundida
com outras enfermidades vesiculares, por este motivo, invalida qualquer
diagnóstico clínico sem a devida confirmação laboratorial. É importante salientar
que apenas 40 casos foram documentados com isolamento e identificação ou
pela comprovação de anticorpos no sangue de pessoas recuperadas. A maior
15
parte desses casos foi registrada na Europa, decorrentes de acidentes com
manuseio do vírus em laboratório (PITUCO, 2012).
2.5 Patogenia
O vírus da FA pode estar presente em todas as secreções e excreções
de animais com infecção aguda, incluindo o ar expirado. A transmissão ocorre por
contato direto entre animais infectados e suscetíveis ou, mais raramente, por
exposição indireta de animais sensíveis às excreções e secreções de animais
com infecção aguda, ou produtos destes (OIE, 2012a).
Embora os suínos sejam grandes produtores de aerossóis do vírus da
FA, o gado produz maiores quantidades de vírus no epitélio lingual, que durante a
doença clínica, são expelidos na saliva, urina, fezes e leite. Por exemplo, 10 a 30
gramas de material que uma vaca infectada pode eliminar por via oral, podem
conter mais de um bilhão de unidades infectantes. Essa enorme quantidade de
vírus contamina o meio ambiente (SUTMOLLER et al., 2003).
A principal forma de contágio é a inalação de aerossóis infecciosos,
mas pode se dar
também por contato direto entre animais suscetíveis e os
infectados. Ocorre ainda de forma indireta através de fômites contaminados,
como calçados, vestuário, veículos etc. Em bovinos lactentes o contágio mais
frequente é oral e se dá pelo leite oriundo de fêmeas infectadas. Em suínos, a
principal via de contágio também é oral e se dá pelo consumo de alimentos
contaminados. A doença pode ser veiculada a longas distâncias pelo ar (OIE,
2012a).
O vírus ingressa no hospedeiro principalmente pelas vias respiratória e
digestiva, replicando-se no epitélio da porta de entrada. Em cerca de 24 horas já
estará formada a vesícula primária, imperceptível clinicamente. Em 24 a 48 horas
após esta fase, o vírus se propaga pela corrente sanguínea e já ocorre a ruptura
da vesícula primária e formação e ruptura das vesículas secundárias, gerando
lesões na mucosa bucal, língua, tetos, zona coronária dos cascos, tecido
interdigital e outros órgãos, incluindo-se aí o coração. O período de incubação da
16
enfermidade é de dois a 14 dias. (ALEXANDERSEN et al., 2003; GULBAHAR et
al., 2007; OIE 2012a).
Em nível celular observa-se que o tripeptídeo arginina-glicinaaspargina, existente na proteína VP1 do vírus da FA, é o sítio que as integrinas
das células do hospedeiro usam para reconhecer e permitir a adsorção à sua
membrana. O vírus passa íntegro pela membrana, através de porinas e, ao atingir
o citoplasma, ocorre um discreto processo de acidificação intracelular, o que
desestabiliza as ligações entre VP2 e VP3 do capsídeo, resultando no
desencapsulamento, com a liberação da fita de RNA. Instantaneamente ocorre a
clivagem de sua proteína VPg (GRUBMAN & BAXT, 2004, FLORES, 2007). As
ações decorrentes da interação do vírus com a célula estão esquematizadas na
Figura 5.
FIGURA 5 – Principais eventos do ciclo de vida de um picornavírus. RNA viral
senso é representado na cor azul e aniti-senso em vermelho
Fonte: Adaptado de Whitton et al, 2005.
17
O vírus da FA age sobre a célula hospedeira para maximizar a
produção de descendência viral e para minimizar interferências a partir de
componentes do hospedeiro, como por exemplo, o sistema imunitário. Uma
destas ações é o desligamento da tradução da célula hospedeira, alcançado pela
clivagem da proteína celular eIF-4G. Simultaneamente passa a usar um dos
produtos de clivagem de eIF-4G como sítio interno de entrada no ribossomo
(IRES) em substituição à VPg, viabilizando a tradução da proteína viral.
Subprodutos da replicação viral diminuem a permeabilidade da membrana celular,
limitando a apresentação de antígenos aos linfócitos T. Como o ciclo de
replicação celular dura horas, o vírus “engana” a célula com a liberação de fatores
apoptóticos e anti-apoptóticos, como por exemplo a inibição do fator de necrose
tumoral – TNF, prolongando a vida celular (WHITON et al., 2005).
As proteínas virais são sintetizadas através de proteínas maiores que
são clivadas por proteases específicas do vírus. O processo de clivagem gera
todos os componentes necessários à formação de uma novo genoma
correlacionado ao parental. (MACLACHLAN & DUBOVI, 2005).
No citoplasma, o novo genoma, ainda imaturo, é replicado gerando
fitas senso-positivas e senso-negativas. As senso positivas, que têm o mesmo
genoma parenteral se unem ao novo VPg formado e, então já maduro, o genoma
será encapsulado, originando os novos vírus. Quando já existir vírus em grande
quantidade, os efeitos apoptóticos serão expressos com mais intensidade,
gerando a morte celular e sua consequente lise, liberando os novos vírus para
infectarem outras células (GRUBMAN & BAXT, 2004).
Com a ruptura de grande quantidade de células ocorre a formação da
vesícula e a invasão das células adjacentes, criando um processo cíclico, que
culminará com a ruptura da vesícula e formação da afta, com a presença do vírus
nas
células
adjacentes,
conforme
se
pode
perceber
na
Figura
6
(ALEXANDERSEN et al., 2003).
A doença clínica caracteriza-se pelo aparecimento de febre 24 a 48
horas
antes
do
aparecimento
dos
sinais
característicos,
Em
bovinos,
frequentemente são observados sialorréia, claudicação, vesículas na região
bucal, nasal e tetos de animais em lactação e inflamação da banda coronária,
especialmente na área interdigital (LUBROTH, 2002).
18
FIGURA 6 – Corte histológico onde se percebe a extensa
destruição celular e formação da vesícula, com
a presença do vírus nas células adjascentes.
Fonte: Alexandersen et al., 2003.
A severidade dos sinais clínicos varia com a virulência da cepa, da
dose infectante, a espécie, raça, idade e grau de imunidade do hospedeiro. Os
sinais podem variar de leves a graves ou mesmo inaparentes. Em áreas indenes,
a morbidade pode se aproximar de 100%. A letalidade é baixa, variando de 1 a
5% em animais adultos, podendo ser superior a 20% em bezerros, cordeiros e
leitões. Caso não haja contaminação secundária das lesões, a recuperação se dá
em cerca de duas semanas (KIRK, 2012).
2.6 Diagnóstico
O diagnóstico clínico é presuntivo, visto que a FA é facilmente
confundível com outras enfermidades vesiculares. Sinais clínicos típicos são
vesículas e erosões de mucosa cutânea e partes sem pelos da pele, afetando
principalmente a boca e as patas (BREHM et al., 2008).
Em bovinos, são observadas febre (muitas vezes acima de 40,8° C),
anorexia, como também a redução na produção de leite por dois a três dias.
Observa-se ainda sialorréia, claudicação e movimentos de “coice”, causados por
19
vesículas na mucosa bucal, nasal e no espaço interdigital e banda coronária,
respectivamente. A ruptura das vesículas resulta em erosões, conhecidas como
aftas. Como complicações secundárias observa-se a infecção das lesões na
língua, deformação do casco, mastite, miocardite, aborto e acentuada perda de
peso (OIE, 2012a).
Em suínos, observa-se intensa claudicação em face de lesões na
região podal, que, dependendo da extensão, podem ocasionar descolamento do
casco com perda do estojo ungueal e exposição da falange, com infecção
secundária. Pode ocorrer aborto nas fêmeas prenhes, ou mesmo alto índice de
óbitos nos animais recém nascidos. (KLEIN, 2009).
Em 2007, GULBAHAR et al., analisando ovinos e caprinos infectados,
em um foco de FA ocorrido na Turquia, observaram que os sinais clínicos da
enfermidade em animais adultos dessas espécies são menos graves, podendo
ocorrer de forma inaparente ou em forma de pequenas aftas na região bucal e
leve claudicação. Nos animais jovens foi verificada uma acentuada mortalidade e,
à necropsia foram observadas lesões na musculatura cardíaca. BLANCO et al,
(2002) também observaram o aspecto subclínico da enfermidade em ovinos e
caprinos, ressaltando que tais espécies podem se tornar portadores inaparentes,
constituindo elo importante na cadeia epidemiológica da FA.
A OIE (2012c) considera que houve ocorrência de infecção pelo vírus
da FA quando: (1) houver isolamento e identificação do vírus da FA a partir de um
animal ou de um produto derivado desse animal; ou (2) o antígeno viral ou o RNA
viral específico de um ou mais sorotipos do vírus da FA forem identificados em
amostras de um ou mais animais, que apresentem sinais clínicos compatíveis
com FA, ou que estejam epidemiologicamente ligados a um surto confirmado ou a
uma suspeita de FA; ou (3) forem identificados, em áreas indenes, anticorpos
para as proteínas estruturais ou não estruturais de FA, em um ou mais animais
com sinais clínicos compatíveis com a doença, ou epidemiologicamente ligados a
um surto confirmado de FA.
O isolamento viral em cultivo celular é definitivo e considerado o padrão
ouro. Para este diagnóstico os materiais de eleição são o líquido das vesículas
intactas, o epitélio das vesículas ou aftas no epitélio lingual, gengiva, espaço
interdigital do casco e de lesões nos tetos e úbere. A sequência de colheita de
20
fragmento de epitélio e acondicionamento em líquido de Vallée está disposta na
Figura 7. Os materiais devem ser remetidos aos laboratórios oficiais,
acondicionados em frascos com solução tampão fosfato com glicerina,
denominada Líquido de Vallée (PRADO & RIET-CORREA, 2007; OIE, 2012d).
1
2
3
FIGURA 7 – Sequência de colheita e acondicionamento de material para
diagnóstico de FA, sendo (1) localização da lesão, (2)
colheita de epitélio da mucosa sublingual e (3) conservação
em Líquido de Vallée.
Fonte: Arquivo pessoal, 2011.
Em casos onde há lesões e não há mais possibilidade de colheita de
tecido epitelial, promove-se a colheita de líquido esofágico-faríngeo – LEF, através
da introdução do coletor de Probang. Ao material colhido é acrescida igual
quantidade de meio de transporte contendo solução tamponada e antibióticos,
como por exemplo o meio de Earle. A sequência de colheita e acondicionamento
está evidenciada na Figura 8. Após ser acondicionado em tubos e congelado, o
material é enviado a laboratório oficial, conservado em gelo seco. Tal material é
destinado a isolamento viral em cultura celular ou pesquisa de RNA viral pelas
técnicas de PCR. Outra prática a ser adotada na propriedade é a colheita de
sangue para pesquisa do agente, em caso de viremia, ou de anticorpos para o
vírus da FA, como também para pesquisa de anticorpos de outras enfermidades
no diagnóstico diferencial. O soro sanguíneo, depois de extraído, é encaminhado
congelado (OIE, 2012d).
21
1
2
3
FIGURA 8 – Sequência de colheita e acondicionamento de material
para diagnóstico de FA, sendo (1) colheita de líquido
esofágico-faríngeo, (2) acondicionamento em tubo
plástico de transporte e (3) adição do meio de Earle.
Fonte: Arquivo pessoal, 2011.
Deve-se ressaltar que apenas o médico veterinário do serviço oficial
pode realizar a colheita e envio desse tipo de amostra, cabendo aos demais
profissionais ou ao produtor rural a notificação da suspeita da enfermidade.
Apenas dois laboratórios oficiais da rede de Laboratórios Nacionais Agropecuários
- LANAGRO, realizam tais exames, sendo um localizado em Belém - PA e outro
em Recife - PE (BRASIL, 2007b).
Os testes sorológicos de demonstração de anticorpos específicos para
as proteínas estruturais são realizados em animais não vacinados e são um
indicativo de infecção anterior com vírus da FA. Destaca-se aqui o VIA – Virus
Infection Associated, realizado por difusão em gel de agarose, cuja leitura dos
resultados é feita de forma semelhante ao exame de anemia infecciosa equina.
Os testes de virusneutralização e de enzyme-linked immunosorbent assay ELISAs de competição e de bloqueio também surgem como opção diagnóstica
(OIE, 2012d).
A detecção de anticorpos para proteínas não estruturais (PNE) pode
ser utilizada para identificar uma infecção passada ou presente com qualquer um
dos sete sorotipos do vírus, quer o animal tenha sido ou não vacinado. Por
conseguinte, os testes podem ser utilizados para confirmar os casos suspeitos de
22
FA, detectar a atividade viral ou para avaliar qualquer possibilidade de infecção,
na população. Os testes de ELISA e enzyme-linked immunoelectrotransfer blot
assay - EITB para detecção de anticorpos para as poliproteínas 3AB e 3ABC são
considerados os mais confiáveis indicadores de infecção (OIE, 2012d).
As modalidades de Reação em Cadeia da Polimerase – PCR são muito
utilizadas no diagnóstico de FA. Visto ser um RNA vírus, as modalidades de PCR
envolverão a Transcrição Reversa (RT). Destacam-se o RT-nPCR, que é um
nested PCR, e usa um fragmento menor que o amplicon gerado, para dar maior
sensibilidade ao teste; o PCR multiplex (mPCR) e, mais recentemente o PCR em
tempo real, método capaz de avaliar quantitativamente o RNA viral da FA nos
diversos ciclos de análise (LONGJAM et al., 2011).
O diagnóstico diferencial de FA deve ser realizado, considerando as
doenças clinicamente indistinguíveis, que são a estomatite vesicular, exantema
vesicular suíno e doença vesicular do suíno (LUNG et al., 2011), como também as
demais doenças que apresentem sintomatologia semelhante à FA. Neste último
caso devem ser consideradas a peste bovina, diarreia viral bovina e doença das
mucosas, rinotraqueíte infecciosa bovina, língua azul, mamilite bovina, estomatite
papular bovina e a febre catarral maligna (OIE, 2012a, d).
A estomatite vesicular é causada por vírus da família Rhabdoviridae,
gênero Vesiculovirus, e possui as espécies New Jersey e Indiana, sendo que
apenas esta última foi diagnosticada no Brasil. Além dos biungulados, acomete
também os equídeos e o ser humano. Tem ocorrência sazonal, sendo mais
frequente na primavera e verão. Possui baixa morbidade e é mais prevalente em
animais adultos (BANÉR et al., 2007; PRADO & RIET-CORREA, 2007b). A
doença vesicular dos Suínos é causada por vírus da família Picornaviridae,
gênero Enterovírus, só acomete suínos e o ser humano e é exótica no Brasil (OIE,
2012e).
O exantema vesicular é causado por vírus da Família Caliciviridae,
gênero Vesivirus, acomete leões marinhos e focas, já sendo isolado também em
suínos, chimpanzés e no ser humano. Suínos se infectam por ingestão de
alimentos de origem marinha contaminados (RIET-CORREA et al., 1996, NEIL et
al, 1998). No Quadro 1 pode-se constatar a susceptibilidade e característica da
lesão para as doenças vesiculares e outras doenças confundíveis com FA.
23
QUADRO 1 – Susceptibilidade e característica principal da lesão para
doenças vesiculares e outras doenças confundíveis com FA.
Fonte: Brasil, 2009.
2.7 Profilaxia
A profilaxia consiste na adoção de medidas relativas a: (a) fontes de
infecção, com a delimitação das zonas infectada e de vigilância, com ações
diferenciadas em cada uma, incluindo o sacrifício dos suscetíveis na primeira
zona; (b) vias de transmissão, promovendo-se a desinfecção dos locais e de todo
material contaminado, destruição dos cadáveres e dos produtos e subprodutos na
zona infectada e (c) medidas relativas aos suscetíveis, com a vacinação seguindo
24
um calendário oficial, como também o controle de trânsito e aglomerações (OIE
2012a).
Vacinas veterinárias tiveram, e continuarão a ter, um papel importante
na proteção da saúde animal e saúde pública, reduzindo o sofrimento animal
decorrente de enfermidades, além de permitir uma produção eficiente de proteína
de origem animal para alimentar a crescente população humana. Reduz ainda a
necessidade de fármacos para o tratamento de animais de produção e companhia
(ROTH, 2011).
A vacinação é uma das técnicas de profilaxia da FA, com uso frequente
em países onde a doença é endêmica e naqueles que se encontram na fase de
erradicação, porém ainda não conquistaram a condição de “livres sem vacinação”.
As vacinas tradicionais são produzidas com vírus inativados quimicamente com
etilenoimina, adicionados a um adjuvante adequado, com destaque a saponina, o
hidróxido de alumínio e o adjuvante oleoso (OIE, 2012f). Tais vacinas devem
conter antígenos das cepas mais prevalentes, sendo que no Brasil utiliza-se a
vacina trivalente, com as variantes O1 Campos, A24 Cruzeiro e C3 Indaial, com
adjuvante oleoso (BRASIL, 2005).
Em suínos, a vacinação antiaftosa só é feita em caráter emergencial
onde a população suína é relevante, como nos focos ocorridos em Taiwan (1997),
Coréia do Sul (2001) e Holanda (2001). Nesses casos utilizam-se vacinas com
dupla emulsão em óleo. A imunidade conferida e sua duração são menores,
quando comparados à espécie bovina (CHEN et al., 2007).
As vacinas convencionais devem ter antígeno e adjuvante suficientes
para produzir o nível de proteção mínimo de 3PD50, ou seja, três vezes a dose
protetora de 50% dos animais.
No caso de vacinas emergenciais, que são
usadas para contenção de foco em países “livres sem vacinação”, a carga
antigênica é, em geral, de 6PD50 (OIE 2012f), podendo ser ainda mais
concentrada quando se deseja uma resposta imune mais rápida (BARNETT &
CARABIN, 2002).
O Brasil detém diferentes estratégias de vacinação antiaftosa, em
função de sua dimensão continental, com regiões de condições climáticas
distintas. Na Figura 9, estão dispostas as estratégias definidas pelo MAPA para a
vacinação antiaftosa, no ano de 2012.
25
FIGURA 9 – Estratégias definidas pelo MAPA relativas à
vacinação antiaftosa no Brasil para o ano de
2012.
Fonte: Brasil, 2012d.
No Brasil produção e o comércio das vacinas antiaftosa são realizados
pela iniciativa privada sob a coordenação do Sindicato Nacional da Indústria de
Produtos para a Saúde Animal – SINDAM. Desde 1998, o MAPA, no intuito de
tornar mais eficiente o controle da produção e da comercialização da vacina
antiaftosa, promulgou a IN nº 229, que instituiu o “selo de garantia” do produto, a
ser colocado em todos os frascos de vacinas liberadas para comercialização
(BRASIL, 1998; 2005).
2.8 Impacto no agronegócio
Em
face
das
consequências
comerciais
serem
extremamente
prejudiciais, a FA, além de causar sofrimento aos animais, gera também impactos
sobre o modo de vida dos pecuaristas, independentemente do tamanho e
sofisticação de sua propriedade. (MACLACHLAN & DUBOVI, 2011).
26
Enquanto que em países endemicamente infectados a FA gera perdas
diretas devido à mortalidade de jovens e produtividade reduzida de animais
adultos, no países industrializados, em especial aqueles que são livres de FA sem
vacinação, os custos de um surto associado à erradicação e controle podem ser
extremamente elevados, em especial com as perdas indiretas devido à imposição
de restrições ao comércio (BREHM et al., 2008).
Um exemplo clássico do impacto de um foco de FA na economia de um
país, ocorreu no Brasil, no ano de 2004, quando ocorreram focos nas cidades de
Monte Alegre, no Pará, e Careiro da Várzea, no Amazonas, distantes
respectivamente a 700 Km e 500 km da então zona livre de FA. Embora distantes
da zona livre, os importadores determinaram a suspensão imediata da compra da
carne bovina brasileira. A restrição cessou após algumas semanas quando as
distâncias geográficas foram demonstradas à comunidade internacional (PITUCO,
2012).
O Brasil detém 12% de toda a água doce disponível no planeta
(BRASIL, 2002). Tal fator, aliado ao relevo propício à agropecuária, ao clima com
estações definidas, pesquisa agropecuária relevante, dentre outros, colocam o
país na condição de potencial celeiro abastecedor mundial (VON DER WEID,
2009). Ressalta-se que o País é detentor do maior rebanho bovino comercial do
mundo, com um quantitativo aproximado de 215 milhões de cabeças (BRASIL,
2012a).
As exportações brasileiras bateram recorde em 2011, com negócios da
ordem de US$ 256 bilhões, um valor 27% maior em relação ao ano anterior. A
exportação de carne de frango cresceu 21,9% e a de carne bovina 7,8%, quando
comparadas ao ano de 2010. O agronegócio foi responsável por mais de 40%
das exportações brasileiras e gerou um saldo positivo de quase US$ 70 bilhões,
sendo responsável pelo superávit da balança comercial. Nota-se uma participação
cada vez maior na quantidade de produtos processados. O País é responsável
por mais de um quinto da carne comercializada internacionalmente, exportando
para mais de 180 países (BRASIL, 2012d; USDA 2012).
A evolução da balança comercial brasileira entre 1989 e 2011, como
também a variação entre importações e exportações do agronegócio, estão
expressos no Gráfico 1.
27
300
250
US$
Bilhões
200
150
100
50
0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EXP. TOTAL
IMP. TOTAL
EXP. AGRONEGÓCIO
Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/MDIC
IMP. AGRONEGÓCIO
Elaboração: CGOE/ DPI/ SRI/
GRÁFICO 1 – Evolução anual da balança comercial
agronegócio, no período de 1989 a 2011.
Fonte: Brasil, 2012b.
brasileira
e
do
Detentor de um rebanho com 21,7 milhões de bovinos (GOIÁS, 2012a),
o Estado de Goiás se destaca como um dos mais importantes na produção de
carne, sendo ainda o quarto ranqueado na produção leiteira nacional, com
produção de 3,2 bilhões de litros/ano (BRASIL, 2010). O Estado deve manter a
sanidade de seu rebanho, não apenas para conquistar novos mercados
importadores, como também manter aqueles existentes.
Desde cerca de 20 anos atrás, já havia registros de restrições
comerciais aos produtos do agronegócio goiano em face da endemicidade da FA
em nosso Estado. Em 1996, JAYME et al., relataram a preocupação com a
precariedade do sistema de atenção veterinária, ocasionada por descontinuidade
administrativa e financeira. Ficava patente a necessidade da estruturação de um
sistema de defesa sanitária eficaz, para que o Estado evoluísse dentro do
agronegócio.
A balança comercial goiana fechou o ano de 2011 com novo recorde
histórico. As exportações somaram US$ 5,605 bilhões, o que representou
crescimento de 38,5% sobre 2010, quando as vendas externas totalizaram US$
4,044 bilhões. As importações também ficaram elevadas no período: US$ 5,728
bilhões, com 37% de aumento sobre o montante do ano anterior, que foi de US$
28
4,175 bilhões. No entanto, o saldo financeiro foi deficitário pelo segundo ano
seguido (GOIÁS, 2012b).
Os produtos de origem vegetal, liderados pelo complexo soja,
compõem o principal setor das exportações, com 45,3%, seguidos pelos produtos
de origem animal, com 27,5%. A exportação de minérios, em especial o sulfeto de
cobre e as ferroligas também foi expressiva (GOIÁS, 2012b). O percentual de
exportações, estratificadas por setor, estão representadas no Gráfico 2.
6,4%
20,8%
45,3%
Vegetal
Animal
27,5%
Mineral
Outros
GRÁFICO 2 – Percentual das exportações goianas em 2011,
estratificadas por área de comércio.
Fonte: Goiás 2012b
2.9 Plano de Contingência
A epidemia devastadora de 2001 no Reino Unido, que se disseminou
para a Irlanda, França e Holanda, mostrou, mais uma vez, que a qualquer
momento a doença pode ser reintroduzida em países considerados livres dessa
enfermidade. Portanto são necessários planos de contingência para evitar ou
mesmo minimizar os impactos decorrentes de sua introdução (BREHM et al.,
2008).
As emergências veterinárias provocadas por agentes infecciosos
altamente contagiosos, como no caso do Aphtovirus, são reconhecidas como
29
desastres naturais e estão incorporadas no Plano Nacional de Desastres. Tal
enquadramento se justifica pelo potencial de propagação epidêmica, com
capacidade de produzir graves consequências sanitárias, sociais e econômicas,
podendo comprometer a segurança alimentar, a saúde pública, como também o
comércio nacional e internacional (BRASIL, 2009).
A execução das ações de emergência sanitária se ampara em uma
estrutura complexa, composta de três níveis distintos e interdependentes. O nível
maior é representado pelos atos legais e pelas diretrizes institucionais. No Brasil
este nível é representado pelo Sistema Brasileiro de Emergências Veterinárias –
SISBRAVET.
O
segundo
nível
corresponde
ao
plano
de
contingência
propriamente dito, definido como o conjunto de procedimentos e decisões
emergenciais que devem ser tomadas no caso de ocorrência inesperada ou da
suspeita da ocorrência de um evento relacionado a falhas nos programas de
biossegurança. Por fim, o terceiro nível que é representado pelo plano de ação,
composto pelo conjunto de atividades de vigilância e intervenção sanitária,
adequado e adaptado a cada tipo de doença (BARCELOS et al., 2008; BRASIL,
2009).
Um plano de contingência tem como objetivo principal garantir a
execução das atividades de vigilância veterinária, especialmente a detecção de
fontes de infecção e a coordenação da pronta reação para o controle dos focos e
para o restabelecimento da condição sanitária anterior das zonas ou
compartimentos afetados. No plano de ação está detalhado o conjunto de
instruções a serem implementadas durante uma emergência veterinária, desde o
primeiro aviso (notificação) da suspeita até seu controle ou erradicação. Esses
dois planos, quando bem elaborados, são fundamentais para evitar maiores
prejuízos à agropecuária, constituindo um ponto muito importante na composição
da
imagem
internacional
de
um
país
no
segmento
do
agronegócio
(SOBESTIANSKY et al., 2007; BRASIL, 2009).
Uma visão esquemática dos três níveis operacionais, nas ações de
emergência sanitária, está representada na Figura 10.
30
Arcabouço Normativo e Institucional
Plano de Contingência
Plano de Ação
FIGURA 10 – Representação esquemática dos três níveis operacionais
das ações de emergência sanitária.
Fonte: Adaptado de Brasil, 2009.
Um dos aspectos relevantes em uma emergência sanitária é a
notificação imediata da suspeita, neste caso, de uma enfermidade vesicular - EV.
A fonte de informação pode ser a própria vigilância ativa do serviço oficial, como
também informes de produtores rurais, transportadores, profissionais liberais, em
especial médicos veterinários. Recebendo a notificação, o médico veterinário
oficial – MVO deve registrá-la imediatamente no livro de ocorrências sanitárias e
promover o levantamento inicial de informações, tais como localização da
propriedade afetada, confrontantes, rebanho de cada uma das propriedades da
área sob suspeita, deve ainda preparar o material e equipamentos de
atendimento à suspeita e notificar seus superiores quanto a ocorrência e ao
deslocamento (GOIÁS, 2006; DEFRA, 2012).
O deslocamento deve ser feito o mais rápido possível, caso a
notificação seja feita no final da tarde, deve-se deslocar no dia seguinte.
Necessita-se, além do material de atendimento a foco, a legislação sanitária, o
formulário inicial de investigação - FORM-IN, termo de interdição e outros
formulários de praxe. Caso seja extremamente necessário, deve-se providenciar
apoio policial. O deslocamento deverá ser direto à propriedade com casos
suspeitos. Chegando lá, deve-se deixar o veículo longe do local onde os animais
31
serão inspecionados, colocar a vestimenta adequada e, após breve entrevista
com o produtor, promover o exame dos animais suspeitos, dando-se prioridade
àqueles que apresentem sinais da doença (BRASIL, 2009).
Caso, após a avaliação epidemiológica e inspeção clínica, o MVO não
encontre indícios que fundamentem a suspeita da doença vesicular ou de outra
doença infecciosa, ele encerrará o FORM-IN relatando ser um “caso descartado
de doença vesicular” e comunicará ao produtor que a propriedade está liberada.
Retornará então à Unidade Veterinária Local do serviço oficial - UVL para
notificação aos seus superiores e confecção dos respectivos relatórios (GOIÁS,
2006).
Permanecendo a suspeita de enfermidade vesicular, o profissional
adotará procedimentos como se fosse FA, providenciando a interdição temporária
do estabelecimento rural e colheita de material específico para análise
laboratorial. Após a troca das vestimentas, deve incinerar ou enterrar o material
descartável e proceder a desinfecção dos materiais, equipamentos e do veículo.
Isto posto, o técnico retornará diretamente à UVL, procedendo a devida
notificação aos seus superiores (GOIÁS, 2002).
A interdição temporária terá a duração necessária ao resultado das
análises laboratoriais. Tal interdição fica identificada na propriedade, conforme se
denota na Figura 11.
FIGURA 11 – Placa identificando a interdição da
propriedade (seta)
Fonte: Arquivo pessoal, 2011.
32
Os materiais são colhidos na propriedade, conforme relatado no subitem 2.6. A embalagem que contém o material suspeito deve ser desinfetada,
acondicionada em caixa isotérmica e posteriormente colocada em embalagem
final de biossegurança, resultando na “tríplice embalagem”, conforme apresentado
na Figura 12. Tais materiais são encaminhados a uma das duas unidades do
LANAGRO autorizadas para as análises pertinentes.
1
2
3
FIGURA 12 – Sequência de acondicionamento de material para
diagnóstico de FA, sendo (1) embalagem primária
desinfectada com ácido cítrico, (2) acondicionamento em
caixa isotérmica e (3) embalagem final de biossegurança.
Fonte: Arquivo pessoal, 2011.
Mesmo frente a resultados laboratoriais negativos para FA, o MVO
manterá a interdição da propriedade, até que receba os laudos de diagnóstico
diferencial. Em caso de algum resultado positivo para as enfermidades de
diagnóstico diferencial que são endêmicas no Brasil, a interdição permanece até
21 dias após a cura do último animal doente (GOIÁS, 2002).
Durante o período de interdição, as propriedades com casos clínicos e
as circunvizinhas deverão ser inspecionadas pelo menos uma vez a cada
semana, empregando-se o Formulário de Investigação Complementar - FORMCOM para registro das atividades. Também serão visitadas e inspecionadas as
propriedades que porventura tenham vínculo epidemiológico com a propriedade
suspeita, nos 30 dias que antecederam o aparecimento dos sintomas. Deve-se
sempre ter em mente que os técnicos que tenham ingressado em alguma
33
propriedade suspeita devem permanecer 72 horas sem visitar outras propriedade
que tenha animais suscetíveis. Também são proibidos eventos de aglomeração
de animais na área sob restrição (OPAS, 2007).
Em face de resultado positivo para FA, iniciam-se os procedimentos de
emergência sanitária. O MAPA notifica imediatamente o fato às UFs vizinhas ao
foco, bem como a todos os países com os quais mantém relacionamentos
comerciais ou de proximidade geográfica, e a entidades internacionais de saúde
animal, com destaque para o Comitê Veterinário Permanente do Cone Sul (CVP),
Centro Panamericano de Febre Aftosa – PANAFTOSA e OIE (BRASIL, 2009).
Declara-se o estado de emergência sanitária na UF onde ocorre o foco,
delimita-se a zona infectada, que corresponde ao foco e seus comunicantes até
um raio de três quilômetros; a zona de vigilância, que corresponde ao raio entre
três e 10 km, bem como a zona tampão, situada no raio entre 10 e 25 Km. Ocorre
a interdição de todas as propriedades abrangidas pelas diferentes zonas, com um
tipo de restrição mais branda às zonas externas. São convocados de imediato, a
Comissão Estadual de Emergência Sanitária, a Comissão de Avaliação e
Indenização e o Grupo Especial de Atenção a Enfermidades Exóticas e
Emergenciais – GEASE, para gerenciar as ações pertinentes (GOIÁS, 2001;
2002).
Nas três zonas distintas são realizadas ações diferenciadas de
vigilância epidemiológica, no intuito de monitorar a movimentação animal, dando
atenção especial às propriedades de alto risco, bem como se procede ao
rastreamento da provável origem do foco e seus meios de difusão até o focoíndice. São estabelecidos os pontos principais de trânsito, nos quais serão
instaladas as barreiras de controle sanitário de contenção total ou parcial e os
tipos de equipamento de desinfecção a serem utilizados (OPAS, 2007).
Na zona infectada, os animais do foco serão, sempre que possível,
sacrificados e sepultados dentro de cada propriedade. Nessa fase, deve-se
buscar, com fundamentação técnica, reduzir ao mínimo o número de animais a
serem sacrificados e promover o sacrifício de forma humanitária, minimizando os
impactos adversos sobre o bem-estar animal, a economia rural e o meio ambiente
(DEFRA, 2012). Vale lembrar que as ações de sacrifício ou abate sanitário só se
concretizam após a avaliação do valor indenizatório dos animais e lucros
34
cessantes. Devem ser abatidos primeiramente os animais do foco e em seguida
seus comunicantes e, por fim, os demais suscetíveis existentes na zona infectada.
A forma de eutanásia escolhida deve levar ainda em consideração a
biossegurança, a estética e custo do método e a segurança do operador (OIE,
2012i). Na Figura 13 estão dispostas as formas mais utilizadas para sacrifício e
destruição de animais em decorrência de foco de FA.
A
B
C
D
FIGURA 13 – Sacrifício de bovino em curral (A), com posterior envio a vala de
sepultamento (B). Sacrifício dentro da vala de sepultamento (C).
Incineração de carcaças a céu aberto (D).
Fontes: (A) e (B) arquivo pessoal, 2011; (C) www.iagro.ms.gov.br, 2012 e (D)
www.visitcumbria.com, 2012
Os animais que estão em torno do foco, desde que não sejam
comunicantes, e que não apresentem sintomatologia da doença podem, após
parecer técnico favorável, ser encaminhados a abate sanitário em abatedouro
designado especificamente para tal. Nas zonas de vigilância e tampão, também a
vista de parecer técnico, podem sair animais para abate sanitário, da forma
elencada acima. Os produtos oriundos deste tipo de abate, mesmo sendo
35
submetidos à maturação e desossa, só podem ser consumidos no mercado
interno (GOIÁS, 2002).
Concluído o sacrifício ou abate sanitário dos animais da zona infectada,
inicia-se o “vazio sanitário”, um processo de quarentena das propriedades, com
duração de 30 dias. Isto posto, promove-se a introdução de animais sentinelas, os
quais são suscetíveis e sem memória imunológica ao vírus da FA. Caso, após 30
dias, tais animais não manifestem sintomatologia da doença e não sejam
reagentes aos testes sorológicos de detecção de anticorpos, inicia-se o
repovoamento da propriedade, na razão mensal de 20% de sua capacidade no
primeiro mês e, se após 60 dias nenhum animal apresentar sintomas da
enfermidade, o repovoamento poderá ser completado. Neste momento dá-se por
encerrado o foco da enfermidade, devendo ser feitas as comunicações de praxe.
A região será inserida no sistema de sistema de monitoramento soroepidemiológico, de forma a certificar a condição sanitária estabelecida, e
ingressará no sistema de vigilância ativa, para certificar a todo o momento a
condição de livre de FA (OPAS, 2007). A restituição do status relativo a condição
anterior dependerá do atendimento às condições listadas no Quadro 2.
QUADRO 2 – Condições para o restabelecimento do status sanitário anterior ao
foco de FA
Status a ser
Ações realizadas
Tempo
Sacrifício/abate dos
Vacinação
Vigilância
necessário após
animais
Emergencial
Sorológica
último caso
SIM
NÃO
SIM
Três meses
SIM
SIM
SIM
Três meses (a)
SIM (b)
SIM
SIM
Seis meses
NÃO
NÃO/SIM
SIM
Doze meses
Zona Livre
SIM
SIM
SIM
Seis meses
com vacinação
NÃO
SIM
SIM
Dezoito meses
reconquistado
Zona Livre
sem vacinação
Legenda: (a) a contar do abate do último animal vacinado
(b) sem abate dos vacinados
Fonte: Adaptado de OIE, 2012c.
36
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A febre aftosa é a enfermidade mais importante da agropecuária, pois,
além de afetar os níveis de produtividade por interferência no consumo alimentar
e no ganho de peso dos animais afetados, interfere também diretamente a
comercialização, visto que a ocorrência da enfermidade é usada como barreira
sanitária para o comércio de animais, seus produtos e subprodutos.
Representa, portanto, uma importante ameaça para o bem estar da
população, devido ao seu impacto sobre a economia de países, cuja estabilidade
financeira depende do comércio exterior e este, por sua vez, depende diretamente
da confiabilidade dos alimentos de origem animal, como é o caso do Brasil.
O Brasil ainda não detém o status de área livre de FA, o que implica
em restrições no comércio internacional e representa, consequentemente, perdas
expressivas. Inclui-se ainda como prejuízo os gastos diretos e indiretos com a
doença, como a indenização dos animais destruídos, bem como dos lucros
cessantes em consequência de tal destruição e da interdição da propriedade.
O agronegócio é responsável por mais de 40% das exportações
brasileiras, contribuindo sobremaneira para o superávit da balança comercial
nacional. Assim, qualquer perda no setor afeta de forma contundente a economia
do país, centrada em grande parte na exportação de grãos e carne para uma
vasta gama de países importadores.
Um plano de contingência deve estar baseado em regras claras e
exequíveis e contar com a participação do serviço oficial e da iniciativa privada.
Portanto se faz necessária a conclusão do plano de contingência em
nível nacional, como também a adoção de outras medidas que acelerem o
processo de erradicação da FA no Brasil, de forma a manter os parceiros
importadores
existentes,
como
também
conquistar
novos
mercados
consumidores.
Ressalta-se ainda a importância dos profissionais da área de ciências
agrárias, em especial do médico veterinário, que em seus contatos com a
comunidade rural, promove ações de educação sanitária, no sentido de
conscientizar quanto a necessidade de notificação imediata, ao serviço oficial, das
enfermidades do rebanho.
37
REFERÊNCIAS
1. ALEXANDERSEN, S.; ZHANG, Z.; DONALDSON, A. I.; GARLAND, A. J.
M. The pathogenesis and diagnosis of foot-and-mouth disease. Journal of
Comparative Pathology, Kidlington, v. 129, p.1-36, 2003.
2. BACKER. J. A.; HAGENAARS, T. J.; NODELIIK, G.; VAN ROERMUND, H.
J. W. Vaccination against foot-and-mouth disease I: Epidemiological
consequences. Preventive Veterinary Medicine, Amsterdam, v. 107, n. 1,
p.27-40, 2012.
3. BARCELLOS, D. E. S. N.; MORES, T. J.; SANTI, M.; GHELLER, N. B.
Avanços em programas de biosseguridade
para a suinocultura. Acta
Scientiae Veterinariae, Porto Alegre, v.36 (sup1), p.33-46, 2008.
4. BARNETT, P. V.; CARABIN, H. A review of emergency foot-and-mouth
disease (FMD) vaccines. Vaccine, Kidlington, v.20, p.1505-1514, 2002.
5. BLANCO, E.; ROMERO, L. J.; HARRACH, M. E.; SÁNCHEZ-VIZCAÍNO
Serological evidence of FMD subclinical infection in sheep population
during the 1999 epidemic in
Morocco.
Veterinary Microbiology.
Amsterdam, v. 85, n. 1, p. 13-21, 2002.
6. BLANCOU, J. History of the control of foot and mouth disease.
Comparative
Immunology,
Microbiology &
Infectious
Diseases.
Kidlington, v. 25, p. 283-296, 2002.
7. BORCA, M. V.; PACHECO, J. M.; HOLINKA, L. G.; CARRILO, C.;
HARTWIG, E.; GARRIGA, D.; KRAMER, E.; RODRIGUEZ, L.; PICCONE,
M. E. Role of arginine-56 within the structural protein VP3 of foot-andmouth disease virus (FMDV) O1 Campos in virus virulence. Virology. San
Diego, v. 422, p.37-45, 2012.
38
8. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Leis etc.
Instrução Normativa n.229, de 7 de dezembro de 1998. Autoriza o uso de
selo de garantia nos frascos-ampolas da vacina contra febre aftosa. Diário
Oficial da União, 4 jan. 1998.
9. BRASIL. Ministério do meio Ambiente. Agência Nacional de Águas. A
evolução da gestão de recursos hídricos no Brasil. Brasília, ANA, 2002.
32p.
10. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de
Defesa Agropecuária. Departamento de Defesa Animal. Orientações para
fiscalização do comércio de vacinas contra febre aftosa e para
controle a avaliação das etapas de vacinação. Manual. Brasília, 2005,
28p.
11. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Leis etc.
Instrução Normativa n.44, de 2 de outubro de 2007. Aprova diretrizes
gerais para a erradicação e a prevenção da febre aftosa. Diário Oficial da
União, 03 out. 2007a, Seção 1.
12. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de
Defesa Agropecuária. Departamento de Defesa Animal. Vigilância
veterinária de doenças vesiculares. Manual. Brasília, 2007b, 49p.
13. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de
Defesa Agropecuária. Departamento de Defesa Animal. Plano de ação
para febre aftosa – volume 1. Manual. Brasília, 2009, 96p.
14. BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística. Produção da Pecuária Municipal,
IBGE, Rio de Janeiro, v. 38, p.1-65, 2010.
15. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de
Defesa Agropecuária Departamento de Defesa Animal. Dados de rebanho
bovino
e
bubalino
do
Brasil
-
2011
[online].
Disponível
em:
39
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Dados%20de%20rebanho%20b
ovino%20e%20bubalino%20do%20Brasil_2011.pdf. Acesso em 03 out.
2012a.
16. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Estratégias
de Vacinação contra Febre Aftosa no Brasil-2012 [online]. Disponível
em: http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Estrat%C3%A9gias%20de
%20vacina%C3%A7%C3%A3o_mai_2012%281%29.pdf. Acesso em 20
out. 2012b.
17. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Zona livre
de febre aftosa, com reconhecimento da OIE, 2011 [online]. Disponível
em:
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Mapa_OIE_2011.pdf.
Acesso em 03 out. 2012c.
18. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de
Relações Internacionais. Centro de Informações do Comércio Exterior
[online].
Disponível
em:
http://cicex.desenvolvimento.gov.br/sitio/
noticias/?UF=GO. Acesso em 20 out. 2012d.
19. BREHM, K. E.; KUMARA, N.; THULKEB, H. H.; HAAS, B. High potency
vaccines induce protection against heterologous challenge with foot-andmouth disease virus. Vaccine. Kidlington, v.26, p.1681-1687, 2008.
20. BURMAN, A.; CLARK, S.; ABRESCIA, N. G. A.; FRY, E. E.; STUART, D.;
JACKSON, T. Specificity of the VP1 GH Loop of Foot-and-Mouth Disease
Virus for αv Integrins. Journal of Virology. Washington, v.80, n.19,
p.9798-9810, 2006.
21. CHEN, S. P.; LEE, M. C.; SUN, Y. F.; CHENG, I. C.; YANG, P. C.; LIN, Y.
L.; JONG, M. H.; ROBERTSON, I. D.; EDWARDS, J. R.; ELLIS, T. M.
Immune responses of pigs to commercialized emulsion FMD vaccines and
live virus challenge. Vaccine. Kidlington, v.26, p.4464-4469, 2007.
40
22. DEFRA. Department of Environment, Food and Rural Affairs. Foot and
Mouth Disease Control Strategy for Great Britain [online]. Disponível em
http://www.defra.gov.uk/animal-diseases/a-z/foot-and-mouth/. Acesso em
27 out 2012.
23. DOEL, T. R. FMD vaccines. Virus Research. Amsterdam. v.91, p.81-99,
2003.
24. FLORES, E. F. Virologia Veterinária. Santa Maria: UFSM, 2007. 888 p.
25. GOIÁS. Agência Goiana de Defesa Agropecuária. Gerência de Sanidade
Animal. Quadro Rebanho/Vacinação/Propriedades de Goiás [online].
Disponível
em
http://www.agrodefesa.go.gov.br/index.php?option=
com_content&view=article& id=61&Itemid=1. Acesso em 15 out. 2012a.
26. GOIÁS. Leis etc. Decreto n. 5652 de 6 de setembro de 2002. Aprova o
Regulamento da Lei n. 13.998, de 13 de dezembro de 2001, que dispõe
sobre a Defesa Sanitária Animal do Estado de Goiás. Diário Oficial do
Estado. Goiás, 12 set. 2002.
27. GOIÁS. Leis etc. Lei n. 13.998, de 13 de dezembro de 2001, que dispõe
sobre a Defesa Sanitária Animal do Estado de Goiás. Diário Oficial do
Estado. Goiás, 19 dez. 2001.
28. GOIÁS. Secretaria de Indústria e Comércio. Balança Comercial [online].
Disponível
em
http://www.sic.goias.gov.br/post/ver/134536/balanca-
comercial . Acesso em 07 out. 2012b.
29. GRUBMAN,
M.
J.;
BAXT,
B.
Foot-and-Mouth
Disease.
Clinical
Microbiology Reviews. Washington. v.17, n.2, p.465-493, 2004.
30. GULBAHAR, M. Y.; DAVIS, W. C.; GUVENC, T.; YARIM, M.; PARLAK, U.;
KABAK, Y. B. Myocarditis Associated with Foot-and-Mouth Disease Virus
Type O in Lambs. Veterinary Pathology. Thousand Oaks. v.44, p.589-599,
2007.
41
31. HAAGSMA, J. A.; TARIQ, L.; HEEDERICK, D. J.; HAVELAAR, A. H.
Infectious disease risks associated with occupational exposure: a
systematic review of the literature. Ocupational and Environmental
Medicine. London. v.69, p.140-146, 2011.
32. HATSCHBACH, P. I. Historiografia da medicina veterinária. Revista
Brasileira de Medicina Veterinária. Rio de Janeiro. v.34, n.2, p.66-67,
2012.
33. HILLEMAN, M. R. Overview: cause and prevention in biowarfare and
bioterrorism. Vaccine. Kidlington, v.20, p.3055-3067, 2002.
34. JAYME, V. S.; MODENA, C. M.; TORRES, A. M. C.; CONTRERAS, R. L.
Análise do comportamento da febre aftosa bovina em Goiás, na série
cronológica 1977-1992. Anais da Escola de Agronomia e Veterinária.
Goiânia. v.26, n.2, p.15-22, 1996.
35. KIRK, J. H. Foot and Mouth Disease - a pictorial review [online]. Disponível
em
http://www.vetmed.ucdavis.edu/vetext/INF-DA/INF-DA_FMD-
Picture.html. Acesso em 27 out 2012.
36. KLEIN, J. Understanding the molecular epidemiology of foot-and-mouthdisease virus. Infection, Genetics and Evolution. Amsterdam. v.9, p.153161, 2009.
37. LONGJAM, N.; DEB, R.; SARMAH, A. K.; TAYO, T.; AWACHAT, V. B.;
SAXENA, V. K. A brief review on diagnosis of foot-and-mouth disease of
livestock:
conventional
to
molecular
tools.
Veterinary
Medicine
International, Nova Iorque, v.2011, n. 1, p.1-17, 2011.
38. LYRA, T. M. P.; SILVA, J. A. A febre aftosa no Brasil, 1960-2002. Arquivo
Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. Belo Horizonte. v.56,
n.5, p.565-576, 2004.
42
39. MACLACHLAN, N. J.; DUBOVI, E. J. Picornaviridae. In MACLACHLAN, N.
J.; DUBOVI, E. J. Fenner’s Veterinary Virology. 4.ed .Londres: Elsevier,
2011. Cap. 26, p.426-441.
40. OIE
–
Foot
and
Mouth
Disease.
[online].
Disponível
em
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/p
df/FOOT_AND_MOUTH_DISEASE_FINAL.pdf. Acesso em 30 set. 2012a.
41. OIE
–
OIE
listed
diseases.
[online].
Disponível
em
http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/oie-listed-diseases-2012/
Acesso em 30 set. 2012b.
42. OIE – The role of animal health and zoonoses standards on disease
control and trade. [online]. Disponível em http://www.oie.int/en/for-themedia/editorials/detail/article/the-role-of-animal-health-and-zoonoses-stand
ards-on-disease-control-and-trade. Acesso em 21 mar. 2012c.
43. OIE – Foot and Mouth Disease. In: Terrestrial Animal Health Code
[online]. Disponível em : http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile
=chapitre_1.8.5.htm#rubrique_fievre_aphteuse_surveillance. Acesso em 03
out. 2012d.
44. OIE – WAHID Interface – Disease Information. [online]. Disponível em
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/statuslist.
Acesso em 16 out. 2012e.
45. OIE - Foot and Mouth Disease. In: Manual of Diagnostic Tests and
Vaccines
for
terrestrial
Animals.
[online].
Disponível
em
http://www.oie.int/en/international-standard-setting/terrestrial-manual/chap
itre_1.8.5.htm. Acesso em 03 out. 2012f.
43
46. OIE – List of countries by disease situation. [online]. Disponível em
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/statuslist.
Acesso em 21 out. 2012g.
47. OIE – OIE member countries’ official FMD status map. [online].
Disponível
em
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-
disease-status/fmd/technical-disease-cards/fmd/. Acesso em 30 out. 2012h.
48. OIE – Killing of animals for disease control purposes. [online].
Disponível em http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/ta
hc/2010/en/chapitre_1.7.6.pdf. Acesso em 22 out. 2012i.
49. OPAS. Organização Pan-Americana de Saúde. Centro Pan-Americano de
Febre Aftosa. Manual de procedimentos para a atenção às ocorrências
de febre aftosa e outras enfermidades vesiculares. Manual. Rio de
Janeiro. 2007. 144p.
50. PACHECO, J. M., PICCONE, M. E.; RIEDER, E.; PAUSZEK S. J.; BORCA,
M.; RODRIGUEZ, L. L. Domain disruptions of individual 3B proteins of footand-mouth disease virus do not alter growth in cell culture or virulence in
cattle. Virology. San Diego, v. 405, p.149-156, 2012.
51. PATON, D. J.; SUMPTION, K. J.; CHARLESTON, B. Options for control of
foot-and-mouth disease: knowledge, capability and policy. Philosophical
Transactions of the Royal Society, London, v.364, p. 2657–2667, 2009.
52. PITUCO, E. M. A importância da febre aftosa na saúde pública [online].
Disponível em http://www.biologico.sp.gov.br/artigos_ok.php?id_artigo=17 .
Acesso em 08 out. 2012.
53. PRADO, J. A.; RIET-CORREA, F. Estomatite Vesicular. In: RIET-CORREA,
F.; SCHIELD, A. L.; LEMOS, R. A. A.; BORGES, J. R. Doenças de
Ruminantes e Equídeos. 3.ed. Santa Maria: Palloti, 2007b. v.1, p. 107110.
44
54. PRADO, J. A.; RIET-CORREA, F. Febre Aftosa. In: RIET-CORREA, F.;
SCHIELD, A. L.; LEMOS, R. A. A.; BORGES, J. R. Doenças de
Ruminantes e Equídeos. 3.ed. Santa Maria: Palloti, 2007. v.1, p. 111117.
55. ROTH, J. A. Veterinary vaccines and their importance to animal health and
public health. Procedia in Vaccinology. v.5, p. 127-136, 2011.
56. SAMUEL, A. R.; KNOULES, N. J. Foot-and-mouth disease virus: cause of
the recent crisis for the UK livestock industry. Trends in Genetics. London,
v.17, n.8, p. 421-424, 2001
57. SOBESTIANSKY, J.; BARCELOS D. E. S. N.; MORENO, A. M.;
CARVALHO L. F. O. S.. Exame de rebanho In: SOBESTIANSKY, J. & B
BARCELOS D. E. S. N. Doenças dos Suínos. Goiânia: Ed. Cânone, 2007,
p. 21-56.
58. SUTMOLLER, P.; BARTELING, S.S.; OLASCOAGA, R. C.; SUMPTOIN, K.
J. Control and eradication of foot-and-mouth disease. Virus Research.
Amsterdam. v.91, p.101-144, 2003.
59. THOMSON, G. R.; BASTOS, A. D. S. Foot and mouth disease. In
COETZER, J. A. W.; TUSTIN, R. C. Infectious diseases of livestock with
special reference to southern Africa. 1.ed. Cape Town: Oxford University
Press, p.1324-1365.
60. THOMSON, G. R.; VOSLOO, W.; BASTOS, A. D. S. Foot and mouth
disease in wildlife. Virus Research. Amsterdam. v.91, p.145-161, 2003.
61. UNIÃO EUROPÉIA. Conselho da União Européia. Leis etc. Directiva
2003/85/CE do Conselho, de 29 de setembro de 2003. Aprova medidas
comunitárias da luta contra a febre aftosa. Jornal Oficial da União
Européia, 22 nov. 2003, n. L306, p. 1-86.
45
62. USDA – International Markets & Trade. [online]. Disponível em
http://www.ers.usda.gov/topics/international-markets-trade/countriesregions/brazil/trade.aspx. Acesso em 23 ago. 2012.
63. VON DER WEID, J. M. Agroecologia: um modelo agrícola para garantir
a segurança alimentar. In: OTTERLOO, A. Tecnologias Sociais, caminhos
para a sustentabilidade. Brasília, 2009, 272p.
64. WERNEY, U.; KAADEN, O. R. Foot-and-mouth disease in camelids: a
review. The Veterinary Journal. Kidlington. v.168, p. 134-142, 2004.
65. WHITTON, J. L.; CORNELL, C. T.; FEUER, R.
Host and virus
determinants of picornavírus pathogenesis and tropism. Nature.
London. v.3, p. 765-776, 2005.