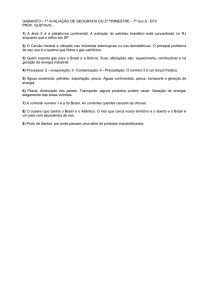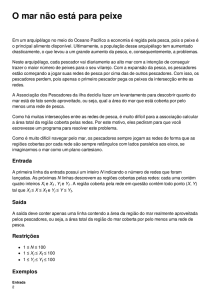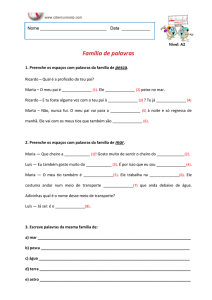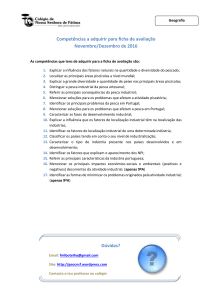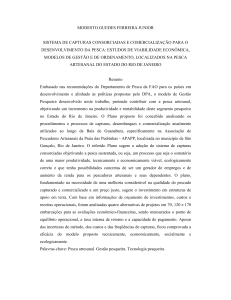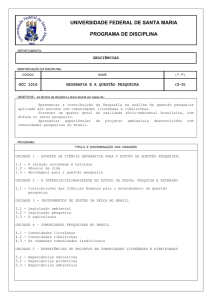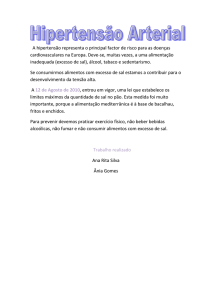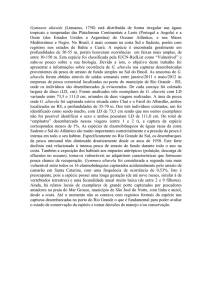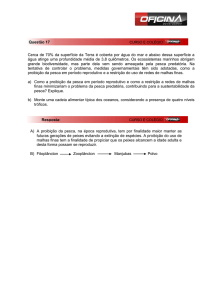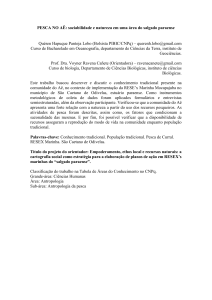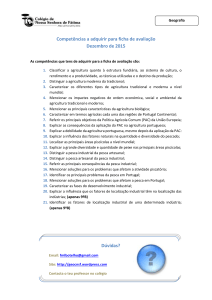OS TERRITÓRIOS DA PESCA: O USO DOS RECURSOS NATURAIS E AS
FORMAS IDENTITÁRIAS DOS PESCADORES ARTESANAIS DO ENTORNO
DO RIO DO SAL/SE
Ronilse Pereira de Aquino Torres - [email protected]
Mestranda em Geografia – NPGEO/UFS
Grupo de Pesquisa Sociedade e Cultura – NPGEO/UFS
Orientadora: Profª. Drª. Maria Augusta Mundim Vargas - [email protected]
Universidade Federal de Sergipe – NPGEO/UFS
Grupo de Pesquisa Sociedade e Cultura – NPGEO/UFS
RESUMO
Pretende-se neste trabalho fazer uma abordagem sobre o pesca no Rio do Sal, afluente do Rio
Sergipe, retratando os aspectos culturais dos pescadores ainda presentes, como se deu a
apropriação dos espaços, bem como a ligação que estas populações têm com a área estudada, os
territórios da pesca e suas territorialidades. Procuramos identificar e analisar a permanência da
atividade pesqueira, mas, sobretudo, a existência de um território (ou territórios) identitários da
pesca. A fenomenologia será a base fundamental para a concretização dos objetivos desse
estudo exploratório e qualitativo, utilizando como instrumentos questionários, entrevistas,
trabalho de campo e visitas órgãos públicos somados a levantamento bibliográfico referente ao
tema aqui tratado.
Palavras-chaves: sociedade-natureza, território da pesca, identidade.
INTRODUÇÃO
Registra-se a influência da pesca no aspecto socioeconômico do país, visto que
várias cidades litorâneas se formaram a partir de núcleo de pescadores, no decorrer dos
distintos ciclos de nossa história. Com a colonização, a chegada de diferentes povos no
território nacional e a miscigenação, verificou-se um desenvolvimento ainda mais
significativo na pesca. A pesca sempre fez parte das culturas humanas, não só como
fonte de alimento, mas também como modo de vida, contibuindo para a contrução da
idendidade das comunidades.
No Brasil, a pesca artesanal está ligada, historicamente, à influência de três
correntes étnicas que formaram a cultura das comunidades litorâneas: a indígena, a
portuguesa e a negra. Da cultura indígena as populações litorâneas herdaram o preparo
do peixe para a alimentação, o feitio das canoas e jangadas, as flechas, os arpões e as
tapagens; da cultura portuguesa, herdaram os anzóis, pesos de metal, redes de
arremessar e de arrastar; e da cultura negra, herdaram a variedade de cestos e outros
utensílios utilizados para a captura dos peixes (DIEGUES, 1983).
Este trabalho busca fazer uma abordagem sobre o pesca no Rio do Sal, afluente
do Rio Sergipe, retratando os aspectos culturais dos pescadores ainda presentes
(população e práticas remanescente), como se deu a apropriação dos espaços, bem como
a ligação que estas populações têm com a área estudada, os territórios da pesca, as
identidades construídas e as territorialidades estabelecidas.
(...) a territorialidade emana do grupo produtor, no sentido de que ela
é, antes de tudo, a relação culturalmente vivida entre um grupo
humano e uma trama de lugares hierarquizados e interdependentes,
cujo traçado no solo constitui um sistema espacial – dito de outra
forma, um território (BONNEMAISON, 2002, p. 96-97).
O Rio do Sal é de grande importância, uma vez que as diversas atividades
econômicas como a pesca, a extração do sal, o abastecimento doméstico são
desenvolvidos em suas margens. Mas, atualmente o rio vem sofrendo com a pressão
urbana e passa por sérios problemas ambientais, relacionados com a ocupação
desordenada nas suas margens, tais como: lixeiras a céu aberto, deficiências de sistema
de esgoto, desmatamento, contaminação por fontes diversas e a má qualidade de água.
A população que vive nas margens do Rio do Sal denuncia que a mortandade de peixes
é elevada, muitos não sabem a causa, mesmo assim, muitas pessoas insistem em
recolher os peixes para alimentarem suas famílias.
Assim, a observação e a caracterização dos elementos presentes na paisagem
vêm sendo ponto de partida para a compreensão das relações entre sociedade e natureza.
O homem, enquanto um ser social busca na natureza as suas necessidades de
sobrevivência, sempre em processo de mudança, construindo e transformando os
espaços.
Relacionar natureza e sociedade requer uma discussão inicial a respeito do
conceito de natureza que se pretende apresentar, bem como as ações da sociedade em
direção a natureza, de modo a proporcionar uma reflexão que se alie ao tratamento da
questão, buscando um olhar múltiplo sobre estes dois conceitos.
Toda sociedade, toda cultura cria, inventa, institui uma determinada ideia do que
seja a natureza. Nesse sentido, o conceito de natureza não é natural, sendo na verdade
criado e instituído pelos homens e constitui um dos pilares sobre o qual os homens
erguem as suas relações sociais, sua produção material e espiritual, enfim, a sua cultura,
(GONÇALVES, 2005).
O relacionamento dos seres humanos com a natureza faz parte da cultura. Assim,
como há várias culturas, vários povos, há também formas variadas de relacionamento
dos seres humanos com a natureza. O processo de construção do espaço se dá
paralelamente ao processo de construção da própria sociedade. Por ser o espaço
construído ao longo da vida das pessoas, o mesmo é resultante da história das pessoas e
dos grupos sociais que o habitam, considerando as relações existentes entre as pessoas e
grupos e daquelas com a natureza. É resultante também das formas de trabalho, de
produção e do lazer.
Dentro desse contexto, onde a ocupação e as transformações dos mais diversos
ambientes naturais se efetuam de maneira rápida e intensiva, encontram-se as áreas de
proteção ambiental, como por exemplo, os terrenos de mangue que margeiam os
estuários tropicais.
Os problemas ambientais tanto na escala local quanto regional vêm se agravando
pelo crescente aumento populacional das cidades localizadas às margens de rios e de
seus afluentes. Este aumento exerce uma pressão sobre o ecossistema, provocando
perda de áreas naturais pelo desmatamento e aterro dos manguezais e das matas ciliares,
além da extração de madeira, construção de habitações, poluição gerada pelo aumento
do volume dos esgotos sanitários descartados no ambiente, do lixo urbano, da pesca
predatória e da ampliação do número de indústrias e empreendimentos agrícolas
implantados nestas áreas. Alguns destes agravantes estão presentes na sub-bacia do Rio
do Sal, afluente do Rio Sergipe, localizado na divisa dos municípios de Aracaju e Nossa
Senhora do Socorro, objeto desse estudo.
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
O Rio do Sal margeia a periferia Norte de Aracaju, onde se encontram os bairros
Porto Dantas, Lamarão, Soledade e, os canais afluentes da margem direita encontram-se
os bairros Santos Dumont e Bugio. Trata-se de espaços urbanos inicialmente ocupados
por população de classe média, mas cujas margens dos canais foram invadidas por
favelas e habitações subnormais que se encontram em diferentes estágios de
“urbanização”, mas que comprometeram e ainda comprometem sobremaneira a
dinâmica ambiental do Rio do Sal. Apresentam problemas socioambientais em vários
níveis e dentre eles afetam diretamente a pesca. Na margem esquerda da sub-bacia, no
município de Nossa Senhora do Socorro a realidade dos bairros João Alves Filho,
Marcos Freire I, II, Loteamento São Braz e Piabeta não difere desta descrita nos bairros
de Aracaju.
A sub-bacia do Rio do Sal é afluente da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe. Seu
nome, Rio do Sal, é uma alusão à antiga exploração de sal mineral proveniente das
salinas, que em meados das décadas de 70 e 80 eram numerosas, com cerca de 380
salinas. Atualmente apenas, quatro salinas ainda resistem. Esta sub-bacia localiza-se na
divisa entre os municípios de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro e ocupa uma área de
aproximadamente 332km².
De acordo com França (1999) a intensa especulação imobiliária que se
estabeleceu a partir da década de 1960, na zona norte de Aracaju, em especial a porção
banhada pelo Rio do Sal, passou a ser ocupada por populações de baixa renda, muitas
delas migrantes de outros estados brasileiros que se viram excluídas das políticas de
habitação traçadas pelo governo de Sergipe.
Os problemas ambientais surgem pelo modo como a sociedade se relaciona com
a natureza e é dentro desse contexto que se encontram as formas de uso e ocupação de
áreas consideradas de preservação permanente, como é o caso dos manguezais. Na
tentativa de mudar este quadro, o manguezal é considerado Área de Preservação
Permanente, de acordo com a Lei Federal n.º 4771. Porém, este importante ecossistema
continua sendo ameaçado, principalmente devido à falta de fiscalização e de planos de
recuperação por parte das autoridades competentes.
Os manguezais são ecossistemas estuarinos muito especiais e importantes,
formados por comunidades altamente diversificadas, que ocupam porção substancial das
costas tropicais e subtropicais do planeta. É formado também por um solo altamente
fértil e lodoso composto por sedimentos trazidos pelo rio, que se coagulam e se
precipitam, misturando-se ao húmus formado pela decomposição das folhas e outras
partes das plantas, além dos restos dos próprios animais que habitam a região, o que
demonstra tanto sua importância ecológica como também econômica (WIKIPÉDIA,
2010).
OS TERRITÓRIOS DA PESCA
Neste contexto, procuraremos identificar e analisar a permanência da atividade
pesqueira, mas, sobretudo, a existência de um território (ou territórios) identitários da
pesca. Assim, analisaremos as comunidades que ainda praticam a pesca nesta área
estuarina, buscando identificar as relações dos pescadores com a natureza, suas práticas
e finalidades. No tocante à identidade, busca-se analisar a existência de elementos
simbólicos que retratem a identificação social expressa nesse território, ou seja, dentro
de uma relação de apropriação que se dá tanto no campo das ideias quanto no da
realidade concreta e simbólica.
Segundo, (PENNA, 1992, p.167).
As identidades sociais, puramente simbólicas, são produzidas como
representações da realidade de um reconhecimento social da
diferença: (...) as marcas da identidade não estão inscritas no real,
embora os elementos sobre os quais as representações de identidade
são construídas sejam dele selecionados (...).
O Território deve ser estudado tomando como referência o espaço, pois ele é
formado a partir do espaço geográfico, daí a indissociabilidade entre os dois,
apresentando uma visão particular de território, sendo que cada estudioso tem uma visão
particular do que seja território, ela é influenciada pela realidade estudada, por seus
objetivos e por sua concepção de espaço.
O estudo das diferentes acepções do território é fundamental para a formação do
geógrafo, pois o espaço, o território e a paisagem são conceitos-chave da ciência
geográfica e foram adquirindo concepções variadas no decorrer da história do
pensamento geográfico, sendo trabalhados de diferentes maneiras pelos principais
autores que contribuíram para um enriquecimento maior dos principais conceitos da
Geografia.
Questionamos a permanência/insistência da prática pesqueira no estuário do Rio
do Sal; se ainda é possível identificar comunidades pesqueiras; se a prática ocorre por
uma apropriação simbólica/cultural ou por mera estratégia de sobrevivência de parcela
da população “marginal/pobre”; enfim, se podemos afirmar a ocorrência de um
território da pesca no estuário do Rio do Sal.
Sendo assim, abordaremos o território da pesca do Rio do Sal numa perspectiva
social, cultural e ambiental, pois preocupamos com a configuração da área bem como
com as pessoas que vivem e se identificam com o lugar, com a investigação das formas
de organização dos territórios da pesca.
Os valores culturais, as formas culturais e o conteúdo cultural, existe apenas
através dos homens e lhe é próprio. Como produtos de corpos e mentes humanos e do
seu trabalho e como extensão especializada deles, os valores culturais formam, assim,
uma parte totalmente “natural” da natureza. (KROEBER, 1993).
Assim,
(...) o território apela para tudo aquilo que no homem se furta ao
discurso científico e se aproxima do irracional: ele é vivido, é
afetividade, subjetividade e muitas vezes o nó de uma religiosidade
terrestre, pagã ou deísta. Enquanto o espaço tende à uniformidade e ao
nivelamento, o território lembra as ideias de diferença, de etnia e de
identidade cultural (...) (BONNEMAISON, 2002, p.126).
Godelier (1984) referenciado por (DIEGUES, 2001, p. 38) afirma “que a força
mais profunda que movimenta o homem e faz com que invente novas formas de
sociedade é sua capacidade de mudar suas relações com a natureza, ao transformá-la”.
Ainda segundo Godelier (1984) nenhuma ação intencional do homem sobre a natureza pode
começar sem a existência de representações, de ideias que, de algum modo, são somente o reflexo das
condições materiais de produção.
Em suma, no coração das relações materiais do homem com a natureza aparece
uma parte ideal, não-material, onde se exercem e se entrelaçam as três funções do
conhecimento: representar, organizar e legitimar as relações dos homens entre si e
deles com a natureza. Torna-se, assim, necessário analisar o sistema de representações que os
indivíduos e grupos fazem de seu ambiente, pois é com base nelas que eles agem sobre o meio
ambiente.
Ao longo da história o ser humano foi atuando no espaço, alterando-o de acordo
com suas necessidades e aspirações. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou
abstratamente, o homem territorializa o espaço. Neste sentido, Raffestin (1993, p. 144)
entende o território como:
(...) um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e
informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo
poder. (...) o território se apoia no espaço, mas não é o espaço. É uma
produção a partir do espaço. Ora, a produção, por causa de todas as
relações que envolve, se inscreve num campo de poder (...)
Para Raffestin (1993), é essencial compreender bem que o espaço é anterior ao
território. O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida
por um ator sintagmático em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço concreto ou
abstrato, o ator está “territorializando” o espaço.
Bonnemaison (2002, p. 107) destaca que:
A territorialidade é a expressão de um comportamento vivido: ela
engloba, ao mesmo tempo, a relação com o território e, a partir dela, a
relação com o espaço “estrangeiro”. Ela inclui aquilo que fixa o
homem aos lugares que são seus e aquilo que o impele para fora do
território, lá onde começa o “espaço”.
Dourado (2011) indica que ao analisar a territorialidade como a expressão de um
comportamento, que se desenvolve tendo como referência o lugar, o território, o autor
afirma que a territorialidade ao se apoiar sobre uma relação interna e sobre uma relação
externa, oscila continuamente entre o fixo e móvel, circunscrevendo-a entre as
características inerentes ao território, a identidade e as relações de poder: a ideia de
mobilidade, processualidade, dinamismo, fluidez.
Os territórios da pesca, como tantos outros territórios, são mais do que meros
espaços delimitados geograficamente, entende-se por lugares conhecidos, usados,
nomeados e defendidos a partir de um cotidiano íntimo e familiar, estabelecido pelos
pescadores enquanto territórios exclusivos, utilizados meramente para a prática da pesca
artesanal.
Haesbaert (2002, p. 18) classifica o território em três vertentes básicas: 1)
jurídico-política, segundo a qual “o território é visto como um espaço delimitado e
controlado sobre o qual se exerce um determinado poder, especialmente o de caráter
estatal”; 2) cultural(ista), que “prioriza dimensões simbólicas e mais subjetivas, o
território visto fundamentalmente como produto da apropriação feita através do
imaginário e/ou identidade social sobre o espaço”: 3) econômica, “que destaca a
desterritorialização em sua perspectiva material, como produto espacial do embate entre
classes sociais e da relação capital-trabalho”. (HAESBAERT citado por SPOSITO,
2004).
Saquet (2004) resgata a classificação jurídico-política, cultural e econômica do
conceito de território mencionada por Haesbaert (2002) como sendo essencial para se
fazer as interligações necessárias. Considera também a vertente da natureza, que sempre
estará presente dentro do território. A natureza está no território, e dele é indissociável.
É no território que as relações se estabelecem, sejam relações de poder, sociais,
culturais, políticas e econômicas. Estas relações não são somente materiais, são também
de ordem simbólica. O território aparece como essencial, oferecendo àqueles que o
habitam, condições fáceis de intercomunicação e fortes referências simbólicas. Ele
constitui uma categoria fundamental de toda estrutura espacial vivida, a classe espacial.
A construção da territorialidade é um fenômeno eminentemente cultural. A
territorialidade nada mais é que as manifestações sociais dentro do território.
(HAESBAERT, 2004.). É dentro desse contexto que será estudada a territorialidade nos
territórios da pesca no rio do Sal. Territorialização diz respeito à ocupação de um
determinado espaço por determinado grupo humano, constituído por algum critério
social: etnia, nacionalidade, condição socioeconômica, nível cultural e outros.
Mas a vida é tecida por relações, e daí a territorialidade poder ser
definida como um conjunto de relações que se originam num sistema
tridimensional sociedade-espaço-tempo em vias de atingir a maior
autonomia possível, compatível com os recursos do sistema. (...) Mas
essa territorialidade é dinâmica, pois os elementos que a constituem, H
r E, são suscetíveis de variações no tempo. É útil, neste caso, que as
variações que podem afetar cada um os elementos não obedecem às
mesmas escalas de tempo. (RAFFESTIN, 1993, p. 160-161).
Castells (1999) em seu texto Paraísos Comunais: identidades e significado na
sociedade em rede traz o conceito de identidade cultural. Este autor, entende identidade
como o processo de construção de significados com base em um atributo cultural, ou
ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m)
sobre outras fontes de significados.
Dessa forma, toda e qualquer identidade é construída a partir de significados,
dentro de um contexto marcado por relações de poder. Castells (2000) afirma que a
identidade de um povo pode ser construída a partir de três formas: a) identidade
legitimadora: quando é introduzida pelas instituições dominantes da sociedade no
intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação aos atores sociais; b)
identidade de resistência: criada por posições/condições desvalorizadas e/ou
estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo assim, trincheiras de resistência e
sobrevivência com base em princípios diferentes dos que permeiam as instituições da
sociedade; e c) identidade de projeto: quando os atores sociais, utilizando-se de
qualquer tipo de material cultural a seu alcance, constroem uma nova identidade, capaz
de redefinir sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, de buscar a transformação de toda a
estrutura social.
Nesse contexto, um fator tem sido importante de ser analisado nas comunidades
pesqueiras – o significado cultural e a identidade que o pescador e a comunidade local
têm da pesca. As práticas socioculturais dão às comunidades pesqueiras características
identitárias e culturais, pois passam a ser uma das dimensões da vida social dos
pescadores, um espaço de crenças, mitos e utopias, além de adquirir valor simbólico e
material para a reprodução da condição humana dos pescadores.
Pretende-se com este trabalho, buscar elementos que retratem a identificação
social dos pescadores do Rio do Sal, já que esta se expressa através do território, ou
seja, dentro de uma relação de apropriação que se dá tanto no campo das ideias quanto
no da realidade concreta e simbólica. Comungamos com (PENNA, 1992, p. 167), que
diz que as identidades sociais, puramente simbólicas, são produzidas como
representações da realidade de um reconhecimento social da diferença: “as marcas da
identidade não estão inscritas no real, embora os elementos sobre os quais as
representações de identidade são construídas sejam dele selecionados”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho é parte do projeto de mestrado em Geografia pelo Programa de
Pós-Graduação em Geografia – NPGEO, da Universidade Federal de Sergipe e tem
como proposito, analisar as comunidades que ainda praticam a pesca na área estuarina
mencionada anteriormente, buscando identificar as relações dos pescadores com a
natureza, suas práticas e finalidades. No tocante à identidade, busca-se analisar a
existência de elementos simbólicos que retratem a identificação social expressa nesse
território, ou seja, dentro de uma relação de apropriação que se dá tanto no campo das
ideias quanto no da realidade concreta e simbólica.
A fenomenologia será a base fundamental para a concretização dos objetivos
desse estudo exploratório e qualitativo. Para Lencione (1999), a fenomenologia consiste
num método e em uma forma de pensar, nos quais a intencionalidade da consciência é
considerada chave pra a consideração da percepção advinda das experiências vividas é,
assim, considerada etapa metodológica importante e fundamental.
Com esta perspectiva buscamos apresentar contribuições à Geografia Cultural e
a sociedade no que diz respeito a discussões sobre os processos geográficos
responsáveis pelas relações sociais cujas intencionalidades produzem espaços e
territórios, neste caso em especial os espaços e territórios da pesca no rio do Sal.
REFERÊNCIAS:
BERGMANN, Melissa. Análise da percepção ambiental da população ribeirinha do
Rio Santo Cristo e de estudantes e professores de duas escolas públicas, município
de Giruá, RS. Dissertação (Mestrado em Ecologia). Porto Alegre: UFRS, 2007, 104p.
BONNEMAISON, J. Viagem em torno do território. In: CORRÊA, R. L.;
ROSENDHAL, Z. (Org.). Geografia cultural: um século. Rio de Janeiro: EDUERJ,
2002.
BRASIL. Lei Federal (1965). Código Florestal Brasileiro – Lei nº 4771, DF:
Congresso Federal, 1965.
CASTELLS, M. O Poder da identidade. Paraísos comunais: identidades e significado
na sociedade em rede. Vol.II, 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
CLAVAL, P. O território na transição da pós-modernidade. Revista GEOgraphia. Rio
de Janeiro: Ano I, nº 2, p. 7 a 26, dez de 1999.
CORRÊA, Roberto L. ROSENDAHL, Zeny. (Orgs). Introdução a Geografia
Cultural. Bertrand Brasil. Rio de Janeiro, 2003.
DIEGUES, A. C. S. O mito moderno da natureza intocada. São Paulo: NUPABUSP,
1994.
DOURADO, Auceia Matos. Território, territórios: identidade dos assentamentos de
reforma agrária em questão. Anais do IX ENANPEGE – Encontro Nacional da
Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia. Goiânia/GO, 2011.
GOBIRA, N. C. M. S. Desvendando o rio Pardo: As marcas de uma paisagem
ribeirinha. Percepções e práticas da comunidade tradicional em Itambé no Sudoeste da
Bahia. Dissertação (Mestrado em Geografia). São Cristóvão: UFS, 2010, 124 p.
HAESBERT, Rogério. Território territórios: concepções de território para entender a
desterritorializaçao. Niterói: PPGEO-UFF/AGB, 2002.
________. O mito da desterritorialização: do “fim
multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.
dos
territórios”
à
KROEBER, A. L. A natureza da cultura: o conceito de cultura em ciência. In: Lisboa:
Edições 70, 1993.
LENCIONE, S. Região e geografia. In: SPOSITO, Eliseu Savério. Geografia e
filosofia: contribuição para o ensino do pensamento geográfico. São Paulo: Editora da
Unesp, 2004.
LEOPOLDO, D. F. MORAIS, V.C. Território e territorialidade: estudo de caso na
comunidade quilombola de São Pedro de Cima. Disponível na internet em:
http://www.uff.br/vsinga/trabalhos/Trabalhos%20Completos/Dayana%20Francisco%20
Leopoldo.pdf. Acesso em 03 de Ago. 2011.
MANGUEZAL. Disponível em: <.http://pt.wikipedia.org/wiki/Manguezal>. Acesso em
14 de Ago. 2001.
PENHA, M. O que faz ser nordestino. São Paulo: Cortez, 1992.
PORTO, C. W. G. Os (dês)caminhos do meio ambiente. 12. ed. São Paulo: Contexto,
2005.
RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. Tradução de Maria Cecília
França. São Paulo: Ática, 1993.
SAQUET, Marcos Aurélio. O território: diferentes interpretações na literatura italiana. In:
RIBAS, A. D.; SPOSITO, Eliseu; SAQUET, Marco Aurélio. Território e
desenvolvimento: diferentes abordagens. Francisco Beltrão: Unioeste, 2004.
SOUZA, Marcelo José Lopes de. O território: sobre espaço e poder. Autonomia e
desenvolvimento. In CASTRO, I. E. de; GOMES, P. C. da C.; CORRÊA, R. L. (Orgs.).
Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001, p.77- 116.