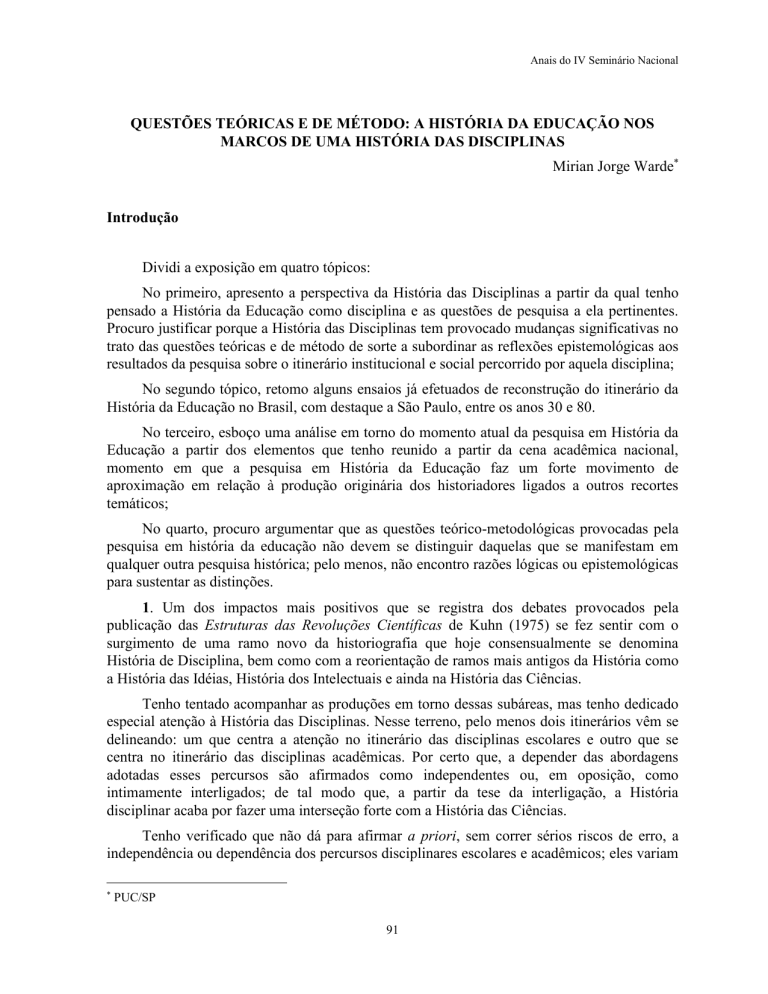
Anais do IV Seminário Nacional
QUESTÕES TEÓRICAS E DE MÉTODO: A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NOS
MARCOS DE UMA HISTÓRIA DAS DISCIPLINAS
Mirian Jorge Warde*
Introdução
Dividi a exposição em quatro tópicos:
No primeiro, apresento a perspectiva da História das Disciplinas a partir da qual tenho
pensado a História da Educação como disciplina e as questões de pesquisa a ela pertinentes.
Procuro justificar porque a História das Disciplinas tem provocado mudanças significativas no
trato das questões teóricas e de método de sorte a subordinar as reflexões epistemológicas aos
resultados da pesquisa sobre o itinerário institucional e social percorrido por aquela disciplina;
No segundo tópico, retomo alguns ensaios já efetuados de reconstrução do itinerário da
História da Educação no Brasil, com destaque a São Paulo, entre os anos 30 e 80.
No terceiro, esboço uma análise em torno do momento atual da pesquisa em História da
Educação a partir dos elementos que tenho reunido a partir da cena acadêmica nacional,
momento em que a pesquisa em História da Educação faz um forte movimento de
aproximação em relação à produção originária dos historiadores ligados a outros recortes
temáticos;
No quarto, procuro argumentar que as questões teórico-metodológicas provocadas pela
pesquisa em história da educação não devem se distinguir daquelas que se manifestam em
qualquer outra pesquisa histórica; pelo menos, não encontro razões lógicas ou epistemológicas
para sustentar as distinções.
1. Um dos impactos mais positivos que se registra dos debates provocados pela
publicação das Estruturas das Revoluções Científicas de Kuhn (1975) se fez sentir com o
surgimento de uma ramo novo da historiografia que hoje consensualmente se denomina
História de Disciplina, bem como com a reorientação de ramos mais antigos da História como
a História das Idéias, História dos Intelectuais e ainda na História das Ciências.
Tenho tentado acompanhar as produções em torno dessas subáreas, mas tenho dedicado
especial atenção à História das Disciplinas. Nesse terreno, pelo menos dois itinerários vêm se
delineando: um que centra a atenção no itinerário das disciplinas escolares e outro que se
centra no itinerário das disciplinas acadêmicas. Por certo que, a depender das abordagens
adotadas esses percursos são afirmados como independentes ou, em oposição, como
intimamente interligados; de tal modo que, a partir da tese da interligação, a História
disciplinar acaba por fazer uma interseção forte com a História das Ciências.
Tenho verificado que não dá para afirmar a priori, sem correr sérios riscos de erro, a
independência ou dependência dos percursos disciplinares escolares e acadêmicos; eles variam
*
PUC/SP
91
HISTEDBR - Grupo de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil”
grandemente, a depender da disciplina que está em tela, do tempo e do espaço nos quais a
pesquisa em torno do assunto se movimenta. Assim como, depende do universo institucional
no qual o pesquisador pretender inscrever sua investigação. A título de exemplo, os estudos
disponíveis evidenciam que as relações entre a Matemática como disciplina acadêmica e a
Matemática como disciplina escolar não repetem as relações historicamente mantidas entre a
História como disciplina acadêmica e a História como disciplina escolar; evidenciam, ainda,
que essas relações, tanto num caso como noutro variaram no tempo e não se apresentam
identicamente em países como a França e o Brasil, dadas as suas respectivas tradições
culturais, acadêmicas e escolares.
Embora seja prudente não afirmar a priori que o comportamento das disciplinas
acadêmicas repercute ou não no comportamento das disciplinas escolares, parece-me fértil, em
contrapartida, trabalhar com a hipótese de que esses comportamentos, ainda que variáveis no
tempo e no espaço, tendem a manter algum grau de influência recíproca.
A essas considerações preliminares acrescento mais uma de marcada importância. A
afirmação da História de Disciplina não se faz, e nem tem por que se fazer, em detrimento das
inquirições epistemológicas de antiga extração filosófica, mas, seguramente, essas inquirições
tendem a ser circunscritas ou mesmo subordinadas aos resultados obtidos pela investigação
histórica. Vejo vantagens nesse processo de redefinição de territórios: primeiro, porque
alimenta novas pesquisas históricas; depois, porque contribui para ampliar o grau de liberdade
da História em relação à Filosofia, o que lhe faculta novos diálogos com outras disciplinas e
mantém menor número de pessoas ocupadas em deitar regras inócuas sobre o bem proceder da
razão, e, ainda, porque contribui, no mínimo, para alargar o horizonte de erudição dos
pesquisadores.
No que tange às relações entre a História e a Filosofia, aquela abordagem é contributiva,
pois obriga a pensar as peculiares relações entre essas suas disciplinas no nosso universo
acadêmico e no caso específico das disciplinas Filosofia da Educação e História da Educação.
Mas, mais uma vez, atentar para as diferenças de tempo e lugar é fundamental. Por
exemplo, as diferenças entre a literatura historiográfica francesa e inglesa. A espécie de
registro que um autor como Peter Burke apresenta sobre as suas próprias incursões
disciplinares (verificar a Introdução de 1991 e o capítulo I - História cultural: passado, presente
e futuro, no O mundo como teatro, 1992b) é muito diferençado das pontuações de Roger
Chartier, no cap. II - O passado composto, em A História Cultural. As relações entre Filosofia
e História se afiguram, nesses dois autores, muito distintas e refletem as peculiaridades de duas
tradições culturais.
Sobre o tema, um dos autores que mais sistematicamente tenho percorrido é Wolf
Lepenies, pesquisador alemão que oferece um bom exemplo da fertilidade da História das
Disciplinas em contraposição à velha tradição filosófica, levada por Kant às últimas
conseqüências, que nos viciou na prática de deitar regras e estabelecer parâmetros prévios para
a produção científica a partir de um suposto e soberano espírito filosófico. Lepenies examina a
velha tradição de as filosofias recorrerem a metáforas arquitetônicas, como se o conhecimento
se desenvolvesse reproduzindo o processo de construção de cidades planejadas, para as quais o
filósofo serviria de arquiteto (Lepenies, 1983, p.37 e segs., Warde, 1997, pp. ). Aliás, levando
92
Anais do IV Seminário Nacional
às últimas conseqüências aquelas metáforas, os filósofos modernos, até Hegel, construíram
para a Filosofia imagem equivalente a que a Igreja Católica reservou às suas catedrais: no
centro da praça principal, da qual partiam as avenidas.
Gosto desse modo de encarar a relação entre a Filosofia e os demais campos
institucionalizados do saber porque ensina a pensar todos esses campos como disciplinas que
se firmaram no processo de institucionalização das suas práticas e de profissionalização dos
seus quadros; no que se refere à Filosofia, considero fértil a discussão sobre o modo como ela
produziu o suposto da sua superioridade no processo mesmo de construção da Universidade
pós-medieval, cuja seiva foi retirada, não dela - Filosofia - mas, das ciências modernas.
Para a área da Educação, essa espécie de abordagem é muito salutar, pois, de um lado,
pode traduzir contribuições relevantes para a compreensão dos perfis adotados pelas diferentes
disciplinas que compõem os currículos escolares e acadêmicos; de outro, porque pode
colaborar com a crítica do discurso pedagógico, tendente ao ensaismo e ao doutrinarismo
(Trevisan, 1976, p. 43 e segs.).
Seguindo esta linhagem da História de Disciplina, tenho provocado projetos de
dissertações e teses, e tenho avançado nas minhas incursões em torno da história dessa
disciplina específica que é a História da Educação. É desta maneira que tenho me permitido
pensar questões teóricas e metodológicas enfrentadas pela História da Educação no seu
itinerário disciplinar no Brasil. Ao percorrer este caminho, tenho sido instigada a produzir
termos comparativos entre o itinerário da História da Educação entre nós e dela em outros
países, cujos marcos institucionais foram e são muito diferençados.
2. Não podemos ignorar que a manutenção, por décadas, da História da Educação como
apêndice da Filosofia da Educação tenha marcado profundamente os seus contornos teóricos e
de método. Em verdade, a História da Educação não se apresentou nos currículos dos nossos
cursos de formação do magistério (institutos de educação, escolas normais e curso de
pedagogia) como disciplina autônoma, mas como irmã siamesa da Filosofia da Educação. Este
quadro se manteve, com algumas exceções institucionais, até os anos 60.
Essa marca a História da Educação vem carregando em todo o seu itinerário. Incursões
efetuadas por diferentes autores têm evidenciado que os manuais publicados entre os anos 30 e
60 destinados ao ensino dessa matéria patenteiam o mesmo traço que se encontrará nos
programas de curso (Nunes, 1996).
No Brasil, é peculiar o processo de inclusão da História da Educação entre as disciplinas
de formação do magistério. Quando os renovadores da educação disseminaram, de forma
enfática a partir dos anos 20, a idéia de que a Educação demanda, pelas suas singularidades
“teóricas” e “práticas”, o concurso de várias ciências, a História não estava, ainda, aí
considerada.
A História da Educação é filha tardia da idéia de abordagens múltiplas em Educação;
não é incluída, entre as ciências auxiliares com o mesmo escopo das matriciais (quais sejam:
Psicologia, Sociologia e Biologia). Assim como a Filosofia não poderia ser denominada
apropriadamente de ciência, a História também não o poderia. Assim, a Filosofia e a História
93
HISTEDBR - Grupo de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil”
da Educação foram incorporadas não exatamente como ciências, mas como disciplinas
formadoras.
Como regra, os currículos baixados para os cursos normais e os de pedagogia, a partir da
década de 30, incluíram a História da Educação como disciplina unida à Filosofia da
Educação.
E desde sua implantação disciplinar, a História da Educação não escapou à
programatização. Primeiro, sofreu a pragmatização moral, porque dela havia de se tirar alguma
lição, algum ensinamento doutrinário. Posteriormente, em torno das décadas de 50 e 60,
quando começaram a surgir, efetivamente, estudos históricos relativos à educação, a
pragmatização já instaurada foi secularizada.
Na sua gênese e no seu desenvolvimento, a História da Educação carrega uma marca que
lhe é conformadora: a de ter nascido para ser útil e para ter sua eficácia medida não pelo que é
capaz de explicar e interpretar dos processos históricos objetivos da Educação, mas pelo que
oferece de justificativas para o presente e de guia para a construção do futuro (Cf. Warde,
1990, pp. 8-9).
Minhas incursões nos programas dos cursos de Filosofia e História da Educação em São
Paulo, tanto nas escolas normais como nos cursos de pedagogia, sugerem que a disciplina foi
entregue à responsabilidade de professores com marcada orientação religiosa; pelo menos até
os anos 50, este é um traço visível, que se patenteia no delineamento do conteúdo e, quando
aparecem registros, na bibliografia adotada. Sintomaticamente, os conteúdos reportavam-se
aos modelos de formação do homem supostamente adotados pelas sociedades. Em regra, os
cursos de Filosofia e História da Educação não transpunham as fronteiras da Idade Média e
quando o faziam não davam seguimento ao estudo dos referidos modelos, como se as
chamadas sociedades modernas e contemporâneas já não mais adotassem modelos de
formação; a partir da Idade Moderna, no lugar dos modelos surgiam os pensadores ou filósofos
da educação.
Na mesma direção aponta Clarice Nunes (1996), examinando 28 títulos publicados entre
1889 e 1990. Entre os autores, a pesquisa por ela empreendida registra a presença de religiosos
e leigos católicos; de médicos, de técnicos educacionais, de políticos profissionais e
professores universitários (Nunes, 1996, p. 69). Dentre os primeiros, quero dar destaque a
Theobaldo Miranda Santos, autor de Noções de História da Educação (Companhia Editora
Nacional) que, segundo informa Nunes,
alcançou, de 1945 a 1964, dez edições consecutivas sem qualquer alteração
significativa, (tendo ultrapassado) a tiragem de 15 milhões de exemplares
apenas no que diz respeito a suas publicações lançadas pela Editora Agir
(Nunes, 1996, p. 68).
Quanto à presença marcante da orientação religiosa, vale dizer católica, na produção
historiográfica destinada aos cursos de formação docente, Nunes ensaia uma hipótese que é
94
Anais do IV Seminário Nacional
bastante coincidente com a que trabalhei quando do exame dos programas da disciplina
Filosofia e História da Educação. Diz ela:
(A historiografia da educação) é expressão do registro da permanência dos
valores de uma civilização cristã. Apesar das concepções teóricas, de
formação e dos pertencimentos institucionais de seus autores, a história da
educação difundida entre os professores primários e secundários tem uma
função e um efeito doutrinário que se prolonga e se atualiza, revelando o
peso da influência religiosa apesar de todo o movimento de secularização
da sociedade e do Estado a partir da implantação do regime republicano
(Nunes, 1996, p. 70).
Há indícios de que nos anos 50 começa a se esboçar na USP, a partir do setor de
Educação e, posteriormente, da relação entre este setor e o Centro Regional de Pesquisa
Educacional, o CRPE/SP, algo como um projeto de construção de uma História da Educação
Brasileira, autônoma, apoiada em levantamentos documentais originais, capaz de recobrir o
processo de desenvolvimento do sistema público de ensino. Sobre esses indícios pretendo tão
somente registrar: em primeiro lugar, aquele projeto parece ter contido uma iniciativa de
redefinição das relações entre a História da Educação e a Filosofia da Educação através da
abertura de diálogo com a Sociologia da Educação, disciplina em pleno processo de
dinamização e, em segundo lugar, intencionava gerar uma linhagem de pesquisa que
produzisse a identidade da História da Educação Brasileira a partir de fontes empíricas novas
(Cf. Carvalho, 1971, p. 1 e segs).
A produção historiográfica dos anos 70 e 80 confirma a presença de trabalhos nascidos
no interior deste projeto; mas, nenhum dos seus traços distintivos dissolveu as marcas
genéticas da História da Educação produzida nos nossos meios educacionais.
Antes de encerrar este tópico, quero, ainda, adicionar dois elementos contributivos para a
afirmação da hipótese da marca religiosa da História da Educação em sua gênese e
desenvolvimento. A pesquisa apresentada recentemente ao CNPq* destina-se à reconstituição
dos itinerários escolares e acadêmicos dos intelectuais do gênero masculino que ocupam a
primeira cena da vida universitária nacional e do mercado editorial entre os anos 40 e 90. O
nosso objetivo eclesiais (padres, ex-padres, ex-seminaristas e cristãos, especialmente católicos
leigos). Os primeiros resultados obtidos indicam que apesar do crescimento da rede primária
pública (a partir dos anos 40) e da rede secundária pública (a partir dos anos 50 e 60), a
intelectualidade masculina que manteve o controle teórico, político e ideológico do campo
educacional, nas décadas mencionadas, é de extração marcadamente religiosa.
Projeto compartilhado com a profa. Maria Helena Bittencourt Granjo, colega do Núcleo de Historiografia e
História da Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação: História e Filosofia da Educação. Esse
projeto é parte do projeto integrado elaborado pelo conjunto dos professores do Núcleo (professores: Kazumi
Munakata, luiz Carlos Barreira e Marta M. C. de Carvalho, com o título: Historiografia da Educação
*
Brasileira e Constituição do Campo Pedagógico: intelectuais, impressos e instituições.
95
HISTEDBR - Grupo de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil”
O adensamento desses dados, cruzados com os dados já disponíveis que indicam que a
Igreja Católica, desde os anos 30, ingeriu fortemente nos cursos de formação do magistério em
nível secundário e superior, bem como no mercado de livros destinados a esses cursos, deve
oferecer mais densidade à hipótese acima apresentada.
Por fim, quero destacar que parece de grande importância verificar como e porque o
modelo do Curso de Pedagogia e das Licenciaturas, implantado por decisão federal, em 1939,
se contrapôs aos modelos de formação do magistério mentados por Fernando de Azevedo em
São Paulo, através do Instituto de Educação incorporado à USP, em 1934, e por Anísio
Teixeira, em 1935, na Universidade do Distrito Federal. O modelo do curso de Pedagogia,
segundo os primeiros informações disponíveis, vem de Louvain, na Bélgica, trazida pela Igreja
Católica (através da chamada “missão belga”) num claro intento de combater os modelos
laicistas e cientificistas dos renovadores da educação. É preciso prestar atenção também nessa
frente de informações, pois não dá para secundarizar o enorme esforço efetuado pelos
representantes da Igreja Católica junto aos governos federal e estaduais do Rio de Janeiro e de
São Paulo de inviabilizar aquelas iniciativas institucionais e de cravar o seu padrão de
formação do magistério em nível superior (Evangelista, 1997).
3. Passarei por cima do traçado da História da Educação entre os anos 70 e 80, pois
sobre este período há fontes disponíveis e bastante atuais, dentre as quais destaco a tese de
doutorado defendida por Luiz Carlos Barreira nesta Faculdade (Barreira, 1995) e a dissertação
de mestrado de Bruno Bontempi Jr. (Bontempi Jr., 1995), geradas no âmbito da pesquisa
Historiografia da Educação Brasileira: construção da memória e do conhecimento. Nesse
tópico, quero dedicar atenção ao movimento atual da disciplina, embora só possa fazê-lo da
perspectiva das pesquisas em andamento, dos artigos publicados nos periódicos de maior
circulação nacional e das dissertações e teses defendidas. Não tenho condições de incursionar
pela disciplina através dos cursos de pedagogia ou mesmo pelos programas de pós-graduação.
Através dessas fontes, verifico estar ocorrendo um fenômeno novo na História da
Educação: pela primeira vez, ela efetua um efetivo movimento de aproximação e identificação
com os processos cognitivos que estão em curso no campo específico da História. Tenho
poucos dados disponíveis para afirmar se esse movimento de aproximação é de dupla mão,
isto é, se a área da História está se abrindo para temas educacionais e, por essa razão, está
procedendo a leitura dos autores inscritos no campo educacional, estão acolhendo esses
autores em suas bibliografias e assim por diante.
Com base nos resultados da dissertação de Nedina Stein (1998) orientada por Luiz C.
Barreira, pautada na produção de dissertações e teses dos programas de História, esta produção
destina 4 a 5% das suas atenções aos temas educacionais; estes percentuais foram obtidos no
período que cobre o início dos anos 70 até 1994. Destacam-se entre os autores, os que se
titularam em programas de História, mas estão institucionalmente ligados a setores da
Educação. A minha hipótese é de que o movimento de aproximação da História da Educação
ao campo da História deve-se mais à iniciativa dos que se situam na área da Educação.
Embora, essa aproximação não se dê necessariamente nos marcos das nossas próprias
instituições. Com mais freqüência, ela tem se dado entre pesquisadores ou grupo de
96
Anais do IV Seminário Nacional
pesquisadores nacionais e seus correlatos estrangeiros, destacadamente franceses, seguidos de
espanhóis e portugueses e, por fim, latinoamericanos.
Esse fenômeno novo no itinerário da disciplina deve-se a fatores de ordem diversa,
dentre destacado a proeminência da História Cultural sobre outras vertentes da História.
Autores de lugares diversos oferecem elementos suficientes para afirmar essa proeminência.
Darton, em texto do início dos anos 80, mas publicado entre nós somente em 1990,
oferta uma panorâmica superdetalhada das mudanças ocorridas nos Estados Unidos entre os
diversos ramos da História; merece destaque o modo como ele situa a emergência de novos
estudos no campo da História Cultural, resultantes, particularmente, do encontro entre a
história e a antropologia (que ele, não por uma acaso, vê com muito bons olhos) e um certo
declínio das vertentes mais tradicionais, com destaque para a História das Idéias.
Dois anos depois, tivemos acesso a um balanço menos otimista, de Burke (1992a), cujo
balanço, caracteristicamente erudito e cosmopolita, sobre as novas tendências da nova história,
torna proeminente as muitas dificuldades enfrentadas por essas tendências, particularmente as
que emergem com a chamada nova História Cultural. Os problemas transbordam para todos os
lados, a começar do próprio conceito de cultura. Diz ele a um dado momento:
Uma razão para a dificuldade de definir a história da cultura popular é que
a noção de “cultura” é algo ainda mais difícil de precisar que a noção de
“popular”. A chamada definição “opera house” de cultura (como arte
erudita, música erudita etc.) era restrita, mas pelo menos mais precisa. Uma
noção ampla de cultura é central à nova história. O estado, os grupos
sociais e até mesmo o sexo ou a sociedade em si são considerados como
culturalmente construídos. Contudo, se utilizarmos o termo em um sentido
amplo, temos, pelo menos, que nos perguntar o que não deve ser
considerado como cultura? (Burke, 1992a, p. 22-23).
No mesmo ano, 1992, tivemos acesso à apresentação de Lynn Hunt, à sua coletânea em
torno da nova história cultural. O seu texto também oferta um balanço amplo e detalhado das
novas tendências da história, com todo destaque para o processo de recuo da história social em
favor da história cultural. Embora aparentemente mais otimista, pelo menos a partir dos
últimos parágrafos, Hunt aponta problemas relevantes decorrentes da onda avassaladora da
cultura. Pergunta ela, a um dado momento da exposição:
Onde estaremos quando todas as práticas, sejam elas econômicas,
intelectuais, políticas ou sociais, revelarem ser culturalmente
condicionadas? Colocando de outro modo, uma história da cultura poderá
funcionar se estiver despojada de todo e qualquer pressuposto teórico sobre
a relação da cultura com o universo social - se, de fato, o seu programa for
concebido como o solapamento de todos os pressupostos acerca da relação
entre a cultura e o universo social? (pp. 13-14).
97
HISTEDBR - Grupo de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil”
Um pouco mais adiante, a autora confirma a influência da antropologia e da teoria
literária em detrimento da sociologia, embora, naquele momento, “o modelo antropológico
reina(sse) supremo nas abordagens culturais” (p. 14).
Tenho como hipótese que pelo menos quatro fatores contribuíram para a atração que a
História vem exercendo sobre os educadores, através da sua onda culturalista. São fatores,
seguramente, de natureza e temporalidades muito diferençadas. Em primeiro lugar, e por uma
razão de mais longo alcance, penso que os educadores, enfim, encontraram, a partir da
História, um lugar adequado, para acomodar a educação. A cultura é indiscutivelmente um
bom lugar para inscrever os objetos, os sujeitos, as práticas e as instituições educacionais.
Aliás, foi preciso ler os novos historiadores da cultura para se ter revalorizados muitos dos
temas menosprezados no campo pedagógico. Quem ousaria há umas décadas correr atrás de
manuais escolares? Quem cogitaria elevar à condição de tema nobre as práticas elementares da
escrita e da leitura? Quem poderia imaginaria, lá para os anos 70, que a didática tem uma
história que vale a pena ser contatada? Em segundo lugar, incitados a buscar novos objetos,
novos problemas, a história cultural abriu para os educadores um manancial inesgotável de
novas fontes.
Em terceiro lugar, destacaria, ainda, que para muitos, a história cultural serviu e vem
servindo de antídoto ao marxismo predominante nos trabalhos produzidos entre meados dos
anos 70 e até fins dos anos 80. Os autores acima citados afirmam com muita clareza que
também nos Estados Unidos e na Europa, a História Cultural vem crescendo por oposição ao
marxismo, bem como aos princípios originais da Escola dos Annales; aliás, sem mencionar
explicitamente, muitas das preocupações manifestadas por Hunt e Burke quanto ao processo
de esvaziamento da cultura dos seus elementos políticos e sociais dizem respeito à reação
virulenta contra a predominância daquelas perspectivas no âmbito da História Social, que
praticamente havia reinado absoluta nas décadas anteriores.
Por fim, tangenciando permanentemente o relativismo, as novas tendências da história
cultural facultam que os interesses circulem à vontade em toda e qualquer direção,
dispensando o crivo tradicional da relevância, até porque quaisquer que sejam as fontes, o
objeto acabará por ser reduzido a uma representação do real, que poucos terão coragem de
perguntar se ele existe objetivamente.
4. Quero fechar minhas considerações argumentando que as questões
teórico-metodológicas provocadas pelas pesquisas em História da Educação hoje não se
distinguem daquelas que se manifestam em qualquer outra pesquisa histórica; pelo menos, não
encontro razões lógicas ou epistemológicas para sustentar algo diferente. Por isso, não tenho
nenhuma disposição para sugerir que se combata intencional e organizadamente essas novas
tendências; porque, de um lado, considero qualquer iniciativa nesta direção antidemocrática e
fadada ao fracasso; de outro lado, porque através delas, adentra a Educação um gosto pelos
arquivos; uma curiosidade inquieta por novos temas; uma certa capacidade de interlocução
mais madura com outras áreas de conhecimento e, o que me parece muito promissor, arrefece
o viés imediatista, utilitarista e moralista que marcou o itinerário da História da Educação em
nossos meios acadêmicos.
98
Anais do IV Seminário Nacional
A leitura do grande historiador alemão Iggers, radicado nos Estados Unidos, apoia
prognósticos otimistas. No epílogo à segunda edição alemã de sua obra publicada em espanhol
com o título de La ciencia histórica en el siglo XX (1995), diz ele:
As revoluções dos anos entre 1989 e 1991 na Europa do Leste e na União
Soviética colocaram uma série de questões adicionais para a ciência
histórica. Ninguém pode predizer a repentina derrubada dos sistemas do
socialismo real ou da rápida reunificação da Alemanha, conseqüência
daquela fato. Não se podia prever a mudança radical de 1989 com os
métodos da ciência histórica, porém, a posteriori, pode-se fazer o intento de
explicar como se chegou a ele. A história não é uma ciência que pode fazer
afirmações exatas acerca do futuro, porém é uma ciência retrospectiva, que
pode e deve intentar explicar o passado para entendê-lo.
Nenhuma das três grandes correntes de investigação que tratamos neste
livro, a saber, a história política, narrativa, que se orienta para pessoas e
acontecimentos; a história social, orientada para as estruturas e os
processos; e a antropologia histórica, orientada para as experiências vitais,
encontra-se em condições de dar uma explicação satisfatória. Porém, juntas
podem contribuir para uma compreensão dessas transformações
revolucionárias. (Iggers, 1995, pp. 115-116)
Se não me disponho a elaborar um roteiro de críticas epistemológicas às novas
tendências das pesquisas em História da Educação, em contrapartida, disponho-me a confessar
o que me tem provocado, efetivamente, espanto e preocupação. Tenho me espantado com a
incapacidade dos que se iniciam nos estudos e pesquisas históricas, incapacidade da qual não
estão isentos os mais veteranos, de formular perguntas que digam respeito às suas fontes e, em
relação a elas, sugerir hipóteses explicativas.
Por certo essas limitações que encontram, hoje, guarida no generoso campo da história
cultural, não guardam relação com qualquer problema de natureza epistemológica contido
nesse campo. Esse é um grave resultado do processo de deterioração do nosso sistema de
ensino e de pauperização dos nossos meios de comunicação de massa. Aliás, sinteticamente,
eu poderia dizer que esse é um dos sintomas graves da crise cultural na qual estamos
mergulhados, em relação a qual a História Cultural, como qualquer outra vertente da História,
tem muito pouco ou quase nada a fazer.
Bibliografia
BARREIRA, Luiz C. (1995). História e historiografia: as escritas recentes da História da
Educação Brasileira (1971-1988. Tese de doutoramento da Faculdade de Educação da
Unicamp.
99
HISTEDBR - Grupo de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil”
BONTEMPI Jr., Bruno (1995). História da Educação Brasileira: o terreno do consenso.
Dissertação de mestrado, Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História e
Filosofia da Educação da PUC/SP.
BURKE, Peter. (1992a). A escrita da História: novas perspectivas. BURKE, Peter (org.). São
Paulo: Ed. Unesp.
____________. (1992b). O mundo como teatro: estudos de antropologia histórica. Lisboa:
Difel.
CARVALHO, Laerte R. (1971). A educação brsasileira e sua periodização. CARVALHO,
Laerte R. (org.). Introdução ao estudo da História da Educação Brasileira. Encontro
Internacional de Estudos Brasileiros, I Seminário. São Paulo: USP, 1971, pp.1-12.
CHARTIER, Roger. (1990). A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa:
Difel, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
DARTON, Robert. (1990). O beijo de Lamourette: mídia, cultura e revolução. São Paulo:
Companhia das Letras.
EVANGELISTA, Olinda. (1997). Formação docente em nível superior: O Instituto de
Educação da Universidade de São Paulo (1934-1938). Tese de doutorado , Programa de
Estudos Pós-Graduados em Educação: História e Filosofia da Educação da PUC/SP.
HUNT, Lynn. (1992). A nova história cultural. São Paulo: Martins Fontes.
IGGERS, Georg G. (1995). La ciencia histórica en el siglo XX. Barcelona: Labor.
KUHN, Thomas S. (1975). A estrutura das revoluções científicas, São Paulo: Perspectiva.
LEPENIES, W. (1983). Contribution à une histoire des rapports entre la sociologie et la
philosophie. Actes de la Recherche en sciences sociales (Paris), v. 47-48, p.37-44.
NUNES, Clarice. (1996). Ensino e historiografia da educação: problematização de uma
hipótese. Revista Brasileira de Educação, n.1, pp. 67-79.
TREVISAN, Péricles. (1976). Discurso pedagógico e modelo de cientificidade. 43-82.
NAGLE, Jorge (org.). Educação e linguagem. São Paulo: Edart.
WARDE, Mirian Jorge. (1990). Contribuições da história para a educação. Em Aberto,
Brasília, 3-11, n. 47.
___________________. (1997). Para uma história disciplinar: psicologia, criança e pedagogia.
Marcos Cezar de Freitas (org.). História social da infância no Brasil. São Paulo: Cortez,
pp.
100
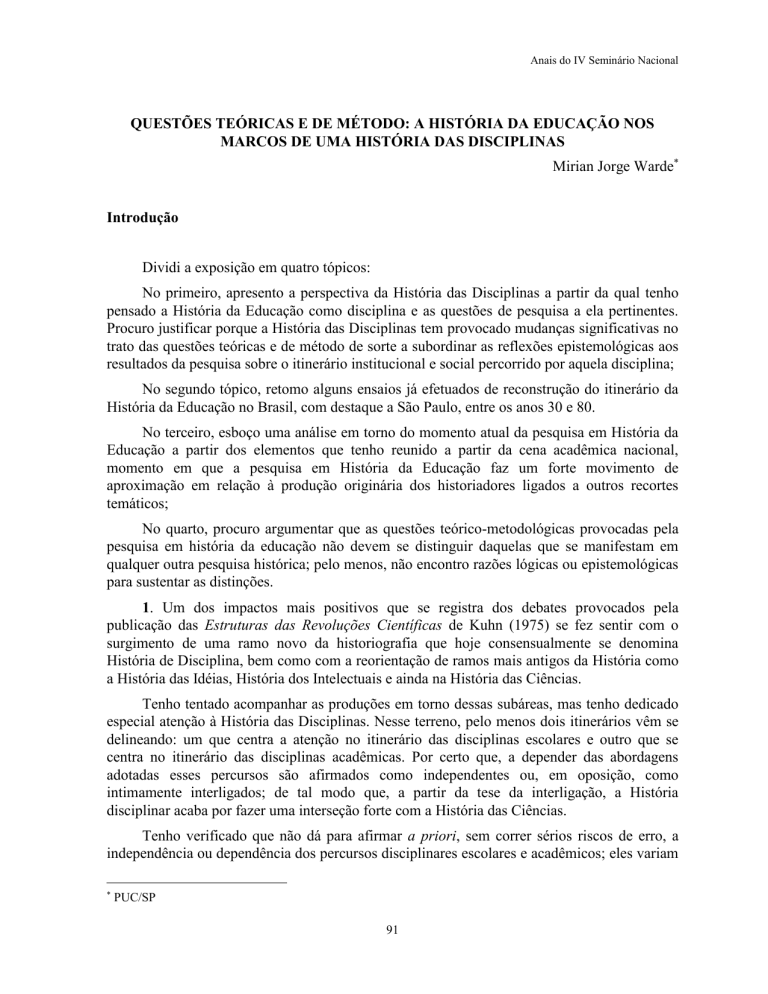
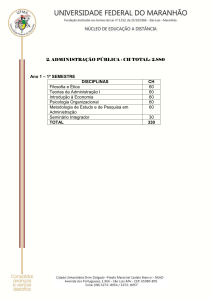
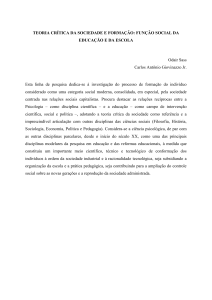

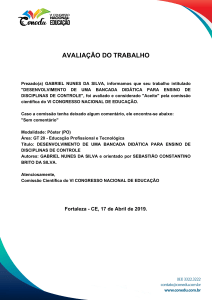
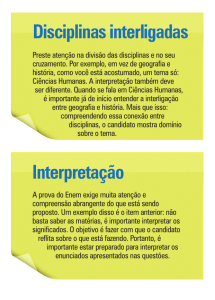
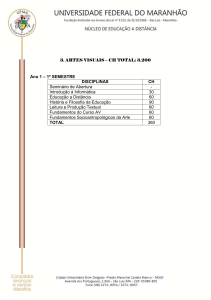
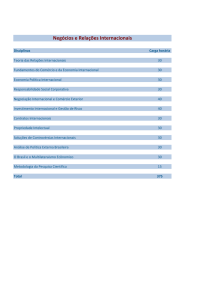
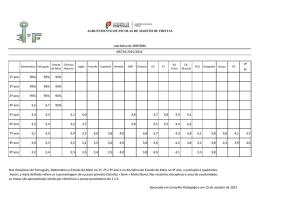
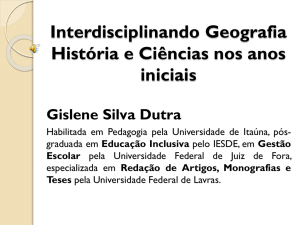
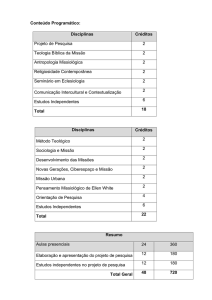

![PPGASMN[F-8]Formulário para Equivalência de Disciplinas](http://s1.studylibpt.com/store/data/002273487_1-b2aff2723ecce70032f0720aad39ccc9-300x300.png)