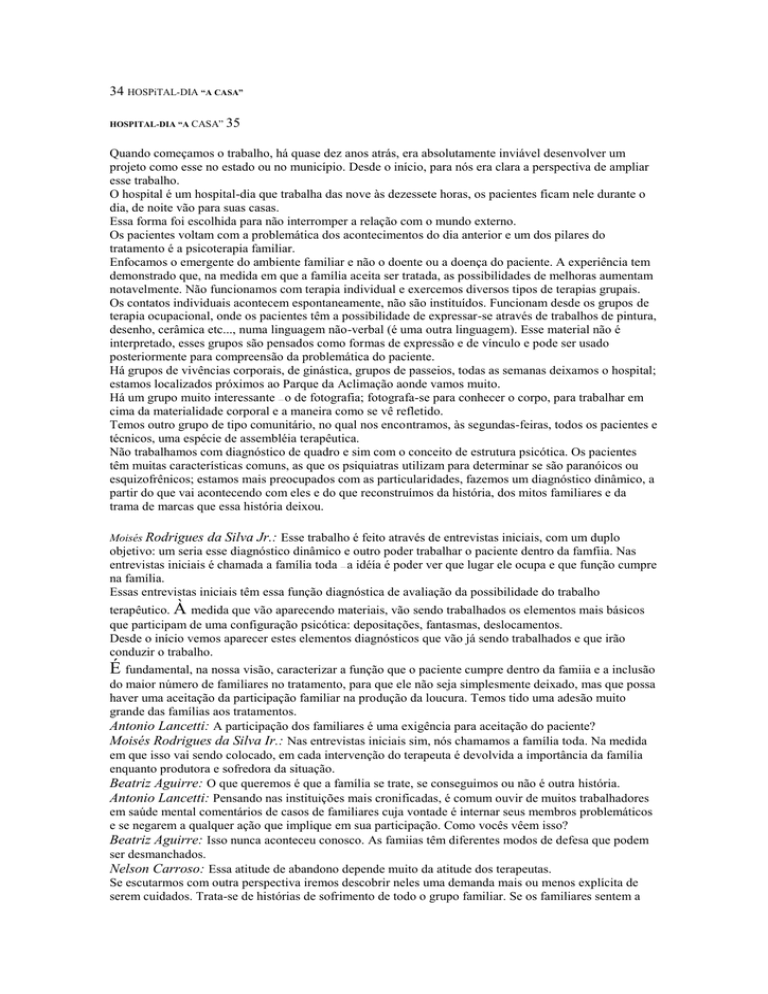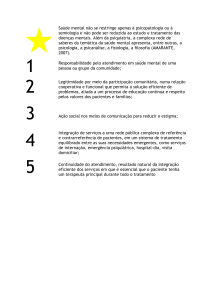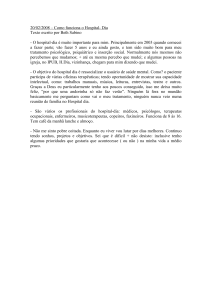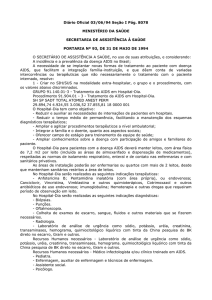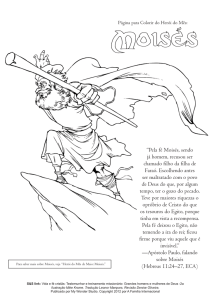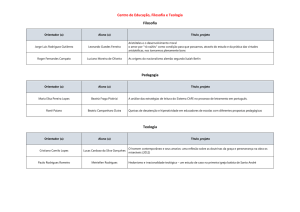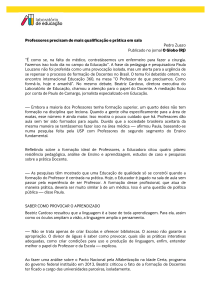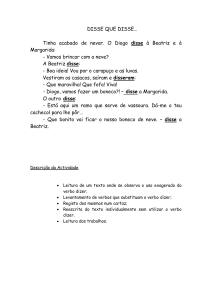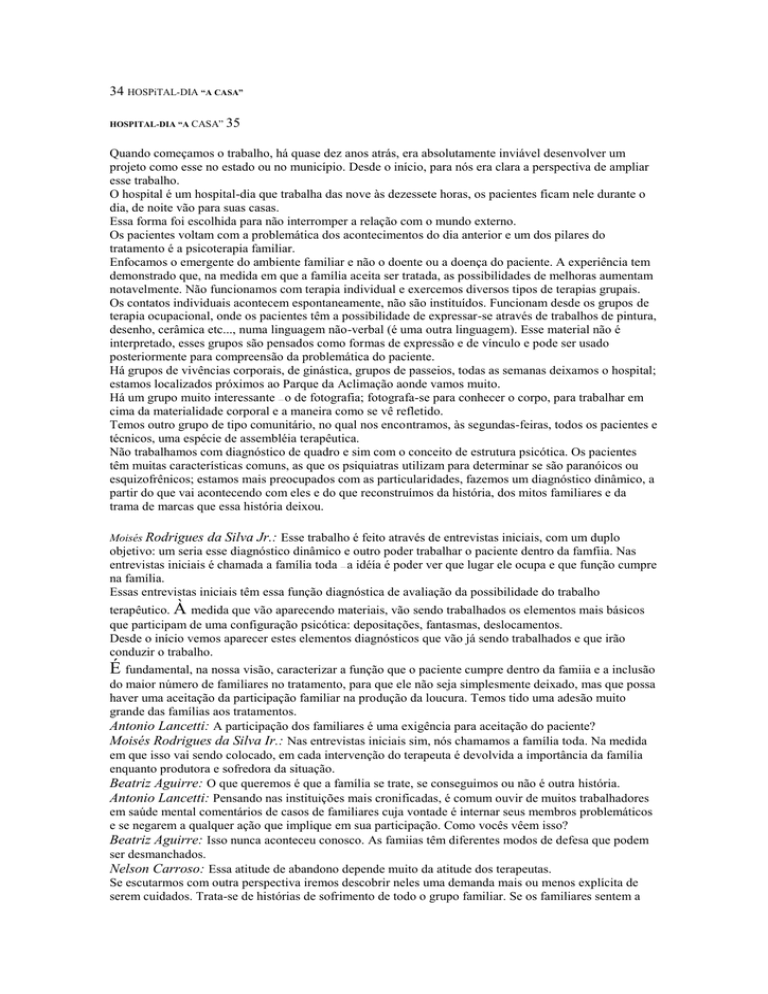
34 HOSPiTAL-DIA “A CASA”
HOSPITAL-DIA “A CASA”
35
Quando começamos o trabalho, há quase dez anos atrás, era absolutamente inviável desenvolver um
projeto como esse no estado ou no município. Desde o início, para nós era clara a perspectiva de ampliar
esse trabalho.
O hospital é um hospital-dia que trabalha das nove às dezessete horas, os pacientes ficam nele durante o
dia, de noite vão para suas casas.
Essa forma foi escolhida para não interromper a relação com o mundo externo.
Os pacientes voltam com a problemática dos acontecimentos do dia anterior e um dos pilares do
tratamento é a psicoterapia familiar.
Enfocamos o emergente do ambiente familiar e não o doente ou a doença do paciente. A experiência tem
demonstrado que, na medida em que a família aceita ser tratada, as possibilidades de melhoras aumentam
notavelmente. Não funcionamos com terapia individual e exercemos diversos tipos de terapias grupais.
Os contatos individuais acontecem espontaneamente, não são instituídos. Funcionam desde os grupos de
terapia ocupacional, onde os pacientes têm a possibilidade de expressar-se através de trabalhos de pintura,
desenho, cerâmica etc..., numa linguagem não-verbal (é uma outra linguagem). Esse material não é
interpretado, esses grupos são pensados como formas de expressão e de vínculo e pode ser usado
posteriormente para compreensão da problemática do paciente.
Há grupos de vivências corporais, de ginástica, grupos de passeios, todas as semanas deixamos o hospital;
estamos localizados próximos ao Parque da Aclimação aonde vamos muito.
Há um grupo muito interessante o de fotografia; fotografa-se para conhecer o corpo, para trabalhar em
cima da materialidade corporal e a maneira como se vê refletido.
Temos outro grupo de tipo comunitário, no qual nos encontramos, às segundas-feiras, todos os pacientes e
técnicos, uma espécie de assembléia terapêutica.
Não trabalhamos com diagnóstico de quadro e sim com o conceito de estrutura psicótica. Os pacientes
têm muitas características comuns, as que os psiquiatras utilizam para determinar se são paranóicos ou
esquizofrênicos; estamos mais preocupados com as particularidades, fazemos um diagnóstico dinâmico, a
partir do que vai acontecendo com eles e do que reconstruímos da história, dos mitos familiares e da
trama de marcas que essa história deixou.
—
Moisés Rodrigues
da Silva Jr.: Esse trabalho é feito através de entrevistas iniciais, com um duplo
objetivo: um seria esse diagnóstico dinâmico e outro poder trabalhar o paciente dentro da famfiia. Nas
entrevistas iniciais é chamada a família toda a idéía é poder ver que lugar ele ocupa e que função cumpre
na família.
Essas entrevistas iniciais têm essa função diagnóstica de avaliação da possibilidade do trabalho
—
terapêutico. À medida que vão aparecendo materiais, vão sendo trabalhados os elementos mais básicos
que participam de uma configuração psicótica: depositações, fantasmas, deslocamentos.
Desde o início vemos aparecer estes elementos diagnósticos que vão já sendo trabalhados e que irão
conduzir o trabalho.
É fundamental, na nossa visão, caracterizar a função que o paciente cumpre dentro da famiia e a inclusão
do maior número de familiares no tratamento, para que ele não seja simplesmente deixado, mas que possa
haver uma aceitação da participação familiar na produção da loucura. Temos tido uma adesão muito
grande das famílias aos tratamentos.
Antonio Lancetti: A participação dos familiares é uma exigência para aceitação do paciente?
Moisés Rodrigues da Silva Ir.: Nas entrevistas iniciais sim, nós chamamos a família toda. Na medida
em que isso vai sendo colocado, em cada intervenção do terapeuta é devolvida a importância da família
enquanto produtora e sofredora da situação.
Beatriz Aguirre: O que queremos é que a família se trate, se conseguimos ou não é outra história.
Antonio Lancetti: Pensando nas instituições mais cronificadas, é comum ouvir de muitos trabalhadores
em saúde mental comentários de casos de familiares cuja vontade é internar seus membros problemáticos
e se negarem a qualquer ação que implique em sua participação. Como vocês vêem isso?
Beatriz Aguirre: Isso nunca aconteceu conosco. As famiias têm diferentes modos de defesa que podem
ser desmanchados.
Nelson Carroso: Essa atitude de abandono depende muito da atitude dos terapeutas.
Se escutarmos com outra perspectiva iremos descobrir neles uma demanda mais ou menos explícita de
serem cuidados. Trata-se de histórias de sofrimento de todo o grupo familiar. Se os familiares sentem a
possibilidade de ser tratados, é muito difícil que eles abandonem o paciente e rejeitem de maneira taxativa
qualquer inclusão deles no tratamento.
Beatriz Agufr,.e: Nesse percurso muitos membros da família desaparecem, às vezes familias inteiras
faltam a várias sessões e depois voltam; isso depende da dinâmica de cada família.
Geralmente são pessoas que já passaram por vários hospitais psiquiátricos, pacientes excessivamente
medicados. A tendência nesses processos é haver uma separação entre os “sadios” do resto do grupo
familiar e o “doente” que não quer “curar-se”.
Nós fazemos um reconhecimento do sofrimento da família, da sua necessidade de ser cuidada.
E como se a família falasse: “tratem-no, tratem a loucura dele, nós vamos embora...”, mas, a partir do
momento em que seu sofrimento é reconhecido, a possibilidade de abandono é muito menor.
Há terapeutas que dizem claramente: “Eu não quero tratar a família, tenho ódio dela, estou identificado
com o paciente”. Uma pessoa nessas condições não poderia conduzir tal processo, pois isso iria ser uma
briga mais que um tratamento.
São necessárias várias gerações para produção de uma pessoa psicótica; assim, é preciso saber a história
familiar que inclua os pais, os pais dos pais enfim que, além da situação atual, saiba-se a história
pregressa. Por isso nos preocupamos em reconstruir cuidadosamente as histórias, que posteriormente
poderão ter significado.
Moisés Rodrigues da Silva Ir.: De maneira caricata, podemos ver a família Como um bando de
maldosos que mecanicamente enlouquecem um de seus integrantes.
Se mudarmos essa posição, poderemos entender a psicose como uma produção histórica dentro de uma
família; é aí onde estamos, onde estamos intervindo. Não estamos nem desistindo da família nem lutando
contra ela. A nossa questão é encontrar os pontos de sofrimento e enlouquecimento dentro da família e ir
lidando com isso.
Este espaço garante urna continência básica. A família está cansada, agredida pelo paciente, as queixas
são as mais óbvias. Escutan:
do essas queixas, explicitam-se as demandas da própria família. E ela que carrega essas torções estruturais
que determinam um membro que rompe de uma forma delirante ou alucinada.
Nelson Carroso: Esse processo de circulação do sintoma dentro do grupo familiar está às vezes
marcado por mentiras, mal-entendidos, agressões, e é de grande complexidade para nós terapeutas. Por
isso nós trabalhamos em co-terapia. Um participa mais, Outro observa, depois trocam, pois o trabalho
exige um constante movimento de aproximação e distanciamento.
—
HOSPITAL-DIA “A CASA” 37
Luiza Santa Crur O que acontece quando a situação fica muito crítica no fim de semana?
Beatriz Aguirre: Há urna grande disponibilidade por parte da equipe; às vezes o paciente está agressivo,
não quer tomar remédio, a mãe está passando mal, o pai se deprime... Nesses casos utilizamos muito o
telefone, conversamos com um, com outro, tentamos acalmá-los, aparar as brigas. Quando o vinculo está
estabelecido, essa situação de proximidade funciona.
Quando o paciente está muito isolado, não consegue comunicar- se ou sair de casa, utilizamos o que
chamamos de acompanhante terapêutico. Os acompanhantes terapêuticos são um grupo de pessoas
treinados para poder ficar algumas horas com ele em casa ou na rua, é o que antigamente se chamava
“amigo qualificado”; nós a mudamos por achar essa denominação muito confusa.
Nelson Carroso: O acompanhante terapêutico é um prolongamento da instituição. Ele acompanha o
paciente na sua casa, na rua. Sua função é servir de vinculo entre o paciente e o mundo. Para nós é muito
importante, ele tem o respaldo institucional, recebe uma formação de três anos de seminários e
supervisões. Ele é chamado quando o paciente apresenta maior gravidade.
Moisés Rodrigues da Silva Ir.: Essa “maior gravidade” refere-se a dificuldades de realizar um vínculo
social, não estamos querendo dizer “mais agitado”.
Isso muda a perspectiva do hospital psiquiátrico, que considera mais grave a quem molesta mais. Esse
tipo de concepção proporciona um acompanhante que na prática é um vigilante.
Nelson Carroso: Há situações de muita ansiedade tanto da família como do paciente, essas são as
situações prévias de uma internação. O acompanhante terapêutico é fundamental para o processamento
dessa ansiedade e para evitar que o paciente seja internado ou preso.
Moisés Rodrigues da Silva Ir.: A família suporta muito mais do que se supõe, fundamentalmente se ela
tem um lugar onde possa ancorar a ansiedade que gera a vivência psicótica. E importante frisar a
continência da instituição em relação à situação. Há permanente- mente uma fantasia de estouro, mas em
quase dez anos de trabalho internamos quatro ou cinco pacientes. Foram casos de erupções violentíssimas
com agressão física ou iminência de suicídio. Essa iminência, nos poucos casos de internação, foi bem
concreta.
A presença da morte não é hipotética nem teórica; com esse limite é muito difícil lidar.
36 HOSPITAL-DIA “A CASA”
38 HOSPITAL-DIA “A CASA”
HOSPITAL-DIA “A CASA” 39
Há uma sensibilidade que os terapeutas vão desenvolvendo, que eu chamaria de avaliação passo a passo;
há muitas situações nas quais não dormimos de noite, sonhamos abundantemente, e temos vontade de
medicar fortemente para conter, imersos no processo de contratransferênda.
Fernanda Nicácio: E importante ressaltar isso que vocês acabam de colocar, pois nos hospitais se ditam
ordens do tipo “tem que internar”. Podemos considerar que a instituição não tem infra-estrutura ou
competencia para tratar seus pacientes, mas isso não quer dizer que tenha que internar cada vez que
enfrentamos uma crise aguda.
Beatriz Aguirre: Faz dois anos que supervisiono a equipe do Ambulatório da Vila Brasilândia. A equipe
conseguiu montar o PIM (Programa de Intensidade Máxima), que funciona diariamente. Todos os dias há
um grupo diferente que funciona em co-terapia, com a disponibilidade dos recursos do ambulatório.
No segundo semestre de 1986, os pacientes internados podem ser contados com os dedos de uma mão,
dos quarenta ou cinqüenta que chegam por dia a esse ambulatório.
Então a questão é como pensar a psicose e o que fazer, como trabalhá-la. Na Vila Brasilândia formavamse grandes listas de espera, nós pensamos numa estrutura chamada “grupos de espera”. Os grupos
terapêuticos e os de terapia ocupacional já não tinham mais vagas. Começavam a organizar grupos de 25
a trinta pacientes com cinco terapeutas, e mesmo alguns funcionários administrativos interessados em
participar; esses grupos funcionavam durante aproximadamente três horas. Vimos que o nível de
continência era muito grande, alguns pacientes mais graves passavam para grupos terapêuticos, outros,
depois de haverem permanecido um tempo não muito prolongado nesses grupos, experimentaram
melhoras significativas.
Há pouco tempo uma funcionária administrativa contava que o fato de ter perdido o medo e mudado a sua
visão da loucura, tinha modificado a forma de aproximação, ou seja, agora ela pode perguntar o que está
acontecendo, acalmar, em suma receber o paciente.
A agressividade tão temida é uma forma de reação à maieira como os paciente são tratados.
Voltando para “A Casa” por que tão poucos pacientes ficam agressivos? Porque quando isso acontece
nós chegamos perto, damos um abraço, conversamos.
—
O terapeuta de psicóticos tem de colocar o corpo e seu desejo, a pulsão de vida está sob nosso
encargo.
Se perdermos o medo, estaremos ao lado e por um tempo nos encarregamos da sua vida, os
pacientes e as suas famílias ficam e se modificam.
Nos grupos de espera do Ambulatório da Vila Brasilândia participam muitos familiares de
pacientes. Esse lugar proporciona a possibilidade de poder falar.
Daí que não é necessário uma instituição privada para realizar um trabalho deste tipo.
Acredito que nos centros de saúde e nos ambulatórios é possível fazer um trabalho não
hospitalizante.
Outras questões são as interrupções das experiências que as autoridades do Ministério de Saúde
realizaram e os baixos salários que os trabalhadores recebem.
Creio que se demonstrou que é possível fazer um trabalho diferente.
Jabi: No ambulatório foi possível realizar um trabalho com famílias?
Beatriz Aguirre: Foi, não se trabalhou com uma família e sim com grupos de três ou quatro
famílias, foi preciso transformar os modelos.
Moisés Rodrigues da Silva Jr.: O que é um programa de atendimento? Acho que são
dispositivos de continência que vão sendo montados de acordo com a situação, não algo
predeterminado.
Nos países desenvolvidos essas experiências são planejadas com um mínimo de dez a quinze
anos, independentemente da orientação política dos governos em curso.
Temos pouca coisa escrita sobre o atendimento de psicóticos, na “Casa” fazemos grupos de
teatro e outros que não sabemos bem aonde conduzem.
Além da preparação técnica e da disponibilidade do técnico, há urna pesquisa constante que se
desenvolve.
Nelson Carroso: Por mais preparação técnica que exista, se não houver uma enorme vontade
por parte da equipe, a experiência não funciona.
Se nós tirarmos o corpo, não há pesquisa nem contenção. E aí os técnicos ficam expostos a
agressões e os pacientes endereçados para o hospício.
Moisés Rodrigues da Silva Jr.: O terapeuta de psicóticos precisa ser um cavalo, precisa poder
carregar, sustentar...
40 HOSPITAL-DIA “A CASA”
Beatriz Aguirre: Participei recentemente de um seminário sobre equipe multiprofissional, na Escola
Paulista de Medicina. Há uma certa idéia de que, juntando técnicos de diversas áreas, vai poder ser
resolvido o problema, uma espécie de loteamento de especialidades onde cada qual preserva seu poder e
não o compartilha; dessa maneira nunca se forma uma equipe.
Um exemplo diferente seria o da Vila Brasilândia onde não se faz distinção entre psiquiatra, psicólogo,
farmacêutico. Todos os trabalhadores participam do PIM. Por isso é necessária a supervisão, para que o
saber possa circular e as pessoas disponham de um lugar onde possam referir a angústia e o erotismo que
os pacientes colocam em circulação e que atravessa os técnicos intensamente, as dificuldades interequipe;
dificilmente isso vai poder ser feito sem alguém de fora.
Na “Casa” temos supervisão institucional, desde o começo, pelo menos uma vez por mês.
Achamos imprescindível a supervisão institucional para instituições que trabalham com psicóticos, e
provavelmente para todas as instituições de saúde mental.
Moisés Rodrigues da Silva Ir.: Nos ambulatórios nos chamaram a princípio para implementar o PIM.
Fomos lá ver o que eles estavam fazendo, que recursos tinham. Foi impressionante ver a quantidade de
sintomas que começaram a aparecer nas equipes.
A questão não é implementar um programa, senão a possibilidade que uma instituição tem de suportar
essa figura altamente disruptiva que é o psicótico.
Não é por democratismo que se introduz o funcionário administrativo no atendimento, é por razões
clínicas.
Os administrativos que estão na porta de entrada, que recebem os telefonemas, as famílias, são os que
suportam e atendem.
Nas recepções de um desses ambulatórios, há um balcão altíssimo e as cadeiras são baixas. Porém, este
balcão não consegue resolver o problema, os atendentes estão apertados entre os arquivos e essa espécie
de parachoque.
Eles estão jogados nesse impacto inicial com o louco, com o beba- do, com a família da criança eles são
os que fazem o acolhimento.
Jabi.: E os médicos, como se integram?
Moisés Rodrigues da Silva Ir.: Os médicos e os administrativos são dois pólos sintomáticos. Os
pacientes chegam sem medicação ou extremamente mal medicados, por isso é importante a presença do
psiquiatra na triagem.
...,
HOSPITAL-DIA “A CASA” 41
Mas, nesse ambulatório, à diferença dos administrativos, que estavam expostos e angustiados, os médicos
estavam recolhidos nos consultórios. Aconteceu uma situação muito interessante: quando começou o
PIM, eles reformaram as salas grandes, onde podiam atender grupos; subdividiram em compartimentos
pequenos de modo a aumentar o número de consultórios para assim se proteger do contato inicial;
conseguiram fazer isolamento visual mas não acútico; o pessoal administrativo ouvia o que se passava lá
dentro e começou a perceber que a divisão era falaciosa; os psiquiatras também se angustiavam porque
eram ouvidos.
Antonio Lancetti: Num outro ambulatório, situado na Zona Leste de São Paulo, em São Miguel Paulista,
além de ter um prédio pequeno e uma quantidade imensa de usuários, a direção boicotava todo tipo de
ação grupal.
As pessoas esperavam, em grande número, num local que era um misto de sala e corredor, a tensão
logicamente era grande, era atendido primeiro aquele que entrava em crise. Criou-se uma regra implícita.
Quando saí de lá, depois de ter vivenciado meu maior fracasso como supervisor institucional, eles tinham
incorporado à equipe um guarda policial.
Beatriz Aguirre: O problema não é só do médico, há muitos psicólogos que se comportam “como
médicos”, não informam o que acontece nos grupos, sobrecarregam as agendas dos psiquiatras e tendem a
fazer só atendimentos individuais.
Antonio Lancetti: E que se toma como “natural” esse modo bipessoai; nós vimos, neste curso, que na
medicina gregaa consulta era sempre pública, em grupos. Só no Renascimento começou essa prática
individualista que se exacerbou no capitalismo. Além disso, o atendimento médico individual é uma
forma arcaica que experimentamos nos primeiros anos de vida.
Nos ambulatórios isso se traduz em situações que poderiam ser exemplificadas assim: “eu não vim aqui
para conversar, só quero levar meu remédio...” é uma forma de resistência.
Moisés Rodrigues da Silva Jr.: Por que proporcionar o grupo noatendimento a psicóticos? Há alguma
resistência na psicose ao contato e sempre existe um nível de violência. Há uma insistência do técnico de
ocupar um lugar para o qual não foi chamado, ocupar esse lugar como um cavalo para ser montado por
uma estrutura distorcida. Ocupar uma significação por insistência, pelo menos nos primeiros tempos. São
tentativas de intrusão nesse mundo, sem interpretação, sem juízos de valor, para poder participar desse
mundo delirante.
42 HOSPITAL-DIA “A CASA
—
É claro que isso causa inquietação e distirbio no técnico e um grande questionamento dele mesmo. Você
se coloca como um dispositivo, até poder estabelecer alguns nós que apontam para sua própria presença
dentro daquele mundo.
Se por um lado desperta uma grande impotência no técnjco, é nessas amarras que se vão poder potenciar
algumas organizações que por outra parte não são seqüenciais.
É nessa relação que se joga a possibilidade dessa pessoa não se matar, não continuar se enlouquecendo,
não se perder de si mesma.
Há momentos em que o terapeuta se torna parte desse si mesmo, a partir dessa relação vai se poder
estruturar um outro caminho para a vida dessa pessoa.
É um lugar afirmativo constituído desde o desejo do técnico.
Lúcia Lopez: E como o terapeuta entra na família?
Beatriz Aguirre: Com muito cuidado, porque as famílias são muito ambivalentes, por um lado querem
abandoná-lo e por outro eles têm a posse desse sujeito, eles são os donos. Temos que nos ir introduzindo
nesse lugar da falta radical, não da falta estruturante, da falta de desenvolvimento libidinal, de evolução
psíquica. Por outro lado é preciso ter cuidado para que a família não se sinta roubada, porque o terapeuta
ocupa um lugar muito importante.
São momentos críticos em que a família pode tirar o paciente do tratamento, não porque este não
funciona, mas por modificações dinâmicas. A família “perdeu” o paciente da casa deles para outra
“Casa”, ou outra família.
E preciso estar marcando a inclusão permanente de todos os membros da família, cuidando das
necessidades, sofrimentos, atuações que eles podem fazer.
Nelson Carroso: Há momentos em que é preciso dizer “chega”, é preciso separar o paciente da sua casa,
momentos em que adotamos atitudes diretivas.
Beatriz Aguirre: Isso é muito complicado, pois a família pode tomar ao pé da letra o que é dito. Numa
oportunidade tínhamos dito a uma mãe que ela não precisava “fazer nada”, então a mãe deixou de dar
comida, de atender o telefone, não acordava o filho para ir à clínica, boicotou o tratamento durante dois
meses, até que o rapaz entrou em surto, e ela dizia que estava atendo-se às ordens do doutor.
Lúcia Zanetta Eu trabalhei num hospital-dia para crianças psicótícas e elas estabeleciam contatos mais
estreitos com um terapeuta. Como é na “Casa” os pacientes só dispõem do grupo, ou estabelecem
relações diferenciadas com alguém em particular?
—
HOSPITAL-DIA “A CASA’ 43
Nelson Carroso: Evidentemente isso acontece, existem terapeutas escolhidos e vínculos mais fortes que
se dão com um terapeuta e uma família ou um paciente, isso acontece no grupo ou no corredor. Esse
terapeuta é quem liga para a família, quem se ocupa etc. são distintos tipos de vínculos, a escolha é dos
dois lados, às vezes sente que pode cuidar melhor de um paciente do que de outro.
Beatriz Aguirre: Há situações, afetos, que são transferenciais, que têm a ver com a sua história e outros
que não são transferendais, são essas experiências novas que o paciente nunca viveu.
Moisés Rodrigues da Silva Jr.: Às vezes esses vínculos parecem fundamentais e não são.
Aparentemente você vê realizar-se uma relação sólida, depois, quando fazemos supervisão, vemos que o
paciente está transferindo de modo maciço, repetindo relações familiares. A ambivalência é permanente,
o traço, se é só repetitivo, não muda nada, é preciso poder alimentar a relação com elementos novos.
Ao mesmo tempo você chapa e você excentriza. As vezes você faz uma imersão nesse mundo
enlouquecido e deixa a compreensão para depois. Por isso ao mesmo tempo que são importantes os
dispositivos psicoterápicos, também o são os não estruturados.
Por exemplo: Eu sou um dos coordenadores de um grupo de psicoterapia. Um dia cheguei ao hospital e
um paciente me abordou e disse: “ouvi vozes me dizerem que eu devia me jogar pela janela. Você acha
que estou entrando em surto de novo?”
Aí vem uma grande tentação de apelar para o arsenal médico- psicológico que a gente conhece mais,
perguntar que diziam as vozes, ou qualquer escuta que aponte para uma interpretação...
Em vez disso é preferível pôr uma mão no ombro, dar um abraço e dizer: “que duro é ouvir essas vozes,
mas que bom que você veio!”
O passo seguinte dependerá do que se articula nestes momentos, agora já numa situação mais
determinada.
Os momentos de grande angústia, para os terapeutas, estão fora dos grupos. Há momentos em que dá
pânico em todos os técnicos, por algo que está acontecendo na “Casa”, você encontra todos eles trancados
numa sala discutindo, por exemplo, a situação de fulano que não veio esse dia.
Beatriz Aguirre: Nesses espaços de circulação, antes ou depois do almoço, momentos de encontro não
estruturados, cada um se vai relacionando segundo escolhas aparentemente aleatórias. Nesses momentos é
preciso dar respostas muito diretas. Por exemplo, perante uma interrogação: “não, acho que você não vai
ficar louco”.
44 HOSPITAL-DIA “A CASA”
Essas escolhas acontecem também entre eles, se escolhem para contar histórias ou para estar juntos fora
dos horários da “Casa”.
O pessoal da cozinha, os administrativos ou as secretárias são papéis fixos, há alguns que se entrosam
com mais facilidade.
Elisabeth Meola: Como estão estruturados os grupos?
Nelson carroso: Têm aproximadamente quatro horas de atividades grupais e quatro não estruturadas.
Moisés Rodrigues: E muito importante a capacidade de brincar. Quando percebemos que perdemos o
humor ficamos muito preocupados.
Fernanda Nicácid: Acredito que a partir disso poderíamos pensar na produção da vida, ou melhor, em
novas formas de vida, o que inclui a saída dessas pessoas do hospital e as possibilidades de autosubsistência.
Nelson Carroso: Isso para os pacientes, mas também podemos pensar essas questões do lado dos
terapeutas.
Moisés Rodrigises: As dificuldades são sérias, mas para desenvolver um trabalho como este é
necessário apossar-se do que se faz. Eu, por exemplo, ganho hoje na “Casa” dois terços do que ganha um
psiquiatra na rede pública.
No ambulatório que supervisiono um dos grandes inconvenientes é que todas as ações estão atravessadas
pela burocracia institucional, e uma tendência a não responsabilizar-se pelo próprio trabalho.
Enquanto não ocuparmos o território, enquanto prepondera a ordem institucional, uma prática desse tipo
não pode ser bancada.
Estas práticas não dão estatística nem são rentáveis, porém a frustração é altíssima.
Antonio Lancetti: Não é rentável para o técnico, mas o paciente atendido em Hospital Psiquiátrico, seja
ele do Estado, privado, ou conveniado do INAMPS, custa muito mais que o paciente atendido em
ambulatório ou hospital-dia, a estrutura hospitalar é muito onerosa.
Mudando o foco: queria fazer alguns comentários sobre os aspectos nocionais. De um lado, vocês falam
em falta constituinte, falam em estrutura. De outro, vocês valorizam os encontros não planejados, as
práticas expressivas o encontro.
Há uma tensão entre um inconsciente representativo e um inconsciente produtivo.
Creio que mereceria uma importância maior a noção do encontro.
HOSPITAL-DIA “A CASA” 45
Beatriz Aguirre: É verdade, existe essa contradição. Além dessa tensão que você assinalou existe outra
derivada de um permanente estado de alerta. Quando se está ocupando esse lugar de produção ou
construção da vida, não se pode dar passos em falso, não se pode responder qualquer coisa. Não se pode
entrar na viagem psicótica simplesmente, é preciso saber o que se está fazendo no momento em que está
ocorrendo. Isso é algo que se vai incorporando no terapeuta de psicóticos, isso provoca um alto nível de
tensão.
Antonio Lancetti: E uma prática de desconstrução e construção simultâneas.
Beatriz Aguirre: Exatamente, o tempo toco. Me parece que esse nível de tensão ocorre, também, neste
encontro, eu pelo menos enquanto falo desses temas me angustio. Isto coloca a pergunta:
que fazer com os psicóticos, não somente na “Casa”, senão na sociedade mesma?
Moísés Rodrigues: Isto aconteceu neste encontro, foi difícil para vocês e para nós começar.
Beatriz Aguirre: A última colocação que quero fazer é que não deixamos de lado o contexto históricosocial.
É claro como mudou o conteúdo dos deliríos; nos primeiros anos os pacientes deliravam com Jesus
Cristo e as figuras tradicionais, e ultimamente deliram com os partidos políticos, com seus líderes, ou
seja, com outros modos de influência e de poder.
Antonio Lancetti: Esse é um problema complexíssimo, pois levanta a questão de como funciona o
social. Para a tradição psiquiátrica e psicanalítica, o social ou é anulado, ou entra como suplemento, a
ordem social é separada da ordem psíquica e da biológica.
Deleuze e Guattari dizem que não há delírios sem elementos histórico-sociais, para eles o inconsciente é
imediatamente social.
O encontro é proporcionador de muitos questionamentos, para nós é múito importante, espero que
possamos divulgar e reproduzir estas experiências.
Silvio Yasui
CAPS: APRENDENDO A PERGUNTAR
Ao ser convidado para escrever este texto sobre o Centro de Atenção Psicossocial “Professor
Luís da Rocha Cerqueira”, ou simplesmente CAPS, imaginei não ser uma tarefa das mais
complexas. Porém, folhas e folhas amassadas depois, percebi o quanto é complicado escrever
sobre um trabalho em que estou cotidianamente implicado. E como descrever uma viagem
quando nela ainda se está. Pensei em diversas maneiras de começar, mas, cada vez que olhava
para o papel, surgia um turbilhão de imagens, sentimentos e recordações que perturbavam
qualquer esforço de objetividade. Lembrei do Juqueri, onde comecei minha jornada pelo
território da saúde mental; seus amplos e belos jardins em contraste com a miséria e violência de
seus pátios internos onde os pacientes lentamente morriam; no entusiasmo que havia de alguns
profissionais em lutar para transformar aquela estrutura; nas moradoras do Lar Abrigado; na
minha saída compulsória; na última viagem de trem. Pensei na chegada ao CAPS; nos medos e
receios ao ingressar em um novo trabalho; ria vontade de aprender a começar tudo de novo; nos
novos companheiros. Pensei na importância que o curso deAgente de Saúde Mental do Sedes
teve para mim como espaço de referência teórica, afetiva, onde pude refletir sobre meu trabalho,
conhecer outras linhas e possibilidades de pensar, expor contradições, inseguranças e incertezas.
Depois de muito pensar e lembrar, decidi, afinal, fazer dessas recordações matéria-prima deste
texto. Se o leitor procura uma análise ou descrição rigorosa e detalhada do que é oCAPS, sinto
desapontá-lo. Em contrapartida, ofereço o que me é possível realizar neste momento: um
depoimento sincero de quem vive a história do CAPS e da saúde mental em São Paulo e que, de
dúvida em dúvida, acha que começa a aprender a perguntar. Como diz Guimarães Rosa: “Eu
quase nada não sei. Mas desconfio de muita coisa”.
Em certo lugar, num certo momento e com certas pessoas...
•Ao realizar um histórico sobre a assistência à saúde mental no Brasil, Resende (1987) afirma;
“Exdusão, eis aí, numa só palavra, a tendência central da assistência psiquiátrica brasileira,
desde seus primórdios até os dias de hoje, o grande e sólido tronco de uma