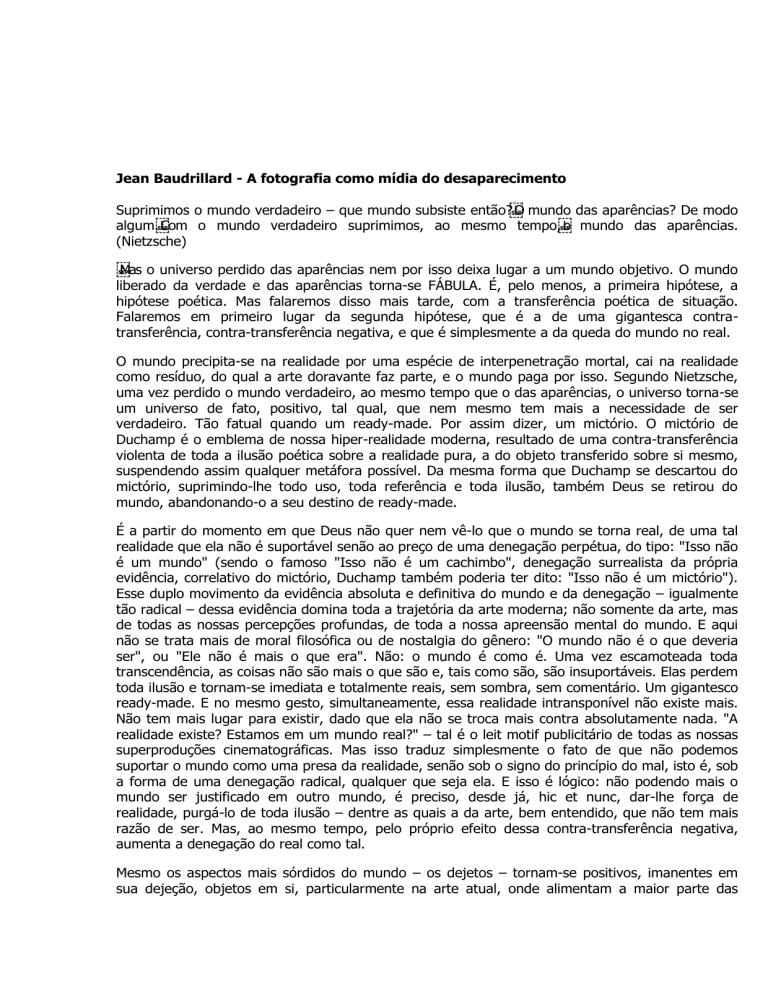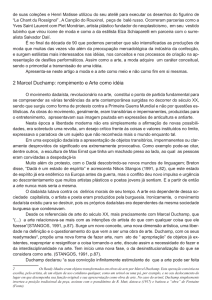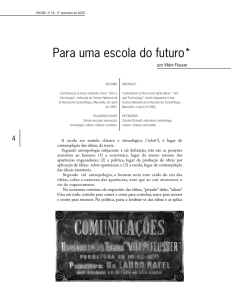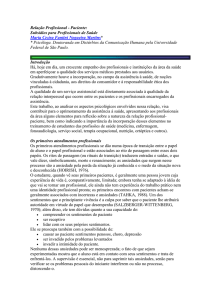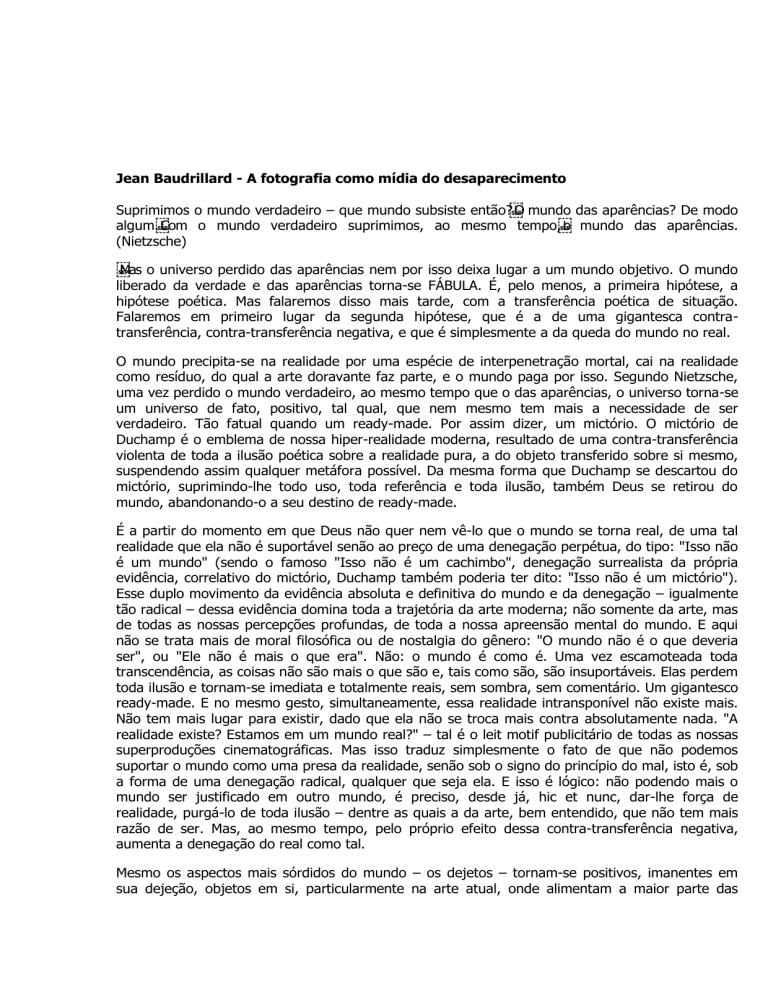
Jean Baudrillard - A fotografia como mídia do desaparecimento
Suprimimos o mundo verdadeiro – que mundo subsiste então?
O mundo das aparências? De modo
algum.
Com o mundo verdadeiro suprimimos, ao mesmo tempo,
o mundo das aparências.
(Nietzsche)
Mas o universo perdido das aparências nem por isso deixa lugar a um mundo objetivo. O mundo
liberado da verdade e das aparências torna-se FÁBULA. É, pelo menos, a primeira hipótese, a
hipótese poética. Mas falaremos disso mais tarde, com a transferência poética de situação.
Falaremos em primeiro lugar da segunda hipótese, que é a de uma gigantesca contratransferência, contra-transferência negativa, e que é simplesmente a da queda do mundo no real.
O mundo precipita-se na realidade por uma espécie de interpenetração mortal, cai na realidade
como resíduo, do qual a arte doravante faz parte, e o mundo paga por isso. Segundo Nietzsche,
uma vez perdido o mundo verdadeiro, ao mesmo tempo que o das aparências, o universo torna-se
um universo de fato, positivo, tal qual, que nem mesmo tem mais a necessidade de ser
verdadeiro. Tão fatual quando um ready-made. Por assim dizer, um mictório. O mictório de
Duchamp é o emblema de nossa hiper-realidade moderna, resultado de uma contra-transferência
violenta de toda a ilusão poética sobre a realidade pura, a do objeto transferido sobre si mesmo,
suspendendo assim qualquer metáfora possível. Da mesma forma que Duchamp se descartou do
mictório, suprimindo-lhe todo uso, toda referência e toda ilusão, também Deus se retirou do
mundo, abandonando-o a seu destino de ready-made.
É a partir do momento em que Deus não quer nem vê-lo que o mundo se torna real, de uma tal
realidade que ela não é suportável senão ao preço de uma denegação perpétua, do tipo: "Isso não
é um mundo" (sendo o famoso "Isso não é um cachimbo", denegação surrealista da própria
evidência, correlativo do mictório, Duchamp também poderia ter dito: "Isso não é um mictório").
Esse duplo movimento da evidência absoluta e definitiva do mundo e da denegação – igualmente
tão radical – dessa evidência domina toda a trajetória da arte moderna; não somente da arte, mas
de todas as nossas percepções profundas, de toda a nossa apreensão mental do mundo. E aqui
não se trata mais de moral filosófica ou de nostalgia do gênero: "O mundo não é o que deveria
ser", ou "Ele não é mais o que era". Não: o mundo é como é. Uma vez escamoteada toda
transcendência, as coisas não são mais o que são e, tais como são, são insuportáveis. Elas perdem
toda ilusão e tornam-se imediata e totalmente reais, sem sombra, sem comentário. Um gigantesco
ready-made. E no mesmo gesto, simultaneamente, essa realidade intransponível não existe mais.
Não tem mais lugar para existir, dado que ela não se troca mais contra absolutamente nada. "A
realidade existe? Estamos em um mundo real?" – tal é o leit motif publicitário de todas as nossas
superproduções cinematográficas. Mas isso traduz simplesmente o fato de que não podemos
suportar o mundo como uma presa da realidade, senão sob o signo do princípio do mal, isto é, sob
a forma de uma denegação radical, qualquer que seja ela. E isso é lógico: não podendo mais o
mundo ser justificado em outro mundo, é preciso, desde já, hic et nunc, dar-lhe força de
realidade, purgá-lo de toda ilusão – dentre as quais a da arte, bem entendido, que não tem mais
razão de ser. Mas, ao mesmo tempo, pelo próprio efeito dessa contra-transferência negativa,
aumenta a denegação do real como tal.
Mesmo os aspectos mais sórdidos do mundo – os dejetos – tornam-se positivos, imanentes em
sua dejeção, objetos em si, particularmente na arte atual, onde alimentam a maior parte das
performances e das instalações. A modernidade está dominada pelo apagamento da ordem
natural, é uma eliminação experimentalmente necessária, e a arte participa disso – toda a arte
contemporânea participa inteiramente, à sua maneira, ilustrando como dejeto, como dejeção,
todos os resíduos de uma ordem natural: o corpo, o rosto, as formas, as cores – tratando a si
mesma como dejeto e celebrando-se como função inútil.
A partir do século XIX, a arte se quer inútil. Ela faz disso um título de glória (o que não é de forma
alguma o caso na arte clássica na qual, em um mundo que não é ainda nem real, nem objetivo, a
questão da utilidade ou da inutilidade nem mesmo se coloca). É portanto lógico que exista uma
predileção pelo dejeto, que por definição também é inútil. Basta levar qualquer objeto à inutilidade
para fazer dele uma obra. É precisamente isso o que faz o ready-made, quando se contenta em
desinvestir um objeto de sua função, sem nele nada mudar, para dele fazer um objeto de museu.
Basta fazer do próprio real uma função inútil para dele fazer um objeto de arte, como uma presa
da devoradora estética da banalidade. O mesmo ocorre com as coisas antigas, revolutas e
portanto inúteis – elas adquirem automaticamente uma aura estética. Seu distanciamento no
passado equivale ao gesto de Duchamp, e elas também se tornam ready-mades, vestígios
nostálgicos empalhados tais quais.
Poderíamos extrapolar esse processo para a produção em seu conjunto, produção de coisas
materiais ou imateriais. A partir do momento em que essa produção atinge um patamar crítico, no
qual ela não se troca mais por nada em termos de riqueza ou de finalidade sociais, ela se torna
um gigantesco objeto surrealista, apreendido por uma estética devoradora, e inscreve-se em toda
parte em uma espécie de museu virtual. Museificação de todo o meio-ambiente técnico, tal como
um ready-made.