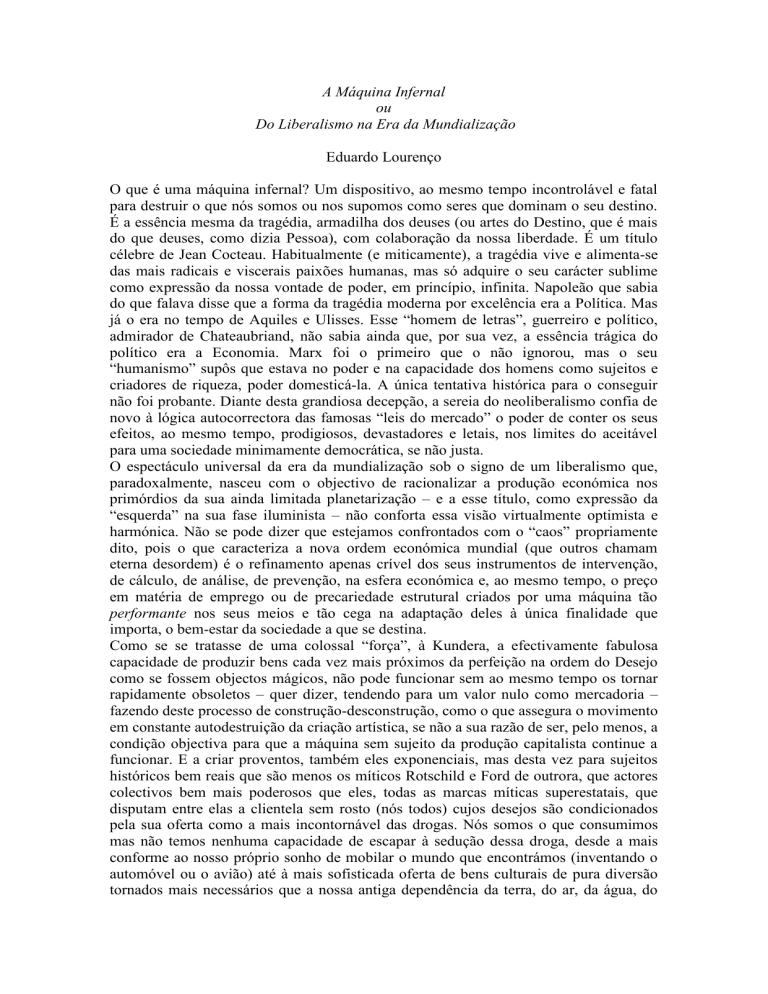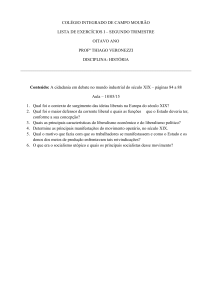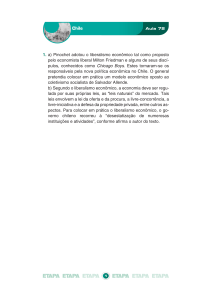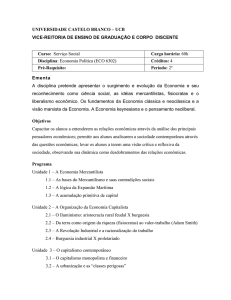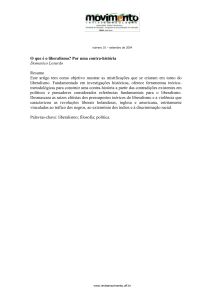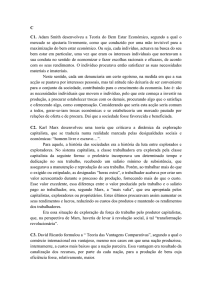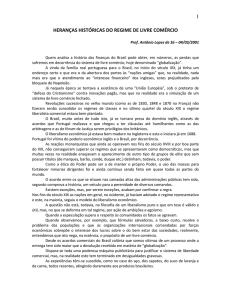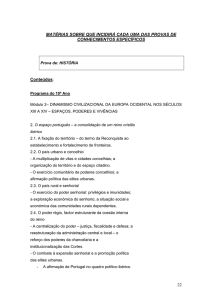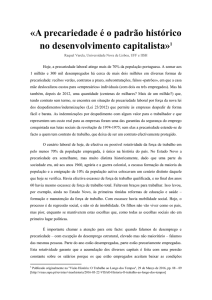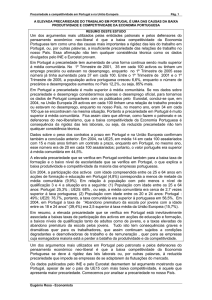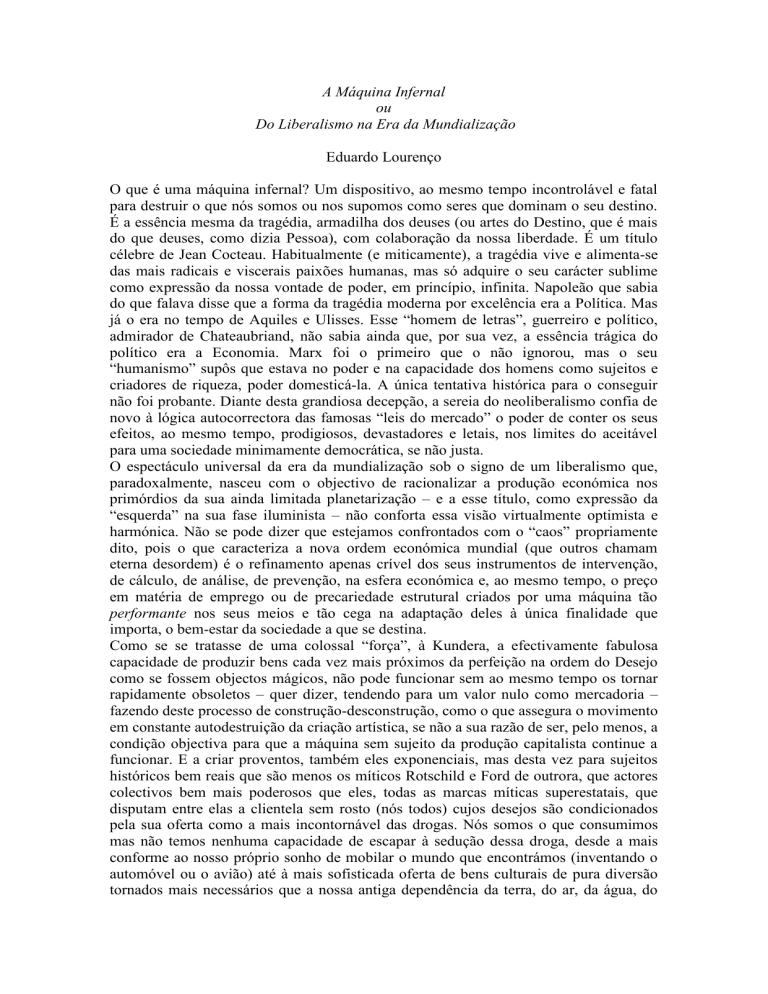
A Máquina Infernal
ou
Do Liberalismo na Era da Mundialização
Eduardo Lourenço
O que é uma máquina infernal? Um dispositivo, ao mesmo tempo incontrolável e fatal
para destruir o que nós somos ou nos supomos como seres que dominam o seu destino.
É a essência mesma da tragédia, armadilha dos deuses (ou artes do Destino, que é mais
do que deuses, como dizia Pessoa), com colaboração da nossa liberdade. É um título
célebre de Jean Cocteau. Habitualmente (e miticamente), a tragédia vive e alimenta-se
das mais radicais e viscerais paixões humanas, mas só adquire o seu carácter sublime
como expressão da nossa vontade de poder, em princípio, infinita. Napoleão que sabia
do que falava disse que a forma da tragédia moderna por excelência era a Política. Mas
já o era no tempo de Aquiles e Ulisses. Esse “homem de letras”, guerreiro e político,
admirador de Chateaubriand, não sabia ainda que, por sua vez, a essência trágica do
político era a Economia. Marx foi o primeiro que o não ignorou, mas o seu
“humanismo” supôs que estava no poder e na capacidade dos homens como sujeitos e
criadores de riqueza, poder domesticá-la. A única tentativa histórica para o conseguir
não foi probante. Diante desta grandiosa decepção, a sereia do neoliberalismo confia de
novo à lógica autocorrectora das famosas “leis do mercado” o poder de conter os seus
efeitos, ao mesmo tempo, prodigiosos, devastadores e letais, nos limites do aceitável
para uma sociedade minimamente democrática, se não justa.
O espectáculo universal da era da mundialização sob o signo de um liberalismo que,
paradoxalmente, nasceu com o objectivo de racionalizar a produção económica nos
primórdios da sua ainda limitada planetarização – e a esse título, como expressão da
“esquerda” na sua fase iluminista – não conforta essa visão virtualmente optimista e
harmónica. Não se pode dizer que estejamos confrontados com o “caos” propriamente
dito, pois o que caracteriza a nova ordem económica mundial (que outros chamam
eterna desordem) é o refinamento apenas crível dos seus instrumentos de intervenção,
de cálculo, de análise, de prevenção, na esfera económica e, ao mesmo tempo, o preço
em matéria de emprego ou de precariedade estrutural criados por uma máquina tão
performante nos seus meios e tão cega na adaptação deles à única finalidade que
importa, o bem-estar da sociedade a que se destina.
Como se se tratasse de uma colossal “força”, à Kundera, a efectivamente fabulosa
capacidade de produzir bens cada vez mais próximos da perfeição na ordem do Desejo
como se fossem objectos mágicos, não pode funcionar sem ao mesmo tempo os tornar
rapidamente obsoletos – quer dizer, tendendo para um valor nulo como mercadoria –
fazendo deste processo de construção-desconstrução, como o que assegura o movimento
em constante autodestruição da criação artística, se não a sua razão de ser, pelo menos, a
condição objectiva para que a máquina sem sujeito da produção capitalista continue a
funcionar. E a criar proventos, também eles exponenciais, mas desta vez para sujeitos
históricos bem reais que são menos os míticos Rotschild e Ford de outrora, que actores
colectivos bem mais poderosos que eles, todas as marcas míticas superestatais, que
disputam entre elas a clientela sem rosto (nós todos) cujos desejos são condicionados
pela sua oferta como a mais incontornável das drogas. Nós somos o que consumimos
mas não temos nenhuma capacidade de escapar à sedução dessa droga, desde a mais
conforme ao nosso próprio sonho de mobilar o mundo que encontrámos (inventando o
automóvel ou o avião) até à mais sofisticada oferta de bens culturais de pura diversão
tornados mais necessários que a nossa antiga dependência da terra, do ar, da água, do
fogo há muito domesticados através de uma vitória sobre eles que não era ainda a nossa
derrota. Ninguém analisou melhor esse processo como epopeia da Humanidade e ao
mesmo tempo como desumanização contínua dela, a famosa alienação, do que Karl
Marx. O quadro que ele traçou dessa produção alienante nunca foi tão convincente
como hoje sem que isso impeça que a máquina produtora, mau grado essa denúncia e a
luta histórica para a “humanizar”, continue com um sucesso, na aparência irresistível, a
criar um corpo pouco místico, o da nossa sociedade pós-industrial e pós-moderna que
não descobre uma outra finalidade para a sua acção criadora, quase divina, do que a de
reservar os seus bens materiais e imateriais para uma parte dos seus consumidores
privilegiados, deixando a imensa maioria da humanidade à porta do seu ofuscante
paraíso. Não é uma fase da famigerada e tão criticada hipótese de uma pauperização
crescente da sociedade, em tempos profetizada pelo marxismo. É uma paradoxal
coabitação de dois mundos (se assim se podem chamar) só unidos pelos laços da
exclusão ou de não-inclusão natural no novo processo quase já automático de produção
universal, em suma, um mundo e uma sociedade em estado de precariedade social
absoluta. O Sistema no seu conjunto é de uma coerência e de uma eficácia admiráveis,
mas ninguém, nem mesmo os actores reais que são a título cada vez mais excepcional
donos dele, são capazes de se subtrair à lógica de exclusão e de precariedade que este
fabrica para a imensa legião que dele se alimenta, como outrora vivia do trabalho tido
como inumano por excelência, o trabalho escravo. Levando a hipérbole às suas últimas
consequências, todos nós, apesar dos mecanismos privados ou estatais que podem ainda
assegurar um “trabalho” digno desse nome e duradoiro (a título individual ou colectivo),
desde Bill Gates ao mais anónimo dos seus “empregados”, somos virtualmente
deslocalizáveis. Pouco importa que nas sociedades herdeiras de um passado
minimamente “humanizado” uma parte das classes mais privilegiadas, no sentido
antigo, ou mais aptas a integrar-se nos mecanismos implacáveis do Sistema, ainda
vivam na crença de que o seu “futuro” lhes esteja garantido. Virtualmente, o tempo de
trabalho garantido tornou-se uma ficção que como tal deve ser tratada. No Sistema – um
modo de produção de amplitude global – não há refúgio, nem escapatória. A borboleta
operária chinesa com o seu bater de asas – o seu trabalho quase de graça – provocou nos
jardins ainda privilegiados da Europa, breves mas cada vez mais intensos “tsunamis”
sociais. A universalização do liberalismo utópico – que só foi possível porque nunca foi
conforme à regra de ouro da auto-regulação pelo equilíbrio ideal entre concorrentes
angélicos – agora que não pode usufruir de escapatórias para espaços exploráveis sem
fim – transformou a injustiça gritante das antigas desigualdades entre “ricos” e
“pobres”, mas apesar de tudo integrados negativamente no sistema a que serviam de
sangue, numa perfeita máquina “infernal” capaz de reciclar as suas próprias falhas. Até
quando? Marx esperava que o sistema implodiria do interior. Ainda não sucedeu. Mas
não é provável nem desejável que os proletários de luxo do arqui-capitalismo – os seus
engenheiros e managers – tenham tanta paciência como os antigos “danados da terra”.
Quem “deslocalizará” quem?