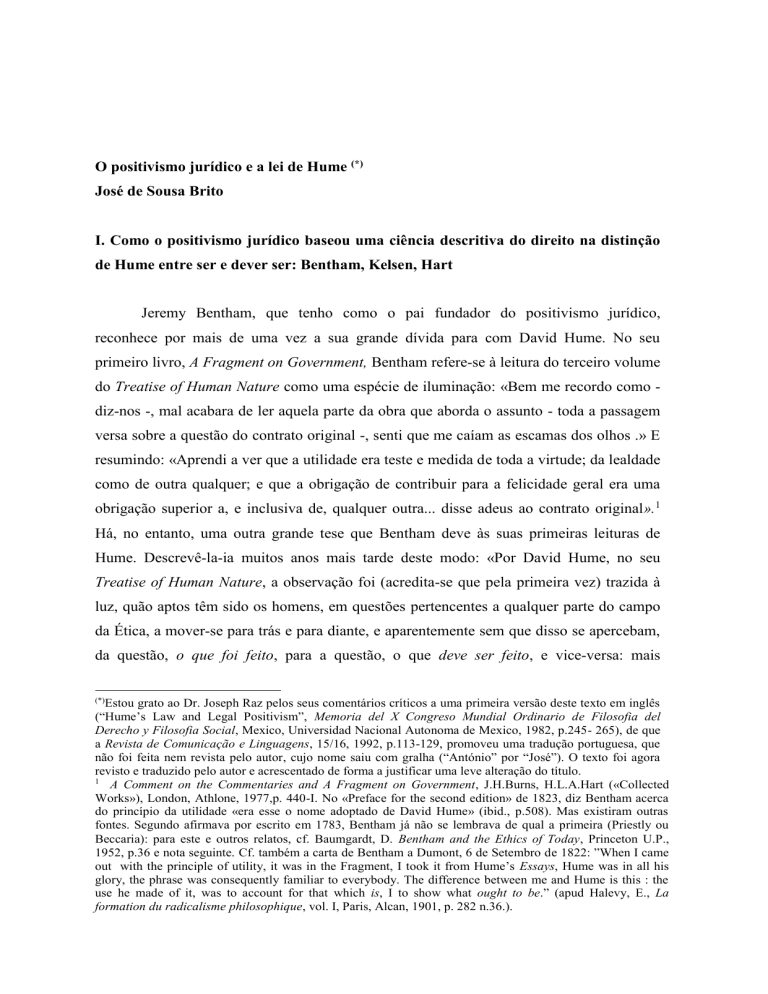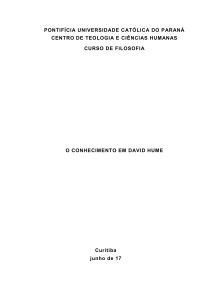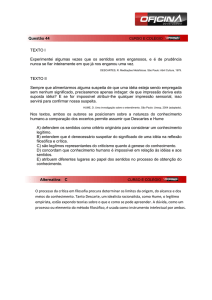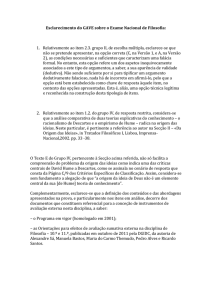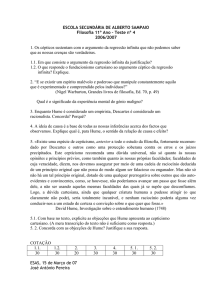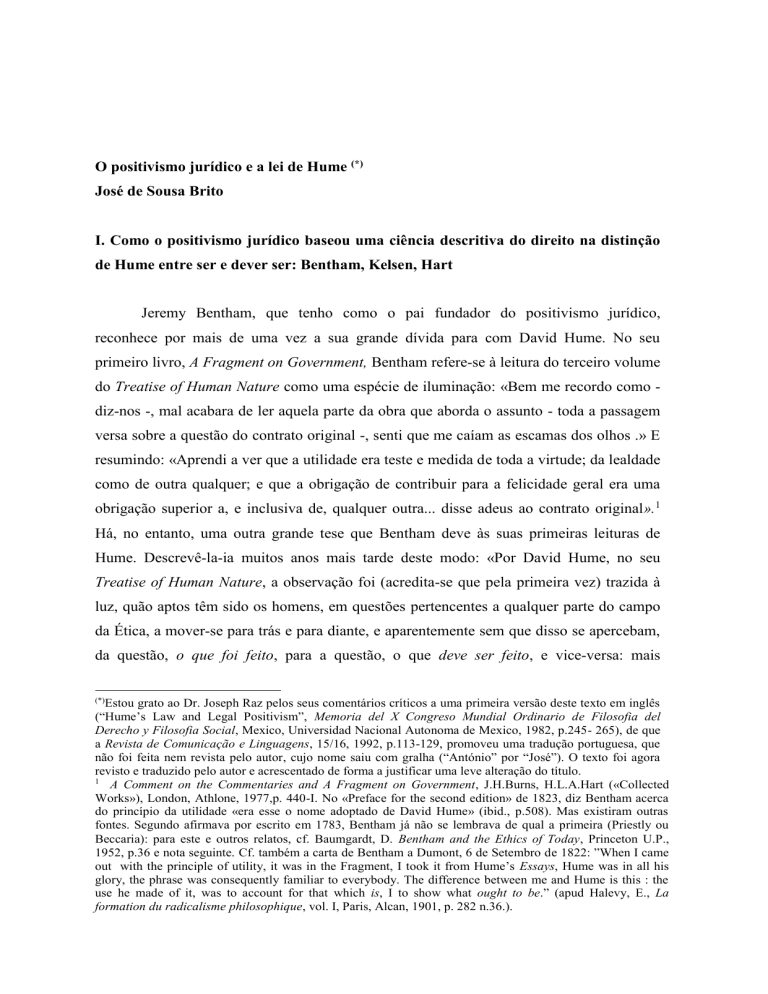
O positivismo jurídico e a lei de Hume (*)
José de Sousa Brito
I. Como o positivismo jurídico baseou uma ciência descritiva do direito na distinção
de Hume entre ser e dever ser: Bentham, Kelsen, Hart
Jeremy Bentham, que tenho como o pai fundador do positivismo jurídico,
reconhece por mais de uma vez a sua grande dívida para com David Hume. No seu
primeiro livro, A Fragment on Government, Bentham refere-se à leitura do terceiro volume
do Treatise of Human Nature como uma espécie de iluminação: «Bem me recordo como diz-nos -, mal acabara de ler aquela parte da obra que aborda o assunto - toda a passagem
versa sobre a questão do contrato original -, senti que me caíam as escamas dos olhos .» E
resumindo: «Aprendi a ver que a utilidade era teste e medida de toda a virtude; da lealdade
como de outra qualquer; e que a obrigação de contribuir para a felicidade geral era uma
obrigação superior a, e inclusiva de, qualquer outra... disse adeus ao contrato original».1
Há, no entanto, uma outra grande tese que Bentham deve às suas primeiras leituras de
Hume. Descrevê-la-ia muitos anos mais tarde deste modo: «Por David Hume, no seu
Treatise of Human Nature, a observação foi (acredita-se que pela primeira vez) trazida à
luz, quão aptos têm sido os homens, em questões pertencentes a qualquer parte do campo
da Ética, a mover-se para trás e para diante, e aparentemente sem que disso se apercebam,
da questão, o que foi feito, para a questão, o que deve ser feito, e vice-versa: mais
(*)
Estou grato ao Dr. Joseph Raz pelos seus comentários críticos a uma primeira versão deste texto em inglês
(“Hume’s Law and Legal Positivism”, Memoria del X Congreso Mundial Ordinario de Filosofia del
Derecho y Filosofia Social, Mexico, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 1982, p.245- 265), de que
a Revista de Comunicação e Linguagens, 15/16, 1992, p.113-129, promoveu uma tradução portuguesa, que
não foi feita nem revista pelo autor, cujo nome saiu com gralha (“António” por “José”). O texto foi agora
revisto e traduzido pelo autor e acrescentado de forma a justificar uma leve alteração do título.
1
A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government, J.H.Burns, H.L.A.Hart («Collected
Works»), London, Athlone, 1977,p. 440-I. No «Preface for the second edition» de 1823, diz Bentham acerca
do princípio da utilidade «era esse o nome adoptado de David Hume» (ibid., p.508). Mas existiram outras
fontes. Segundo afirmava por escrito em 1783, Bentham já não se lembrava de qual a primeira (Priestly ou
Beccaria): para este e outros relatos, cf. Baumgardt, D. Bentham and the Ethics of Today, Princeton U.P.,
1952, p.36 e nota seguinte. Cf. também a carta de Bentham a Dumont, 6 de Setembro de 1822: ”When I came
out with the principle of utility, it was in the Fragment, I took it from Hume’s Essays, Hume was in all his
glory, the phrase was consequently familiar to everybody. The difference between me and Hume is this : the
use he made of it, was to account for that which is, I to show what ought to be.” (apud Halevy, E., La
formation du radicalisme philosophique, vol. I, Paris, Alcan, 1901, p. 282 n.36.).
2
especialmente, da primeira para a segunda. Ao ler essa obra há alguns quarenta e cinco
anos atrás2, obra da qual, contudo, em proporção ao seu tamanho, nenhuma grande
quantidade de instrução parecia derivável, essa observação apresentou-se ao autor destas
páginas como de cardinal importância.»3
De facto, um dos principais traços da teoria jurídica de Bentham é uma nítida
distinção entre aquilo que as leis são e aquilo que as leis devem ser. Numa linguagem
repleta de referências tácitas a Hume, diz Bentham no Fragment: «Ao domínio do
expositor pertencem explicar o que, supõe ele, é o direito: àquele do censor observar-nos o
que, pensa ele, ele deve ser. O primeiro está pois, principalmente, ocupado em afirmar, ou
inquirir acerca de factos: o último, em discutir razões. Ao expositor, que se confina à sua
esfera, não lhe dizem respeito faculdades mentais outras que a apreensão, a memória e o
juízo: o último, em virtude daqueles sentimentos de prazer ou desprazer que encontra
ocasião de anexar aos objectos sob seu escrutínio, mantém algum comércio com as
afeições.»4 A distinção entre ser e dever ser está, assim, na base da própria ideia de uma
ciência do direito «expositiva» ou positiva, que pode ser claramente separada da ética ou
da filosofia política. Da melhor possível das leis nada se pode deduzir acerca daquilo que o
direito é. Não se pode, de uma má lei, deduzir que não se trata de uma lei. Mas a aplicação
da distinção entre ser e dever ser à distinção entre o direito, tal como é, e o direito, tal
como deve ser, implica também fazer sentido dizer que o direito é de algum modo um
facto que pode ser apurado e determinado. Para tornar claro este ponto, diz Bentham numa
nota à passagem acima citada, que «o estabelecimento de uma lei pode dizer-se um facto,
pelo menos para o propósito de distingui-lo de qualquer consideração que possa ser
oferecida como razão para tal lei». Parece isto conceder a Kelsen aquilo que ele aqui diria:
que a lei, enquanto norma, é o sentido do acto pela qual ela se estabelece ou se produz;
quer dizer um dever ser e não um facto; está no entanto relacionada com um facto tão
determinável como o facto de estabelecer-se uma lei. Tal facto é, segundo Kelsen, um acto
Provavelmente em 1769, que Bentham recorda a Bowring como “ a most interesting year... Montesquieu,
Harrington, Beccaria and Helvetius but most of all Helvetius, set me on the principle of utility” (Works, ed.
Bowring, X, p. 54). Falta aqui o nome de Hume, mas pode bem tratar-se de um lapso.
3
Chrestomatia, ed. M.J.Smith, W.H.Burston (“Collected Works”), Oxford, Clarendon, 1983, p.275, n.a.
(1915-1917).Bentham parece manter aqui o seu juizo severe acerca dos dois primeiros volumes do Treatise:
“they might, without any great loss to science of Human Nature, be dispensed with” (A Fragment, p.440 n.).
The advice was not taken for himself: in earlier paper (perhaps of 1790, according to Milne) sobre “Entities:
real or fictitious”, há um global reenvio para Hume: “Perceptions are either Impressions or Ideas (see Hume)”:
apud Baumgardt, D., op.cit., p. 400.
2
3
da vontade: uma norma, diz Kelsen, é o sentido de um acto da vontade 5, Bentham diria
antes que uma lei é a expressão de uma vontade 6. Mais recentemente Hart sustentou que o
positivismo jurídico depende de fontes sociais do direito e a sua própria versão dele
depende da prática social dos juízes ao aceitar uma regra de reconhecimento.
7
Se tem
então o direito a sua origem num facto, como negar que pode ser deduzido a partir dele ?
Assim, a aplicação de Hume revela uma dificuldade peculiar: como explicar o direito
positivo como um dever ser que pode ser determinado como um facto. Como conciliar o
direito positivo com a nítida distinção de Hume entre ser e dever ser, ou entre facto e
direito?
É como se o positivismo jurídico, após ter usado a guilhotina de Hume 8 para executar as teorias do direito natural por deduzirem o que deve ser feito daquilo que a natureza
é, deva recear agora pelo seu próprio pescoço.
2. Estrutura geral do argumento de Hume
Coloquemos a famosa passagem de Hume na estrutura geral do argumento do
Treatise of Human Nature. O ponto acerca do non-sequitur lógico entre proposições com
«é» ou «não é», e proposições com «deve (ser)» ou «não deve (ser)», como predicados, é
somente parte de um argumento mais geral acerca de proposições com predicados morais.
Aplica-se igualmente aos predicados morais favoritos de Hume, que não são «obrigatório»
ou «permitido», mas «virtuoso» ou «vicioso».
Encontra Hume nas proposições morais duas espécies extraordinárias de coisas.
Em primeiro lugar , tomamos posição em matérias de moral, e pensamos assim que, na
verdade, a questão permanece dentro dos limites da compreensão humana
9
e pode ser
racionalmente decidida. «A razão é a descoberta da verdade ou da falsidade. Consiste a
verdade ou a falsidade no acordo ou desacordo, quer com as reais relações das ideias, quer
4
A Fragment, p.397 .
Allgemeine Theorie der Normen, Viena, Manz, 1979, p. 2.
6
A Comment, p. 78. Tanto Kelsen como Bentham têm seguramente muito mais a dizer acerca das condições
para que um acto volitivo seja juridicamente relevante.
7
«El nuevo desafio al positivismo jurídico», Sistema 36 – Revista de Ciencias Sociales, p. 1980, pp. 5,7.
8
Para usar a imagem de Max Black, «The gap between ‘is’ and ‘should’» (1964) em The Is – Ought Question,
ed. W.D.Hudson, Londres, Macmillan, 1969, p. 100.
5
4
com a existência real e a matéria de facto.»
10
Mas existem apenas quatro tais relações de
ideias: «semelhança, contrariedade, graus qualitativos, e proporções em quantidade e
número; todas estas relações pertencem tão propriamente à matéria (que não é nem moral
nem imoral), como às nossas acções, paixões e volições ( e similares sujeitos de mérito ou
demérito moral).»
11
Por outro lado, predicados morais afirmam-se de objectos externos
tais como as acções ou sentimentos de outras pessoas, bem como do seu carácter, e não são
dados na experiência externa, não existe impressão alguma de um objecto externo que
origine as ideias morais. «Tome-se qualquer acção que seja tida como viciosa: homicídio
doloso, por exemplo. Examinemo-la sob todas as luzes, e veja-se se é possível achar
alguma matéria de facto, ou existência real, à qual chamemos vício. Seja qual for o nosso
prisma. encontramos apenas certas paixões, motivos, volições e pensamentos. Não existe
outra matéria de facto no caso. Escapa-se-nos, por completo, o vício, enquanto
considerarmos o objecto» 12. Logo, quando dizemos que a acção de A é obrigatória, que o
carácter de B é virtuoso, tais declarações, não obstante possuírem a forma de uma frase
declarativa verdadeira acerca de um objecto externo, vão além da razão e do testemunho
da experiência externa.
O argumento deixa até aqui em aberto a possibilidade de um sentimento moral
especial existir, e, com ele, correspondentes qualidades primárias. As proposições morais
seriam baseadas em impressões de objectos interiores peculiares, e assim uma vez mais
capazes de verdade ou de falsidade. Tal teoria adequar-se-ia a algumas passagens adjacentes
ao texto sobre ser-dever ser. Prossegue deste modo a acima citada passagem acerca do
homicídio doloso: «não poderemos encontrá-lo nunca (ao vício) se não dirigirmos a nossa
reflexão para o interior de nós mesmos, e aí encontrarmos um sentimento de desaprovação
que surge em nós para com essa acção. Eis uma matéria de facto; mas ela é objecto do
sentimento, não da razão. Reside em nós e não no objecto. Assim que quando nos
pronunciamos acerca de uma acção ou carácter como vicioso, nada queremos dizer senão
que pela constituição da nossa natureza retiramos da sua contemplação um sentimento de
censura.»13 Hume parece aqui sustentar pontos de vista contraditórios: que o vício é um
9
Treatise of Human Nature, III, I,I (ed.Selby-Bigge, p.456).
Ibid. (p.458).
11
Ibid. (p.464).
12
Ibid. (p.468).
13
Ibid. (p.468-9).
10
5
objecto do sentimento, e que o vício é o sentimento que extraímos da contemplação do
objecto. Foi já dito 14 que o primeiro ponto de vista é de facto uma impropriedade de Hume,
que deveria ter dito: «é um sentimento e não um objecto da razão.» Mas deveria então
explicar-se porque razão não pode o facto de um sentimento ser um objecto da razão, e
como passar de uma proposição acerca de um facto que reside em nós, a uma proposição
acerca do objecto, e vice-versa.
Caso interpretemos Hume como querendo dizer que há uma matéria de facto que é
objecto de um sentido moral particular, e se tome «sentimento» como sinónimo de sentido não o é
15
- ele deveria então ser um objecto da razão, embora peculiar. Permanece a
possibilidade de que o objecto do sentimento não é uma dada matéria de facto capaz de ser
descrita em proposições verdadeiras ou falsas: é antes aquilo que é sentido, nomeadamente,
reprovação ou censura. É certo que ainda nos resta explicar como passar de um enunciado
acerca de uma reacção subjectiva como a censura a uma proposição acerca do objecto que
provoca tal reacção, e vice-versa. Disso trataremos mais adiante.
Hume propõe, no entanto, um outro argumento que claramente implica que as
proposições morais não são descrições de uma peculiar matéria de facto acessível através do
sentido moral. Relaciona-se isto com a segunda coisa que Hume considera espantosa no
discurso moral.
A segunda coisa extraordinária acerca das proposições morais é parecerem elas
expressar um julgamento quando de facto influenciam as acções. Hume é defensor de uma
doutrina psicológica, a génese da qual se deve procurar em Aristóteles, segundo a qual só o
desejo (Hume: passion), e não o intelecto (Hume: reason), impele à acção. No De Anima
diz Aristóteles: «Existe uma coisa que produz movimentos, a faculdade do desejo. Pois... o
intelecto não parece produzir movimento sem desejo (pois querer é uma forma de desejar, e
quando se é movido em conformidade com a razão, é-se ainda movido em conformidade
com o nosso desejo), e o desejo produz movimento mesmo contra a razão.»16 A doutrina
pode disputar-se, uma vez que Hume reconhece a influência que a razão pode ter sobre a
nossa conduta «quer quando estimula uma paixão informando-nos da existência de algo que
é um seu objecto próprio, quer quando descobre a conexão de causas e efeitos, de modo a
L.W.Beck, «’Was-must be’ and ‘is-ought’ in Hume», Philosophical Studies, 26 (1974), p. 223.
Um sentido (sense) fornece informação acerca de um objecto, um sentimento (sentiment) é uma reacção a
uma crença: assim J.Harrison, Hume’s Moral Epistemology, Oxford, Clarendon Press, 1976, p.115.
16
433 a 21-26.
14
15
6
fornecer-nos de meios para exercer qualquer paixão».17 E Hume não prova que é possível
agir sem uma tal colaboração da razão. No entanto, Hume apega-se firmemente à doutrina
aristotélica: «o mérito e demérito de acções frequentemente contradiz, e por vezes controla,
as nossas propensões naturais. A razão, porém, não exerce uma tal influência. Distinções
morais não são pois filhas da razão. A razão é totalmente inactiva, e nunca poderá ser a
fonte de um princípio tão activo como a consciência, ou o sentido, do que é moral.»18
Podemos assim com segurança concluir que o sentido moral não é em Hume como os outros
sentidos que nos informam de como as coisas são.
Como resultado, para Hume, proposições morais não são fundadas na experiência
dos sentidos – e não só na vulgar experiência de objectos externos- não podendo desde logo
ser empiricamente verdadeiras. Tão pouco são a priori. Por consequência, não podem ser
tidas como verdadeiras, ou falsas. Na palavra de Hume: não são derivadas da razão. Não
podem propriamente ser ditas contrárias à razão: «não é contrário à razão preferir a
destruição do mundo inteiro ao coçar do meu dedo.» 19 Porque razão então as usamos nós e
o que significam? Este é, para Hume, o problema da filosofia moral.
Foi já observado20 existir um paralelismo conspícuo entre as teorias humianas da
moralidade e da causalidade. A causalidade, tal como os predicados morais, não é observada
pelos sentidos. O conhecimento causal, como as distinções morais, não é a priori: não há
contradição entre afirmar um acontecimento e negar qualquer outro acontecimento. Logo,
sempre que afirmamos uma conexão causal, isto é, uma conexão necessária entre dois
acontecimentos, vamos além do testemunho dos sentidos e do poder da razão. Como
questão de facto existe apenas uma associação de ideias, devida à repetição dos mesmos
pares de acontecimentos. Quando a impressão do evento x se associa à ideia correspondente,
produz a crença na ideia associada de y. Existe deste modo em nós a crença em y, e vivemos
e pensamos como se houvesse necessidade de y no objecto.
3. A controvérsia acerca da interpretação do Treatise, III, I, I.
17
Treatise, III, I,I,p.459.
Ibid. (p.458).
19
Treatise, II,II, 3 (p.416).
20
Por L.W.Beck, loc. cit.
18
7
É neste contexto que deve ser interpretada a famosa passagem sobre ser e deve ser.
Seria certamente contrário às intenções de Hume pretender negar a interpretação tradicional,
aquela que lhe foi dada, entre outros, por Bentham, a saber, que não podemos deduzir
conclusões normativas («deontológicas») a partir de premissas factuais. Tal é a «lei» de
Hume («nenhum 'deve (ser)' se segue de um 'é'»), e por isso é ela uma «forquilha»21 que
separa o bom e o mau raciocínio em ética, e uma «guilhotina»21 para os sistemas vulgares
de moralidade.
Que um motivo não seja logicamente derivável de uma asserção, não é isso que
Hume quer demonstrar 22. Este seria um argumento corroborador da lei de Hume, mas a lei
não depende da justeza do argumento, e possui outros argumentos que a suportam. Hume
explicara anteriormente que motivos e paixões, e não juízos, são o que influencia as acções,
e começa a passagem por afirmar que «acrescenta a esses raciocínios uma observação que
talvez possa vir a achar-se de alguma importância».
Muito menos pretende Hume oferecer uma melhor, e consciente, derivação de dever
ser a partir de ser23. Afirma, é certo, que «uma vez que este ‘deve’, ou ‘não deve’, expressa
alguma nova relação ou afirmação, é necessário que seja observado e explicado». E a assim
necessária explicação conectá-lo-á a factos, do mesmo modo que Hume. Tal conexão não é
porém da natureza da dedução lógica, uma vez que a proposição do tipo «deve» é «nova».
Se uma explicação é aqui devida, os autores criticados por Hume têm uma tarefa impossível
em mãos: fornecer uma razão «para o que parece ser (é) de todo inconcebível, como pode
esta nova relação seguir-se de outras que são inteiramente diferentes dela através da
dedução. «Se tal não fosse realmente, mas tão só parecesse ser, inconcebível, então a
atenção a esse facto não subverteria, mas tão só pareceria subverter - como assinala
Harrison 24 - os sistemas vulgares de moralidade.
Pelos novos intérpretes foi afirmado, que a leitura tradicional não se adequa à teoria
positiva de Hume acerca do sentido das frases morais. Por vezes Hume parece defender
aquilo que Mackie denomina descritivismo disposicional
21
25
, isto é, a asserção «isto é
Estes apelativos encontram-se em Hare: Freedom and Reason, Oxford, Clarendon, 1963, p. 108;
«Descriptivism» (1963) em The Is-Ought Question, p. 240.
22
Assim J.Finnis, Natural Law and Natural Rights, Oxford, Clarendon, 1980, p. 42.
23
Assim A.C.MacIntyre, «Hume on ‘is’ and ‘ought’» (1959) em The Is-Ought Question, p. 35 ss.; G.Humter,
«Hume on ‘is’ and ‘ought’ (1962), ibid. pp. 59 ss.
24
Op. cit., p.70.
25
Mackie, J.L., Hume’s Moral Theory, Londres, Routledge, 1980, p. 73.
8
virtuoso «vicioso» significa «isto é tal que é de modo a provocar um sentimento de
aprovação (reprovação) em X nas circunstâncias C»: «ao pronunciares qualquer acção ou
carácter como vicioso, nada mais significas, senão que pela constituição da tua natureza,
tens um sentimento de censura pela sua contemplação.» 26 Á primeira vista, Hume diz aqui
que predicar o vício significa predicar a existência de um sentimento de censura da parte do
locutor, mas na verdade Hume fala do sentimento cujo despertar se fica a dever à
constituição da natureza do locutor, e visto ser a natureza comum a todos, são esses os
sentimentos que despertam em qualquer um. Hume fala realmente de um «peculiar conjunto
de termos utilizáveis para expressar... sentimentos universais de censura e aprovação»27 . Os
princípios morais formam «o partido da humanidade»28.
A humanidade é a «audiência» pretendida na seguinte importante passagem da
Enquiry: «Quando um homem denomina outro seu inimigo, seu rival, seu antagonista, seu
adversário, é entendido que fala a linguagem do amor-próprio, e expressa sentimentos
peculiares a ele próprio, que se devem às suas circunstâncias e situação particulares. Mas
quando aplica a qualquer pessoa os epítetos de vicioso ou odioso ou depravado, fala então
outra linguagem, e expressa sentimentos para os quais espera o concurso de toda a
audiência. »29
A uma leitura mais cuidadosa não escapará que a contemplação relevante não é a
actual contemplação da acção ou do carácter. Ela deve corrigir as nossas tendências para nos
sentirmos mais fortemente tocados pelas acções que nos são próximas no tempo e no
espaço, especialmente se testemunhadas, que por aquelas remotas no tempo e no espaço 30, e
para reprovar com mais veemência os nossos inimigos que os nossos amigos31 . Deve
também corresponder a um «espectador»32 imparcial, como Adam Smith, discípulo de
Hume, defendeu
33
. Outra correcção, especificamente a respeito do carácter, pode ser
necessária. Quando um carácter, na sua inclinação natural benéfico à sociedade, «é assistido
com a boa fortuna que o torna um real benefício para a sociedade, dá um prazer mais forte
26
Treatise, III, I, I (p.469).
An Enquiry Concerning the Principles of Morals, s.IX, parte I (Enquires, ed.Selby. Bigge, p. 274).
28
Ibid. (p.275).
29
Ibid. (p.272).
30
Treatise, ibid. (p.581-2).
31
Ibid. (p.583).
32
Enquiry, App. I(p.289). Cf.Treatise ibid. (581: «judicious spectator» e 583: «impartial conduct»).
33
The Theory of Moral Sentiments (1759), III. 2.32, ed. D.D.Raphael, A.L.Macfie, Oxford, Oxford University
Press, 1976, repr.1979, pp.130-131.
27
9
ao espectador, e é recebido com uma simpatia mais encantadora, e não dizemos no entanto
que é mais virtuoso... sabemos que uma alteração da fortuna pode tornar inteiramente
impotente a benevolente disposição; e assim separamos, tanto quanto possível, a fortuna da
disposição.»34 As crenças acerca da acção ou do carácter, que causam em nós aprovação ou
reprovação podem ser erróneas ou incompletas: «de forma a preparar caminho para tal
sentimento, e fornecer do seu objecto um discernimento próprio, é muitas vezes necessário,
julgamos, que tal raciocínio seja precedente, que boas distinções sejam feitas, extraídas
justas conclusões, distantes comparações formadas, relações complexas examinadas, e
factos gerais fixados e apurados»35. Tudo isto nos conduziria a uma interpretação das frases
morais como descrições de disposições ideais de um espectador ideal em circunstâncias
ideais. Mas mesmo um descritivismo de tal modo qualificado não faria jus às intenções de
Hume. O que realmente existe não é necessariamente aquilo que se está a significar. Hume
invoca aqui a doutrina lockiana das qualidades secundárias. «Vício e virtude», diz Hume,
«podem comparar-se a sons, cores, calor e frio, os quais, segundo a moderna filosofia, não
são qualidades no objecto, mas percepções na mente.»36 Mas não diz Locke que ao
predicarmos azul, ou amarelo de algo queremos dizer que é de modo tal que produz em nós
uma certa sensação de cor, mas que «estamos no ponto de imaginar que essas ideias são as
semelhanças de algo que realmente existe nos próprios objectos»37. Isto parece sugerir que
este tipo de explicação das frases morais não nos explica o seu efectivo sentido, tal como a
explicação de frases acerca de qualidades secundárias não explica o seu sentido. Hume é
forçado a sustentar alguma forma de não-descritivismo, para poder ser coerente com a lei de
Hume. Deve pensar que as frases morais são similares a expressões de sentimento, a
comandos, ou a conselhos, na medida em que estes não afirmam uma matéria de facto, não
descrevem um estado de coisas. Pode também defender-se que o descritivismo
disposicional, se relacionado a um espectador ideal, é desde logo prescritivismo
disposicional.38
Qual é então o seu sentido? Torna-se difícil combinar as várias observações de
Hume numa teoria coerente. Uma tal reconstrução necessitaria de recorrer a instrumentos
34
Treatise, ibid. (pp. 584-5).
Enquiry, s.I (p.173).
36
Treatise, III, I, I (pp.469).
37
An Essay Concerning Human Understanding, II, IX, para. 25 (ed . Niditsh, Clarendon, 1975, p. 142). Cf.
Mackie, op.cit., pp.58-9.
38
Mackie, op.cit., p.73 classifica-o como uma forma de sentimentalismo.
35
10
conceptuais de facto preparados por Hume, porém não usados por ele, de forma a
estabelecer com mais clareza aquilo que Hume tentava dizer. Hume não era consciente das
distinções hoje usuais em Semântica, nem dos diferentes tipos de teoria ética que somos
capazes de reconhecer. Não estaria sequer propriamente interessado nestas questões.
Felizmente, não carecemos para os nossos propósitos de uma tal reconstrução. É-nos
suficiente considerar alguns pontos que possam trazer luz à lei de Hume e ao positivismo
jurídico.
4. Três níveis explanatórios das frases morais: causal, pragmático, e semântico
A maior parte dos críticos da alegada inconclusividade de Hume nesta matéria não
distinguem entre três níveis explanatórios. Chamar-lhes-ei nível causal, nível pragmático, e
nível semântico. A explicação causal da linguagem moral relacioná-la-á a factos como as
impressões e ideias da mente, as relações de semelhança e contiguidade (refere-se aqui
Hume às relações de parentesco, de familiaridade, de educação e de hábito), entre elas, as
operações da imaginação que dão às ideias relacionadas a vivacidade ou vividez das nossas
pr6prias impressões e desse modo explicam «a natureza e causa da simpatia», que nos faz
sensíveis aos sentimentos dos outros como se dos nossos se tratassem: «quando
simpatizamos com as paixões e sentimentos dos outros, esses movimentos aparecem em
primeiro lugar na nossa mente como meras ideias e são concebidos como pertença de outra
pessoa, tal como concebemos qualquer outra matéria de facto». É só pela simpatia que «as
ideias das afeições dos outros se convertem nas impressões mesmo que representam, e que
as paixões surgem em conformidade com as imagens que delas formamos». «Pois que, além
da relação de causa e efeito, pela qual nós somos convencidos da realidade da paixão com
que simpatizamos, além disto», diz Hume, «temos de ser assistidos pelas relações de
semelhança e contiguidade por forma a sentir na sua plena perfeição a simpatia. E uma vez
que estas relações podem converter por inteiro uma ideia numa impressão, e dar à primeira a
vivacidade da última, tão perfeitamente que nada é perdido na transição, facilmente
podemos conceber quão a relação de causa e efeito somente pode servir para robustecer e
avivar uma ideia»39. Na explicação causal da linguagem moral, a simpatia deve no entanto
sofrer a correcção da reflexão e da experiência: «são variáveis todos os sentimentos de
11
censura ou de louvor, segundo é próxima ou remota a nossa situação, em relação à pessoa
censurada ou louvada, e em relação à presente disposição do nosso espírito. Mas não nos
atemos a esta variação nas nossas decisões mais gerais, antes aplicando ainda os termos
veiculadores do nosso agrado ou desagrado do mesmo modo, como se permanecêssemos
num ponto de vista. Cedo nos ensina a experiência este método para corrigir os nossos
sentimentos, ou, pelo menos, para corrigir a nossa linguagem, onde os sentimentos são mais
obstinados e inalteráveis»
40
. Esta é uma experiência de reflexão, com a ajuda, mais uma
vez, da imaginação: «censuramos de modo idêntico uma má acção, de que lemos o relato
histórico, e aquela realizada, no outro dia, na nossa vizinhança: querendo isto significar
sabermos nós a partir da reflexão que a primeira acção suscitaria sentimentos tão fortes de
reprovação como a última, estivesse ela na mesma posição»41. A reflexão tem de recorrer
aqui à imaginação: «a imaginação adere às vistas gerais das coisas e distingue os
sentimentos que elas produzem daqueles que advêm da nossa situação particular e
momentânea»42. Como vimos, no Treatise, é a simpatia, corrigida pela experiência
reflexiva, que «nos faz interessar no bem da humanidade»43. Na Enquiry, Hume prefere
falar aqui dum peculiar sentimento de humanidade, oposto aos sentimentos egoístas ou às
paixões, como a avareza ou a ambição: «sendo tão grande e evidente a distinção entre essas
espécies de sentimento, deve a linguagem inventar um peculiar conjunto de termos, por
forma a expressar esses sentimentos universais de censura e aprovação, que provêm da
humanidade... São então conhecidos vício e virtude; a moral é reconhecida.»44
A linguagem pode não só ser explicada pelos sentimentos e operações da mente, que
são os seus antecedentes, como também pelos objectivos do seu uso. Este é o nível
pragmático de explanação.45 É difícil separá-lo por vezes do causal, visto constituírem a
representação destes objectivos e a vontade de os alcançar momentos constitutivos da
experiência reflexiva que causa um certo uso da linguagem. A despeito disso, pode ser
afirmado que tal representação e tal vontade são antecedentes da linguagem, mas que os
objectivos são para ser realizados no futuro. Por outro lado, a acção de significar algo pela
39
Treatise, II, I,9 (pp. 318-20).
Treatise, III, III, I (p.582).
41
Ibid. (p.584).
42
Ibid. (p. 587).
43
Ibid. (p.584).
44
Enquiry, s. IX, part I (274).
40
12
elocução de expressões ou frases morais é uma acção intencional, e como tal pretende
atingir fins como meios para outros fins. Mas o nível pragmático diz apenas respeito aqueles
fins que não são expressos no uso relevante da linguagem. «A linguagem comum, diz
Hume, tendo sido formada para uso geral, deve ser moldada em algumas ideias gerais e
deve afixar os epítetos de louvor ou censura em conformidade a sentimentos que provêm
dos interesses gerais da comunidade.»
46
A linguagem moral, a este nível pragmático, é
então explicada pela satisfação racional de necessidades factuais e prossecução de interesses
factuais por parte de todos nós. Encontramos aqui, em primeiro lugar, a necessidade de
evitar «contradições perpétuas» com os outros, e o interesse no convívio pacífico e na
conversação: «todos os dias nos encontramos com pessoas, que estão numa situação
diferente da nossa, e que nunca poderiam conversar connosco em termos razoáveis,
permanecêssemos nós naquela situação e ponto de vista que nos é peculiar. A comunicação
mútua de sentimentos faz com que formemos, portanto, no convívio e na conversação,
algum padrão geral e inalterável, pelo qual aprovamos ou reprovamos caracteres e
comportamentos. E embora nem sempre o coração se envolva nestas noções gerais, ou por
elas regule o seu amor ou ódio, ainda assim elas são suficientes para o discurso, servindo
todos os nossos propósitos quando em companhia, no púlpito, no teatro ou nas escolas»47.
Tal como necessitamos da linguagem da causalidade no mundo natural, necessitamos da
linguagem da ética no mundo social.
Na verdade, Hume parece menos interessado na elucidação do sentido das
expressões morais, do que em fornecer delas explicações causais e pragmáticas. No entanto,
ao abordar sempre de novo a questão fá-lo relacionando as expressões ou frases morais com
os factos. Em duas passagens já anteriormente citadas. Hume aproxima-se mais do que
nunca da formulação de uma regra semântica, que na Enquiry aparece assim: «quando um
homem aplica a outro homem qualquer dos epítetos de vicioso ou odioso ou depravado.
expressa então sentimentos com os quais espera que toda a audiência (i.e., uma audiência
universal concorde»; ou similarmente no Treatise: «ao pronunciar-se qualquer acção ou
carácter como vicioso, nada se significa senão que pela constituição da nossa natureza temos
um sentimento de censura da sua contemplação». Podemos já, espero, partir destas
45
L.W.Beck, loc.cit., p. 225 escreve que em Hume «the ascription of moral predicates is pragmatic and lies in
their peculiar function in the social relations of mankind».
46
Enquiry, s.V, parte II (.228).
47
Treatise, III, III, 3 (p.603).
13
formulações, recordar algumas das condições da «contemplação» mencionada, e chegarmos
- com a ajuda de algum trabalho corrente em semântica - à seguinte análise incompleta do
sentido do ponto de vista do locutor: Ao afirmar a acção a ou o carácter c vicioso, o locutor
pretende levar a sua audiência a um sentimento de censura; pretende que a sua audiência
pense que ele acredita que qualquer um (membros da audiência incluídos), em
circunstâncias u a especificar (i.e., que imparcialmente contemple a ou c) teria o mesmo
sentimento; pretende alcançar estes resultados através do reconhecimento pela sua audiência
de intenções correspondentes. Isto assim, porque o locutor segue, e pretende que a sua
audiência siga, uma regra de sentido que relaciona a sua afirmação de que a acção a ou o
carácter c é vicioso com as intenções descritas. Devido a tal regra, o locutor
(convencionalmente) pressupõe a existência de tais intenções. Por via da mesma regra, a sua
audiência realiza igualmente essas implicações, reconhecendo assim as suas intenções.
Carece esta análise de muitas qualificações. Considerarei, todavia, tão só duas. Em
primeiro lugar, a primeira implicação é separável
48
, uma vez que posso inteligivelmente
afirmar que o acto a é vicioso sem que porém com isso pretenda implicar que pretendo que
X tenha um sentimento de censura (caso não concorde com X e saiba que X é obstinado). A
penúltima implicação também é separável, uma vez que posso inteligivelmente afirmar que
a é vicioso, não querendo com isso contudo implicar que experimento um sentimento de
censura (uma vez que posso ser incapaz de ultrapassar o meu amor pelo agente). Em
segundo lugar seria inapropriado afirmar que aquilo que ele diz implica alguma das
intenções acima mencionadas. A frase «a é vicioso» implica aparentemente tão só que
qualquer X, caso u, deve experimentar um sentimento de censura.
Hume não inicia sequer uma análise do sentido das frases do tipo «deve», como faz
para frases com o predicado «vicioso». Pode todavia admitir-se com segurança que uma
análise humiana do sentido de «x deve (moralmente) fazer A» consideraria que uma tal frase
não afirma uma matéria de facto, não é uma proposição. Implica no entanto que qualquer
um em circunstâncias apropriadas quereria que X fizesse A; que quereria que A fosse feito
48
Faço minha a terminologia de H.P.Grice, «The Causal Theory of Perception», The Aristotelian Society:
Proceedings, Supplementary Volumes, 35 (1961), pp.121 ff. cujo trabalho em semântica influenciou grande
parte da passagem acima – cf. H.P.Grice, «Meaning», The Philosophical Review, 66 (1957), pp. 337 ff.,
«Utterer’s Meaning, Sentence-meaning and Word-meaning, The Philosophical Review, 78 (1969), «Logic and
Conversation» in P. Cole, J.L.Morgan (eds.), Syntax and Semantics, volume 3. Speech Acts, New York,
Academic Press, 1974, pp.41 ff. Todos estes artigos estão agora publicados em Paul Grice, Studies in the Way
of Words, Cambridge, Massachussetts, London, England, Harvard University Press, 1989.
14
por outra pessoa Y nas circunstâncias de X; que, uma vez a acção feita, todos que o saibam
experimentarão um sentimento de aprovação. Acrescentaria que é uma implicação
específica de uma frase do tipo «deve (ser)»(tanto no discurso moral como fora dele) que A
não tenha sido feito ainda, e que X possa fazer .
5. Conclusões acerca da lei de Hume
Estamos agora em condições de nos decidirmos acerca da lei de Hume. É concerteza
verdade que nenhuma proposição acerca de um estado de coisas implica uma frase do tipo
deve ser. Tem sido isto muito disputado. Considerarei brevemente tão só dois
contra-exemplos.
«Para chegares a horas à conferência tu deves apanhar um táxi.» Chamarei a este
«deves» teleológico. Não prescreve de todo. Consiste na aplicação de uma regra causal.
baseada na experiência do tempo requerido por um meio de transporte alternativo para
percorrer a distância pretendida. Suponhamos agora que queres mesmo chegar a tempo.
Concluirei então eu: «Tu deves apanhar um táxi.» A frase não possui, no entanto, qualquer
força prescritiva, uma vez que não te digo que apanhes um táxi. Digo-te apenas que se não
apanhas um táxi não chegarás a horas à conferência.
Searle defendeu que na seguinte série de elementos, qualquer enunciado anterior
implica o seguinte com a eventual ajuda de enunciados adicionais não valorativos:
1) Jones pronunciou as palavras «Eu prometo pagar a ti, Smith, cinco dólares.»
2) Jones prometeu pagar a Smith cinco dólares.
3) Jones colocou-se na (contraiu a) obrigação de pagar a Smith cinco dólares.
4) Jones está debaixo de uma obrigação de pagar a Smith cinco dólares.
5) Jones deve pagar a Smith cinco dólares 49.
A última frase do tipo «deve (ser)» tem força prescritiva apenas se o locutor aceita a
prática social, ou facto institucional de prometer. Ao fazê-lo, o locutor adopta o ponto de
vista interno de alguém que joga o «jogo do prometer», de alguém que pensa que as
promessas são para ser cumpridas
50
. Doutro modo, se o locutor é actor numa peça, por
exemplo, ao pronunciar as palavras de 1) não fez de modo algum uma promessa.
49
50
«How to drive ‘ought’ from ‘is’» (1964) in The Is – Ought Question, p. 121.
Cf.R.M.Hare, «The Promising Game» (1964) em The Is – Ought Question, pp. 144 ff.
15
Searle acrescenta dois enunciados entre 1) e 2) que parecem evitar esta
consequência:
1a) Em certas condições C, quem quer que pronuncie as palavras (a frase) «Eu
prometo pagar a ti, Smith, cinco dólares» promete pagar a Smith cinco dólares.
1b) As condições C (Searle inclui aqui a condição de que o locutor não actua numa
peça) são o caso.
O lance essencial, como reconhece Searle, joga-se da especificação de uma certa
elocução das palavras de 1) para a especificação de um certo acto de fala 2). «O lance é
conseguido - diz Searle porque o acto de fala é um acto convencional, e a elocução das
palavras, de acordo com as convenções, constitui a realização de exactamente aquele acto
de fala.»51 A convenção relevante no caso de uma promessa é descrita em 1a). Pretende
Searle: 1. que 1a) afirma «um facto acerca do uso da língua inglesa» (e da língua
portuguesa)»; 2. que «nenhumas premissas morais estão escondidas na pilha de lenha
1ógica».
Consideremos em primeiro lugar a segunda tese de Searle. Na verdade, 1a) não
precisa de ser uma premissa moral. Pode ser uma das premissas de um raciocínio moral,
juntamente com uma regra moral como «as promessas são para ser cumpridas» e um
enunciado factual, como 1). Contudo, não é certamente uma regra moral. As regras
morais são reguladoras da conduta, não constitutivas de efeitos. A regra «as promessas
são para ser cumpridas», é violada sempre que uma promessa não é cumprida. Mas 1a)
não pode ser violado desta forma. A promessa permanece como uma promessa válida
apesar de ser quebrada e desenvolve a sua eficácia devido ao facto mesmo de que não só
a elocução deve ainda contar como uma promessa, mas também a conduta desviante do
não-respeitador da promessa deve contar como a quebra de uma promessa. A regra
fornece-nos a razão pela qual Jones não se limitou a pronunciar palavras, mas antes, ao
fazê-lo da maneira que o fez, se colocou debaixo de uma obrigação, e desse modo emitiu
um enunciado prescritivo e valorativo que nos permite doravante valorar a sua conduta,
quer cumpra quer quebre a promessa feita (quer cumpra quer viole a obrigação implicada
na promessa). Uma vez que o conjunto de condições C se verifique, e a elocução seja
feita, deve a elocução contar como uma promessa. Se não constitui uma promessa num
51
Loc.cit., 126.
16
caso particular, o conjunto das condições deverá ser reformulado, de maneira a acomodar
tal caso.
Existe uma possível objecção a esta tese. Foi já dito que 5), a última frase do tipo
«deve(ser)», tem só força prescritiva se o locutor adopta, ao pronunciar 1), o ponto de
vista interno de alguém que aceita a regra «as promessas são para ser cumpridas». Searle,
que nega que seja uma tal regra implicada por 1), insere entre 2) e 3) a definição:
2a) Todas as promessas são actos de nos colocarmos a nós mesmos debaixo de
(contrair) uma obrigação de fazer a coisa prometida,
o que nos permite tornar a última expressão de 1a) («promete pagar a Smith cinco
dólares») equivalente à expressão «coloca-se debaixo de (contrai) uma obrigação de
pagar a Smith cinco dólares». No entanto, isto mostra - assim prossegue a objecção - que
1a) aplica ou implicitamente contém um princípio moral sintético («as promessas
implicam as obrigações correspondentes» ou «as promessas são para ser cumpridas») 52.
O argumento deve sofrer um desenvolvimento ulterior, de modo a responder à
objecção. Tanto 1a) como 2a) são regras constitutivas de uma promessa, que é portanto
um facto institucional. Afirmam factos, na medida em que factos institucionais tais como
leis, ou regras da moralidade social, são factos. Não descrevem aquilo que os ingleses (e
os portugueses) geralmente fazem ao prometer, mas como se devem compreender os
ingleses (e os portugueses) sempre que fazem uma promessa. Assim, 1a) não é
meramente um enunciado descritivo acerca do uso da língua inglesa (e da língua
portuguesa). Justamente, 2a) não é uma definição tautológica. Permite valorar a conduta
de uma pessoa no futuro, quer mantenha a promessa, quer a quebre (quer cumpra, quer
viole a obrigação implicada na promessa).
Agora, «as promessas são para ser cumpridas» pode querer apenas dizer uma
maneira mais coloquial de expressar 2a). O próprio Searle reconhece que «a prova no seu
todo assenta num apelo à regra constitutiva de que fazer uma promessa é contrair uma
obrigação». Mas acrescenta «e esta regra é uma regra semântica da palavra 'descritiva'
'promessa'.»53 Alguns dos seus críticos, contudo, tal como Hare, mantêm que se trata de
uma regra moral. Penso que ambos se enganam. 2a) é uma regra constitutiva do sentido
das promessas e do próprio jogo do prometer. Mas é por essa mesma razão que as
52
Assim Hare, loc.cit., que é incapaz de discriminar entre as regras constitutivas do jogo do prometer e as
regras regulativas da ética.
17
promessas são factos institucionais, e que a palavra «promessa» não é meramente uma
palavra descritiva. Não podemos descrever factos institucionais - os jogos são um tipo sem o recurso às regras da instituição, e não nos podemos recorrer a uma instituição como fez Jones ao pronunciar tais palavras em tais circunstâncias - sem que aceitemos
todas as suas regras - e, assim, Jones tomou como implícito que as promessas são para
serem mantidas, sem que o houvesse dito. Não só constitui 2a), juntamente com factos e
outras regras, o jogo do prometer ( ou instituição da promessa), como regula, e valora
também a conduta dos jogadores. Mas regula a conduta apenas do ponto de vista do jogo
do prometer. Por isso afirma agora Searle precisarmos nós de distinguir entre:
5') No que respeita à sua obrigação de pagar a Smith cinco dólares, Jones deve
pagar a Smith cinco dólares, e
5”) Tudo considerado, Jones deve pagar a Smith cinco dólares.
Searle correctamente ressalta que, «caso interpretemos 5) como 5” , ) não podemos
derivá-Io de 4) sem o concurso de premissas adicionais»
54
. Isto mostra que estamos a
lidar com a obrigação, e o correspondente «deve» imanentes à instituição da promessa.
5') poderia reescrever-se «no que respeita à sua promessa...». Mas, então, nem a
obrigação, nem o «deve» são morais. O único enunciado moral no argumento de Searle é
5"), por ele excluído.
Reforçamos o argumento se imaginarmos uma situação de conflito. Jones, por
exemplo, tem de (deve) gastar os seus últimos cinco dólares na compra de alimentos para
que, os seus filhos possam sobreviver. A sua obrigação moral de cumprir a promessa
pode nesse caso ser sobrelevada ou postergada pelos seus deveres como pai, seja qual for
a descrição por nós eleita da situação de conflito. Mas o jogo do prometer e as suas
regras constitutivas do «dever(ser)» das promessas não podem ser sobrelevados ou
postergados numa situação particular. «Sobrelevado» ou «postergado» são termos que
não se usam no jogo do prometer .
53
54
Speech Acts, Cambridge U.P., 1969, p.185.
Ibid. (p.181).
18
Para explicar um conflito moral, recorrem alguns filósofos55 ao conceito de obrigação prima-facie. Numa interpretação, a primeira obrigação, originada pela promessa,
não é afinal, mas apenas parece ser (é, portanto, prima-facie), uma obrigação. Noutra
interpretação, é uma forma mais fraca de obrigação, oposta a uma obrigação absoluta,
que predomina devido à sua superioridade ou força relativa na situação de conflito. Para
o que nos importa, basta notar que ambos os conceitos de obrigação prima-facie são
irrelevantes para a instituição da promessa.
Searle, que destrinça e critica os conceitos de obrigação prima-facie, oferece uma
descrição alternativa, querendo pretender que a obrigação de uma promessa pode ser
sobrelevada por outros tipos de obrigação. Tece uma «distinção entre asserções que
enunciam a existência de obrigações, de deveres, e de outras tais razões de agir e
asserções enunciando aquilo que se deve fazer, tudo considerado.»56 Os conflitos morais
seriam propriamente descritos como opondo diferentes tipos de obrigações (e outras
razões de agir, tais como deveres, responsabilidades, compromissos, etc.), algumas das
quais possivelmente, não necessariamente, morais. Escreve: «obrigações para propósitos
diversos podem ser divididas em, ou classificadas como, jurídicas, financeiras, sociais,
morais, familiares, etc., e as classes não são em geral exclusivas. Não raras vezes, numa
situação particular, as nossas obrigações estão em conflito, entre elas e com razões
morais, tanto como outras espécies de razões, de agir.»57 Como todo o enunciado de
obrigação implica um enunciado do tipo «deve» correspondente, existem vários géneros
de enunciados do tipo «deve» com diferentes sentidos. Desta forma, pode tão bem ser
descrito o conflito se nos servirmos apenas de enunciados do tipo «deve», i.e., dentro da
segunda classe de enunciados deônticos de Searle. Isto prova que nem «obrigação» nem
dever ser são unívocos. A distinção importante não é aquela entre enunciados de
obrigação e enunciados do tipo «deve» mas aquela entre diferentes tipos de obrigação.
Assim admite Searle a distinção entre obrigação significada ao prometer (obligation
meant by promising) e uma obrigação moral, mesmo se destruísse o argumento de que
nos servimos para ela.
55
Ross, W. D. The Right and the Good, Oxford, Clarendon, 1930, pp. 19 ff.; mais recentemente, cf. Hintikka,
J. «Some Main Problems of Deontic Logic» em Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings, ed.
R.Hilpinen, Dordrecht, Reidel, 1971, pp.59 ff.
56
«Prima-facie Obligations» in Philosophical Subjects (Strawson-Festschrift), ed. Z.V. Straaten, Oxford,
Clarendon, 1980, p. 249.
57
Ibid. (p.246).
19
Não penso, contudo, que Searle explique bem a natureza dos conflitos morais. Não
pode haver conflito moral entre obrigações que não são elas próprias morais. Mas
existem obrigações morais de conteúdo idêntico a outros tipos de obrigação
58
. Assim
Jones tem tanto uma obrigação moral como jurídica de pagar a Smith cinco dólares. Mas,
caso a promessa haja sido efectuada sem a forma legal, não é possível torná-la
juridicamente eficaz. Agora para Jones, a obrigação moral de pagar a Smith cinco dólares
devido à sua promessa opõe-se à obrigação moral de alimentar as suas crianças. Os factos
da promessa, num caso, e da relação paternal, no outro, constituem duas fontes de
obrigação moral. Originam razões morais de agir que colidem na presente situação.
Aquilo que, tudo considerado, Jones deve fazer, deve tê-las em conta, juntamente com
outros aspectos relevantes da situação e princípios (morais) de decisão de conflitos
morais. O escopo da questão acerca daquilo que uma pessoa deve fazer tudo considerado
vai além do escopo das instituições da promessa, da moralidade social, e do direito.
Vimos como as regras semânticas constitutivas das promessas, com enunciados
descritivos de factos, implicam frases do tipo «deve». O mesmo se aplica à moralidade
social e, como defenderemos, ao direito positivo, que são ambos factos institucionais,
i.e., factos que não podem ser explicados nem compreendidos sem o auxílio de regras.
As regras semânticas de frases do tipo «deve» em ética relacionam-nas com um
ponto ideal de consenso entre espectadores ideais. Pode ser chamado um facto ideal, um
hipotético contrato social, mas melhor seria não o chamar de todo um facto. Trata-se
meramente do processo de justificação de um tipo de ética filosófica. As frases morais
que discutimos são finas flores da nossa civilização que se espalharam das bocas dos
filósofos às bocas de todos.
6. Reivindicações e realizações do positivismo jurídico
O positivismo jurídico tem-nos vindo a dizer que existe uma tal coisa como o direito
positivo, que proposições acerca do direito positivo são verdadeiras ou falsas consoante
os factos, e que as verdadeiras formam a base de uma ciência descritiva do direito.
Deveremos agora dizer que o positivismo jurídico deriva «dever(ser)» de «ser», ap6s
58
Searle vai longe de mais quando recentemente defende que «a objecção de manter uma promessa não tem
uma relação necessária à moralidade». Speech Acts, p.188.
20
termos admitido que o direito natural não o faz (ou que, pelo menos, não tem que fazêlo)? Vejamos mais de perto como tratam os positivistas deste problema. Concentrar-meei em Bentham e em Kelsen, que sustentam acerca das consequências da lei de Hume
para a teoria jurídica as posições mais distintivas.
Bentham encontrava-se certamente ansioso por apontar os factos atrás do direito.
Tais factos eram para ele a verdade do direito. Permitem-nos reduzir as frases que encontramos no direito e acerca do direito a proposições factuais dotadas de sentido, ou
repudiar as frases irreduzíveis como sem-sentido. Os factos relevantes são: os comandos
do legislador, as decisões, i.e., os comandos individuais dos juízes, as sanções de pena e
de recompensa, os actos de obediência ao soberano e o correspondente hábito do povo.
No Fragment, Bentham fornece duas análises alternativas às frases do tipo «deve» do
direito. Diz a certa altura que uma acção é um objecto de dever (ou obrigação) se é o
objecto de um comando do legislador (ou de um quase-comando do direito
consuetudinário), e noutra altura que uma acção é um objecto de dever se provavelmente
se lhe segue uma pena . Uma reconstrução racional do pensamento de Bentham deverá
acomodar estas definições com desenvolvimentos ulteriores: que nomeadamente existem
leis que assentam em recompensas e leis sem sanção política, i.e., dor ou prazer às mãos
de um superior político, tais como as leis limitando os poderes supremos dentro de um
Estado. Mas se a probabilidade de uma sanção específica não é necessária à existência de
uma obrigação jurídica, um sistema de sanções assente na força e reforçado pela
violência torna-se necessário para explicar a superioridade do soberano que a noção de
comando implica
59
. Se Bentham reduz afinal o direito a proposições acerca da vontade
do legislador ou do juiz, pode ser objecto de disputa, uma vez que, como pôde ele notar:
«é determinado o uso de um mandato pela natureza do acto ou modo de conduta que é o
seu objecto: e onde nenhuma diferença pode haver na conduta do sujeito é sem propósito
assinalar qualquer diferença no espírito do legislador»60. Não obstante, não atentou
Bentham em todo o significado das suas palavras, já que se manteve aparentemente
ligado a uma teoria da linguagem que considera os comandos proposições complexas do
tipo: «é a vontade de s (uma entidade superior) que x faça A.» Faz equivaler
Cf. o meu artigo: «Relire Bentham. A propos de l’edition de ‘Of Laws in General’ de Bentham por Hart»,
Arquives de Philosophie du Droit, 17 (1972), pp. 465 ff.
60
Of Laws in General (C.W., ed.Hart), p.98.
59
21
expressamente «expressar algo» a «enunciar algo acerca da mente do locutor»61.
Permanece assim um psicologista, não alcançando a intenção da lei de Hume. Mas a
nítida distinção por ele traçada entre aquilo que o direito é e aquilo que o direito deve ser
permanece intocável: os factos de que depende o direito positivo são claramente
independentes do prazer e dor prospectivos que deveriam permitir-lhe calcular a
contribuição do melhor direito possível para a felicidade geral. O argumento não assenta
sobre uma ideia correcta da relação entre o direito e os factos que determinam o seu
conteúdo.
Foi Kelsen o primeiro positivista jurídico a retirar todas as consequências da lei de
Hume. Daí não fazer ele uso da distinção «ser-dever (ser)» para separar o direito da ética
ou da moralidade social. São sistemas normativos todos os três, a serem diferenciados
somente por que cada um deles possui uma diferente fonte de validade, uma diferente
norma fundamental. A distinção ser - dever ser assinala em Kelsen a diferença entre tais
sistemas normativos e as leis causais, e, como uma consequência, entre a teoria do direito
e, tanto a ciência natural, como a sociologia do direito. No seu livro póstumo a Teoria
Geral das Normas, Kelsen, cujo pensamento não evoluiu certamente sob influência
directa de Hume, mas certamente sob a de Kant, apraz-se em constatar o seu completo
acordo com as ideias de Hume. Afirma: «No que respeita à relação entre «ser» e «dever
ser» é Hume mais consequente do que Kant. Não existe para ele a razão prática.»62
Kelsen não teria sido um positivista se não tivesse feito o conteúdo do direito
depender de factos. Mas fá-lo: «em assim ser estabelecido – atrás de actos humanos e na
eficácia como uma condição de validade reside a positividade da ética e do direito.63 São
estes dois factos (Seins-Tatsachen), que são condições de validade de uma norma.
Consiste a eficácia em ser a norma observada na maior parte dos casos ou, se não
seguida, na maior parte dos casos aplicada, i.e., na maior parte dos casos ou fazemos
aquilo que a lei pretende que façamos ou a sanção da não observância é aplicada. Mas
Kelsen também afirma que a validade de cada norma depende da eficácia de todas as
outras normas que constituem o sistema normativo
61
64
. Reúno agora estas condições de
An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (C.W., ed. Burns, Hart), p. 299.
Op.cit., p.68.
63
Op.cit., p. 114.
64
Reine Rechtslehre, 2d. ed., Viena; Deuticke, 1960, p. 218; «Professor Stone and the Pure Theory of Law»,
Stanford Law Review, 17 (1965), p. 1139.
62
22
modo a fornecer uma formulação da norma fundamental de Kelsen: se as normas que
foram estabelecidas num sistema normativo são eficazes, então cada norma do sistema é
válida. Se toda e qualquer norma estabelecida num dado sistema jurídico deriva a sua
validade da primeira constituição histórica, a norma fundamental pode igualmente ler-se:
se as normas criadas pela primeira constituição histórica são eficazes, a primeira
constituição histórica é válida. Tivesse Kelsen compreendido o que somos agora capazes
de compreender em Hume, teria dito, penso, que a norma fundamental é a regra
semântica que explica o sentido das frases do tipo «deve (ser)» de um facto institucional
tal como o direito ou a moralidade social. A diferença institucional entre o direito e a
moralidade social é explicada pelos diferentes tipos de sanções, dos quais também
depende a eficácia: actos coercivos, e aprovação ou reprovação social.
Isto podia, e devia ser de Kelsen, mas não é. Diz Kelsen que o sentido de dever ser e
de ser não pode ser objecto de maior elucidação. Assim não é ele capaz de ver como a
Grundnorm é a sua própria definição do direito. Como positivista, contudo, não pode
passar sem ela. Acaba assim nos seus últimos escritos por afirmar que é uma norma
fictícia, uma norma emanada por uma autoridade não existente, uma auto-contradição: «a
admissão de uma norma fundamental – como seja a norma fundamental de um sistema
religioso: 'devemos obedecer aos mandamentos de Deus' ou a norma fundamental de um
sistema jurídico 'devemos fazer como diz a primeira constituição histórica' contradiz não
só a realidade, já que não existe uma tal norma como sentido de um acto real da vontade,
mas é também autocontraditória, porque autoriza uma mais alta autoridade moral ou
jurídica, e tem assim origem numa autoridade que está acima até da última – aliás apenas
fingida.»65 Desta forma, não só acaba Kelsen fazendo afirmações absurdas, como se
esquece das suas próprias condições de validade, abstendo-se por momentos do
positivismo. Não é capaz de explicar como uma mesma frase «A deve casar com B»
(para usar um dos seus exemplos) significa uma norma diferente, consoante seja a
consequência de uma promessa, uma conclusão moral, ou uma obrigação jurídica. Não
vê, finalmente, a diferente relação aos factos que se verifica para o direito e outros factos
institucionais, por um lado, e para a ética ou para a teoria da Justiça, por outro.
65
Allgemeine Theorie der Normen, pp. 206-7.
23
Falta a Kelsen, bem mais do que a Hume, uma teoria semântica aceitável, para não
dizer uma filosofia da linguagem. Por isso, embora tenha correctamente reconhecido que
a validade das normas da ordem jurídica depende da norma fundamental, foi incapaz de
especificar a natureza desta última, como síntese das normas constitutivas da ordem
jurídica. Tais normas não permitem passar de «é» a «deve» contra a lei de Hume, como
dedução lógica de dever ser a partir de ser. Os factos constitutivos do direito não
implicam logicamente o direito, são apenas uma condição da sua validade: se se
verificam, as normas vigoram, devem ser aplicadas. Mas, contra o que pensa Kelsen, a
validade depende de factos de acordo com o reconhecimento judicial das normas
constitutivas do direito, como mostrou Hart, e não de acordo com a eficácia externa das
normas (ou só em parte de acordo com a eficácia, por ser esse o conteúdo do
reconhecimento).
Também contra o que pensa Kelsen, a validade não depende apenas da eficácia, mas
também da correcção, isto é, da justiça ou racionalidade do direito. Em que medida? Essa
medida depende do reconhecimento. As normas constitutivas do direito evoluíram de um
sistema de sujeição reconhecida para um sistema de racionalidade pública reconhecida.
E, por consequência, a definição do direito também não é imutável, mas varia com as
regras constitutivas que determinam o que é direito. Quer isto dizer que o positivismo
jurídico deixou de estar de acordo com a realidade.
Tal é, pelo menos para mim, também uma consequência importante, senão da lei de
Hume, do esforço que fiz por respeitá-la.