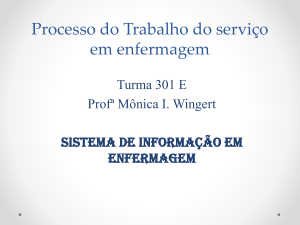O PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM E A VIVÊNCIA DO MORRER EM
UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO
Maria das Graças Monteiro de Farias
Enfermeira. Especialista em Saúde Pública, Saúde do Trabalho. Mestre em Terapia
Intensiva pelo Instituto Brasileiro de Terapia Intensiva- IBRATI
Orientadora:
Profª Ms. Angélica Corrêa de Araújo Souza
A
morte é um fenômeno presente no cotidiano de todo profissional da saúde que
presta assistência em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) o que, com
frequência, determina a relação de aproximação ou afastamento com o cliente .
Como afirma Klüber Ross, em seu livro sobre a morte e o morrer (1998), culturalmente
o homem não está preparado para sua morte. Constata-se cotidianamente o despreparo
do profissional da saúde e, em particular, da enfermagem, para lidar técnica e
emocionalmente com este fato. O estudo teve o intuito de levantar e discutir a forma
como os profissionais de saúde experimentam as situações de morte nas Unidades de
Tratamento Intensivo. Foi utilizado como metodologia a análise bibliográfica com
avaliação qualitativa. O trabalho possibilitou destacar que o sofrimento relacionado à
vivência da morte e do morrer observado cotidianamente em UTIs repercute no
profissional de enfermagem uma sobrecarga física e emocional, fator que é apontado
pela literatura especializada como relacionado ao aumento da incidência da Síndrome
de Burnout entre esses profissionais. Assim, uma outra observação e indicação realizada
com base nesta avaliação está na necessidade da criação de espaços para a elaboração
das vivências de morte dentro das instituições de saúde, defendendo que temas
relacionados à morte e ao morrer sejam mais amplamente discutidos e refletidos nos
cursos de formação profissional, objetivando melhor preparar os futuros profissionais de
Enfermagem para lidarem com essa questão em seu cotidiano profissional.
Palavras chaves: Unidade de Terapia Intensiva. Morrer. Profissional de Enfermagem.
he death is present in the daily life of every professional health that assists in the
Intensive Care Unit (UCI), and often determines its relationship with the client.
How said Kluber Ross in his book on death and dying (1998), the man is not
culturally prepared for his death. Daily perceives the unpreparedness of the
health professional and, in particular, the nursing professional, to deal with the dying.
The study aimed to raise and discuss how health professionals experience death
situations in intensive care units UCI). The study concluded that the suffering associated
the experience of death in intensive care units (UCI) causes physical and emotional
burden on health professionals, factor that the literature relates to the increased
incidence of burnout syndrome among these professionals. Also notes the need to create
spaces for the preparation of the experiences of death within healthcare institutions, and
argues that issues related to death and dying should be more widely discussed and
reflected in vocational courses, for better preparing future nursing professionals to deal
with this issue in their daily professional activities.
T
Keywords: Nursing professionals; death and dying; UCI.
1 INTRODUÇÃO
Segundo uma concepção generalizada na filosofia e nas ciências humanas em
geral o homem é o único animal que tem consciência da própria morte, que sabe que é
finito e que sua história se insere dramaticamente no tempo, um tempo bruscamente
interrompido pela morte. A consciência da própria finitude é certamente um dos mais
significativos traços distintivos entre o homem e os demais animais, na medida em que
mesmo em culturas bastante primitivas foram encontrados sinais de práticas simbólicas
de sepultamento e/ou conservação dos mortos. Conforme salienta Morin, “não existe
nenhum grupo arcaico, por mais primitivo que seja, que abandone seus mortos ou os
abandone sem ritos” (MORIN, 1997, 25), e o que essas praticas rituais revelam é tanto a
consciência de um corte profundo entre vida e morte quanto a necessidade de lidar com
o horror da morte, com aquilo que Morin chama de “traumatismo da morte”, sendo essa
primeira experiência dolorosa da finitude humana o elemento chave para compreender
boa parte das crenças e ritos das diferentes civilizações humanas.
A verdade é que morte incomoda e desafia nosso desejo de onipotência, não
sendo gratuito que as sociedades contemporâneas, que conheceram um desenvolvimento
tecnológico assombroso, sequer imaginado pelas sociedades pré-modernas, tenha
construído diferentes estratégias tanto de adiamento (a indústria da beleza que nos
promete o “elixir da juventude”) quanto de afastamento da morte (a morte se torna algo
que “acontece” cada vez mais em espaços específicos e distantes do círculo doméstico
ou comunitário).
Apenas para fazer um contraponto com essa forma com a qual a sociedade
contemporânea ocidental se relaciona com a morte lembremos dos estudos de Philippe
Áries, A história da morte no Ocidente, onde o historiador francês vai demonstrar que
há uma grande diferença nas formas como as diferentes sociedades vão lidar com a
morte. Por exemplo, nas sociedades tribais, onde a noção de indivíduo isolado tem
pouco significado, a morte não é encarada como um problema, pois não é entendida a
partir de uma perspectiva individual, mas se encontra integrada em práticas rituais
coletivas de culto aos mortos. Na medida em que o sentimento de individualidade se
encontra esvaziado, e o “eu” se dissolve na totalidade maior da comunidade a morte não
é percebida como dissolução ou fim, mas simplesmente como uma nova categoria de
existência possível: passa-se à pertencer à comunidade dos mortos. Nessas comunidades
tribais há uma permanente porta de comunicação entre o mundo dos mortos e o dos
vivos por meio de sonhos, aparições e outros sinais mágicos.
Já no período medieval a morte foi considerada um momento de transição das
coisas passageiras para as eternas, uma grande cerimônia pública e um ritual a ser
compartilhado por toda a família e comunidade. A morte era pressentida por sinais e
visões que avisavam a necessidade do moribundo preparar (1986, p. 80-83) a sua alma e
também da família preparar o ritual de passagem, pois ninguém morria só: a morte era
uma festa, momento máximo do convívio social onde todos deveriam acompanhar a
passagem do moribundo para o além, inclusive as crianças (ARIÈS, 1989, p. 24).
Na Idade Média a morte era tratada como um rito de passagem para a morada
definitiva da alma, a derradeira peregrinação do homem medieval. Entretanto, como o
mundo dos vivos estava ligado ao dos mortos, na medida em que a sociedade medieval
era intrinsecamente religiosa, a morte era encarada de forma serena e resignada, sendo
papel da Igreja e de seus sacerdotes preparar a alma do fiel (e depois do moribundo)
para essa derradeira viagem.
Muito embora desde o começo da Idade Média até o século XIX as
representações e, conseqüentemente, as atitudes do homem perante a morte tenham
sofrido transformações importantes, o que não mudou, até então, era a familiaridade
com a morte e com os mortos. “A morte tornara-se um acontecimento pleno de
conseqüências; convinha pensar nela mais apuradamente. Mas ela não se tornara nem
assustadora nem angustiante. Continuava familiar, domesticada” (ARIÉS, 1989a, p. 44).
Atualmente, na maior parte das sociedades industrializadas, a morte é mantida à
distância, e de acordo com Áries (2003), três fenômenos acompanham o tratamento da
morte na modernidade, quais sejam:
A ocultação e banimento da morte diante dos olhos da sociedade, de tal forma
que nos comportamos como se a morte não existisse, idéia que é disseminada
pelos meios de comunicação de massa.
A transferência para o hospital, onde a morte é escondida.
A extinção do luto.
Para entender o significado desse movimento de afastamento é preciso lembrar
que até pouco tempo atrás não era comum que os mortos fossem velados fora do
ambiente familiar sendo que, nas famílias importantes, eles eram enterrados no próprio
terreno da Igreja a qual pertenciam, onde continuavam a conviver, em certo sentido,
com sua comunidade de fé. Mas não apenas os já mortos foram sendo progressivamente
afastados do convívio comum da comunidade, também os doentes, os moribundos, os
idosos, todos aqueles que, de uma forma ou de outra, já anunciam em sua carne a
brevidade da vida.
Nas grandes cidades é comum, por exemplo, que os doentes terminais sejam
mantidos nos hospitais para ali morrer, distantes de seus familiares e de suas casas, fato
que no mais das vezes não pode ser sequer justificado pela necessidade de atendimento
profissional urgente. Atendidos em ambientes assépticos e com técnicas cada vez mais
sofisticadas que prolongam a vida sem que, no entanto, possa-se se dizer que esses
últimos momentos de vida sejam significados ou gratificantes. Com freqüência, muito
embora a eficiência de médicos e enfermeiros, o moribundo se sente solitário e
deprimido pela impessoalidade do atendimento.
Para Áries (2003) a expressão da morte na sociedade contemporânea vai
tornando-se cada vez mais clandestina e inominável: “Tudo se passa como se nem eu
nem os que me são caros não fôssemos mais mortais. Tecnicamente, admitimos que
podemos morrer, fazemos seguros de vida para preservar os nossos da miséria. Mas,
realmente, no fundo de nós mesmos, sentimo-nos não-mortais” (p. 106).
2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Levantar e discutir a forma como os profissionais de saúde experimentam as situações
de morte nas Unidades de Tratamento Intensivo.
2. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Construir um breve histórico sobre as mudanças nas concepções e percepções da
morte e do morrer no mundo ocidental contemporâneo.
Discutir as percepções e estratégias do profissional de saúde acerca da morte e
do morrer no contexto da UTI.
Investigar o impacto de tais experiências no profissional de enfermagem.
Propor ações e estratégias que, por um lado, tornem o profissional de
enfermagem mais preparado para lidar com as situações de morte no exercício
de sua função e, por outro lado, humanizem a relação do profissional com o
paciente em estado terminal e com a família do mesmo.
3 METODOLOGIA
O estudo é de natureza qualitativa do tipo bibliográfica. A busca do
material foi realizada em bancos de dados informatizados, LILACS, MEDLINE, BVS,
SCIELO e em livros. A escolha do material bibliográfico obedeceu à adequação e
relevância dos mesmos para o tema proposto à pesquisa.
4 REVISÃO TEÓRICA
4.1 Percepções do profissional de enfermagem em UTI sobre o morrer
Se, como afirma Áries (2003), a forma como a sociedade contemporânea se
relaciona com a morte é marcada por um processo de “esquecimento voluntário”, como
se daria então a relação do profissional de enfermagem, em especial aqueles que atuam
em UTI, com a experiência do morrer? Sendo a morte isso que a sociedade de consumo
e do espetáculo se esforça em esquecer, como será a percepção do profissional de saúde
a esse respeito, dado que, por força da profissão, cotidianamente convive com situações
onde a morte é um horizonte imediatamente provável? Lembramos aqui as palavras de
Leloup (2005), que chama atenção para as angústias vivenciadas pelos profissionais de
saúde ao vivenciar a morte em uma sociedade onde esse é um assunto interdito:
Com efeito, os profissionais da saúde são, antes de tudo, pessoas. Como todo mundo,
sofrem com esse menosprezo pelas questões relativas à morte, cresceram em uma
sociedade na qual já não se fala desse assunto. Como acontece com todos nós, eles
sentem a ausência de sentido, que é o resultado do afastamento das grandes tradições
que nos preparavam para a morte e nos ajudavam a decifrar o sentido de nossas
existências. Por imposição da laicidade, a maioria dos lugares públicos a serviço dos
seres humanos – entre outros, o hospital – são espaços onde quase nunca são abordadas
as questões essenciais, as questões relativas à morte e ao sentido da vida” (LELOUP,
2005, p. 15).
Tendo de lidar com as angustias e inseguranças de pacientes e família, bem
como com as próprias questões sobre o morrer, o profissional de saúde em UTI é
duplamente vulnerável, pois se por um lado a morte de um paciente é com freqüência
vista como uma declaração de impotência e fracasso profissional - um momento onde o
profissional de enfermagem precisa enfrentar os limites dos saberes médico-terapeuticos
aprendidos em anos de estudo e prática - , por outro lado, ao vivenciar a morte do outro
todos vivenciamos nosso próprio morrer, e a morte é certamente um dos momentos
onde questões existenciais importantes são postas em questão. Conforme salienta
Kovacs (2010)
O profissional de saúde, em contato com o sofrimento nas suas diversas dimensões,
vive conflitos sobre como se posicionar frente à dor, que nem sempre consegue aliviar.
Precisa elaborar perdas de pacientes, o que é mais penoso quando morrem aqueles com
que estabeleceu vínculos mais intensos. Este convívio com dor, perda e morte traz ao
profissional a vivência de seus processos internos, sua fragilidade, vulnerabilidade,
medos e incertezas, que nem sempre tem autorização para compartilhar (p. 425).
De acordo com Kovacs (2010) o cotidiano dos profissionais pode gerar grande
estresse tanto pela dificuldade de lidar com a dor e a perda do outro quanto pela
interdição da expressão dessas emoções dolorosas relacionadas ao morrer. Essas
situações de estresse profissional podem levar ao adoecimento e à depressão, sendo
relacionada pelo autor ao aumento da incidência da Síndrome de Burnout entre eles. A
Síndrome de Burnout é descrita um disturbio psiquico de caráter depressivo, precedido
de esgotamento físico e mental intenso. De acordo com Carvalho (1996) esta síndrome
envolve profissionais submetidos a estresse emocional crônico, surgindo sintomas
psicológicos e comportamentais. Entre os sintomas somáticos estão: exaustão, fadiga,
cefaleias, distúrbios gastrintestinais, insônia e dispnéia. Os sintomas psíquicos
observados são: humor depressivo, irritabilidade, ansiedade, rigidez, negativismo,
ceticismo e desinteresse.
Villa e Leite (2005), em estudo onde buscam identificar dificuldades vivenciadas
pela equipe multiprofissional que atua na Unidade de Terapia Intensiva, descrevem que
as maiores dificuldades relatadas estão relacionadas ao contato com os familiares, com a
falta de recursos materiais e, especialmente, com o relacionamento entre os membros da
equipe. Para as autoras os resultados evidenciaram a necessidade de que a equipe
promova momentos para reflexão e discussão acerca dos aspectos técnicos, científicos e
éticos referentes ao cuidado tanto dos pacientes críticos quanto de seus familiares, tendo
em vista a melhoria da qualidade do atendimento e do relacionamento interpessoal.
Costa e Lima (2005), a partir de estudo que investiga como os profissionais de
enfermagem vivenciam o luto frente à morte de crianças e adolescentes hospitalizados,
chegam à conclusão que esses profissionais necessitam de suporte emocional para
viverem o luto e prevenirem a Síndrome de Burnout. Como medida preventiva os
autores recomendam que seja incluído nos currículos de formação do enfermeiro o tema
da morte e que as instituições hospitalares busquem a educação permanente como
estratégia para promover mudanças de atitudes e comportamentos dos profissionais
diante da experiência da morte de um paciente.
Costa e Lima (2005) também identificam, em sua pesquisa, grande conflito na
vivencia de emoções contraditórias e angustiantes relacionadas ao morrer do paciente
em cuidado, principalmente quando o convívio entre profissional e paciente tenha sido
mais prolongado e afetivo. Sentimento de tristeza, pesar e luto se misturam à sensação
de fracasso profissional/existencial e frustração com a própria profissão. Mas, salientam
os autores, ainda é comum que o a vivência do luto seja negada pelo profissional de
saúde, por entender que essa seria uma forma mais “profissional” de agir.
Cabe ressaltar que o luto é uma vivência dolorosa, porém necessária, do
sofrimento causado pela morte e perda de alguém. Ele se caracteriza por sintomas
psicológicos e somáticos que abrangem manifestações afetivas como culpa, ansiedade,
depressão; manifestações comportamentais como fadiga e choro; com atitudes voltadas
a si e ao contexto como auto-reprovação, baixa auto-estima e desamparo; lentidão do
pensamento e da concentração; perda de apetite; distúrbio do sono; queixas somáticas
como dores, náuseas, nó na garganta, palpitações, necessidade de suspirar e sensação de
estômago vazio; mudanças na ingestão e suscetibilidade a doenças (PITTA, 1990).
Muitos dos profissionais de saúde que atuam na UTI podem apresentar alguns
desses sintomas e precisam compreendê-los e vivê-los como manifestações normais de
luto, pois são respostas necessárias diante do morrer, parte de um processo de
elaboração das frustrações relacionadas a essa experiência.
Observamos que os profissionais de enfermagem não estão se permitindo viver o luto,
talvez, na tentativa de se protegerem ou então porque não estão preparados para
conviver com essas manifestações somáticas e emocionais. Eles acreditam que sua
postura deva ser firme e que reconhecer o seu sofrimento significa ferir sua índole.
Ainda há a visão de que o profissional deva ser “frio” ou indiferente na situação de
morte (COSTA e LIMA, 2005, p. 155).
É importante mencionar os riscos desse luto negado e/ou mal vivido pelo
profissional de enfermagem. Como esses sintomas apenas são considerados patológicos
quando interferem na realização das atividades diárias do profissional de saúde é
comum que não se preste atenção ao problema até que ele se transforme em algo maior,
como a Síndrome de Burnout, tendo em vista que alguns autores têm associado esse
estresse relacionado ao morrer do paciente a uma maior predisposição a essa Síndrome
(PITTA, 1990; KOVACS, 2005; 2010; ANTUNES et. al, 2010).
A pesquisa de Salomé, Cavali e Espósito (2009) realizada uma Unidade de
Emergência de um hospital geral e estadual de grande porte, localizado na região norte
de São Paulo, também evidencia que os profissionais de saúde não são preparados para
lidar com as situações de luto, isto porque o morrer é percebido com um fracasso em
relação ao comprometimento que esses profissionais fizeram para a preservação da vida.
Os autores relatam que seus entrevistados descrevem sentimentos de decepção,
impotência e perda e, mesmo sendo o confronto com a morte parte de sua rotina,
encontram dificuldade para vivenciá-la, pois a morte é considerada como fracasso
pessoal e da equipe.
Para Salomé, Cavali e Espósito (2009) parte dessa dificuldade em lidar com o
morrer do paciente em cuidado intensivo é decorrente da exclusão da temática da morte
durante a formação dos profissionais da saúde. O profissional de enfermagem em seu
cotidiano lida com situações de sofrimento e dor, tendo a morte como elemento
constante e presente, mas não encontra muitas oportunidades de externalizar seus
sentimentos e angustias relacionados ao morrer. Por outro lado, uma formação
acadêmica centrada na preservação da vida a qualquer custo, pode fazer com que esses
profissionais sintam-se desmotivados, percebendo sua profissão como frustrante e sem
significado.
4.2 Aprendendo a lidar com a morte e o morrer
Se a cada um de nós possui o desafio de aprender a lidar com nossa própria
finitude e com a de quem amamos e convivemos, ao profissional de enfermagem da
UTI o desafio é maximizado, pois para eles a morte é presença constante e rotineira,
parte intrínseca de seu trabalho. Devido às dificuldades naturais de enfrentamento da
morte o profissional de saúde precisa desenvolver estratégias de enfrentamento do
sofrimento relacionado à morte, a estratégia mais comum é a dessensibilização e o
distanciamento emocional que cria barreiras em relação ao paciente, vendo-o apenas
como um conjunto fragmentado de órgãos, traumas e síndromes, e não em sua
integralidade de pessoa humana.
É comum que na área de saúde seja enfatizado um tratamento “objetivo” do
doente, e a maior parte das instituições são lugares onde se exerce uma competência
técnica cada vez mais exigente e performática, sem espaço para que sejam abordadas as
questões próprias ao sentido, justamente as questões que dizem respeito à vida íntima
dos profissionais da saúde e de seus doentes. Há no ambiente hospitalar códigos de
conduta implícitos que afirmam que o bom profissional deve manter a imparcialidade e
não se envolver emocionalmente com os pacientes, e esse é certamente um dos maiores
fatores de explicação para o profissional negar e encobrir seus sentimentos dolorosos na
vivencia da morte e do morrer na UTI. Percebe-se a necessidade desses profissionais
desenvolver mecanismos de defesa na tentativa de manejar de forma mais adequada a
situação estressante (LELOUP, 2005).
Marinho (2005), em sua dissertação de mestrado onde procurava identificar o
estresse ocupacional e suas manifestações nos profissionais da equipe de enfermagem
que atuam em um hospital privado, bem como conhecer as estratégias de enfrentamento
(coping1) dessa população, conclui que a estratégia de recusa (ignorar o problema ou a
O coping é definido por Marinho (2005, p.56) como “um conjunto de esforços cognitivos e
comportamentais, utilizados pelos indivíduos, com o objetivo de lidar com demandas específicas internas
1
situação) apresenta nesses profissionais níveis muito maiores que os valores médios da
população brasileira e é mais acentuada entre os auxiliares de enfermagem. Outra
estratégia comum é o controle, quando o profissional em situação de estresse busca
controlar a situação estando alerta e bem informado sobre ela, sendo uma estratégia
utilizada pela maioria dos pesquisados (97,9%), juntamente com a busca de apoio social
(91,6%).
Para Marinho (2005) a rotina de trabalho de uma equipe de enfermagem pode
ser bastante penosa e estressante, gerando nesses profissionais a necessidade de defesa
para manter o equilíbrio psíquico. Essas estratégias de proteção psíquica podem se
cristalizar causando prejuízo no cuidado com o paciente e na alienação das causas do
seu sofrimento. A autora conclui que estratégias de enfrentamento para o sofrimento nas
funções de enfermagem causam distanciamento emocional do paciente e dos familiares
e pode culminar na valorização dos procedimentos técnicos, o que prejudica a relação
profissional-paciente. Por outro lado, é importante entender que o profissional de
enfermagem tenha consciência do seu sofrimento e das formas que se vale para lidar
com ele, “readaptando-se e realocando investimentos ao tipo de tarefa que realiza, como
do ponto de vista da Instituição de saúde em relação à qualidade dos serviços prestados”
(p. 19).
O despreparo dos profissionais de saúde para lidar com situações emocionais e
afetivas se deve a uma formação acadêmica direcionada para a objetividade de condutas
e para o não envolvimento, o que contribui para o estabelecimento de uma relação
impessoal, autoritária e desigual com os pacientes. Para Kovacs (2010, p. 423), a forma
com que esses profissionais lidarão com aspectos relacionados à morte e ao morrer vão
depender de fatores como: a) sua história pessoal de perdas, experiências e elaboração
dos processos de luto; b) a cultura na qual se insere, pois ela determina em grande
medida as representações que fazemos sobre a morte, as formas de expressão da dor e
de vivencia do luto; c) de sua formação universitária e capacitação em serviço. Por
outro lado, a autora denuncia o que chama de um “silenciamento” oficial em relação à
morte que teria conseqüências graves para a saúde dos profissionais de enfermagem:
Há um silenciamento da morte nos hospitais, que coincide com a situação em que se vê
a morte como fracasso de profissionais de saúde. Profissionais de saúde se ligam a
alguns pacientes e quando ocorre a morte têm que lidar com a sensação de fracasso e
impotência e entram em processo de luto, que não é reconhecido e autorizado. Este fato
é reforçado pelo que aprenderam na sua formação: não se envolverem com seus
pacientes. Surgem então mecanismos de defesa que podem ser inconscientes, sintomas
psicossomáticos, que se exacerbados culminam em colapso. Repressão das emoções
provoca esgotamento psíquico, diminuindo a concentração, aumentando o consumo de
substâncias químicas, levando à depressão e tentativas de suicídio. Sem contato com
suas emoções e intuição não podendo acessar recursos criativos e espirituais e sem
contato com sua alma o adoecimento pode acontecer (2010, p. 425).
Em outro artigo onde defende a necessidade de uma “educação para a morte”
direcionada tanto ao público leigo (crianças, adolescentes, adultos e idosos em geral)
quanto aos profissionais de saúde, Kovacs (2005) faz diversas sugestões de praticas
educativas para abordar o tema. Em relação à formação do profissional de enfermagem,
Kovacs (2005) sugere uma abordagem multidisciplinar diversificada sobre a vivencia da
morte e do morrer em UTI nos cursos de graduação, de pós, atualização, especialização,
workshops, vivências, supervisão, grupos focais, etc.
ou externas surgidas em situações de estresse quando este sobrecarrega ou excede seus recursos
pessoais”.
Conclusões próximas são as de Santos, Mochel e Rafael (2010, p. 14), que
defendem a importância da humanização do trabalho, o cuidado com o cuidador, a
inserção de espaços nos ambientes de trabalho onde possam ser discutidas a morte e o
morrer, e a inserção no currículo dos profissionais da área de saúde de disciplinas que
preparem o futuro profissional para lidar com o ser humano no ciclo de vida e morte.
Costa e Lima (2005) concluem que os profissionais de enfermagem estão
extremamente vulneráveis à Síndrome de Burnout pelo estresse relacionado à uma
vivencia da morte e do morrer interditada. Para os autores é urgente que ajudá-los a
compreender a morte como uma etapa que precisa ser vivida e ajudá-los a entender o
luto como uma resposta necessária à perda e à morte de pacientes que estavam sob seus
cuidados. Em relação ao tipo de ações que poderiam ser empreendidas os autores
enfatizam que as mudanças precisam acontecer simultaneamente nas instituições de
formação dos profissionais de enfermagem e nas instituições hospitalares. Os autores
recomendam que seja incluído nos currículos o tema da morte e que as instituições
hospitalares busquem a educação permanente como estratégia para promover mudanças
de atitudes e comportamentos dos profissionais junto ao paciente que está morrendo.
Por outro lado Pinho e Barbosa (2010) chamam atenção para a dificuldade de
inserção dessa temática nos currículos de formação dos profissionais de saúde, inclusive
do enfermeiro. Para os autores:
O educar para cuidar da pessoa em processo de morte parece somente se fazer possível
pela reflexão do existir humano, do pensar e aceitar a finitude. Compreendendo a
própria morte e o próprio existir será possível projetar possibilidades de educar a cuidar
no processo de morte (p. 112).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste trabalho possibilitou a reflexão e a compreensão das
dificuldades vivenciadas pelo profissional de enfermagem na vivência das experiências
de morte e do morrer na UTI. Uma das primeiras conclusões a que se chega é a de que
os profissionais da saúde encontram-se particularmente vulneráveis a essas questões
pelo fato de estarem na linha de frente onde se manifesta tanto a percepção da morte
como golpe certeiro no sentimento de onipotência humana como o enfrentamento do
sofrimento dos pacientes e de suas respectivas famílias.
Concluímos também que o sofrimento relacionado à vivência da morte e do
morrer pelo profissional de enfermagem incide sobre o cotidiano desses profissionais,
causando-lhes grande sobrecarga física e emocional. A maior parte dos autores
pesquisados apontam a necessidade da criação de espaços para a elaboração das
vivências do morrer dentro das instituições de saúde, e também para a necessidade de
essa temática ser trabalhada de forma mais ampla nos cursos de formação profissional,
preparando melhor os futuros profissionais de Enfermagem para lidarem com esse
processo em seu cotidiano profissional (ANTUNES, MOTA e SOUZA, 2007; PINTO e
BARBOSA, 2010; COSTA e LIMA, 2005; KOVACS, 2005 e 2010; MARINHO,
2005).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. ANTUNES, Izabella de Oliveira; MOTA, Ingrid Stefanine Silva; SOUZA, Ana Augusta Maciel.
Vivenciando a Morte na Pediatria: sofrimento da Equipe de Enfermagem. Revista Multidisciplinar
Faculdades Integradas Pitágoras. n. 10 (2010): RM 10-10.
2. ARIÈS, Philippe. Sobre a História da Morte no Ocidente desde a Idade Média. Lisboa: Teorema
3. CARVALHO VA. A vida que há na morte. In: BROMBERG MHPF, KOVÁCS MJ, CARVALHO,
MMJ. Vida e morte: laços da existência. São Paulo: Casa do Psicólogo; 1996.p.36-76.
4. COSTA, Juliana Cardeal da; LIMA, Regina Aparecida Garcia de. Luto da equipe: revelações dos
profissionais de enfermagem sobre o cuidado à criança/adolescente no processo de morte e morrer.
Rev Latino-am Enfermagem 2005 março-abril; 13(2):151-7
5. GUTIERREZ, Beatriz Aparecida Ozello; CIAMPONE., Maria Helena Trench. O processo de morrer
e a morte no enfoque dos profissionais de enfermagem de UTIs. Rev Esc Enferm USP 2007;
41(4):660-7.
6. KOVACS, Maria Júlia. Sofrimento da equipe de saúde no contexto hospitalar: cuidando do
cuidador profissional. O Mundo da Saúde, São Paulo: 2010;34(4):420-429.
7. ____________________. Educação para a morte. Psicol. cienc. prof. v.25 n.3 Brasília set. 2005.
8. KÜBLER-ROSS, Elisabeth. SOBRE A MORTE E O MORRER: o que os doentes terminais têm
para ensinar a médicos, enfermeiras, religiosos e aos seus próprios parentes. 8ª Ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1998.
9. LEITE, Maria Abadia; VILA, Vanessa da Silva Carvalho. Dificuldades vivenciadas pela equipe
multiprofissional na unidade de terapia intensiva. Rev Latino-am Enfermagem 2005 março-abril;
13(2):151-7.
10. LELOUP, J. Y. & Hennezel, M. A arte de morrer – Tradições religiosas e espiritualidade
humanista diante da morte na atualidade. Petrópolis: Vozes, 2005.
11. MARINHO, Rita de Cássia. Estresse ocupacional, estratégia de enfrentamento e Síndrome de
Burnout: um estudo em hospital privado. Dissertação. Taubaté: UNITAU, 2005.
12. MORIN, Edgar. O homem e a morte. São Paulo: Imago, 1997.
13. PINHO, Licia Maria Oliveira; BARBOSA, Maria Alves. A relação docente-acadêmico no
enfrentamento do morrer. Rev Esc Enferm USP 2010; 44 (1); 107-112.
14. PITTA, Ana. Hospital: dor e morte como ofício. São Paulo (SP): Hucitec; 1990.
15. SALOMÉ, Geraldo Magela; CAVALI, Amanda; ESPÓSITO, Vitória Helena Cunha. Sala de
Emergência: o cotidiano das vivências com a morte e o morrer pelos profissionais de saúde. Rev
Bras Enferm, Brasília 2009 set-out; 62(5): 681-6.
16. SANTOS, Janaina Luiza dos; BUENO, Sonia Maria Villela. Educação para a morte a docentes e
discentes de enfermagem: revisão documental da literatura científica. Rev Esc Enferm USP 2011;
45(1):272-6.
17. SANTOS, Marinese Herminia; MOCHEL, Elba Gomide; RAFAEL, Eremita Val. Vivenciando a
morte: experiência de profissionais de enfermagem no contexto da unidade de terapia intensiva neonatal.
Rev Pesq Saúde,11(3): 9-15, set-dez, 2010.