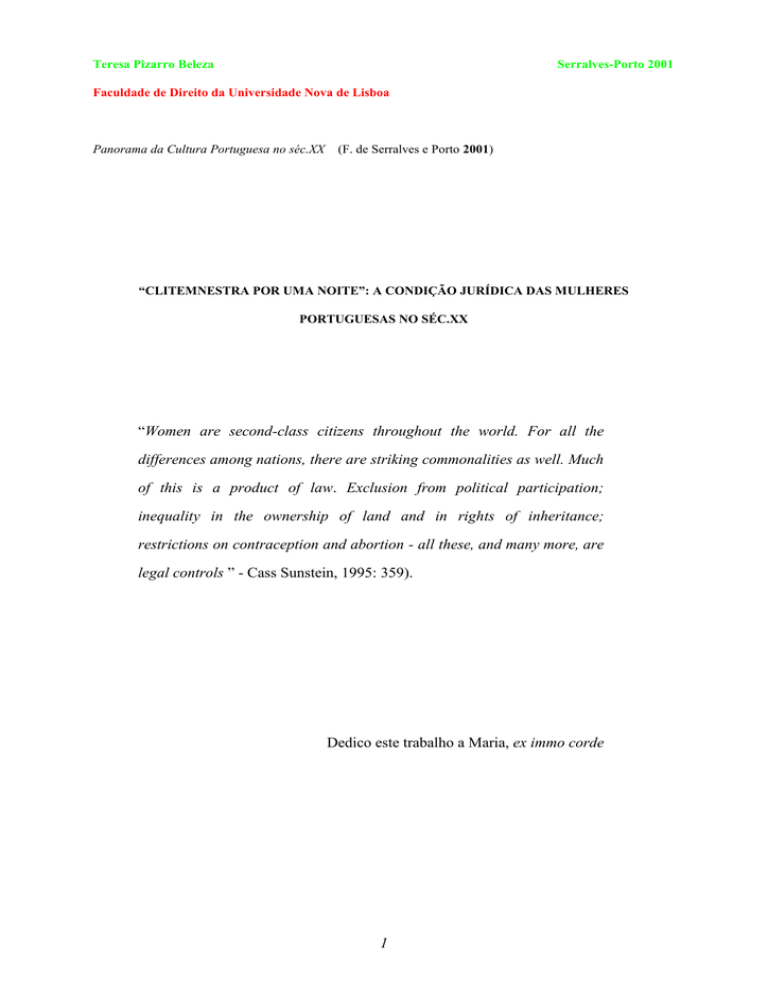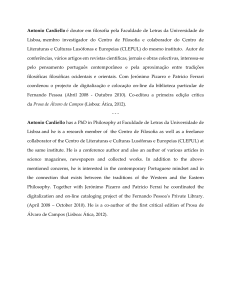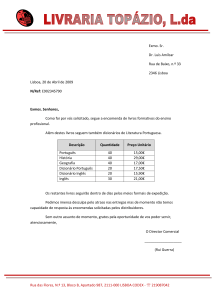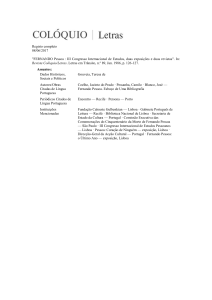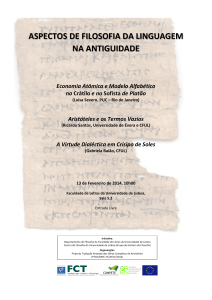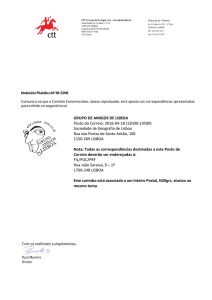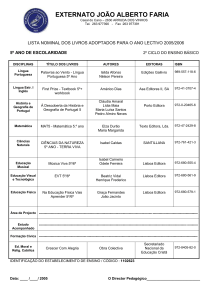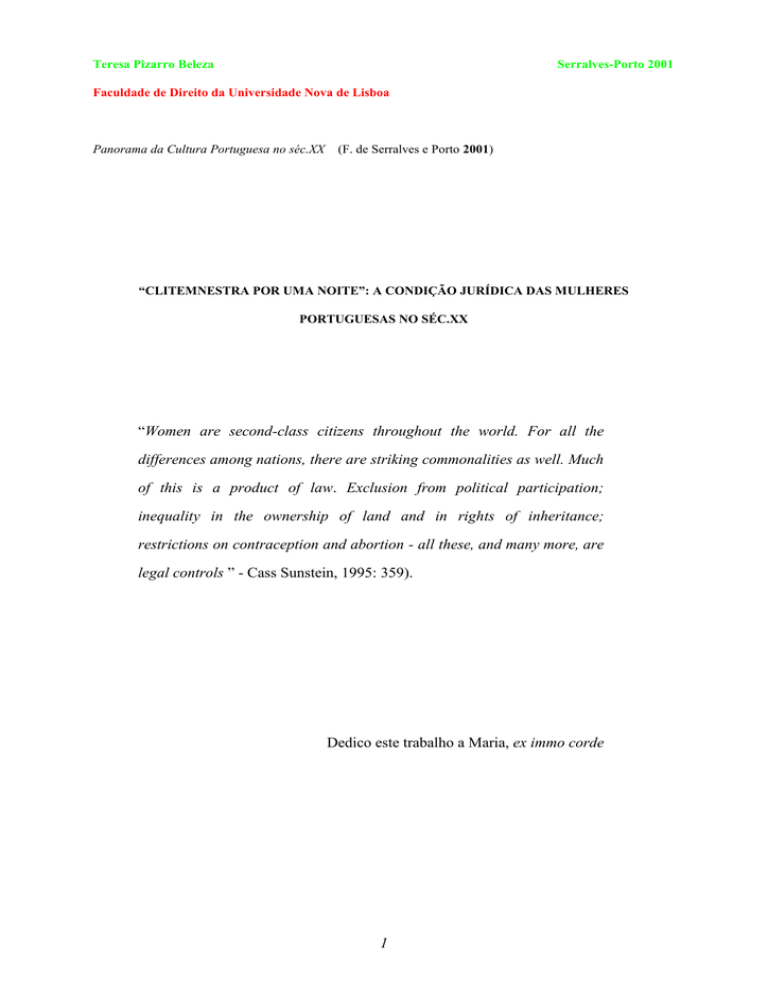
Teresa Pizarro Beleza
Serralves-Porto 2001
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Panorama da Cultura Portuguesa no séc.XX
(F. de Serralves e Porto 2001)
“CLITEMNESTRA POR UMA NOITE”: A CONDIÇÃO JURÍDICA DAS MULHERES
PORTUGUESAS NO SÉC.XX
“Women are second-class citizens throughout the world. For all the
differences among nations, there are striking commonalities as well. Much
of this is a product of law. Exclusion from political participation;
inequality in the ownership of land and in rights of inheritance;
restrictions on contraception and abortion - all these, and many more, are
legal controls ” - Cass Sunstein, 1995: 359).
Dedico este trabalho a Maria, ex immo corde
1
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
SUMÁRIO
I - A “revolução do séc. XX”.
II - Duas questões prévias: o conceito mulheres e o conceito condição jurídica .
II - 1. O carácter problemático do conceito “mulher(es)”.
II - 2. O conceito de condição jurídica.
III - A disciplina “Direito das Mulheres”: o seu papel estruturante do
conhecimento sobre a condição feminina.
IV - Portugal, séc. XX: os antecedentes. A construção jurídica do patriarcado .
V - O Estado Novo: a nova domesticação da mulher casada.
VI - Os grandes textos jurídicos internacionais. Presença/Ausência das mulheres
nos textos jurídicos da Modernidade.
VII - O Direito internacional: o papel da Organização das Nações Unidas.
VIII - O controlo da sexualidade feminina: casamento, contracepção e aborto.
IX - O mundo do trabalho.
X - A mulher e o Estado: nacionalidade, direito de voto e serviço militar.
XI - E o Futuro?
2
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
Foemina animal mutabile, varium, inconstans, leve, secreti incontinens...
Não se trata de um excerto de um libreto de ópera, embora pareça, mas de um
conjunto de epítetos sobre a mulher coligidos por um jurisconsulto francês antigo (LainguiLebigre, sd, p.92) que retrata com fidelidade uma boa parte da tradição jurídica europeia com
raízes fundas na tradição cultutal e jurídica greco-latinas. Estudar o Direito Romano sobre a
autoridade do paterfamilias ou ler Aristóteles sobre a função e o estatuto dos dois sexos
social e legalmente reconhecidos é compreender em boa medida, ainda que numa redução
brutal do efeito de escorço temporal que tal exercício implica, uma boa parte das regras
jurídicas que disciplinaram as relações entre homens e mulheres no nosso Direito durante o
próprio século vinte1 . Como no resto, nada aqui é unilinear ou sem sobressaltos. Mas a ideia
de progresso, tão cara a alguns optimistas, sofre abalo certo com a contemplação do que foi,
por exemplo, o retrocesso da condição feminina, em muitos aspectos, no séc. XIX, nas
sociedades europeias2 . Em Portugal, também. Mas neste aspecto, como seguramente em
outros, o séc. XX português prolongou, por muito tempo, o tempo de oitocentos...
I - A “revolução do séc. XX”
“The greatest revolution in the twentieth century world has been the changed status
of women in society...” - assim começa a entrada sobre “emancipação das mulheres” no
Penguin Dictionary of Twentieth Century History (1900-1978). Ainda que em anos
posteriores o mundo tenha conhecido outras extraordinárias revoluções (a queda do muro de
Berlim, o fim do Apartheid na África do Sul) creio que a afirmação se mantem verdadeira.
E no entanto, essa “revolução” está muito longe da sua completude. Não só os
factores de resistência e reacção são inúmeros, como novas formas de discriminação vão
“insidiosamente” surgindo.
“Peut-être en effet la lutte contre la discrimination est-elle un processus
permanent, où l’interaction entre les discriminations héritées du passé et les formes
de discrimination nouvelles exige une surveillance constante et d’incessantes mesures
correctives. Mais les optimistes voient un progrès considérable dans le simple fait que
la discrimination n’est plus quelque chose qui va de soi mais est dénoncée et
combattue et a cessé d’être acceptée comme la norme pour devenir une exception
inacceptable “ (TOMASEVSKI, 1998)
Se em Portugal o séc. XX começa, social e politicamente falando, com a Revolução
Republicana, os auspícios para a população feminina não são famosos. À semelhança do que
aconteceu noutras revoluções, as promessas às aliadas são depressa esquecidas. É um facto
que a República legisla rapidamente sobre o divórcio e que o Decreto nº 1, de 25 de
1
Sobre uma parte das implicações do que aqui vai tão resumidamente escrito pode ler-se o belo livro de Susan
M.OKIN, (1979) Women in Western Political Thought.
2
É muito curioso o texto de Genviève Fraisse sobre a misoginia de Strindberg (in DAUPHIN e FARGE, eds,
1997) como exemplo da reacção à emancipação das mulheres nos finais do séc. XIX.
3
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
Dezembro, estabeleceu no artº 39º o princípio de que “presentemente a sociedade conjugal
baseia-se na liberdade e na igualdade”. Mas a aplicação real desta igualdade esbarrou mesmo antes de vários retrocessos legislativos3 , anacronicamente cristalizados em 1966 com inúmeras práticas e regras que de todo se opunham a qualquer ilusão de igualdade.
Processos de divórcio como o que opôs Alfredo da Cunha à sua mulher Maria Adelaide
(Infelizmente louca , Doida não ) demonstram a possibilidade de meios “alternativos” de
controlo serem utilizados para as mulheres recalcitrantes: nesta cause célèbre , o recurso à
psiquiatria para rotular como loucura a decisão de autonomia amorosa e existencial de uma
senhora da sociedade burguesa lisboeta bem pensante.
Em qualquer caso, a cidadania plena, mesmo no plano puramente formal das
mulheres, consubstancializada na sua ligação directa com o Estado, só chegará com o direito
de voto (e, ainda então, incompletamente) quase sessenta anos mais tarde; e mais tarde ainda
com as alterações à Lei da Nacionalidade posteriores à outra Revolução que deu origem à
segunda República. Por isso, a famosa frase de Virginia Woolf, “As a woman I have no
conuntry, as a woman my country is the whole world ”, escrita (em Three Guineas ) a
propósito da sua análise da guerra que se preparava, é de pleno direito aplicável às mulheres
em Portugal até quase ao final do séc. XX.
Ainda que não seja possível hoje encontrar uma medida ou uma escala de “progresso”
como a pressuposta na famosa frase que Marx e Engels tomaram de Fourier, dada a infinita
variação que a Antropologia documentou também nesta matéria (Rosaldo, 1980), é
certamente defensável que o estatuto jurídico das relações sociais de género constitui traço
relevantíssimo da cultura de uma sociedade em determinado período ou momento. Por isso, a
proposta da sua inclusão numa obra sobre o panorama cultural do séc. XX em Portugal é sinal
evidente de esclarecida compreensão das coisas. Não só a Antropologia - tomemo-la aqui
como, simplificadamente, o estudo de Culturas - se tem debruçado proficuamente sobre
elementos do Direito vigente em algumas sociedades (cada vez mais desejadamente as
nossas, progressivamente abandonado o etnocentrismo dos inícios desse discurso científico),
mas também o caminho inverso pode ser percorrido: um olhar cruzado, inverso, “simétrico” tanto quanto aqui possa existir simetria - será um enriquecimento da nossa percepção do
universo cultural , olhando do Direito como local de produção discursiva altamente
estruturante de uma sociedade, o mesmo é dizer, da sua cultura.
II - Duas questões prévias: o conceito mulheres e o conceito condição jurídica
Antes, porém, da análise da “condição jurídica” das “mulheres”, será necessário determe nas dificuldades destas duas expressões: o que são as mulheres ? O que é uma (a sua)
condição jurídica ?
Ao primeiro problema tentam responder, na teoria feminista, as discussões que giram
em torno de identidade, essencialismo, relativismo, diferença e igualdade. Uma parte desta
discussão pode ser historicamente filiada na querela realismo versus nominalismo (BELEZA,
1993. GATENS, 1991).
3
V. Beleza, 1993.
4
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
Numa ponderação do segundo, socorrer-me-ei, de entre várias perspectivas possíveis,
de uma (breve) referência a alguma teoria crítica do Direito; mas, sobretudo, referir-me-ei à já
florescente Feminist Jurisprudence (BELEZA, 1993; DAHL, 1993; BECKER, BOWMAN e
TORREY, 1994).
Tenho também naturalmente consciência do carácter problemático das restantes
expressões utilizadas no mote que me foi dado: “Cultura”, “portuguesa”, “séc. XX”. Mas,
quanto a estas, deixo o seu eventual deslinde a (outras) especialistas.
II - 1. O carácter problemático do conceito “mulher(es)”
A Teoria feminista tem enfrentado em múltiplas formas o problema de saber se existe
algo de que se possa falar - ou sobre o qual se possa escrever - que responda pelo nome de
“mulher(es)”. A variação da experiência pessoal e da vivência social em termos de classe,
idade, origem étnica, posição social e económica, zona do mundo em que se habita, etc, é tal,
que o risco da unificação de todas as mulheres numa categoria unitária é imenso.
Por outro lado, essa unificação de alguma forma parece aceitar uma qualquer essência
co-natural às mulheres (qualquer coisa que na sua versão poética pode ser designado como o
“Eterno Feminino”, de, entre outros, Goethe e Liszt), que as aprisiona num destino
naturalisticamente determinado - o que não aconteceria aos homens...
Esta “armadilha”, dita frequentemente do “essencialismo” na teoria feminista, só pode
ser enfrentada se a análise que fizermos for pensada na perspectiva da diversidade das
existências, necessidades, problemas das mulheres reais, mantendo na consciência que, não
obstante essa diversidade, há certos traços comuns que atravessam classes e culturas, estádios
de desenvolvimento e outras variáveis. O fundamental desses traços é uma situação de
subordinação aos homens, que na teoria feminista é usual chamar-se patriarcado pelo menos
desde Kate Millet 4 - ou, numa perspectiva radical que, na versão do séc. XX, pode datar-se
do início dos anos setenta (FIRESTONE, 1970), centraliza a oposição social e política não
nas classes sociais (à maneira de Marx) mas no confronto entre os sexos masculino e
feminino. Na perspectiva jurídica, a mais complexa e interessante versão desta ideia encontrase na obra de Catherine Mackinnon (1982, 1983, 1987, 1991).
Talvez o texto mais impressionante que eu conheça sobre a produção - a invenção da “feminilidade” seja o seguinte fragmento de Theodor Adorno, nos Minima Moralia ,
publicados em 1951:
“The feminine character, and the ideal of femininity on which it is modelled, are
products of masculine society. The image of undistorted nature arises only in
distortion, as its opposite. Where it claims to be humane, masculine society
imperiously breeds in woman its own corrective, and shows itself through this
limitation implacably the master. The feminine character is a negative imprint of
domination. But therefore equally bad. Whatever is in this context of bourgeois
delusion called nature , is merely the scar of social mutilation” (ADORNO, 1989,
fragmento 59, p. 95)
4
Kate MILLET, 1979 (ed. original de 1970). V. também Kate GREEN (1995) The Woman of Reason.
5
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
Também John Stuart MILL escreveu, com rara percepção para o tempo em que o fazia
(1869, em plena Inglaterra Vitoriana):
“What is now called the nature of women is an eminently artificial thing - the
result of forced repression in some directions, unnatural stimulation in others. It may
be asserted without scruple, that no other class of dependants have had their
character so entirely distorted from its natural proportions by their relation with their
masters...” (Stuart Mill, 1970, p. 148).
Em Portugal, o texto mais relevante neste contexto - o da crítica ao conceito de
“natureza feminina” - é porventura o de Lígia AMÂNCIO (1994).
O Direito contribuiu - contribui ainda, aliás - poderosamente para a divisão das
pessoas em dois sexos, fomentando e em larga medida comandando a formação das relações
sociais de género.
O Direito é um mundo estranho. Subjuga e liberta, confina e abre horizontes, cria
identidades e destrói-as. Não haverá talvez zona do seu discurso em que seja isto mais
verdade do que a da formação de relações sociais de género, ou seja, a produção normativa de
hierarquias e propriedades nas posições e competências relativas de homens e mulheres
(BELEZA, 2000).
Mas, na verdade, a própria instância jurídica, ao contrário do que se possa à primeira
análise pensar, não segregou um único conceito de mulher, definido e não problemático.
Embora muito do discurso legal e jurisprudencial se exprima como se isso assim fosse, na
verdade o conceito de “mulher” no Direito está longe de ser unitário ou linear.
Desde logo se repare que o Direito pressupõe que seja coisa clara e óbvia o que seja
“mulher” (ou “homem”). Mas em parte alguma dos seus Códigos o define, o que não deixa de
ser curioso. Ao que sei, na nossa contemporaneidade a primeira vez que os nossos tribunais
tiveram de enfrentar o problema foi em casos de transsexualidade, em que se discute,
tipicamente, a possibilidade de uma mudança jurídica de sexo em relação àquele com que se
nasceu e se foi registado.
O Direito só reconhece dois sexos - o feminino e o masculino - e numerosas normas
pressupõem uma clara distinção e separação entre ambos: desde logo, a norma do Código de
Registo Civil que proíbe que uma criança seja nomeada com um nome sexualmente ambíguo
(um rapaz poderá chamar-se João Maria e uma rapariga Maria João; mas nunca o contrário).
As normas sobre casamento, filiação, relações familiares em geral e ainda algumas normas de
Direito Penal (cada vez menos), algumas normas de Direito laboral pressupõem um conceito
pré-definido de “mulher” (e de “homem”).
Denise Riley, uma historiadora inglesa, descreve, sob o título sugestivo Am I that
Name? - retirado de uma cena de Othello de Shakespeare - a forma como historicamente as
mulheres não constituiram uma categoria estável e unitária, antes foram agrupadas, divididas,
reagrupadas e arrumadas consoante o contexto e o objectivo do discurso (RILEY, 1988).
O Direito português distinguiu tradicionalmente entre as mulheres consoante a sua
pertença familiar e social - ou até étnica, no Direito antigo. Entre a segunda metade do séc.
XIX e a segunda metade do séc. XX (Código Civil de 1867 e Código Civil de 1966) essa
distinção cristalizou-se em letra de lei de uma forma paradoxalmente “moderna”, isto é,
regulada e arrumada em normas claras, gerais e “abstractas”. Refiro-me neste contexto a
distinções formalmente reconhecidas, porque em termos informais, substanciais, a distinção é
ainda hoje susceptível de ser observada numa perspectiva empírica das práticas jurídicas.
6
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
Assim se pode ver na jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, que em 1954
decidia que:
“ ... a violação de uma mulher de quem todos se servem é, sem a menor
dúvida, de muito menor gravidade do que a de uma mulher recatada e
honesta...”5
e entendia tão recentemente como em 1987 que
“se é muito cuidadoso” quanto ao passado sexual da mulher com quem se
casa... 6
Ecoa aqui, algo anacronicamente, a “velha” distinção juridico-formal entre mulheres
“sérias” e não “sérias”, como as viúvas honestas das Ordenações do Reino ou as barregãs
(que por sua vez teriam estatutos diferentes consoante fossem “barregãs de clérigos “ ou de
outros homens...). Mas ecoam também as disposições expressas e legais do Código Civil de
1966, segundo as quais um contrato de casamento podia ser anulado se a noiva não fosse
virgem e o noivo ignorasse tal, para ele, essencial circunstância. Ou as normas do Código
Penal sobre estupro, virgindade, rapto e casamento.
Um exemplo mais recente: em nome da igualdade, ou da não discriminação, a idade
de reforma das mulheres foi, em Portugal, nos anos oitenta, equiparada à dos homens, fora da
Função Pública (onde era já idêntica). Mas em 1998, uma Lei da Assembleia da República
(Lei nº 14/98, de 20 de Março) estabeleceu que “O direito à pensão de velhice do regime da
segurança social das bordadeiras ... na Madeira efectiva-se aos 60 anos”. Está certamente em
causa o justíssimo reconhecimento de uma situação de profissão de desgaste rápido , como é
usual dizer-se noutros contextos (vg para atletas de alta competição, para efeitos fiscais).
Mas bons argumentos existem para problematizar a não existência de diferença quanto à
idade da reforma, em geral, entre homens e mulheres. O mesmo se diga quanto às pensões
por viuvez, um dos primeiros “privilégios” femininos a serem contestados perante o Tribunal
Constitucional.7
Na verdade, em geral as mulheres são obrigadas a uma dupla ou às vezes tripla
tarefa: além do trabalho fora-de-casa, ainda têm o encargo de tomar conta dos filhos e da casa
e frequentemente dos parentes e dos afins idosos. Assim como é verdade que em geral as
mulheres ganham, em todas as profissões, menos dinheiro do que os homens. O problema
está, justamente, em compatibilizar a ideia de abstracção e generalidade da lei, por um lado,
com a de não discriminação por outro e ainda com a “violência conceptual” que consiste em
equiparar “à força” todas as mulheres. Algumas mulheres não têm filhos nem outros encargos
familiares. Algumas mulheres têm um estatuto económico-social mais elevado do que muitos
outros homens, etc.
Creio que, do ponto de vista conceptual, a única via correcta (talvez mesmo a única
“possível”) será a de manter a consciência desta unidade fragmentada das pessoas a que
chamamos, também no discurso jurídico, mulheres.
5
Acórdão de 7 de Abril de 1954, in Boletim do Ministério da Justiça nº 42, p. 92-95.
Acórdão de 11 de Março de 1987, in Boletim do Ministério da Justiça , nº 365, p. 405.
7 V. BELEZA, 1993.
6
7
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
II - 2. O conceito de condição jurídica
A ideia normalmente implícita em expressões como “condição jurídica” relaciona-se
com a descrição de um estatuto de uma pessoa ou grupo(s) de pessoas que sejam abrangidas
por determinadas normas que as condicionam em algum sentido. Neste contexto, é mais
usual, no discurso jurídico, que a definição de uma condição ou estatuto jurídicos seja levada
a cabo através da consideração de norma formais de Direito de produção estadual (leis,
decretos-leis, Códigos - Civil, Penal, etc, Constituição...). No entanto, três outras áreas de
análise serão essenciais para definir tal estatuto.
Por um lado, as formas de produção normativa “inferiores” (regulamentos,
portarias...); porventura, mesmo circulares dentro de serviços públicos, por exemplo, quanto a
regras que condicionam certas práticas, certas formas de fazer as coisas (por exemplo, a
indicação que em caso de declaração fiscal conjunta de um casal, o “contribuinte A” tem de
ser o marido e não a mulher); ou ainda os formulários de certos documentos (como os
passaportes portugueses, que até recentemente tinham um espaço para a fotografia do
portador e ao lado um outro para a “mulher/femme”).
Por outro lado, as intensas produção de Declarações e celebração de tratados
internacionais (V. TOMASEVSKI, 1998. PENTIKÄINEN, 1999) no que às mulheres diz
respeito - desde as normas protectoras das mulheres no campo do trabalho (na realidade,
protectoras da função maternal ) até às recentes Convenções que se pretendem antidiscriminatórias. Se é um facto que tais diplomas (tratados internacionais) fazem parte
integrante do Direito português, uma vez assinados e ratificados nos termos constitucionais8 ,
a verdade é que eles só são totalmente compreensíveis quando acompanhados de um sem
número de documentos, declarações de princípio, etc, que não são formalmente regras de
Direito - ou, quando muito, poderão ser designados pela expressão soft Law.
Mas, para além disso, em parte pelo isolamento internacional em que Portugal se
manteve durante o Estado Novo, em parte pela herança de positivismo estreito na leituta do
universo jurídico que as Faculdades de Direito tenderam (tendem, ainda, em boa medida) a
perpetuar, o plano da legiferação internacional é muitas vezes minorado ou ignorado pelos
“agentes jurídicos” (teóricos/ensinadores do Direito; entidades que poderiam recorrer a
tribunal para advogarem certas causas) aqui incluindo os mais importantes no seu papel de
aplicação/criação do Direito, as Magistraturas. Exemplos óbvios disto são a escassez de
processos judiciais relativos a discriminação salarial ou outra no mundo do trabalho, ou a
forma como os tribunais em geral resistem à invocação directa de normas de origem
internacional.
Mas existe ainda um terceiro plano cuja consideração é essencial: a importantíssima
função, em si mesma, de declaração/criação do Direito que cabe aos tribunais, em geral. Em
boa medida, o estatuto jurídico das mulheres no que diz respeito, por exemplo, à “protecção”
(em verdade, frequente e essencialmente, repressão) da sua sexualidade no Direito Penal só é
compreensível se for analisada a extensa jurisprudência sobre crimes de violação e estupro - e
essa análise tem de ser cruzada com o estudo do Direito da Família, legislado e aplicado. Só
isso permite compreender em que medida não só as mulheres eram formal e expressamente
divididas conforme a sua relação/pertença aos homens, mas também como a sua sexualidade
era não em absoluto ignorada pela lei (como à primeira vista se poderia supor), mas antes
8
No que à Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, diz respeito, a nossa Constituição atribui-lhe
valor interpretativo privilegiado no que concerne às disposições constitucionais sobre direitos fundamentais.
8
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
activamente reprimida. As decisões dos nossos tribunais sobre crime de estupro são, neste
sentido, um verdadeiro hino à ambiguidade com que o Direito lidou com a sexualidade
feminina. Nos seus “verdadeiros” cânones, ela não existe ou não deve existir; apenas é
tolerada na medida em que seduza da maneira exacta e correcta para o fim a que se destina: a
conquista de um homem como forma “honesta” de subsistência e cumprimento da função
social de criar uma família, e a posterior “satisfação” de um marido assim “conquistado”. A
leitura das normas penais em sede de crimes sexuais na forma que assumiram até à reforma
do Código Penal em 1995 (e das quais ainda hoje se podem encontrar resquícios, se se
prestar bem atenção) são um impressionantíssimo sinal de que a sexualidade feminina é
normativamente passiva e dirigida à conjugalidade, a masculina predadora e promíscua. Por
isso mesmo, as relações sexuais com uma mulher são, para um homem, por natureza uma
vitória, para a mulher uma derrota. E o casamento, inversamente, é uma conquista para a
mulher e para o homem uma armadilha, uma perda de liberdade.
A regulação jurídica do aborto e da “homossexualidade” são outros dois campos em
que a mesma conclusão pode ser alcançada. A eles voltarei mais adiante.
Algumas causes célèbres são, ou podem ser, também instrumentos significativos de
análise da imposição violenta de certas normas juridico-morais de comportamento às
mulheres. Refiro, brevemente, dois casos emblemáticos.
O processo-crime movido contra as autoras de As Novas Cartas Portuguesas é um
caso precioso para entender essas concepções dominantes no discurso jurisprudencial. No
caminho entre a acusação por atentado à moral pública (1972) e a absolvição final, em 1974,
se traçou também o difícil caminho da ditadura para a democracia em Portugal, porventura no
seu lugar mais central e por isso mesmo menos óbvio: a intimidade das pessoas.
O processo crime de que Natália Correia foi vítima aquando da publicação da Poesia
erótica e satírica é também um bom exemplo do (estreito) limite da tolerância pelo Estado
Novo não só da liberdade de expressão, mas em especial da reacção pronta ao que era visto
como comportamento (neste caso, literário) de uma voz feminina incómoda.
III - A disciplina “Direito das Mulheres”: o seu papel estruturante do
conhecimento sobre a condição feminina
Neste contexto, o Direito das Mulheres (BELEZA, 2000) enquanto disciplina
científica dá um ponto de partida conceptual e académico-institucional para uma observação
privilegiada9 .
A expressão “Direito das Mulheres” indica, antes do mais, um ponto de vista e uma
intenção : fazer uma análise do mundo jurídico que tome as mulheres como centro de atenção
de quem investiga e olhar o Direito de forma interrogativa e crítica a partir da verificação
prévia de que as mulheres são social e juridicamente desfavorecidas.
9
O ensino universitário do Direito das Mulheres começou em Portugal há dois anos e meio, na Faculdade de
Direito da Universidade Nova de Lisboa. Os “Estudos sobre as Mulheres”, no sentido contemporâneo do termo,
são relativamente recentes em Portugal - mas a vertente jurídica é recém-nascida. Levanta, aliás, ainda muitas
perplexidades - há colegas minhas (e colegas meus) que me perguntam com ar espantado se tal coisa existe, de
que consta o Programa, ou me interrogam sobre o que é que eu ensino em cadeira de tão estranho nome. A
própria introdução do tema no Curriculum da licenciatura - como cadeira de opção - não foi pacífica, ao que
sei. A vulgaridade da sua existência na generalidade das Universidades Americanas terá sido argumento
importante na sua adopção final.
9
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
É uma investigação que implica transgressões metodológicas e a própria quebra de
barreiras disciplinares. Analisar o estatuto jurídico das mulheres implica atravessar os vários
ramos do Direito (Constitucional, Civil, Administrativo, Penal, Trabalho); o confinamento do
estudo às barreiras tradicionais entre os vários ramos do Direito oculta, em grande medida, a
própria tomada de consciência da totalidade desse estatuto.
Depois, as formas como as mulheres são diferenciadas no mundo jurídico implica,
como já referi, o conhecimento de processos de operação que são normalmente ignorados no
estudo das fontes formais de Direito e na análise dogmática dos conceitos e técnicas jurídicas.
As práticas jurídicas são essenciais para se avaliar a situação real das mulheres. Isto
significa uma necessidade de atenção a estudos empíricos pouco habituais nos estudos
jurídicos (ex. para saber que realidade tem o chamado “assédio sexual” no trabalho
(AMÂNCIO e LIMA,1992); ou a forma como são apoiadas ou violentadas as vítimas de
crimes sexuais que apresentam queixa à polícia; ou de que maneira o crédito bancário é mais
dificil de ser obtido por uma empresária a quem os Bancos “aconselham” a apresentar-se com
o marido; ou se as repartições de Finanças continuam a recusar-se a receber declarações do
IRS em que a mulher do casal aparece como “1º contribuinte”, etc.
Por outro lado, é também importante reunir aspectos da vida social - os hábitos sociais
dominantes - aos textos legislativos para se perceber a situação real das mulheres. Só sabendo
que os contratos de arrendamento são em geral celebrados em nome do homem se entende a
dificuldade adicional da situação da mulher em caso de separação de um “casal de facto” situação só parcialmente resolvida com a legislação de final de século sobre as uniões de
facto 10 . Ou paralelo problema em caso de compra de uma casa, em que a companheira põe
dinheiro, mas a casa é registada em nome do homem, etc.
IV - Portugal, séc. XX: os antecedentes. A construção jurídica do patriarcado
“...iI n’est pas ... une de vos femmes qui n’ait une nuit de sa vie rêvé d’être
Clytemnestre ”, escreve Marguerite Yourcenar em “Clitemnestra”, um dos breves e
belíssimos contos reunidos em Feux , obra de juventude que a autora descreverá mais tarde
como o luto literário por um amor perdido11 . Clitemnestra dirige-se aos juízes que a julgam,
na reconstrução do mito por Yourcenar, pelo crime de maritícídio. Este crime, na nossa
tradição juridico-cultural, foi considerado parente do crime de alta traição ou de regicídio.
As mulheres que matam violentamente os seus maridos reagindo a anos de vida de
submissão física, sexual e moral foram em Portugal objecto de alguns estudos. O mais
relevante é porventura o de Elza PAIS (1998).12
O gesto da rainha grega que assassina Agamemnon no seu regresso de Troia ao
palácio de Micenas poderia simbolizar por antonomásia o acto feminino de libertação face à
opressão juridicamente cristalizada: na realidade, o Direito português, à semelhança da
10
A lei nº 135/99, de 28 de Agosto (“adopta medidas de protecção da união de facto”) estendeu a protecção da
casa de morada de família aos casamentos de facto. Note-se que esta lei apenas se aplica a casais constituídos
por pessoas de sexo diferente que, não estando ligadas por casamento a terceiro nem impedidas de contrair
matrimónio entre si, vivam juntas há mais de dois anos. Neste momento em que escrevo (Abril de 2001), esta
Lei encontra-se em processo de revisão na Assembleia da República.
11 Prefácio datado de Novembro de 1967, que pode ser lido por exemplo na edição de 1998 (YOURCENAR,
1998).
12 Pode ver-se também uma análise de casos jurisprudenciais nesta área em BELEZA (1989) e (1991).
10
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
generalidade dos seus congéneres europeus, controlou as mulheres em geral de uma forma
indirecta, submetendo-as à autoridade de um homem. Primeiro, o pai; depois, o marido. Na
falta de ambos, um tutor ou um “conselho de família” poderia assumir essas funções. Mesmo
quando um determinado sistema jurídico - como é o caso do português no séc. XX - regula
fundamentalmente, na esfera das relações “privadas” (Direito Civil, Direito da Família,
Direito das Sucessões... isto é, o campo não estritamente político ) as incapacidades da
mulher casada - e não da mulher tout court - isso significa que para o Direito uma mulher
“normal” é uma mulher casada, isto é, que em última análise a razão essencial de existir da
mulher é a família. Ou, por isso mesmo, que enquanto jovem, a mulher é, ou há-de ser, núbil.
Isto é, heterossexual, sedutora, virgem e fértil. Este é certamente o código latente e em
alguns preceitos expresso no Código Civil do Estado Novo, que em 1966 critalizou de forma
clara e inigualável os valores oficiais em matéria de relacionamento entre as pessoas (e a
propriedade, é claro) no seu livro “Direito da Família”.
A história europeia do controlo jurídico das mulheres consistiu, em boa medida, em
"privatizá-las": por isso o estudo cruzado do Direito da Família e do Direito Penal é crucial.
Um dos campos em que essa análise pode ser particularmente fecunda é a do que se poderia
chamar Direito Penal da Família , em que se inclui a incriminação autónoma (quer dizer, não
diluída nos crimes comuns de ofensas corporais, ou ameaças, ou injúrias) dos maus tratos
conjugais.
Do ponto de vista das mulheres, a separação tradicional entre sanções penais e não
penais faz relativamente pouco sentido: a sua sujeição ao poder disciplinar do pai ou marido
em tudo se equiparava a um "sistema penal doméstico"13 . Essa "autoridade penal doméstica",
ainda sobrevivente nos maus tratos em alguma medida socialmente tolerados (SILVA, 1995;
VICENTE, 1987), não era confrontada com nenhumas "garantias" formais de defesa. Era um
reduto de ilegalidade à semelhança de outros: plantações de escravos; penitenciárias;
prisioneiros de guerra. Mas durante muito tempo, foi uma ilegalidade (positivamente) legal.
O nosso Direito Civil, secular, consolida o patriarcado de forma juridicamente
eloquente no Código Civil de 1867, dito Código de (do Visconde de) Seabra. E,
simultaneamente, no Código Penal de 1852/86 (as duas versões do que foi, essencialmente, o
nosso primeiro Código Penal, que vigoraria, retalhado por reformas várias, até 1982). As
regras de Direito da Família (contidas no Código Civil) e as regras fundamentais sobre as
interdições penais em matéria de sexualidade, plasmadas na regulação dos crimes sexuais,
então vistos como crimes contra os “bons costumes” (incluídas no Código Penal) têm de ser
cruzadas entre si para se poder compreender com clareza a forma como o Direito privatizou
as mulheres.
Mas o alcance total desta expressão só será compreendido se, simultaneamente, forem
observadas as regras legais que afastaram expressamente as mulheres da esfera pública,
impedindo-as de exercerem cargos políticos ou vedando-lhes o simples direito de voto. Ou
excluindo-as do serviço militar. Ou negando-lhes a nacionalidade portugesa na sequência do
casamento com um estrangeiro. Este estado de coisas perdurará, no essencial, até 1974, isto é,
até à Revolução que permitiu a restauração da democracia. É na sua sequência que, pouco a
pouco, as leis vão sendo alteradas - algumas expressa e avulsamente antes da própria
Constituição de 1976 (revogação de disposições do Código Penal que permitiam ao marido
abrir a correspondência da mulher, ou matá-la em flagrante adultério); outras, com a entrada
em vigor dessa mesma Constituição (que revogou todo o Direito ordinário anterior que fosse
13
V. o texto de Rhonda COPELON (1994).
11
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
contrário aos seus princípios, entre eles o da igualdade entre os sexos); e outras ainda,
posteriormente revistas (caso paradigmático da Revisão do Código Civil em 1977, ou da
substituição do Código Penal em 1982).
A ligação das mulheres ao Estado é, assim, ao contrário dos homens, uma ligação
indirecta . É a nacionalidade do Pai ou do marido que determinam a sua. São o pai ou o
marido que por ela votam (o argumento da unidade familiar foi utilizado para negar o direito
de voto às mulheres). O marido/o pai representam a família perante o Estado e são de alguma
forma o representante da autoridade estadual na esfera familiar. A incapacidade jurídica da
mulher casada desenhada em letra de lei em 1867, sob forte influência do Direito
Napoleónico, perdurará em grande medida até à Revolução democrática de 1974, já que a
primeira República, que nos seus inícios parecia capaz de considerável avanço no que à
cidadania das mulheres dizia respeito, se ficou pela publicação da lei do divórcio e a
declaração da igualdade entre os cônjuges. Rapidamente os revolucionários republicanos
esqueceram o apoio que tinham recebido de mulheres que defenderam activamente a causa
republicana e as promessas de acesso ao voto ficaram na gaveta. Algo de parcialmente
semelhante ao que se passara em França depois de 1789. Nessa medida, como certamente em
outras, a Revolução republicana foi uma esperança não cumprida (ESTEVES, 1991).
V - O Estado Novo: a nova domesticação da mulher casada
Em 1966, o Governo de Salazar, com o então Ministro da Justiça Antunes Varela,
produziu um Código Civil que culminou um porfiado labor técnico de reputados juristas. O
Livro dedicado ao “Direito da Família” - e, em alguma medida, também o continente do
“Direito das Sucessões” - contem um espantoso anacronismo. Quando a Europa ia abrindo as
suas leis a uma aceitação de igualdade - ou, pelo menos, de não-discriminação - entre
mulheres e homens (e, progressivamente, a eliminação entre filiação “legítima” e
“ilegítima”), Portugal candidatava-se, também nesta área, a ficar orgulhosamente só.
Algumas vozes (poucas) se fizeram ouvir criticando tal estado de coisas: juristas como Elina
Guimarães, Eliana Gersão e Maria dos Prazeres Beleza escreveram a sua divergência quanto
à subordinação legal das mulheres aos homens, em especial aos maridos.
Mas o anacronismo tinha uma outra singular dimensão: a própria contradição
“interna”. Os anos 60 do séc. XX foram, do ponto de vista da situação legal das mulheres,
bastante significativos e em alguma medida curiosamente contraditórios. Por um lado, a lei
do trabalho declara a igualdade salarial (1966 - aprovação da Convenção nº100 da OIT - e
1969). Em 1968, o voto para a Assembleia Nacional passa a ser direito das mulheres em
condições idênticas às dos homens. Mas, por outro lado, o Código Civil de 1966 dá ao
marido a chefia da família e poderes sobre a vida laboral-contratual da mulher. Em 1969, as
mulheres deixam de precisar de autorização marital para sairem do país. Mas o Código Civil
obriga-as a adoptarem a residência do marido, salvo casos excepcionalíssimos. A revisão
constitucional de 1972 (ao tempo do Governo de Marcelo Caetano) altera o artº 5º,
eliminando um dos fundamentos constitucionais de discriminação em função do sexo: o bem
da família. Curiosamente, permaneceu o outro fundamento: a “natureza das coisas”...
O efeito a longo prazo destas disposições subsiste muitas vezes mesmo depois da sua
revogação formal: as regras de Direito não se limitam a reflectir uma forma de pensar
socialmente dominante, antes com frequência a condicionam ou ajudam a condicionar. Os
quadros mentais desenhados na lei portuguesa da família na segunda metade dos anos
12
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
sessenta (Código Civil de 1966) não desapareceram automaticamente com a sua substituição
em 1977 (Revisão do Código Civil) .
É em parte por esta razão que o estudo da legislação já formalmente revogada - seja o
Código Civil do século passado (1867), as leis da República ou o Código Civil de 1966 - é
importante. É-o também para vincar o papel constitutivo do Direito no estatuto de pessoa
diminuída que, também do ponto de vista juridico-formal, era a mulher.
Tenho a convicção de que as pessoas em geral pensam que o Direito se foi mais ou
menos limitando a fixar uma determinada ordem social, mais ou menos consensual e
adequada à época. Ora o carácter injuntivo de certas regras leva a considerar que a capitis
deminutio das mulheres era coisa imposta com diligência e severidade por parte do
legislador, como uma questão de ordem pública. Podem ser exemplos a proibição legal de
atribuir à mulher poderes de administração excepto nos casos restritos previstos na lei, no
Código Civil de 1867 e no Código Civil de 196614 ; ou, em geral, a rigidez do contrato de
casamento quanto aos seus efeitos - até hoje, aliás; ou o pormenor com que se desenhava a
incapacidade negocial da mulher casada. Não se tratava “apenas” de avalizar uma sociedade
de desiguais, mas, positivamente, de a construir (BELEZA, 1997 a).
Se é verdade que a discriminação económica é reforçada pela discriminação social e
política, a inversa também é verdadeira. O Direito foi - e ainda é, em alguns países - um
poderoso factor de discriminação.
Por isso o estudo do Código Civil de 1966 e de outra legislação há muito revogada
não é questão inútil ou ultrapassada. Pelo contrário, tenho por certo que é um trabalho de
análise essencial à compreensão do discurso jurídico actual.
Disposições legais expressamente discriminatórias, como as que existiram na lei
portuguesa até 1974, ou datas próximas, podem ser vistas não só como atentatórias da
dignidade das mulheres enquanto cidadãs, mas também como absurdas e disfuncionais de
um ponto de vista de modernização e desenvolvimento económicos. Pense-se por exemplo no
artº 1676º, nº 2 do Código Civil de 1966 que permitia ao marido denunciar em qualquer
momento e sem qualquer motivo o contrato de trabalho de que a mulher se tivesse tornado
livremente parte, ou na disposição legal que fazia depender de autorização marital a saída de
uma mulher casada para o estrangeiro. Na perspectiva do livre desenvolvimento do mercado
de trabalho, estas normas eram irracionais - e foram-no ainda mais num país em que muitos
casais estavam separados pela imigração ou pela guerra em África, ou simplesmente pela
impossibilidade legal de divórcio para casamentos católicos, só desfeita com a revisão da
Concordata entre Portugal e a Santa Sé depois de 1974.
Em fases diferentes da evolução juridico-política, o Direito tende a assumir um papel
inverso, como repositório de normas anti-discriminação: proibições legais de discriminação,
sujeição a controle jurisdicional das normas e práticas discriminatórias15 . Mas em geral isto
acontece nos países mais desenvolvidos, em que a valorização económica do trabalho
feminino e, em geral, a consideração do valor das pessoas é já teoricamente vista de uma
forma igualitária.
14
A regra formalmente idêntica do texto actualmente vigente terá, provavelmente, sentido socialmente inverso.
15
V. Martim de Albuquerque (1993).
13
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
Um plano em que proliferam ao longo do séc. XX as normas anti-discriminatórias é,
como já referi, o plano da legislação internacional.
VI - Os grandes textos jurídicos internacionais. Presença e Ausência das
mulheres nos textos jurídicos da Modernidade
Instância decisiva na construção/desconstrução de um estatuto específico das
mulheres no plano jurídico é o campo da produção de Declarações ou normas vinculativas
(tratados) no campo internacional , como referi no início. Far-lhes-ei agora uma referência
explícita, ainda que sintética, de forma a não alongar demasiado este texto.
As Declarações históricas de direitos do advento da modernidade, que se
pronunciavam numa linguagem universalista, na realidade excluiram uma multiplicidade de
indivíduos: as mulheres; os não “europeus”, fossem eles os povos colonizados ou os
indígenas “selvagens”; os pobres, isto é, os não possidentes para efeitos de sufrágio
censitário.
A história da Modernidade no que diz respeito à presença/ausência das mulheres na
arena pública dos direitos humanos (V. AMÂNCIO, 1999) - isto é, em última análise, o
estatuto jurídico dessa entidade a que habitualmente chamamos mulheres - pode ser
estruturalmente vista num quadro com as seguintes características:
a) Ausência não dita, isto é, esquecimento/Ausência dita, isto é, exclusão. Duas
formas de produção de alteridade , de construção “implícita” do outro.
b) Presença heterónoma do lado de fora / Presença heterónoma do lado de dentro .
Presença dita, reclamada, isto é, inclusão.
c) Presença autónoma: as mulheres como seres humanos, tout court.
a) AUSÊNCIA não dita: as mulheres na Declaration of Independence norteamericana. Por contraposição, a ausência dita é a dos Indian Savages , que expressamente
são excluídos do âmbito do princípio All men are born equal... Não dita ainda é a ausência
das mulheres da Déclaration des droits de l’homme et du citoyen revolucionária francesa de
1789.
EXCLUSÃO dita foi a da proibição dos Clubes políticos de mulheres imediatamente
a seguir à Revolução Francesa. Foi-o também em Portugal, na sequência da legislação
eleitoral da Primeira República, a alteração legal a que deu azo o episódio do exercício do
voto por Carolina Beatriz Ângelo. Esta mulher conseguiu votar - os tribunais deram-lhe razão
na sua reacção contra o facto de não ter sido aceite o seu recenseamento - na medida em que a
lei não excluía expressamente as mulheres. A lei foi depois alterada para explicitar o que até
aí estava meramente implícito: que o voto era prerrogativa de chefes de família do sexo
masculino.
b) PRESENÇA heterónoma do lado de fora é a levada a cabo por Olympe de Gouges,
na suaDéclaration des droits de la femme et de la citoyenne , 1791; e, de forma idêntica, a
Declaration of Sentiments, produzida pelas Sufragistas americanas no seu encontro em
Seneca Falls, no ano de 1848. Estes documentos tendem a “imitar”, respectivamente, a
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen e a Declaration of Independence . São o
seu eco , a reclamação da inclusão das mulhers nos textos fundadores dos quais tinham sido
excluídas.
14
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
PRESENÇA heterónoma do lado de dentro é, finalmente, a contida na Carta das
Nações Unidas, 1945; na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948; na Convenção
Europeia dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, 1950; no Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos, 1966.
c) Início de uma possibilidade de uma Presença autónoma será porventura a
Convenção para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres,
1979 (precedida de uma Declaração no mesmo sentido), e os inúmeros textos que lhe
sucederam. Por exemplo, a Declaração de Viena, 1993, ou a Plataforma de Beijing, 1995.
Ainda que estes textos caminhem numa linha de recomposição de um estatuto diminuído, no
sentido de remédio jurídico para a reequiparação das mulheres aos homens, são eles que em
grande medida permitem uma primeira leitura da condição jurídica feminina como um
problema “em si”, e não como mera questão de discriminação. Por isso, e ainda que a
Convenção para a Eliminação...
seja essencialmente formulada em termos antidiscrimiantórios e por isso mesmo fundamentalemente comparacionistas , as mulheres
surgem porventura pela primeira vez na cena internacional como seres autónomos, desligados
da sua função maternal e pensadas como seres cuja definição não é puramente heterónoma,
isto é, dependente de uma contraposição ao masculino. As Declarações posteriores acentuam
em larga escala essa visão, na simples eloquência da reinvindicação mais básica e mais
notável da nossa contemporaneidade: Women’s rights are human rights. Isto é, as mulheres
são seres humanos.
Discutir a sua eficácia real é tarefa que deixo para outro local e outra ocasião.
VII - O Direito internacional: o papel da Organização das Nações Unidas e das
instâncias europeias
Não ficaria completa a descrição da situação jurídica das mulheres portuguesas no
século passado, como afirmei, sem uma referência às Convenções ou Declarações
internacionais que pontificam em matéria de igualdade entre os sexos. Neste campo, tem
tido um papel preponderante - sem ser, de todo, exclusivo - a Organização das Nações
Unidas.
Além do carácter simbólico muito importante que muitos destes documentos
transportam em si, que permitem legitimar certas perspectivas de entendimento e de luta
pelos direitos humanos das mulheres16 . Muitos deles têm força vinculativa estrita no Direito
português: ou porque a Constituição os chama como conjunto de regras privilegiadas de
interpretação do próprio texto constitucional (Caso da DUDH), ou porque a mesma
Constituição declara que as Convenções internacionais regularmente assinadas e ratificadas
por Portugal fazem parte do Direito interno português. Isto é, a condição jurídica das
mulheres em Portugal não é, não foi, apenas determinável em função dos Códigos Civil,
Penal, Adminstrativo ou da Lei da Nacionalidade ou do Trabalho, mas também das múltiplas
Convenções de que Portugal - sobretudo depois de 1974 - se tornou livremente parte.
Uma referência especial ao final do século: o Estatuto do Tribunal Penal
Internacional, assinado em Roma em 1998 por Portugal sob a forma de tratado internacional
16
Como argumenta, noutra sede, Paula L. de Faria, no que às questões de protecção dos doentes diz
respeito:Contra-Sida , Dezº 2000.
15
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
(mas ainda não ratificado) aceita expressamente a violação como crime contra a humanidade,
ao contrário do nosso Código Penal, que ainda a não inclui nos crimes de guerra contra civis.
É sabido que a violação das mulheres por soldados ou beligerantes (o caso da ex-Jugoslávia é
particularmente eloquente) foi ao longo da história uma das armas mais terríveis dos
invasores.
Além das Nações Unidas, têm sido decisivas para a imposição de uma função antidiscriminatória do Direito (para o desfazer das muitas discriminações criadas e fomentadas
pelo Direito) as instâncias europeias. A União Europeia, por um lado e o Conselho da
Europa, por outro, têm desenvolvido esforços inestimáveis neste campo.
No que diz respeito à União, destacam-se o Direito dos Tratados (do Tratado de
Roma, já referido, à explícita cláusula de não discriminação do Tratado da União) e, por
útimo, a proibição de discriminação da Carta Europeia, que pretende ser ou vir a ser um
embrião de Constituição europeia. Mas tiveram e têm papel absolutamete decisivo os
pronunciamentos do Tribunal de Justiça, que em sucessivos Acórdãos deu corpo ao princípio
de não discriminação entre os sexos, designadamente no undo do trabalho. Por outro lado, a
Comissão Europeia e o Parlamento Europeu têm desenvovido múltiplos programas de acção
e declarações tendentes, também, à criação de uma igualdade efectiva entre homens e
mulhers, seja no campo da igualdade laboral ou de segurança social, na área da violência
doméstica, da participação política ou do assédio sexual.
Igualmente o Conselho da Europa se tem dedicado, na luta pela efectivação dos
direitos humanos, à causa da não discriminação. No que à discriminação sexual diz respeito, a
sua política tem abrangido variadas formas e áreas, desde o uso da linguagem não sexista à
atenção a questões ligadas à maternidade ou ao tratamento equitativo de homens e mulheres
em situações de detenção. Em alguns campos, a acção da União Europeia e do Conselho da
Europa tendem em alguma medida a sobrepor-se. Mas considerando a significativa diferença
de formas de actuação por um lado (acentuadamente no plano jurídico) e nas zonas
geográficas de acção, por outro, esse possível efeito cumulativo não será, certamente,
excessivo.
VIII - O controlo da sexualidade feminina: casamento, contracepção e aborto
Vimos já, a propósito dos problemas conceptuais da “condição jurídica das mulheres”,
alguns aspectos da regulação jurídica da (sua) sexualidade. Voltemos brevemente a alguns
pontos.
Em 1972, foi publicado o livro Novas Cartas Portuguesas , de Maria Isabel Barreno,
Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta, inspirado nas Lettres Portugaises , de Mariana
Alcoforado, a freira de Beja que fez da sua paixão perdida por um Cavaleiro francês a razão
de ser do resto da sua vida. O livro das “Três Marias”, como as autoras ficaram
internacionalmente conhecidas, denunciava o estatuto de menoridade social e sobretudo
sexual das mulheres portuguesas contemporâneas, reivindicando o direito ao amor e ao prazer
numa perspectiva feminina autónoma.
A reacção do conservadorismo moral do Estado Novo, como vimos, não se fez
esperar. Acusadas de atentado à moral pública, as três escritoras conheceram um
impressionante movimento de solidariedae internacional e o processo veio a terminar, pouco
depois da Revolução de Abril de 1974, com uma sentença (VIDAL, 1974) que redimiu em
16
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
parte a triste imagem da jurisdição penal portuguesa, a braços com a triste memória dos
tribunais plenários, em que eram julgados os dissidentes políticos.
O episódio foi mais significativo do ponto de vista do estatuto jurídico das mulheres
do que porventura possa parecer à primeira vista. Se o reunirmos, por exemplo, ao célebre
caso do julgamento da escritora Natália Correia, também já referido, acusada em termos
semelhantes pela publicação de um livro de poesia erótica, poderemos compreender como o
sistema jurídico funcionava a vários níveis e de diferentes formas para assegurar um certo
relacionamento tido por conveniente - cunhado como “natural” - entre os sexos. Não só as
regras formais de Direito da Família, das Sucessões, de Direito do Trabalho ou de Direito
Penal teciam uma rede de normas de comportamento e inter-relacionamento tidos como
adequados. Outras regras, que na sua literalidade não se referiam directamente a essa
imposição normativa de domínio/subordinação, podiam ser chamadas a intervir em casos em
que as regras mais informais de natureza moral, social se mostravam insuficientes. No campo
da sexualidade, isso foi evidente nos dois casos referidos: as quatro escritoras em causa
tinham claramente ultrapassado os limites da conveniência moral e social, ousando desafiar
os códigos de relacionamento amoroso pela via “panfletária” da (grande) literatura.
É interessante notar que nessa mesma altura, a publicidade a substâncias utilizadas em
métodos de contracepção oral (“pílula”) era legalmente proibida, mesmo em revistas da
especialidade. Isto significa que um dos mais preciosos auxílios que a ciência moderna
trouxera ao controlo da natalidade por parte das mulheres era assim tornado relativamente
secreto. Tomar medicamentos contraceptivos significa, para uma mulher heterossexual, a
possibilidade de desligar efectivamente a sexualidade e o prazer da reprodução, da
procriação. Para os homens, o “pesadelo” que Engels lhes atribuiu no Origem da Família...
tornou-se, como nunca antes, realidade. Daí, em grande medida, as reacções moralistas,
lideradas pela hierarquia da Igreja católica, aos contraceptivos. Não só eles possibiltam
também para as mulheres (para os homens ela sempre existiu, foi tolerada e até fomentada
como prova de masculinidade ) a assunção de uma sexualidade-por-si-própria e autónoma,
mas sobretudo nessa mesma medida rivalizam com a outra intolerável fuga das mulheres ao
controlo sexual por parte dos homens: o Amor-entre-mulheres. À(s) tentativa(s) da sua
regulação jurídica voltarei mais adiante.
Pouco depois de 1974, outros dois processos foram política e socialmente notórios: o
de Maria Antónia Palla, jornalista, acusada também de atentado à moral pública por, num
programa televisivo, ter dado conselhos às mulheres relacionados com a interrupção da
gravidez. Foi absolvida no Tribunal da Boa-Hora e também objecto de solidariedade e apoio
por parte de vários e várias intelectuais portugueses, que se prestaram a testemunhar no
processo ou a intervir tecnicamente do lado da defesa.
Um outro processo correu na Boa-Hora, em data próxima, por crime de aborto, contra
uma jovem de nome Conceição. O tribunal, perante o absurdo daquela acusação solitária (as
estatísticas oficiais da Justiça são óbvios sinais do carácter “simbólico”, para não ser “levado
a sério”, da incriminação do aborto; são raríssimos os casos que chegam a tribunal), absolveu
a arguida com base em argumentos técnicos algo habilidosos (BELEZA, 1984). Face ao
movimento de solidariedade que também neste caso se desencadeou, era notório o mal estar
do tribunal colectivo que teve de proceder ao julgamento.
A discussão pública aquando do Referendo à alteração do Código Penal sobre
interrupção da gravidez (MAGALHÃES, 1998) e os resultados da consulta popular - apesar
da elevadíssima abstenção - mostram porventura o ainda dominante moralismo hipócrita em
matéria de política em geral e de política criminal em particular no que diz respeito à
17
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
contracepção e ao aborto. As mulheres “podem” abortar, desde que o façam em segredo, não
o proclamem nem levantem o incómodo problema das inaceitáveis desigualdades sociais e os
gravíssimos efeitos em sede de saúde pública que a legislação ainda hoje (2001) em vigor
fomenta e “legitima”.
No que diz respeito ao casamento, a idade núbil (16 anos) só foi formalmente
equiparada entre os sexos em 1977. O Conselho da Revolução, ao tempo com funções de
controlo da constitucionalidade das leis, entendeu (correctamente) antes ainda dessa
equiparação formal que a diferença tradicional de idade núbil para rapazes e raparigas - 16 e
14 anos, respectivamente - funcionava como a perpetuação de uma desigualdade no acesso à
educação, ao mercado de trabalho e às possibilidades de efectiva realização pessoa,
“amarrando” miúdas de 14 anos a um destino e a uma responsabilidade a todos os títulos
“injusta”17 . Os argumentos habituais para a manutenção da diferença encobrem,
efectivamente, a perpetuação dessa desigualdade. A permanência do flagelo da maternidade
adolescente não querida em Portugal parece depor no sentido de que a baixa idade de
casamento legal não “resolve” o “problema”.
Curioso paradoxo jurídico que persistiu muitos anos: uma mulher de 14 anos podia
legalmente contrair matrimónio - com autorização paterna - mas, se cometesse adultério, não
podia ser penalmente responsabilizada, por as leis do mesmíssimo Estado português a
consideravam inimputável, ie, irresponsável, em razão da idade...
No que à homossexualidade feminina diz respeito, a lei portuguesa evoluiu de forma
curiosa, sendo que a sua regulação/proibição é, no nosso Direito recente, um processo a que
eu chamarei de regulação indirecta.
A homossexualidade “assumida” é profundamente subversiva porque põe em causa a
família baseada no modelo homem-mulher-crianças, cada qual com uma função e uma
posição hierárquica pré-definida, pela lei divina e humana. É subversiva porque celebra o
amor sem a “justificação” da procriação, porque dá primazia à paixão e aos sentimentos
intensos de uma forma muito mais evidente do que o amor heterossexual-conjugal - e tudo
isto é do reino dos infernos, pouco produtivo do ponto de vista económico e pouco
estabilizador do ponto de vista politico-social. Ou, pelo menos, tido como tal.
Também do ponto de vista jurídico a heterossexualidade obrigatória torna
problemática a existência lésbica (A. Rich, 1980). Longe das Ordenações do Reino que
incriminavam as mulheres pelo “pecado de molície”, as leis do séc. XIX e XX adoptaram
uma posição pudica de refoulement, dir-se-ia, quanto à homossexualidade feminina. Como a
Rainha Vitória, a lei preferiu em alguma medida fazer de conta que ela não existia. É certo
que o Código Penal incrimina, a partir de certa altura, a “prática habitual de actos conra a
natureza”. Mas a nossa jurisprudência leu tradicionalmente este preceito como dizendo
respeito aos homens (sodomia). Os problemas de “desordem” colocados por práticas
homossexuais surgiam, também juridicamente falando, tipicamente em instituições
totalmente masculinas: forças armadas, serviço colonial, etc. Muito provavelmente, a
repressão da homossexualidade feminina foi levada a cabo por meios informais, como em
geral o controlo do comportamento das mulheres por contraposição ao dos homens (controlo
por família, vizinhança, códigos morais, religião para as mulheres versus controlo pelos
meios formais de Direito, para os homens).
17
Sobre este processo, V. Martim ALBUQUERQUE, 1993.
18
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
No final do séc. XX, a repressão da homossexualidade feminina é, como afirmei,
indirecta. Nenhuma lei a proíbe - excepto na pequena margem de uma diferenciação na
“idade do consentimento” para as relações heterosexuais e homossexuais, no Código Penal18 .
Mas pense-se nas questões da adopção, por um lado, e da procriação medicamente
assistida, por outro. Independentemente da discussão sobre as uniões de facto e seu
reconhecimento jurídico (é bastante discutível que as pessoas que se não querem casar,
podendo fazê-lo, sejam “equiparadas à força” às pessoas casadas por uma imposição
imperialista do Direito), a situação de “casais homossexuais” (homens ou mulheres) que
queiram ou necessitem de uma institucionalização jurídica da sua união esbarra com duas
“dificuldades” consideráveis. Uma é a recusa da legitimidade de adopção de crianças, outra a
possível recusa de inseminação artificial.
O modelo hegemónico pai/mãe/filho parece suportar a proliferação estatística de
famílias ditas “monoparentais” (todo um programa de pré-juízos e de marginalização vai
implícito nesta designação aparentemenete neutra e inócua) mas, do mesmo passo, tudo
indica ser-lhe insuportável a ideia de famílias com “duas mães” ou “dois pais”. Este é o
sentido do afastamento da possibilidade de adopção por dois homens ou duas mulheres
(quando na realidade a lei portuguesa permite de há muito a adopção por pessoa sozinha );
este é o sentido também do cuidado posto na lei de procriação medicamente assistida - votada
pela Assembleia da República no ano passado, mas depois vetada pelo Presidente da
República, por razões outras - em reservar ao casal a possibilidade de beneficiar dessas
técnicas. Dir-se-ia que, curiosamente, aqui se esconde o último baluarte da moral oficial
quanto à eternamente vilipendiada “desagregação das famílias”, causa habitual de todas as
desgraças no tecido social. Os autores deste tipo de discurso moralista nem parecem
aperceber-se, o que não deixa de ser curioso, de que esta é uma possível via de manutenção
da essencialidade das estruturas familiares, com a inevitável transformação a que a família
sempre esteve e sempre estará sujeita...
IX - O mundo do trabalho
Construído para pessoas sem “problemas familiares”, isto é, que não têm a seu cargo
filhos, maridos ou pessoas idosas, o mercado de trabalho foi-se alterando ao longo do século
também na sua composição de sexos, mas manteve um carácter estruturalmente “masculino”.
O Direito do Trabalho reflecte esse preconceito e só recentemente as normas europeias de
não discriminação começaram a ser lidas - pouquíssimo aplicadas, em Portugal - de uma
forma que transcende a imagem “trabalhador como pessoa sem laços ou dependências
familiares”, ou, talvez melhor, com esses laços ou dependências resolvidos por outrem (a
mulher, a mãe). Este padrão mantem-se em grande medida mesmo quando entra em cena o
Direito anti-discriminatório, na segunda metade do século, por influência do Tratado de
Roma, cujo artº 119º acabaria por ter uma leitura/aplicação totalmente inesperada e até
“subversiva” dos propósitos iniciais dos pais fundadores (não havia mães, realmente...):
18
As organizações Opus Gay e Branco no Lilás solicitaram em finais de 2000 ao Provedor de Justiça que
levantasse perante o Tribunal Constitucional o problema da inconstitucionalidade do artº 175º do Código Penal,
na medida em que a diferença de incriminação entre sexualidade com adolescentes homófila e heterófila será como eu própria venho de há muito defendendo no meu ensino - contrária ao princípio constitucional de não
discriminação. Será ainda certamente difícil de compatibilizar com os fundamentos da República contidos nessa
mesma Constituição: o respeito pela dignidade e autonomia ética humanas e a tolerância numa sociedade multicultural.
19
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
incluído como cláusula de anti-concorrência “desleal” (os salários baixos para as mulheres
praticados na indústria têxtil eram receados como originando distorções na concorrência),
essa disposição veio a ter uma evolução surpreendente nas políticas europeias e na própria
jurisprudência do Tribunal Europeu de Justiça (das Comunidades).
Mas a história da configuração jurídica das mulheres no mercado de trabalho é muito
mais complexa do que uma simples sucessão discriminação/anti-discriminação poderia fazer
crer.
Desde logo, mais uma vez neste ponto a demarcação do que seja o “mercado de
trabalho” é problemática. Se estivermos a pensar em mulheres das classes burguesas, o
problema legal pode ser nomeadamente centrado nas disposições das leis que impediram ou
limitaram a prática do “comércio” por parte das mulheres casadas. Ou as disposições que curioso paradoxo de “avanço atrasado”!! - permitiam magnanimamente às mulheres casadas,
no Código Civil de 1966, receber direitos de autora pelas obras publicadas. Na verdade, este
direito é, na sua consagração, por um lado muito mais “revolucionário” do que possa parecer:
escrever sempre foi considerado privilégio masculino (refiro-me ao universo português e
europeu ocidental dos últimos três séculos, apenas). A instrução , a capacidade de
comunicação (com as amigas, com os amantes) sempre foram consideradas perigosas nas
mulheres. Não é por acaso que a grande luta das feministas republicanas, em Portugal, se
centra não só no direito ao voto - já então visto correctamente como condição mínima de
cidadania - mas também na instrução. Diríamos, hoje, do elementar direito humano à
instrução.
Mas se o campo de análise forem as mulheres operárias, ou as empregadas
domésticas, ou segmentos profissionais similares, as coisas mudam de figura. A estas poderia
esperá-las ou a curiosa mistura de exploração e familiaridade, totalmente “desregulado” (ou
melhor: não regulado!) pelo Direito formal e escrito do universo das empregadas domésticas;
ou as profissões para as quais o Estado Novo esperava e obrigava uma dedicação total das
mulheres solteiras (professoras primárias, enfermeiras... e, anos mais tarde, hospedeiras do
ar ). Ou, no caso das operárias, o abuso laboral e sexual pelos patrões, que as tornou
pateticamente reais heroínas do célebre poema de António Gedeão, “Calçada de Carriche”. A
recepção formal por parte de instâncias jurídicas da realidade do assédio sexual no local de
trabalho começa a dar-se só nos finais do séc. XX, deparando ainda hoje com toda a sorte de
resistências teóricas e políticas. Muitas vezes colocadas entre a exploração material e sexual
em casa e no trabalho, vendo-lhes vedado qualquer acesso ao controlo da natalidade e
consequentemente sobre o seu próprio corpo, entregues às mãos de curiosas para a
“contracepção abortiva” no pavor da dor e da morte, as mulheres operárias em Portugal, no
séc. XX, sofreram quase sempre em silêncio e poucos por elas falaram.
Uma referência especial é devida às profissões jurídicas : até 1974, todas as carreiras
propriamente técnicas nesta área se encontravam vedadas por lei expressa às mulheres.
Se recuarmos a Outubro de 1972, data em que eu frequentava o quarto ano da
licenciatura em Direito na Universidade de Lisboa, já nessa altura as alunas constituiam
número apreciável da população discente em Direito. Escolho este ano por ter sido, no plano
político e académico, simbolicamente marcado pelo assassinato de um colega meu, José
António Ribeiro Santos. No plano juridico-constitucional, o ano de 1972 marca também a
desilusão da esperança de abertura política do regime, dado que a Revisão da Constituição
nesse mesmo ano ficou muito aquém do que seria necessário para a democratização do
regime - também no que à não discriminação entre os sexos diz respeito.
20
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
Nesses tempos dos finais da ditadura do Estado Novo, as “questões femininas”
estavam, em alguma medida, ofuscadas pela urgência da restauração da democracia. Isto
explicará talvez em parte alguma fraqueza dos movimentos feministas em Portugal nos anos
que se seguiram à Revolução de 1974.
Em Outubro de 1972, Marcelo Caetano “piscava à esquerda e virava à direita”, como
se ironizava no milieu e ele próprio, se bem recordo, comentou numa “Conversa em Família”
na televisão. Seria curioso e educativo produzir uma série em video com essas conversas e
mostrá-las aos nossos estudantes universitários de hoje, lembrando-lhes, por exemplo, que
aquele ilustre Administrativista dizia a quem o quisesse ouvir que o curso de Direito não era
para Senhoras (é claro, ele diria assim, com maiúscula). Julgo que o disse em pleno exame
oral de Direito Administrativo à minha irmã Leonor, se a memória me não trai. Hoje, a
população discente é maioritariamente feminina e as carreiras jurídicas foram todas abertas às
mulheres - há pouco mais de vinte anos, a idade das minhas alunas de agora, que olham para
mim como se eu tivesse aterrado de um qualquer Marte ou como se eu fosse contemporânea
da primeira República quando eu lhes conto que iniciei o curso com todas essas carreiras
vedadas por lei ao meu sexo.
Algumas das proibições legais de acesso a lugares de autoridade - além da
magistratura, também os lugares de chefia na administração local - terão porventura algum
poder explicativo para o facto de ainda ser na judicatura (por contraposição ao Ministério
Público, que é hoje, mas não era anteriormente, também considerado uma Magistratura) e no
“poder local” (presidências das Câmaras municipais, designadamente), em termos de
participação política, que o défice da presença feminina é mais óbvio.
X - A mulher e o Estado: nacionalidade, direito de voto e serviço militar
A “pertença” de uma pessoa a um Estado é denotada por elementos que se podem
polarizar em três campos: nacionalidade, sufrágio, forças armadas.
Por sobre as leis que regulam em pormenor estas áreas, manda a Constituição, a lei
das leis. Que estatuiram as Constituições portuguesas do séc. XX sobre as mulheres?
Anteriormente a 1933 (Constituição do Estado Novo), as Constituintes só se
preocuparam com questões de igualdade enquanto fim de privilégios - de foro, ou de
nobreza (estes últimos em 1911, com a instauração da República). Em 1822, 1828 e 1836, a
referência às mulheres (fêmea ) aparece a propósito da sucessão no trono e de casamento de
rainha.
Só na Constituição de 1933 aparece a referência ao sexo como fundamento proibido
de discriminação, em geral. Mas isto “salvo, quanto à mulher”, o que resultasse “da sua
natureza ou do bem da família “. Na Revisão de 1972, fica apenas a referência à natureza.
Quanto à nacionalidade, a equiparação jurídica da linha materna e paterna de
descendência, ou dos efeitos do casamento quanto à influência da nacionalidade do marido e
da mulher, só sucede depois da Revolução de 1974. No que concerne ao direito de voto,
embora a equiparação em sede de sufrágio paera o Parlamento (então “Assembleia Nacional”
) tenha ocorrido em 1969, a total equiparação de capacidade eleitoral só se concretizou
legalmente também na segunda República. A efectiva participação das mulheres na vida
política está muito longe de ser atingida. O final do séc. XX e o início do XXI foram
marcados, justamente, pela discussão política e legislativa sobre a introdução de “quotas” de
21
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
representação dos sexos, tendo uma primeira proposta sido rejeitada e estando a segunda
neste momento em discussão na especialidade, tendo sido aprovada na generalidade.
Sobre este problema das “quotas”, a argumentação tem girado em torno de duas ideias
fundamentais: a contestação da suposta meritocracia em que se baseará o actual sistema de
participação política (as pessoas que estão nos lugares políticos de poder são as que merecem
lá estar, pelas suas qualidades, não pelo seu sexo); (as mulheres não entram na vida política
porque não querem, porque lhes não interessa) e finalmente a auto-regulação dos partidos
políticos; a voluntariedade dessa mesma participação (não será legítimo ao Estado impor aos
partidos regras de composição das listas eleitorais). Estes argumentos, alguns dos quais quse
“pueris”, ignoram em absoluto não só o carácter estrutural da desigualdade de poder entre
homens e mulheres na sociedade portuguesa, como a existência de múltiplos mecanismos de
hetero-regulação19 que na verdade existem nesta área como em muitas outras, como ainda o
facto de a vida política etsra cheia de “quotas” informais (de regiões, tendências, influências,
etc etc).
No que ao serviço militar diz respeito, C. Mackinnon desenvolveu, no seu estilo
brilhante e provocatório, a teoria segundo a qual o serviço militar esteve tradicionalmente
vedado às mulheres porque os homens não queriam que elas aprendessem o uso da força, ie,
que fossem treinadas na agressão e na defesa. O argumento pode parecer excessivo, mas creio
bem que, para quem conheça os dados nacionais e internacionais sobre violência doméstica e,
em especial, violência exercida sobre as mulheres (em casa, na rua, em tempos ditos de paz,
ou na guerra, em que a sua violentação é o acto de agressão por antonomásia, dir-se-ia)20 ,
fica algum segurança sobre o bem fundado desta ideia. Sobretudo se a isto for associada a
observação de que as mulheres são tradicionalmente treinadas para a passividade (relacional,
sexual, em relação a agressões) para a docilidade, para o serviço acolhedor aos outros, em
especial aos seus maridos. Mas essa “ética de comportamento” ultrapassa largamente o
âmbito doméstico: as mulheres não só burguesas mas também de classes mais “humildes”
foram tradicionalmente ensinadas a não serem agressivas, a comportarem-se como “senhoras”
ou “mulheres de bem” - e a capacidade de reagir a uma agressão masculina foi-lhes coarctada
por esse condicionamento psicológico, fortemente agravdo pela interiozação de que a
agresssão masculina era (é) desencadeada pela provocação feminina. Em 1982, o novo
Código Penal ainda consagrava legalmente esta convicção, ao incluir entre as circunstâncias
19
Se um partido político decidisse inserir nos seus Estatutos uma cláusula segundo a qual só cidadãos do sexo
masculino e de raça ariana seriam admitidos como membros, suspeito que a generalidade dos meus concidadãos
e das minhas concidadãs acharia que o assunto diria respeito à legalidade democrática, à Constituição e ao
controlo político (do povo) e judicial (dos tribunais) sobre a sua aplicação. Se o Regimento da Assembleia da
República estatuísse que todas as reuniões do Plenário se desenrolariam entre a meia-noite e as sete da manhã,
alguém seria capaz de objectar à afirmação de que haveria aí, entre outras, uma violação evidente da obrigação
constitucional de contribuir para a harmonização entre a vida privada e a vida familiar? Se um pai ou uma mãe
de uma criança de sete anos a impedir de ir à escola, invocando objecção ideológica, ou a obrigar a permanecer
fechada num quarto sem comida nem luz durante três dias como castigo por qualquer “malfeitoria”, creio que
todos reconhecerão o direito e o dever de a lei e o Estado intervirem em nome do interesse da criança,
invocando violações várias de normas legais e constitucionais. Ou de direitos humanos essenciais, numa
perspectiva substantiva. É por isso que me parece curiosa a argumentação - que, aliás, sugere uma ideia de
“último recurso” - segundo a qual a determinação legal de “quotas” mínimas em função do género nas
candidaturas a eleições parlamentares seria anti-democrática porque, em última análise, violadora da autonomia
partidária.
20 Veja-se o texto de V. Nahoum-Grappe sobre as violações sistemáticas no território da ex-Jugoslávia em
DAUPHIN e FARGE, eds. lits. , 1997
22
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
atenuantes do crime de violação a provocação por parte da vítima (o que não acontecia, nos
mesmos termos, em relação a outros crimes); a cláusula só foi eliminada na revisão de 1995.
A jurisprudência sobre crimes de maus tratos conjugais (Beleza, 1984, 1989) pode
também ser observada nesta perspectiva.
XI - E o Futuro?
No início do novo século, o panorama é desanimador: nenhuma carreira, nenhuma
expressão, nenhuma participação está legalmente vedada às mulheres. Elas constituem a
maioria do corpo discente no ensino superior. Mas são uma pequena minoria no Governo, na
Assembleia da República ou nas Câmaras Municipais... desaparecem nos postos dirigentes da
alta finança e os retratos que acompanham as notícias de comunicados da direcção do banco
de Portugal são tão masculinamente cinzentas como as dos encontros dos grandes leaders
políticos mundiais. Muitas mulheres ainda se sentem “insultadas” com a perspectiva de
introdução legal de quotas de representação dos sexos nos lugares políticos ou com a
designação de feminista. Ou espantam-se perante a existência de uma Ministra para a
Igualdade (segundo Governo saído da maioria do Partido Socialista, 1999). O actual Primeiro
Ministro, António Guterres, também se espantou: aboliu (na remodelação de Setembro de
2000) a sua criação sem lhe dar tempo razoável de testar a razão de ser do posto. A impressão
que fica é a de uma razoável ignorância e leviandade políticas nesta matéria.
E no entanto a Constituição da República Portuguesa proclama, no seu texto actual
(Artº 109º, texto de 1997, 4ª revisão):
“A participação directa e activa de homens e mulheres na vida política
constitui condição e instrumento fundamental de consolidação do sistema
democrático, devendo a lei promover a igualdade no exercício dos direitos
cívicos e políticos e a não discriminação em função do sexo no acesso a
cargos políticos”
“Reliance on law to ensure freedom is always risky “ (MACKENZIE, 1996, p. 86).
Provavelmente, “chegou a altura”, como escreve Germaine Greer, “de as mulheres se
zangarem outra vez” (GREER, 2000, prefácio).
*******
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Abril 2001
ADORNO, Theodor (1989; 1ª ed. 1951) Minima Moralia Londres: Verso
ALBUQUERQUE, Martim de (1993) Da Igualdade - Introdução à Jurisprudência
Coimbra: Almedina
23
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
AMÂNCIO, Lígia (1994) Masculino e Feminino, a construção social da diferença
Porto: Afrontamento
AMÂNCIO, Lígia (1996) “Contributos para a análise de um movimento social
inexistente. A representação social do feminismo” in Actas do III Congresso Português de
Sociologia
AMÂNCIO, Lígia (1999) “As mulheres e os direitos humanos entre 200 anos antes e
50 anos depois da Declaração Universal” in Finisterra , nº 30.
AMÂNCIO, Lígia e LIMA, Mª Luísa (1992) Assédio sexual no mercado de trabalho
Lisboa: CITE.
BECKER, BOWMANe TORREY, eds (1994) Feminist jurisprudence - Taking
Women Seriously. Cases and Materials St.Paul, Minn. : West Publishing Co.
BELEZA, Mª Leonor (1981) "Os efeitos do casamento", in Reforma do Código Civil ,
Lisboa, Ordem dos Advogados.
BELEZA, Mª dos Prazeres (1969) A Mulher no Mundo de Hoje. Porto, ed. da autora.
BELEZA, José Manuel Pizarro (1982) O princípio da igualdade e a lei penal — o
crime de estupro voluntário simples e a discriminação em razão do sexo. Separata do número
especial do Boletim FDUC, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Teixeira Ribeiro.
BELEZA, Teresa Pizarro (1984) A mulher no Direito Penal Lisboa: CIDM (então
CCF)
(1988) Mulheres e Crime. O sistema penal e a construção do género .Separata de
Revista do Ministério Público, nº 33-34.
(1989) Maus tratos conjugais Lisboa: AAFDL.
(1991) “Legítima defesa e género feminino - paradoxos da Feminist Jurisprudence ?”
in Revista Crítica de Ciências Sociais , nº 31.
(1993) Mulheres, Direito e Crime ou a perplexidade de Cassandra Lisboa:
Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa.
(1994) O conceito legal de violação separata da Revista do Ministério Público.
(1996) Sem sombra de pecado - o repensar dos crimes sexuais na revisão de 1995 do
Código Penal Lisboa: CEJ.
(1997 a) “Desigualdade e diferença no Direito Português” in A mulher e a sociedade
(Actas dos 3ºs Cursos internacionais de Verão de Cacais, Julho 1996), Cascais: Câmara
Municipal, p. 179-190.
24
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
(1997 b) “Condicionamentos familiares no exercício da Magistratura” in Boletim
Informativo do Conselho Superior do Ministério Público Ano II, nº 16.
(2000) “Género e Direito: da Igualdade ao “Direito das Mulheres” in Thémis (Revista
da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa), nº 2.
COOK, Rebecca (1994) ed. Human Rights of Women - National and International
Perspectives Filadélfia: University of Pennsylvania Press.
COPELON, Rhonda (1994) “Intimate Terror: Understanding Domestic Violence as
Torture” in R. COOK, ed. (1994)
CORREA, Sônia e PETCHESKY, Rosalind (1194) “Reproductive and Sexual Rights:
a Feminist Perspective” in G. SEN, A. GERMAIN e L. C. CHEN, (eds ) Population Policies
Reconsidered - Health, empowerment and Rights
Harvard Center for Population and
Development Studies.
CORREIA, Natália Poesia Erótica e Satírica
COSTA, Mª Velho da BARRENO, Mª Isabel e HORTA, Mª Teresa Novas Cartas
Portuguesas
DAHL, Tove Stang (1993) Direito das Mulheres - Uma introdução à teoria feminista
do Direito Lisboa: F. C. Gulbenkian. Tradução de Women’s Law. An Introduction to
Feminist Jurisprudence Oslo University Press.
DAUPHIN, Cécile e FARGE, Arlette, eds. lits. (1997) De la violence et des femmes
Paris: Albin Michel.
ESTEVES, João Gomes (1991) A Liga Republicana das Mulheres Portuguesas —
uma organização política e feminista (1908-1919) Lx: ONGs do Conselho Consultivo da
CIDM.
FIRESTONE, Sulamith (1970)The Dialectics of Sex. Nova Iorque, William Morrow.
FRUG, Mary Joe (1987) "The role of Difference Models in the Study of Women in
Law". Comunicação preparada para a Workshop on Women in Law: Assimilation or
Inovation, University of Wisconsin-Madison Law School.
GATENS, Moira (1991) Feminism and Philosophy - Perspectives on Difference and
Equality , Cambridge, Polity Press.
GERSÃO, Eliana (1966) "A igualdade jurídica dos cônjuges. A propósito do Projecto de Código Civil", Revista de Direito e Estudos Sociais , Ano XIII: 25-64.
GREER, Germaine (2000) The wholeWoman (trad. port.: A Mulher total )
GREEN, Kate (1995) The Woman of Reason.
GUIMARÃES, Elina (1969) "Evolução da situação jurídica da mulher portuguesa",
in A mulher na Sociedade Contemporânea, Lisboa, Prelo, p. 9-28.
25
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
LAINGUI, A. e LEBIGRE, A. (sd) Histoire du Droit Pénal Paris: Cujas.
LOURENÇO, Nelson et al. (1997) Violência contra as Mulheres Lisboa: CIDM.
Cadernos Condição Feminina, nº 48.
MACKENZIE, Robin (1996) “Feminism and Reappraising the Force of Tradition” in
Feminist Legal Studies .
MACKINNON, Catherine (1982) "Feminism, Marxism, Method and the State: An
Agenda for Theory", Signs , vol. 7, nº 3.
MACKINNON, Catherine (1983) "Feminism, Marxism, Method and the State:
Toward Feminist Jurisprudence", Signs , vol. 8, nº 4.
MACKINNON, Catherine (1987) Feminism Unmodified — Discourses on Life and
Law. Cambridge, Mass. e Londres, Harvard University Press.
MACKINNON, Catherine (1991) Toward
a Feminist Theory of the State
Cambridge, Mass. e Londres, Harvard University Press.
MAGALHÃES, José (1998) (Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos,
Liberdades e Garantias da Assembleia da República) Penalizar ou despenalizar o aborto?
Lisboa: Quetzal.
MILL, John Stuart (1970; 1ª ed. 1869) “The Subjection of Women” in J. S. Mill e
Harriet T. Mill, Essays on Sex Equality University of Chicago Press.
MILLET, Kate (1979; ed. original de 1970) Sexual Politics Londres: Virago.
PAIS, ELZA (1998)Homicídio conjugal em Portugal
PENTIKÄINEN, Merja (1999) The Applicability of the Human Rights Model to
Address Concerns and the Status of Women Helsínquia: The Faculty of Law & The Erik
Castrén Institute of International Law and Human Rights.
RICH, Adrienne (1980) “Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence” in
Signs nº 5. Reproduzido em BECKER, BOWMAN e TORREY, eds (1994)
RILEY, Denise (1988) “Am I that Name? “ Feminism and the Category of “Women”
in History Londres: Macmillan Press.
26
Teresa Pizarro Beleza
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Serralves-Porto 2001
ROSALDO, M.Z. (1980) "The Use and Abuse of Anthropology: Reflections on
Feminism and Cross-cultural Understanding", Signs, vol. 5, nº 3: 389-417.
SILVA, Luísa F. da (1995) Entre marido e mulher alguém meta a colher Celorico de
Basto: À Bolina.
SUNSTEIN, Cass R. (1995) “Gender, Caste, and Law” in NUSSBAUM, Martha e
GLOVER, Jonathan, eds. ,Women, Culture and Development
Oxford: Clarendon Press, p.
332-359.
The United Nations and the Advancement of Women (1995) - com uma introdução de
B. Boutros-Gahli (“Blue Book Series”)
TOMASEVSKI, Katarina (1998) “Les droits des femmes: de l’interdiction de la
discrimination à son élimination” in Revue Internationale des Sciences Sociales , nº 158
(Dezº 98).
VICENTE, Ana (1987) Mulheres em discurso Lx: IN-Casa da Moeda.
YOURCENAR, Marguerite (1998) Feux Paris: Gallimard.
27