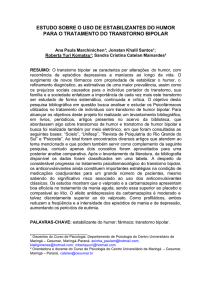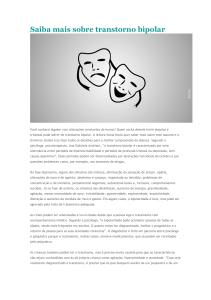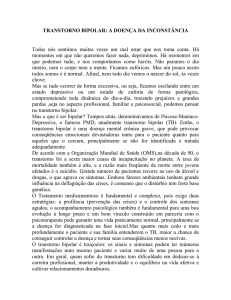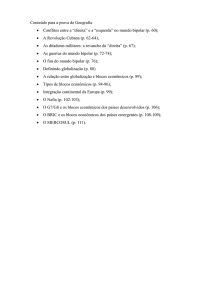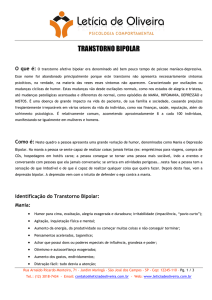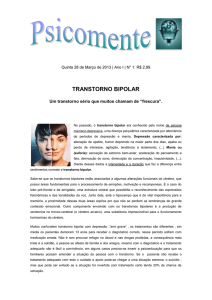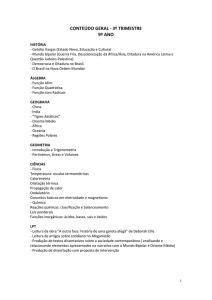FISIOPATOLOGIA DO TRANSTORNO BIPOLAR
PATHOPHYSIOLOGY OF BIPOLAR DISORDER
Gislaine T. Rezin1*, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde;
João Quevedo2, Doutor em Bioquímica; Emilio L. Streck1, Doutor em Bioquímica.
1 – Laboratório de Fisiopatologia Experimental – PPGCS – UNESC
2 – Laboratório de Neurociências – PPGCS – UNESC
*Correspondente: Gislaine T. Rezin: [email protected]
Resumo
Abstract
O distúrbio bipolar é um transtorno afetivo
que se caracteriza por altas taxas de suicídio e o
prejuízo no desempenho das funções do dia-a-dia.
Vários eventos podem levar a essa patologia, mas
os mecanismos exatos ainda são desconhecidos. No
transtorno bipolar, o paciente experimenta uma
rápida alternância de humor, acompanhada por
sintomas que configuram episódios maníacodepressivos. A apresentação sintomática envolve
agitação, insônia, desregulação do apetite,
características psicóticas e pensamento suicida.
Considerando tais questões, esta revisão teve como
objetivo reunir informações sobre o transtorno
bipolar, incluindo as hipóteses já existentes sobre a
causa da doença, bem como de seus sintomas.
Bipolar disorder is a devastating major mental
illness associated with higher rates of suicide and work
loss. This disorder presents many causes but the exact
mechanisms underlying its pathophysiology are still
not understood. Affected patients present mood
alterations characterized by depressive and manic
episodes. The main symptoms are excessive
excitement, insomnia, apetite disorder, psychotics and
suicidal tendencies. This article aims to review
information about bipolar disorder and its
pathophysiology. Besides, the etiology and main
symptoms are discussed.
Keywords: Respiratory chain; mitochondria;
bipolar disorder.
Palavras-chave: Cadeia Respiratória. Mitocôndria; transtorno bipolar.
1
1. Introdução
O transtorno bipolar é uma síndrome que
consiste de um grupo de sinais e sintomas mantidos
por um período que se estende de semanas a meses.
Apesar de existirem várias hipóteses para explicar a
causa dessa patologia, seus mecanismos
fisiopatológicos ainda são pouco conhecidos (Ebert
et al., 2002).
No transtorno bipolar, o paciente
experimenta uma rápida alternância do humor
acompanhada por sintomas de um episódio
maníaco-depressivo. A apresentação sintomática
envolve agitação, insônia, desregulação do apetite,
características psicóticas e pensamento suicida. No
entanto, essa alteração do humor deve causar um
prejuízo na vida do indivíduo para que realmente
possa ser considerada uma crise (Jorge, 2003).
Estudos mostram que a diminuição no
metabolismo energético cerebral parece estar
associada com o transtorno bipolar, bem como as
doenças de Alzheimer, Parkinson, Huntington e
isquemia cerebral (Beal, 1992; Heales et al., 1999),
pois a redução na produção de energia no cérebro
pode comprometer a síntese de neurotransmissores
e lipídios (Di Donato, 2000), e a deficiência no
funcionamento normal da cadeia respiratória
mitocondrial pode levar a uma rápida queda na
produção de energia e morte celular (Ankarcrona et
al., 1995).
2. Fundamentação Teórica
2.1. Transtorno Bipolar
A psicose maníaco-depressiva, também
chamada de distúrbio bipolar, é um transtorno
afetivo severo que afeta a vida de milhões de pessoas
no mundo inteiro. No entanto, pouco se sabe sobre
a causa dessa doença (Zarate et al., 2006).
Inicialmente, os estudos sobre a causa da
bipolaridade estavam voltados para as aminas
biogênicas, em razão dos efeitos dos agentes
psicofarmacológicos. No entanto, evidências recentes
mostram que disfunções nos sistemas de sinalização
2
intracelular e de expressão gênica podem estar
associadas ao distúrbio bipolar. Essas alterações
podem estar envolvidas com interrupções nos
circuitos reguladores do humor, como, por exemplo,
no sistema límbico (Kapczinski et al., 2004). Outros
estudos demonstram que a desordem bipolar
também pode estar associada à disfunção das
mitocôndrias presentes no hipocampo, e
anormalidades na atividade de complexos
respiratórios e obtenção de energia, podendo levar à
degeneração celular (Frey et al., 2006a).
Os fatores etiológicos, psicológicos e
biológicos levam a uma deficiência nos substratos
diencefálicos de prazer e recompensa, uma região
cerebral que possui funções que são prejudicadas nos
estados de mania e melancolia. Ambas as síndromes
resultam de um sistema límbico desordenado, o que
pode ser causado por vários fatores (Kaplan &
Sadock, 1999).
Um fator importante é a predisposição
hereditária, pois a herança poligênica pode levar ao
desenvolvimento do transtorno bipolar. Outro fator
é a predisposição familiar para desenvolver a doença,
pois pais que apresentam transtorno bipolar acabam
proporcionando aos filhos um ambiente cheio de
conflito, que vai possibilitar o início precoce da
doença, bem como a presença de episódios severos,
levando a uma maior probabilidade de suicídio.
Indivíduos que crescem nesse ambiente também
acabam desenvolvendo uma característica
temperamental que leva ao surgimento de atritos
interpessoais, estimulação emocional e perda de sono,
originando, assim, os estressores responsáveis pela
desordem bipolar (Kaplan & Sadock, 1999).
Muitos fatos que interferem no estilo de vida
também podem determinar o início da doença, bem
como a falta de apoio interpessoal, habilidades sociais
deficientes e a morte de pessoas próximas. Em
relação ao sexo, as mulheres têm uma tendência maior
para o desenvolvimento do transtorno de humor,
pois possuem níveis mais elevados de
monoaminoxidase cerebral (enzima que bloqueia os
transmissores monoamínicos), têm uma condição
tireoidiana inferior, vivem precipitações pós-parto,
possuem um afeto disfórico pré-menstrual e são
vulneráveis ao efeito depressivo dos anticoncepcionais
esteróides (Kaplan & Sadock, 1999).
2.2. Fisiopatologia
Outra questão envolvida com o distúrbio
bipolar é o sistema de neurotransmissão, pois estudos
mostram que nessa patologia ocorrem alterações em
substâncias intracelulares que estão envolvidas com
a regulação dos neurotransmissores (Kapczinski et
al., 2004).
A serotonina modula atividades neuronais,
regulando a fisiologia e os processos funcionais,
como o controle de impulsos, a agressividade e a
tendência suicida. Logo, esse neurotransmissor tem
participação na fisiologia da desordem bipolar, pois
uma deficiência na sua neurotransmissão pode levar
a estados tanto maníacos quanto depressivos, uma
vez que a diminuição na liberação e atividade da
serotonina pode levar à ideação suicida, bem como
à tentativa e, muitas vezes, ao próprio suicídio. A
dopamina, outro neurotransmissor, também está
envolvida com a neurobiologia da desordem bipolar.
A grande atividade dopaminérgica induzida pelo
aumento da liberação de dopamina, a redução da
capacidade da vesícula sináptica ou a elevada
sensibilidade do receptor dopaminérgico estão
associados aos sintomas maníacos, e a redução na
atividade dopaminérgica está relacionada com a
depressão. Quanto à noradrenalina, estudos mostram
que uma menor sensibilidade dos receptores
noradrenérgicos ocasiona o estado de depressão.
Porém, o aumento na atividade noradrenérgica pode
resultar em um estado de mania. No sistema
gabaérgico, a disfunção desse neurotransmissor pode
levar a estados maníacos e depressivos, visto que,
em pacientes bipolares, os níveis plasmáticos de
GABA estão diminuídos. O sistema glutamatérgico
apresenta-se associado com o transtorno bipolar,
uma vez que estudos demonstram a ação de
estabilizadores de humor na sua neurotransmissão
(Kapczinski et al., 2004).
De acordo com a neuropatologia da
desordem bipolar, estudos demonstraram que os
sintomas relacionados ao ciclo maníaco-depressivo
da desordem bipolar podem estar envolvidos com
alterações nas regiões cerebrais ligadas com a
emoção, sendo que o estado afetivo de pacientes
bipolares é avaliado de acordo com a parte
sentimental e o processo de respostas a vários
estímulos. No sistema de neurotransmissores, podem
ocorrer alterações no caminho percorrido pelo
neurotransmissor até seu receptor, levando a uma
sinalização anormal. As funções cerebrais relacionadas
ao humor e à cognição dependem da tradução de
sinais. Então, os eventos intracelulares envolvem
modulação da expressão gênica e plasticidade celular
para regular o humor. A informação que percorre o
trajeto até o núcleo celular é mediada por um segundo
mensageiro, e a proteína G é responsável por captar
o sinal no receptor transmembrana e repassá-lo ao
segundo mensageiro intracelular. De acordo com a
função dessa proteína, podem ocorrer anormalidades
na comunicação dos múltiplos sistemas neuronais
(Kapczinski et al., 2004).
No sistema ner voso central, existem
receptores que são modulados pela proteína G,
incluindo
receptores
noradrenérgicos,
serotoninérgicos, dopaminérgicos, colinérgicos,
histaminérgicos, dentre outros. O efeito da proteína
G pode ser estimulado ou inibido. Logo, quando a
proteína é estimulada, ela se classifica em proteína
Gs e, quando é inibida, ela se classifica em proteína
Gi. Estudos demonstram que na desordem bipolar
ocorre um aumento nos níveis de proteína Gs, que,
quando ativada, modula o fluxo iônico por meio da
regulação da atividade do canal iônico. Outra função
da proteína G é regular a enzima adenilato ciclase,
que catalisa a formação de AMPc. O AMPc é um
importante segundo mensageiro, cuja função é ativar
a proteína quinase A (PKA), a qual regula os canais
iônicos e fatores de transcrição. Estudos mostraram
que em pacientes bipolares ocorre um aumento na
atividade da adenilato ciclase, AMPc e PKA, um
aumento que pode estar associado a disfunções da
proteína G. Quando a proteína G é ativada, o sistema
de neurotransmissão utiliza a via do fosfoinositol, pois
nela a proteína G estimula a fosfolipase C, que
hidrolisa fosfolipídios da membrana, formando
fosfoinositol (PIP2) que leva à formação de dois
importantes segundos mensageiros, o diacilglicerol
(DAG) e o inositol trifosfato (IP3). O IP3 tem receptor
específico situado no retículo endoplasmático liso,
que ativa a liberação de cálcio estocado. O DAG tem
a função de ativar a proteína kinase C, envolvida com
processos celulares que incluem secreções, expressão
gênica, modulação da conduta iônica, proliferação
celular entre outras. Diante disso, estudos relatam que,
na desordem bipolar, ocorrem alterações no caminho
fosfoinositol (Frey et al., 2004).
3
A PKC é uma importante enzima no
caminho PIP2, atuando na regulação da excitação
neuronal, expressão gênica e sinapse plasmática. (Frey
et al., 2004), em que a regulação da cascata de
sinalização intracelular modula o fator de transcrição
gênica. Essa cascata é formada por proteínas ligadas
a genes específicos do DNA, que levam à formação
de novas proteínas envolvidas com a plasticidade
celular. Portanto, alterações nos níveis dessa cascata
podem levar à formação de proteínas próapoptóticas ou reduzir o fator de proteção celular,
bem como sua sobrevivência. A GSK3-b é uma
proteína envolvida com apoptose, plasticidade
sináptica e provavelmente o ciclo circardiano por
modulação da expressão gênica (Kapczinski et al.,
2004). A atividade da GSK3-b pode ser inibida ou
estimulada, e sua função é regular a sobrevivência
celular, processos cognitivos e processos relacionados
ao humor, pois o aumento da GSK3-b é próapoptótico. Sua inibição previne a morte celular
(Zarate et al., 2006).
Outra forma de controlar a morte celular é
por meio do cálcio intracelular, pois ele modula a
sinapse plasmática, a sobrevivência e a morte celular.
A sinalização de cálcio interage com cascatas de
sinalização, incluindo o AMPc e PIP2, e essas cascatas
de sinalização intracelular modulam fatores de
transcrição gênica, que são proteínas ligadas a genes
específicos no DNA, induzindo à formação de novas
proteínas envolvidas com a plasticidade celular.
Alterações em qualquer nível da cascata podem causar
morte celular pela formação de proteínas próapoptóticas ou pela redução do fator de proteção
celular e sobrevivência desses fatores. Um fator
essencial na resposta a situações de estresse é regulado
pela duração do período da transcrição do gene
durante a estabilidade do RNAm e a formação de
nova proteína. Acredita-se que alguns fármacos
regulem a expressão de muitos genes no SNC,
produzindo um efeito que pode fazer parte do
tratamento da doença bipolar (Frey et al., 2004).
O transtorno bipolar é caracterizado pelo
excesso de mudança no humor (Hayden &
Nuremberger, 2005), estado em que episódios
maníacos ou hipomaníacos alternam-se com
episódios depressivos, levando a um grupo de sinais
e sintomas que são mantidos por um período de
semanas a meses, e são, na maioria das vezes,
recorrentes (Del Porto & Versiani, 2005). A causa
4
dessa recorrência é a mudança na polaridade do
humor, definido como uma evolução do episódio
depressivo maior para um episódio maníaco, ou pela
evolução de um episódio maníaco para um episódio
depressivo maior (Frey et al., 2006b).
No episódio maníaco, ocorre uma elevação
do humor deixando o paciente agitado, expansivo e
irritável, apresentando uma auto-estima grandiosa,
pouca necessidade de sono, pressão para falar, fuga
de idéias, agitação psicomotora, energia abundante e
facilidade em se distrair (Frey et al., 2006b).
Para que seja considerada característica de
um episódio maníaco, essa perturbação do humor
deve causar prejuízo no funcionamento social ou
ocupacional ou, ainda, levar o indivíduo à
hospitalização. No entanto, esse quadro precisa ser
diagnosticado, pois episódios maníacos severos não
tratados geram condições perigosas para o paciente
e para as pessoas que o cercam (Kapczinski et al.,
2000).
O episódio depressivo leva o paciente a
apresentar humor deprimido, com perda do interesse
e do sentimento de prazer no desenvolvimento de
atividades. Além disso, o paciente apresenta
diminuição de energia, bem como alteração no
apetite, peso, atividade psicomotora, sono, sentimento
de culpa, dificuldade para pensar, concentrar-se ou
tomar decisões, pensamento de morte ou ideação
suicida, o que, muitas vezes, acaba em tentativas ou
no próprio suicídio (Kaplan & Sadock, 1999).
A mania e a depressão não são estados
opostos de humor, mas patológicos. A agitação e o
excesso de atividades podem ocorrer na depressão,
bem como a irritabilidade e a sensação de frustração
na mania. É comum um paciente passar por uma fase
depressiva, antes de tornar-se maníaco, e novamente
entrar em depressão após a mania, antes de chegar a
um estado de humor normal (Sims, 2001).
Estudos mostram que a diminuição no
metabolismo energético cerebral parece estar associada
com o transtorno bipolar, bem como as doenças de
Alzheimer, Parkinson, Huntington e isquemia cerebral
(Beal, 1992; Heales et al., 1999), pois a redução na
produção de energia no cérebro pode comprometer
a síntese de neurotransmissores e lipídios (Di Donato,
2000), e a deficiência no funcionamento normal da
cadeia respiratória mitocondrial pode levar a uma
rápida queda na produção de energia e morte celular
(Ankarcrona et al., 1995).
3. Conclusão
O transtorno de humor é uma doença
psiquiátrica que vem ganhando maior dimensão entre
a população. Embora muitos estudos tentem
desvendar a causa específica da patologia, a
complexidade dessa definição se acentua na medida
em que são diversos os fatores que podem
desencadeá-la. Por isso, faz-se necessária uma
observação rígida dos sintomas, que se intercalam
dificultando o diagnóstico.
4. Abreviações
AMPc – Adenosina monofosfato cíclico
DAG – Diacilglicerol
GABA – ácido gama-aminobutírico
GSK3-â – Glicogênio Sintase Kinase 3
IP3 – Inositol Trifosfato
PIP2 – Fosfoinositol
PKA – Proteína Quinase A
SNC – Sistema Nervoso Central
5. Referências
Ankarcrona, M et al. (1995). Glutamate-induced
neuronal death: a succession of necrosis or
apoptosis depending on mitochondrial
function. Neuron, v.15.
Frey, BN et al. (2006a). Effects of mood stabilizers
on hippocampus BDNF levels in an animal
model of mania. Life Sciences.
______. et al. (2004). Neuropathological and
neurochemical abnormalities in bipolar
disorder. Revista Brasileira de Psiquiatria.
______. et al. (2006b). Effects of lithium and
valproate on amphetamine-induced oxidative
stress generation in an animal model of mania.
Journal of Psychiatric Neuroscience.
Hayden, EP; Nuremberger, JI. (2005). Molecular
genetics of bipolar disorder. Genes, Brain
and Behavior.
Heales, SJ et al. (1999). Nitric oxide, mitochondria
and neurological disease. Biochimica et
Biophysica Acta 1410.
Kapczinski, F; Quevedo, J; Izquierdo, IA. (2000).
Bases biológicas dos transtor nos
psiquiátricos. Porto Alegre: Artmed.
Kapczinski, F; Frey, BN; Zannatto, V.(2004).
Physiopathology of bipolar disorders: What
has changed in the last 10 years? Revista
Brasileira de Psiquiatria.
Kaplan, HI; Sadock, BJ. (1999). Tratado de
Psiquiatria. 6 ed. Porto Alegre: Artmed.
Beal, MF. (1992). Does impairment of energy
metabolism result in excitotoxic neuronal
death in neurological illnesses. Annals of
Neurology, v.31.
Sims, A. (2001). Sintomas da mente: introdução à
psicopatologia descritiva. 2 ed. Porto Alegre:
Artmed.
Del Porto, JA; Versiani, M. (2005). Tratamento
bipolar: tratando o episódio agudo e
planejando a manutenção. Jornal Brasileiro
de Psiquiatria, p. 84-86.
Zarate, CA; Singh, J; Manji, H. (2006). Cellular
Plasticity Cascades: Targets for the
Development of Novel Therapeutics for
Bipolar Disorder. Biologia e Psiquiatria.
Di Donato, S. (2000). Disorders related to
mitochondrial membranes: pathology of the
respiratory chain and neurodegeneration.
Journal of Inherited Metabolic Disorders,
v.23.
5