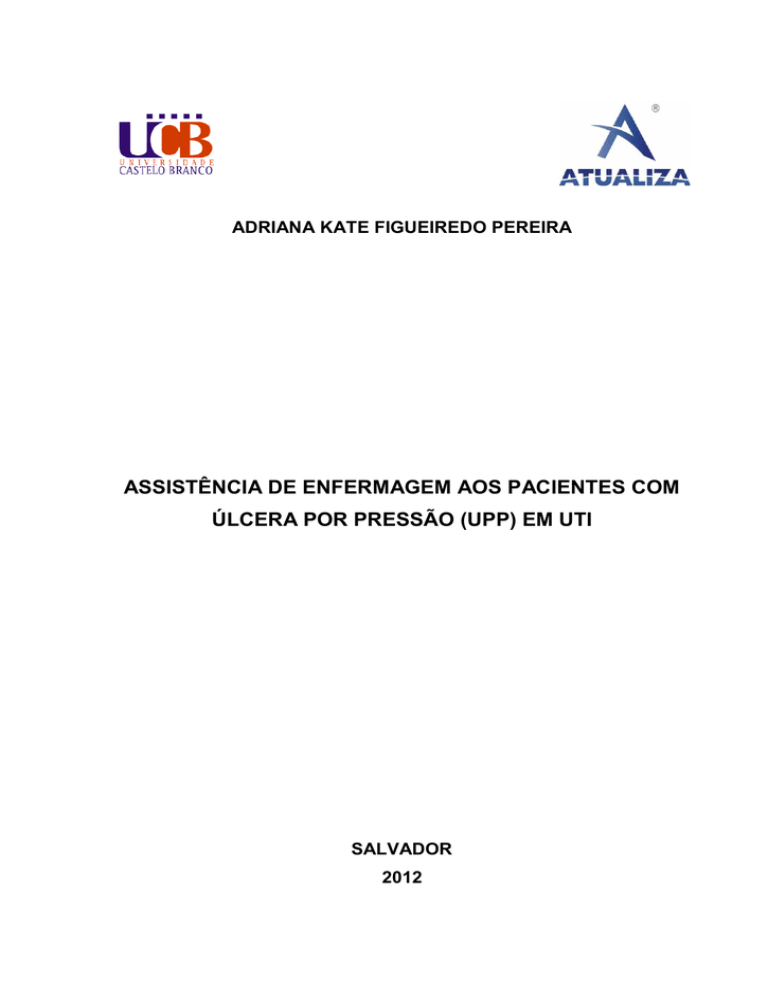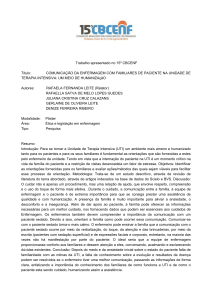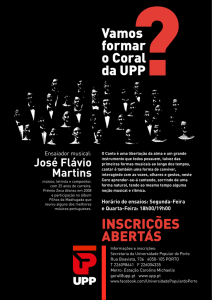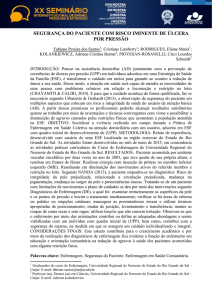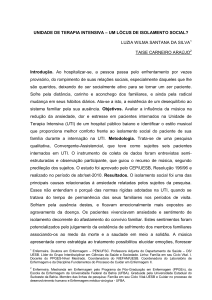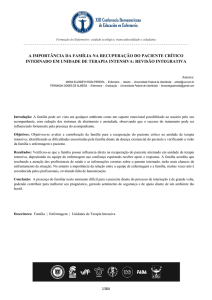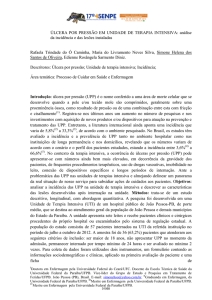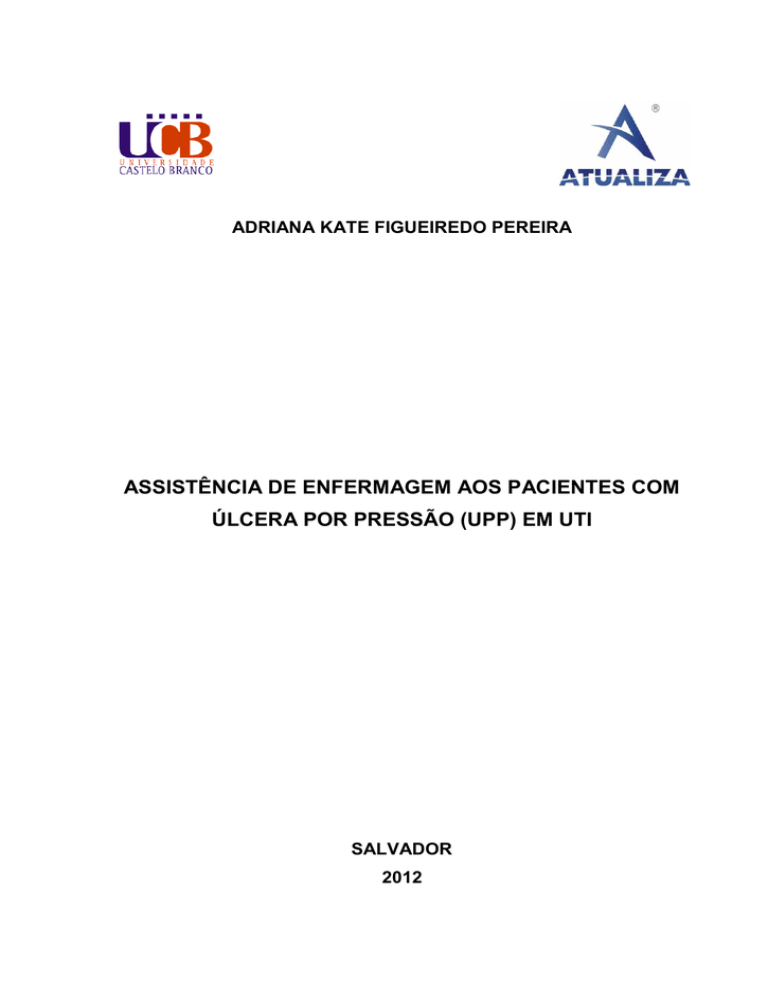
ADRIANA KATE FIGUEIREDO PEREIRA
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES COM
ÚLCERA POR PRESSÃO (UPP) EM UTI
SALVADOR
2012
ADRIANA KATE FIGUEIREDO PEREIRA
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES COM
ÚLCERA POR PRESSÃO (UPP) EM UTI
Monografia apresentada ao Curso de PósGraduação Latu Sensu / Especialização em
Enfermagem em UTI, da Universidade Castelo
Branco e Atualiza sob a orientação do
Professor Fernando dos Reis Espírito Santo.
SALVADOR
2012
AGRADECIMENTOS
Agradeço
aos
professores,
pela
competência e paciência.
Agradeço a todos os meus familiares pelo
incentivo e apoio me dado.
“A grandeza de um ser humano não esta
no quanto ele sabe, mas no quanto ele tem
consciência que não sabe. O destino não é
freqüentemente
inevitável,
mas
uma
questão de escolha. Quem faz escolha,
escreve sua própria história, constrói seus
próprios caminhos.”
(Augusto Cury)
RESUMO
Este estudo aborda a importância da assistência de enfermagem aos pacientes com
Úlceras por Pressão (UPP) em UTI. Os hospitais procuram aprimorar a qualidade
assistencial e a segurança do paciente reduzindo agravos como o aparecimento da
UPP através da avaliação dos processos que podem ser decisivos neste resultado,
um indicador de qualidade da enfermagem e serviços de saúde. Elas são definidas
como lesões provocadas pela constante pressão praticada sobre um certo ponto do
corpo, causando um grave comprometimento do aporte sanguíneo com redução ou
cessação da irrigação tissular, ocasionando oclusão de vasos e capilares, isquemia
e morte celular. Podem ocorrer por diversos fatores predisponentes do paciente
crítico, sobretudo, em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A UPP é sempre um
motivo de preocupação pela equipe de enfermagem, visto que seu surgimento e
prognóstico estão relacionados diretamente com a qualidade da assistência
oferecida. O objetivo é evidenciar a importância da assistência de enfermagem aos
pacientes com UPP em UTI. A fim de alcançar esse objetivo foi realizada uma
pesquisa bibliográfica do tipo descritivo e qualitativo. Diante disso, conclui-se que há
a necessidade da avaliação do processo da assistência de enfermagem, de forma a
identificar a conformidade das ações de enfermagem e os aspectos que demandam
mudanças institucionais, já que podem intervir na ocorrência da UPP objetivando o
aperfeiçoamento da qualidade e a maior segurança para os pacientes internados em
UTI.
PALAVRAS-CHAVE : Úlceras por pressão, Assistência de enfermagem, Unidade de
Terapia Intensiva.
ABSTRACT
This study addresses the importance of nursing care to patients with pressure ulcers
(PU) in ICU. Hospitals seek to improve the quality of care and patient safety by
reducing injuries and the emergence of UP through evaluation of processes that can
be decisive in this result, an indicator of quality of nursing and health services. They
are defined as injuries caused by constant pressure practiced on a certain point of
the body, causing a severe disruption of blood supply to reduction or cessation of
irrigation tissue, causing occlusion of vessels and capillaries, ischemia and cell
death. Can occur by several predisposing factors critical patients, mainly in the
Intensive Care Unit (ICU). UP is always a cause for concern by the nursing team
since its inception and prognosis are directly related to the quality of care offered.
The aim is to highlight the importance of nursing care to patients in the ICU with
UPP. To achieve this goal we conducted a literature review and qualitative
descriptive. Therefore, it is concluded that there is a need to evaluate the process of
nursing care, to identify compliance of nursing actions and aspects that require
institutional changes, as they may intervene in the occurrence of PU aiming the
improvement of quality and greater safety for patients in the ICU.
KEY-WORDS: Ulcers for pressure, Assistance of nursing, Unit of Intensive Therapy.
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO
08
2 REFERENCIAL TEÓRICO
12
2.1 Conhecendo a Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
12
2.1.1 Cuidado intensivo
15
2.1.2 Organização da unidade
16
2.1.3 Aspectos psicológicos e psiquiátricos evidenciados na UTI
17
2.1.4 Percepção do paciente em relação à UTI
18
2.1.5 Assistência de enfermagem em UTI
21
2.2 Conhecendo a Úlcera por Pressão (UPP)
25
2.2.1 Epidemiologia
27
2.2.2 Fatores de risco
28
2.2.3 Estágios
30
2.2.4 Tratamento
32
2.3 Assistência de enfermagem aos pacientes com UPP em UTI
33
2.3.1 Prevenção
34
2.3.2 Adoção de inovações para prevenção de UPP em UTI
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
40
REFERÊNCIAS
42
1 INTRODUÇÃO
. Apresentação do objeto de estudo
De acordo com Santos et. al. (2005), as UPP significam um grande problema para
os serviços de saúde, sobretudo para as equipes de enfermagem e multidisciplinar,
tanto devido às altas incidências, prevalências e diferenças de medidas profiláticas e
terapêuticas existentes, quanto pelo aumento da mortalidade, morbidade e custos
delas oriundas.
A UPP se apresenta por uma lesão da pele provocada pela ligação de fatores
intrínsecos e extrínsecos que, depois de certo período de fluxo sanguíneo deficiente,
os nutrientes deixam de ser conduzidos para a célula e os produtos de deterioração
se aglomeram, e com isso, acontece a isquemia acompanhada de hiperemia, edema
e necrose tecidual, chegando à morte celular (KRASNER; CUZZEL, 2003).
Elas são consideradas como episódios desfavoráveis ocorridos durante o processo
de hospitalização, que repercutem de maneira indireta a qualidade do cuidado
oferecido (SOUSA et. al., 2006).
Silva et. al. (2010) destacam que se trata de uma complicação bastante freqüente
em pacientes críticos e sofre um grande impacto sobre sua recuperação e qualidade
de vida.
Este paciente crítico está mais predisposto a desenvolver este tipo de problema,
devido à sedação, mudança do nível de consciência, suporte ventilatório, utilização
de drogas vasoativas, restrição de movimentos por um longo período e instabilidade
hemodinâmica (FERNANDES; CALIRI, 2008).
Diante disso, o cuidado intensivo prestado a esses pacientes, normalmente, se torna
mais eficiente no momento em que é desenvolvido em setores específicos, que
proporcionam recursos e objetivos para sua progressiva recuperação. Tais unidades
específicas chamadas UTI consistem num conjunto de elementos funcionais
incorporados, responsável pelo atendimento de pacientes graves ou de risco que
demandem uma assistência médica e de enfermagem contínuas, além de
equipamentos e recursos humanos especializados (MS, 1998).
Segundo Baldwin e Zeegleer (1998), o avanço tecnológico em cuidados de saúde
tem ampliado as condições de sobrevida de pacientes críticos, contudo, por causa
da instabilidade fisiológica e restrita imobilização, tornam pessoas de alto risco para
o desenvolvimento dessas UPP.
Conforme relatos de Gomes (1988), embora já se tenha o avanço tecnológico, ainda
não há uma definição suficiente de cuidado intensivo. Entretanto, ele considera
como sendo aquele oferecido a pacientes recuperáveis, porém que precisam de
uma supervisão constante, e que estão sujeitos a se submeterem a procedimentos
especializados e desenvolvidos por pessoal especializado.
Independentemente da razão que acarretou a internação do paciente em uma UTI, a
concentração de pacientes graves ou críticos, dependentes de mudanças repentinas
com relação ao seu estado geral, a incessante expectativa de situações de quebra
repentina das atividades normais pelas urgências médicas, geram uma atmosfera
emocionalmente comprometida, onde o estresse está presente tanto nos elementos
que operam nas unidades quanto em pacientes e em seus familiares, sendo esses
bastante comprometidos em suas necessidades básicas (GOMES, 1988).
. Justificativa
Um dos maiores desafios em assistência a pacientes críticos, é a ocorrência de
complicações advindas do estado de saúde do paciente e/ou do tratamento
dispensado a este, sabendo que nessas unidades a tecnologia empregada é
bastante avançada e a imprevisibilidade das situações de emergência é acentuada,
onde alguns aspectos relacionados ao cuidado são merecedores de pouca atenção
por parte dos profissionais que prestam este cuidado.
Dentre as inúmeras complicações decorrentes de um processo de hospitalização, a
UPP, é bastante evidente, além de ser uma ocorrência comum em pacientes
hospitalizados, representa um problema de saúde significante e oneroso em
pacientes imobilizados portadores de doenças graves.
. Problema
Qual a importância da assistência de enfermagem diante dos pacientes com
UPP internados em UTI?
. Objetivo
Evidenciar, a partir da literatura, a importância da assistência de enfermagem aos
pacientes com UPP em UTI.
. Metodologia
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, que segundo Ludke e André
(1986) possibilita compreender a complexidade das experiências, os seus
significados. Os dados qualitativos permitem apreender o aspecto multi-dimensional
dos fenômenos, capturando os diferentes significados das experiências no ambiente
investigado, de modo a auxiliar a compreensão das relações entre os indivíduos, seu
contexto e suas ações.
Quanto aos objetivos, é uma pesquisa descritiva e exploratória, que de acordo com
Lakatos e Marconi (2001), destina-se a descrever as características de determinada
situação, os estudos descritivos diferem dos resultados exploratórios no rigor em
que são elaborados seus projetos.
Quanto ao procedimento, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, porque na visão de
Vergara (2007), é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material
publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao
publico em geral.
. Estrutura do trabalho
Este estudo está constituído de 3 momentos, que estão assim distribuídos: no
primeiro momento será abordado o conhecimento sobre a unidade de terapia
intensiva (UTI). No segundo momento será descrita a úlcera por pressão (UPP); e no
terceiro momento será enfocado o tema em si, a importância da assistência de
enfermagem aos pacientes com UPP em UTI.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 CONHECENDO A UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)
Atualmente podemos destacar uma preocupação muito grande por parte dos
profissionais da saúde sobre a questão da humanização em Unidade de Terapia
Intensiva (UTI). Com o passar dos anos houve a necessidade de promover um
ambiente que proporcionasse ao paciente melhores condições de bem-estar,
respeitando a integridade física, mental e ainda favorecendo aos familiares a
proximidade com o paciente por intermédio de uma planta física adequada.
Para Castro (1990), as UTIs surgiram a partir da necessidade de aperfeiçoamento e
concentração de recursos materiais e humanos para o atendimento a pacientes
graves, em estado crítico, mas tidos ainda como recuperáveis, e da necessidade de
observação constante, assistência médica e de enfermagem contínua, centralizando
os pacientes em um núcleo especializado.
De acordo com Gomes (1998), os serviços de Terapia Intensiva são áreas
hospitalares destinadas a pacientes em estado crítico que necessitam de cuidados
altamente complexos e controles escritos.
A UTI tem como objetivo concentrar recursos para o atendimento ao paciente grave,
que
exige
assistência
permanente,
além
da
utilização
de
equipamentos
especializados, atendendo também a pacientes em estado crítico ou potencialmente
crítico, de ambos os sexos, de todas as idades, clínicos ou cirúrgicos e com
qualquer tipo de patologia, caracterizando assim uma UTI geral.
A equipe multiprofissional que atua nas UTIs é composta por: Médicos Intensivistas
responsáveis pela assistência médica durante a permanência do paciente na UTI;
Enfermeiras que são responsáveis pela avaliação e elaboração de um plano de
cuidados de enfermagem individualizado e sistematizado; Auxiliar de Enfermagem,
Agente de Transporte, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Higiene Hospitalar,
Fisioterapeutas, Nutricionistas e Voluntárias (GOMES, 1998).
Nightingale apud Civeta et. al. (1992), descreveu o uso de área especiais separadas,
nos hospitais de comunidade, perto das salas de operações, para a recuperação dos
pacientes dos efeitos imediatos da cirurgia. A idéia de uma sala de recuperação foi
implementada muito mais tarde nos maiores hospitais de ensino, que tinha melhor
provisão de recursos humanos e continuaram, até 20 anos atrás, a depender das
enfermeiras particulares para supervisionar a recuperação dos pacientes nas
enfermarias.
O estímulo era o desejo de concentrar a perícia ou os recursos limitados dentro de
uma área, a fim de possibilitar assistência ótima ao máximo número de paciente com
necessidades particulares. O desenvolvimento subseqüente das UTIs não foi tanto
uma evolução como uma resposta direta às necessidades.
A monitoração de terapia intensiva que nós encaramos tanto como parte da UTI não
era tão simples de operar como agora, e então, grupos de enfermeiras começaram a
desenvolver experiências nas técnicas especiais envolvidas, e as unidades foram
atribuídas a estes membros da equipe dando início a enfermagem de terapia
intensiva (CIVETA et. al., 1992).
Durante os anos 60, muitos médicos interessados em Terapia
Intensiva vieram da Europa para os Estados Unidos durante o
Apogeu da “drenagem de cérebros” e ajudaram a estabelecer
otratamento intensivo. Por essa razão as UTIs surgiram nos
Estados Unidos a partir de uma multiplicidade de origens (CIVETA
et. al., 1992, p. 1890).
Ainda de acordo com Civeta et. al. (1992), pelos anos 70 as UTIs tinham se tornado
bem estabelecida e eram consideradas uma parte necessária de toda comunidade e
eram também, infelizmente, depósitos nos quais pacientes com um prognóstico sem
esperanças eram colocados para uma “última chance”. Além disso, não existia
treinamento formal disponível em tratamento crítico e muitas vezes havia um
pequeno empreendimento de uma residência de anestesiologia e outros tipos de
estudos.
Nos grandes centros com UTIs, a responsabilidade de momento a momento por um
paciente criticamente enfermo muitas vezes estava nas mãos de um treinamento
júnior, enquanto que a pessoa disponível com experiência era um consultor, e o
médico ou cirurgião assistente do paciente não estavam imediatamente à mão.
Hoje, para o cuidado intensivo se faz necessário à enfermagem permanente com
treinamento específico completo e desenvolvendo um serviço contínuo, pronta
avaliação
médica
e
complementação
científica,
padronização
técnica
de
investigação e tratamento, definição de área e facilidade e atitude novas para o
cuidado intensivo.
A criação das UTIs veio em busca de atendimentos, onde a vigilância é um aspecto
de prevenção de danos, recuperação do paciente e identificação precoce de
anormalidade. É uma área de apoio, para atendimento com características próprias,
compreende a organização, facilidades, serviços e pessoas.
O objetivo principal do cuidado progressivo do paciente é proporcionar um melhor
cuidado e tanto podendo ser descrito como “serviços de hospital, sob medida, para
atender as necessidades do paciente” ou “paciente certo, no leito certo, com o
serviço certo, na hora certa”.
O enfermeiro deve estar apoiado às necessidades físicas do paciente assim como
na assistência e do funcionamento dos equipamentos em geral. Os efeitos da
hospitalização, e com as doenças graves, os mecanismos de defesa, estão
alterados e diminuídos nos pacientes e nos que não respondem provavelmente
ausentes, são os pacientes que não respondem aos estímulos táteis e dolorosos
(GOMES, 1988).
Os ruídos normais em casa incluem vozes de pessoas queridas e amigos;
entretanto, os sons em unidades de cuidados intensivos incluem vozes estranhas,
em grandes números, movimento das grades dos leitos, ruídos dos monitores
cardíacos, sistema de auto-falante chamando nomes estranhos, aspiração de
traqueostomias, telefones tocando o tempo todo, sussurros, risos e vozes
disfarçadas, estão acompanhados por iluminação contínua, imagens estranhas de
equipamentos, medo e dor.
O ambiente da UTI, não deixa de ser um ambiente isolado, sem a família e sem
contar com a total exposição de seu corpo, pois nesta unidade não requer o uso de
roupas da própria pessoa, isso já o torna mais sensível e vulnerável às emoções
obtidas nesse contexto (HUDAK; GALLO, 1997).
O sono é uma parte do ciclo de 24 horas dentro ao qual os organismos humanos
devem funcionar. Há uma periodicidade de 24 horas na qual o importante período de
sono típico repara uma vez ao dia. O objetivo do sono é evitar à exaustão fisiológica
e psicológica e/ou doença, a ausência de sono prolonga o tempo necessário para a
recuperação de uma doença. Quando o paciente se encontra fora de casa, não
reconhece o ambiente, se depara com uma equipe com grande dinamismo, se
surpreende com tal fato e a presença da família constante na unidade é fundamental
para o melhor desempenho dos resultados (HUDAK; GALLO, 1997).
2.1.1 Cuidado intensivo
O cuidado é uma peculiaridade do humano sendo condição primária para a sua
existência. Sendo assim, os valores humanos como a fé, esperança, sensibilidade,
ajuda e confiança são aspectos relevantes a serem estimulados e desenvolvidos
no processo de cuidar, e eles precisam estar presentes para que o cuidado possa
tornar-se holístico. O cuidado holístico deve ser preocupação da enfermagem,
atendendo às necessidades dos pacientes e da família (MARUITI; GALDEANO,
2007; SILVA et. al., 2008).
Segundo Gomes (1988), ainda não existe uma definição satisfatória de cuidado
intensivo, no entanto alguns conceitos podem ser utilizados na tentativa de
caracterizá-lo.
Jones (1967) apud Gomes (1998, p. 592) define cuidado intensivo como um
tratamento contínuo dado em uma unidade por um grupo permanente de
enfermeiros e médicos especificamente treinados.
De acordo com Gomes (1988), o cuidado intensivo pode ser dispensado a três tipos
de pacientes: aqueles que especificamente necessitam de cuidados de enfermagem
rigorosos, aqueles que requerem contínua e freqüente observação ou investigação e
aqueles que dependem de tratamentos complexos e de equipamentos de apoio
(respiradores, monitores, etc.).
Em alguns casos, o que é crítico para a enfermagem nem sempre é do ponto de
vista médico. Esta é uma afirmação ainda não muito aceita, mas que tende a definir
algumas condutas em relação à permanência ou ao de um paciente na unidade de
cuidado intensivo (GOMES, 1988).
2.1.2 Organização da unidade
Todo método de trabalho na UTI é criado a partir de sua organização, visando ao
desenvolvimento das atividades que proporcionam a concretização de seus
objetivos. Entretanto, considerando-se os recursos econômicos do hospital é o tipo
de paciente a ser tratado na Unidade de Terapia Intensiva, nem sempre será
possível a elaboração de normas rígidas para seu planejamento. Contudo alguns
critérios básicos e relacionados deverão ser estabelecidos (GOMES, 1988):
- A filosofia de atendimento deve basear-se no contato constante e direto entre
pacientes e equipe de saúde;
- A área destinada à internação deve ser ampla;
- O equipamento especializado;
Segundo o autor, na fase de planejamento da unidade, o enfermeiro estabelece os
critérios e normas para o serviço de enfermagem, define a filosofia de trabalho do
mesmo, elabora manuais e cria os métodos padronizados e atendimento ao
paciente. O sucesso do tratamento na unidade está condicionado a um bom
atendimento e a consciência disso tem nos levado, muitas vezes, ao estresse
emocional. Um período de seis horas diárias, num total de até trinta e seis horas
diárias, é preconizado como ideal para as UTI.
Não há uma infra-estrutura para que estabeleçam, à noite, períodos de trabalho de
seis horas: o transporte é inadequado a partir das vinte e três horas; as instituições
não possuem recursos para abrigar o funcionário no resto do período, não há
segurança para a circulação do indivíduo na cidade nas horas noturnas avançadas.
A solução para o problema é permear o ciclo de atividades noturnas com folgas mais
freqüentes.
O conhecimento e a certeza de que deva existir um treinamento sistematizado,
visando a uma melhor prestação de serviço, não têm sido suficientes para se
estabelecerem meios que assegurem um bom cuidado de enfermagem aos
pacientes internados em UTI. A assistência ao enfermo é significativamente mais
completa quando aliada a fatores que evidenciam desenvolvimento do grupo de
trabalho: emprego efetivo do pessoal, adequada conservação e eficiência do
material, efetividade e objetividade dos procedimentos de enfermagem, educação
dos pacientes e de seus familiares, criação de novos métodos de tratamento e
cooperação mútua (GOMES, 1988).
2.1.3 Aspectos psicológicos e psiquiátricos evidenciados na UTI
Eisendrath (1994) considera que muitos pacientes, na tentativa de manejar o
estresse de sua estadia, com mecanismos primitivos de enfrentamento, favorecem a
regressão, manifesta como uma dependência extrema. Os pacientes se deparam
com estressores, como o medo real da morte, a força da dependência, as potenciais
e permanentes perdas de função.
A separação da família e a perda de autonomia, freqüentemente, encabeçam e
promovem regressão psicológica. Outros pacientes podem tentar enfrentar ou lidar
com os estressores por supressão de seus sentimentos. Outros podem desencadear
outras reações, mais insatisfatórias para a equipe como a agitação, desespero,
choro convulsivo, agressões à enfermagem, manobras, enfim, que atuam como
poderosos estressores também para o “staff”, visto que pacientes estarem
conscientes e emocionalmente frágeis.
Este autor considera que o medo é extremamente percebido quando o paciente é
admitido na UTI; o medo e a ansiedade podem produzir mudanças fisiológicas,
piorando o quadro do paciente.
Boucher e Clifton (1996) relata que em casos extremos, a dor, as dificuldades do
tratamento,
as
alterações
de
sono,
mais
o
acúmulo
dessas
sensações
incontroláveis, podem evoluir para a Síndrome de UTI – alteração psiquiátrica que
pode levar à psicose.
Drubah e Peralta (1996), diz que os médicos na unidade saibam reconhecer as
complicações psiquiátricas de seus pacientes para providenciar benefícios para
estas condições. Referem que os sintomas psiquiátricos também podem estar
associados a complicações orgânicas (encefalopatias) decorrentes de disfunções
renais, hepáticas, metabólicas, cerebrais.
Alguns sintomas como ansiedade exacerbada, agitação psicomotora, ilusão,
alucinação, até a depressão acentuada são reações emocionais do paciente à
doença, e que dependem da severidade da patologia, do impacto também do
tratamento e da hospitalização e na qualidade do “Estar na UTI”, daí a importância
do caráter realmente humanizador da tarefa.
2.1.4 Percepção dos pacientes em relação à UTI
A técnica de adoecer ocorre na vida de uma pessoa de forma repentina trazendo
consigo inúmeros sentimentos e mudanças em seu dia-a-dia, que podem ser
vivenciadas e aceitas de uma forma diferente por cada pessoa.
Tal processo poderá provocar no individuo uma situação de crise, que se constitui
em um período relativamente curto de desequilíbrio psicológico quando a pessoa se
depara com uma circunstância perigosa, um problema importante em que não pode
escapar nem resolver com os recursos habituais para solução de problemas. A crise
normalmente vem acompanhada de sentimentos como ansiedade, raiva, medo e/ou
depressão.
Assim sendo, a hospitalização pode ser caracterizada como uma situação de crise,
onde o paciente apresenta um estado emocional especial caracterizado pela
insegurança, perda da independência, perda do poder de decisão, perda da
identidade, do reconhecimento social e da auto-estima, além sentir falta de
atividades, recreação e de relações sociais afetivas (SILVA; GRAZIANO, 1996).
Numa instituição hospitalar o paciente se depara com uma rotina muito diferente da
que está habituado tendo, na maioria das vezes, dificuldade para se adaptar ao local
e sua dinâmica de funcionamento.
Além disso, as crenças valores, costumes, comportamentos, enfim, a cultura em que
ela está inserida pode contribuir ou dificultar a adaptação/aceitação diante da
doença e da hospitalização (SMELTZER; BARE, 1999).
2.1.4.1 Medo de morrer
O medo é um sintoma bastante citado pelos pacientes de uma UTI, já que,
normalmente se encontram diante de uma situação nova e desconhecida, como a
doença e o tratamento, sem possuírem conhecimento necessário para esta
informação.
De acordo com a revista Isto É (1998), o impacto provocado pela ameaça à vida e
do enfrentamento da situação de internação na UTI mobiliza o medo fundamental de
todo ser humano: o medo da morte.
A UTI já causa uma determinada sobrecarga emocional, visto que, geralmente,
associa-se a ele uma piora das condições gerais do paciente, colocando-o em
proximidade com a morte (GOMES, 1998).
2.1.4.2 Ambiente Angustiante
A doença é um estado físico emocional que motiva angústia em todas as pessoas
envolvidas: pacientes, familiares, amigos e profissionais (MINAYO, 1993).
No momento em que esta precisa ser tratada em uma UTI, o equilíbrio emocional do
paciente e de seu núcleo familiar é muito mais visível (ANDRADE, 1998).
O paciente tende a se identificar com a imagem que está no seu
campo visual, como um espelho. Passa sofrer não só pelo outro à
sua frente, mas por si mesmo mediante sentimentos que lhe são
provocados de maneira exacerbada pela identificação. Caso o
paciente em questão não esteja em estado tão grave, a visão do
sofrimento do outro propicia a formação de fantasias e desperta o
medo de que tudo possa acontecer com ele (ISTO É, 1998, não
paginado).
É evidente que o contato com o sofrimento dos outros pacientes, traz uma
determinada angústia em relação a sua doença. A angústia é uma reação habitual
entre os pacientes, já que sofrem por vivenciarem essa nova experiência quase
sempre de maneira solitária. Têm receio das perdas que podem ocorrer e do
desconhecido (GOMES, 1998).
Segundo Guirardello et. al. (1999), o estranho maquinário, as sucessivas privações,
interrupções de sono, super estimulação sensorial, sede, dores, abstinência de
alimentos comuns, alimentação endovenosa ou nasoenteral, respiração por
ventiladores, monitorização cardíaca e as suas sinalizações, os cateteres,
procedimentos invasivos, a imobilização do paciente e também a superlotação de
equipamentos no local, ocasionam situações que proporcionam mudanças
psicopatológicas para o paciente, sua família e para a equipe de saúde.
2.1.4.3 Falta de autonomia
A percepção de privação da autonomia, da liberdade, a escassez de domínio da
situação associada à debilidade física, e à dependência, causa um estado de
inatividade e surge para o paciente como parte integrante de uma realidade de difícil
aceitação, sobretudo, durante a fase aguda da doença (SILVA, 2000; GOMES,
1998).
Outra particularidade dessa unidade é a despersonalização do ser, pois o paciente
se encontra, fora do seu ambiente familiar, social e profissional para permanecer em
um ambiente desconhecido (GUIRARDELLO et. al., 1999).
Orlando (2003) destaca que os pacientes internados em uma UTI são, na maior
parte das vezes, dependentes e se sentem inúteis com a falta de autonomia e
controle de si mesmos, contribuindo, assim, para a ansiedade.
Considerando que o paciente é um todo, não podemos deixar de
observá-lo como tal, pois seu estado emocional pode estar tão
comprometido quanto seu físico, e a equipe de saúde deve estar
preparada para uma assistência humanizada, estimulando o autocuidado, uma vez que o tipo de atendimento recebido dos
profissionais de saúde também influencia os sentimentos das
pessoas internadas (KOIZUMI et. al., 1979, p. 135-45).
Para o paciente, uma internação pode se tornar menos estressante dependendo da
atitude do mesmo em relação à vida, do local onde foi internado e da equipe que
cuidou desse paciente.
Ademais, a UTI clínica é considerada menos estressante para os pacientes do que a
equipe do hospital prevê. Esses, dentre outros fatores permitem que pacientes
passem a aceitar a internação, considerando-a como forma de restabelecimento da
saúde (ISTO É, 1998).
2.1.5 Assistência de enfermagem em UTI
O papel do enfermeiro na UTI consiste em obter a história do paciente, fazer exame
físico, executar tratamento, aconselhando e ensinando a manutenção da saúde e
orientando os enfermos para uma continuidade do tratamento e medidas, devendo
cuidar do indivíduo nas diferentes situações críticas dentro da UTI, de forma
integrada e contínua com os membros da equipe de saúde.
Para isso o enfermeiro de UTI precisa pensar criticamente analisando os problemas
e encontrando soluções para os mesmos, assegurando sempre sua prática dentro
dos princípios éticos e bioéticos da profissão. Compete ainda a este profissional
avaliar, sistematizar e decidir sobre o uso apropriado de recursos humanos, físicos,
materiais e de informação no cuidado ao paciente de terapia intensiva, visando o
trabalho em equipe, a eficácia e custo-efetividade (HUDAK, 1997).
No que se refere à educação o enfermeiro de Terapia intensiva, deve ter um
compromisso contínuo com seu próprio desenvolvimento profissional, sendo capaz
de atuar nos processos educativos dos profissionais da equipe de saúde, em
situações de trabalho, proporcionando condições para que haja benefício mútuo
entre os profissionais, responsabilizando-se ainda pelo processo de educação em
saúde dos indivíduos e familiares sob seu cuidado, reconhecendo o contexto de vida
e os hábitos socioeconômico e cultural destes, contribuindo com a qualificação da
prática profissional, construindo novos hábitos e desmistificando os conceitos
inadequados atribuídos a UTI.
De acordo com Souza (1985), o trabalho em UTI é complexo e intenso, devendo o
enfermeiro estar preparado para a qualquer momento, atender pacientes com
alterações hemodinâmicas importantes, as quais requerem conhecimento específico
e grande habilidade para tomar decisões e implementá-las em tempo hábil. Desta
forma,pode-se supor que o enfermeiro desempenha importante papel no âmbito da
Unidade de Terapia Intensiva.
O Cuidado Intensivo dispensado a pacientes críticos, torna-se mais eficaz quando
desenvolvido em unidades específicas, que propiciam recursos e facilidades para a
sua progressiva recuperação. Desta forma o enfermeiro de UTI precisa estar
capacitado a exercer atividades de maior complexidade, para as quais é necessária
a autoconfiança respaldada no conhecimento científico para que este possa
conduzir o atendimento do paciente com segurança.
Para tal, o treinamento deste profissional é imprescindível para o alcance do
resultado esperado. Desta forma o preparo adequado do profissional constitui um
importante instrumento para o sucesso e a qualidade do cuidado prestado na UTI
(GOMES, 1988).
O aspecto humano do cuidado de enfermagem, com certeza, é um dos mais difíceis
de ser implementados. A rotina diária e complexa que envolve o ambiente da UTI faz
com que os membros da equipe de enfermagem, na maioria das vezes, esqueçam
de tocar, conversar e ouvir o ser humano que esta a sua frente.
Apesar do grande esforço que os enfermeiros possam estar realizando no sentido
de humanizar o cuidado em UTI, esta é uma tarefa difícil, pois demanda atitudes às
vezes individuais contra todo um sistema tecnológico dominante. A própria dinâmica
de uma Unidade de Terapia Intensiva não possibilita momentos de reflexão para que
seu pessoal possa se orientar melhor, no entanto compete a este profissional lançar
mão de estratégias que viabilizem a humanização em detrimento a visão mecânica e
biologicista que impera nos centros de alta tecnologia como no caso das UTIs
(HUDAK, 1997).
Pode-se dizer que o conhecimento necessário para um enfermeiro de UTI vai desde
a administração e efeito das drogas até o funcionamento e adequação de aparelhos,
atividades estas que integram as atividades rotineiras de um enfermeiro desta
unidade e deve ser por ele dominado. O enfermeiro de UTI trabalha em um
ambiente onde as forças de vida e morte, humano e tecnológico encontram-se em
luta constante.
Apesar de existirem vários profissionais que atuam na UTI o enfermeiro é o
responsável pelo acompanhamento constante, conseqüentemente
possui o
compromisso dentre outros de manter a homeostasia do paciente e o bom
funcionamento da unidade.
2.1.5.1
O
cuidado
humanizado
na
UTI:
interação
entre
enfermagem/paciente/família
Para Silva et. al. (2008), a humanização neste ambiente deve existir como um
cuidado aliado à técnica e ao conforto, associado à valorização da subjetividade e
aos aspectos culturais de cada pessoa incluindo a relação de diálogo entre os
profissionais.
A iniciativa de humanizar ou resgatar a dignidade humana “perdida” emerge num
momento que pode parecer apenas um discurso equivocado no contexto atual. Mas
realmente ele é necessário a partir do momento que os serviços de saúde
apresentam situações críticas. Só assim, o discurso de que a tecnologia é o
verdadeiro fator desumanizante, irá desaparecer.
Estas situações remetem ao fato de que dentro das unidades o cliente torna-se
somente um paciente a mais, outra patologia, outro tratamento, outro prontuário.
Assim, o paciente fica sujeito a perda de sua identidade e privacidade (BARRA,
2005).
É necessário mais preparo dos profissionais voltadas não só para o aspecto teórico
e técnico, como também numa perspectiva mais humanitária. Cabe a eles, uma
atitude individual para resgatar essa humanização em relação a um sistema
tecnológico dominante (CAETANO, 2007).
Villa e Rossi (2002) afirmam que o ambiente da UTI por ser envolvido de estresse e
cansaço devido à sobrecarga de trabalho, trás também um sofrimento a equipe de
enfermagem, que além da assistência prestada ao paciente 24 horas, precisa lidar
com a família e com suas próprias necessidades ou conflitos que são manifestadas
através de fadiga física e emocional, tensão e ansiedade. O relacionamento frio,
muitas vezes assumido, justifica-se como um mecanismo de defesa.
Por isso, a proposta de humanização da assistência surge exatamente para
combater esta impessoalidade no atendimento ao cliente e para tornar a relação
enfermeiro/paciente uma relação de afeto e respeito mútuo sem abandonar a técnica
necessária. Além disso, contribui para diminuir os traumas dos pacientes e das
famílias e orienta os profissionais a agir de forma menos mecanizada, sabendo o
real valor que a tecnologia possui na realização dos cuidados (BARRA , 2005).
De acordo com Maruiti e Galdeano (2007), nesse sentido, a humanização do
cuidado de enfermagem vai além das permissões dadas às visitas, incluindo
também a detecção das necessidades dos familiares, após estabelecer uma relação
de confiança e de ajuda. Essa interação enfermeiro/familiares facilita esse processo
beneficiando também o paciente.
A enfermagem deve prestar o cuidado tanto para pacientes quanto a seus familiares,
ajudando-os a entender, aceitar e enfrentar a doença, seu tratamento e sua
repercussão na vida da família, sendo então capazes de oferecer suporte e bem
estar a eles (MARUITI; GALDEANO, 2007).
Portanto, familiares satisfeitos com os cuidados são menos estressados e estão em
uma situação melhor para ajudar na recuperação do paciente. A equipe não pode ter
um julgamento errado das necessidades das famílias, considerando que estas
sempre precisam de explicações, independente da duração da internação. Essas
informações devem ajudar os familiares a lidarem melhor com a internação,
aproveitando este momento para incluí-los nos cuidados (SÖDERBERG, 2007).
A humanização se faz necessária para um cuidado efetivo considerando as queixas
da
família
diante
do
período
de
hospitalização.
A
interação
entre
enfermagem/paciente/família deve ser estabelecida através do diálogo e da busca
dos significados que as experiências de doença geram em cada pessoa. A
convivência da família próxima ao paciente é fundamental para a sua recuperação e
mais eficaz do que qualquer outra relação (SILVEIRA, 2005).
Segundo Caetano (2007), o objetivo final do trabalho da enfermagem é o cuidado e
esta deve ter consciência de que a máquina jamais substituirá a essência humana.
Quando o profissional se envolve apenas com a técnica, se perde em relação às
características humanas baseadas na afetividade, no conhecimento de valores,
habilidades e atitudes que potencializam a melhora do paciente contribuindo para
uma condição humana no processo de viver e morrer. O enfermeiro deve
reconhecer que sua presença para o paciente é tão importante quanto as técnicas
necessárias para sua recuperação.
2.2 CONHECENDO A ÚLCERA POR PRESSÃO (UPP)
De acordo com Ohnishi (2001, p. 78), a úlcera por pressão é definida como:
“lesão ocasionada pela pressão exercida na área corporal e que
reduz o fluxo sanguíneo levando à isquemia e eventualmente,
provoca trombose capilar e prejuízo da nutrição da região sobre
pressão provocando necrose tecidual”.
O aumento de UPP em pacientes hospitalizados se trata de um grande problema de
saúde, concebendo desconforto físico, aumento de custo no tratamento e na
morbidade, cuidados intensivos de enfermagem, internação hospitalar prolongada,
utilização de aparelhagens caras, aumento do risco para o desenvolvimento de
complicações adicionais, tratamento cirúrgico e efeitos na taxa de mortalidade
(BRYANT, 1992; KELLER et. al., 2002).
As UPP simulando uma significativa ameaça a pacientes com redução de
mobilidade e/ou percepção sensorial, doenças crônicas e para pacientes idosos,
sendo
consideradas
como
um
grande
problema
clínico
em
pacientes
institucionalizados ou cuidados em domicílio em todo o mundo.
Na concepção de Lindgren et. al. (2004), o desenvolvimento de UPP é um
acontecimento complexo que inclui diversos fatores relacionados com o paciente e
com o meio externo, sendo a imobilidade o fator de risco de maior relevância nos
pacientes hospitalizados, principalmente em UTI.
- Intensidade da Pressão
A pressão exerce uma importante função. A pressão normal de fechamento capilar é
de aproximadamente 32 mmHg nas arteríolas e 12 mmHg nas vênulas.
A fim de quantificar a intensidade da pressão que é utilizada externamente na pele é
medida a pressão interface corpo/colchão, com o paciente em posição sentada ou
elevada. Pesquisas comprovam que a pressão interface alcançada em posições
elevada ou sentada geralmente excede a pressão de fechamento capilar. Tais
produtos visam reduzir a intensidade da pressão (BRYANT; ROLSTAD, 2001,
CALARI et. al., 2004).
- Duração da pressão
Fator bastante importante que precisa ser considerado juntamente com a
intensidade da pressão. Há um relacionamento contrário entre a duração e a
intensidade da pressão para a criação da isquemia tecidual. Os prejuízos podem
acontecer com: pressão de baixa intensidade durante um longo período de tempo ou
por pressão de intensidade elevada durante um curto período de tempo.
- Tolerância tecidual
É o último fator que define o efeito patológico do excesso de pressão e é
influenciada pela capacidade da pele e estruturas que não se manifestam em
trabalharem juntas a fim de redistribuir a carga imposta no tecido (BRYANT et. al.,
1992).
2.2.1 Epidemiologia
As UPPs têm prevalência e incidência elevadas, nos tratamentos agudo e de longo
prazo de pacientes hospitalizados e/ou acamados, e podem se desenvolver em 24
horas ou espaçar 5 dias para sua manifestação (COSTA, 2003).
No ano de 2001, nos Estados Unidos, avaliava-se que 1,5 a 3 milhões de pessoas
desenvolveriam
UPP
no
ano.
Informações
da
população
norte-americana
evidenciam que a incidência de UPP varia entre a população e os locais de
atendimento. Nos locais de tratamento agudo podem variar de 3% a 14%, em um
grupo geriátrico a incidência aumenta para 24% e em pacientes com lesão medular
pode chegar até 59% o total de pessoas acamadas que desenvolvem uma ou mais
feridas (DELISA; GANS, 2002; SMELTZER; BARE, 2006).
Embora seja elevado o número de pessoas que desenvolvem UPP, o Brasil não tem
informações científicas e pesquisas nacionais que garantam essa incidência e
prevalência. O que existe, são estudos e teses específicas de unidades de saúde
em que comprovam parcialmente a afirmação.
Uma pesquisa realizada por Costa (2003), por três meses sucessivos, no interior
paulista, com 53 pacientes acamados, concluiu que 20 deles desenvolveram UPP,
ou seja, 37,7%.
Outro modelo é a tese de Rogenski e Santos (2005), que também por três meses,
analisaram 211 pacientes em risco de desenvolverem UPP em um hospital
universitário
enfermidade.
e
concluíram
que
39,8%
desses
pacientes
apresentaram
a
Declair (2002, p. 6) assegura que nos Estados Unidos, mais ou menos 2,1 milhões
de pessoas apresentam UPP no ano, equivalendo a um custo hospitalar mensal de
4 a 7 mil dólares por paciente. Destaca também que, no Brasil não existem
estatísticas do número de pacientes que desenvolvem UP, já que os casos não são
registrados ou notificados a um órgão responsável.
2.2.2 Fatores de risco
A análise dos fatores de risco para o desenvolvimento de UPP é indispensável para
uma assistência de enfermagem de qualidade, devendo ser indicada na admissão
do paciente e reavaliada diariamente durante a realização do exame físico pelo
enfermeiro.
Alguns autores ao analisarem o efeito de um programa de prevenção de UPP
expuseram os efeitos negativos da umidade e da atividade enzimática na pele do
paciente que apresenta incontinência urinária e fecal. A incontinência urinária e
fecal, gerando umidade e atividade enzimática cutânea, esteve diretamente
relacionada ao desenvolvimento de UPP (BENOIT; WATTS, 2007; KLAY;
MARFYAK, 2005).
Percebe-se nestas análises a ligação direta entre umidade e UPP. A exposição
prolongada à umidade pode provocar maceração da pele e ruptura da mesma. A
umidade excessiva pode ser causada por incontinência urinária ou fecal, suor, e
secreções de drenos ou feridas.
Conforme relatos de Smeltzer e Bare (2006), a presença de fezes na pele além de
predispor o indivíduo ao surgimento de UPP pode provocar contaminação de UPP
localizadas na região sacral, coccigeana e trocanteriana, dificultando a cicatrização.
Diante disso, a equipe de enfermagem deve atentar-se para a presença de
secreções no leito do paciente, certificando-se sempre, de que este se encontre
limpo e seco.
Horn et. al. (2005) salientam que variáveis importantes associadas ao surgimento de
UPP foram detectadas em outra pesquisa, como perda de peso, severidade da
doença, estado nutricional, incontinência, deterioração da habilidade de executar
atividades da vida diária, medicações e tempo de hospitalização.
No que se refere aos medicamentos utilizados, sedativos e analgésicos causam uma
redução da percepção sensorial, prejudicando a mobilidade, e os agentes
hipotensores reduzem o fluxo sangüíneo e a perfusão tissular, tornado-os mais
sujeitos à pressão (ROGENSKI; SANTOS, 2005).
Outros fatores de risco também foram associados ao surgimento de UPP: infecção,
idade, edema, perda de peso, tempo de hospitalização, falta de mudança de
decúbito e escore da Escala de Braden (BOURS et. al., 2001; McCORD et. al.,
2004).
As UPP podem surgir dentro da primeira semana de hospitalização na UTI. 23 de
186 pacientes analisados em um estudo desenvolveram ao menos uma UP após
uma estada média de 6,4 dias. Foi associado expressivamente o paciente ser de
baixo peso ao aparecimento de UPP (FIFE et. al., 2001).
As UPP desenvolvem-se mais rapidamente e são mais resistentes ao tratamento em
pacientes que apresentam distúrbios nutricionais. A desnutrição interfere com a
cicatrização de feridas, aumenta a suscetibilidade do indivíduo à infecção e contribui
para uma maior incidência de complicações, internações mais longas e repouso
prolongado do paciente ao leito. Torna-se fundamental uma dieta rica em proteína,
ferro e vitaminas para a manutenção de uma pele saudável (SMELTZER; BARE,
2006).
Em um estudo (ROGENSKI; SANTOS, 2005)
desenvolvido num hospital
universitário em São Paulo houve predomínio de pacientes portadores de UPP com
idade acima de 60 anos e com escores predominantemente de alto risco pela Escala
de Braden. A média de internação entre os pacientes que desenvolveram UP foi de
8,9 dias, sendo que 36,9% da amostra desenvolveram UPP com um tempo de
internação inferior a cinco dias.
Encontrou-se uma maior prevalência de lesões por pressão em pacientes idosos
(63,9%). Esta pesquisa verificou que o tempo médio de internação foi de 18 dias,
sendo que 68,3% dos pacientes desenvolveram a lesão em menos de 10 dias.
Destaca-se também que dos pacientes analisados, 87,8% apresentavam alguma
disfunção no sistema urinário e 82,9% dos pacientes foram classificados como alto
risco pela Escala de Braden (MORO et. al., 2007).
A idade consiste num importante fator de risco. Sabe-se que a idade avançada
provoca mudanças significativas no organismo, há redução da massa muscular, de
proteínas séricas, da resposta inflamatória, da síntese de colágeno, entre outras
modificações que predispõe o indivíduo às agressões externas. A idade avançada
também causa um aumento da probabilidade de surgimento de doenças crônicas,
que tornam as pessoas mais suscetíveis a desenvolver UPP (ROGENSKI; SANTOS,
2005).
Percebe-se nestes estudos que a presença de umidade, a idade, o estado
nutricional/perda de peso e o tempo de hospitalização aparecem na grande maioria
como fatores de risco para o aparecimento de UPP devendo, com isso, ser
monitorados de perto pelo enfermeiro.
2.2.3 Estágios
Conforme relatos de Silva (1998) e Dealey (2001) torna-se fundamental utilizar um
sistema de classificação de UPP a fim de que se possa ministrar uma descrição
objetiva da lesão. Tais sistemas foram desenvolvidos visando padronizar e objetivar
um processo para a avaliação e descrição das UPPs entre os profissionais de
saúde.
Diversos processos de ajustar as UPPs foram preparados. Todavia, a classificação
mais empregada é a indicada pela American National Pressure Ulcer Advisory Panel
(NPUAP, 1989) e seguidos como diretrizes pela Agency for Health Care Policy and
Research. A NPUAP (1989) estabelece quatro estágios na evolução da UP
(BERGSTROM; BRADEN, 1992, BRYANT et. al., 1992), tais como:
- Estágio I
De acordo com Young et. al. (1997), este estágio é distinguido por eritema não
esbranquiçado (vermelho escuro ou púrpura) da pele ilesa que pode ser pálido ou
não pálido. O não pálido é o que continua vermelho no momento em que
comprimido, indicando uma lesão na micro-circulação.
Enquanto que o pálido empalidece ao toque, contudo, volta à cor anterior, no caso
vermelho, após a retirada da pressão, esclarecida pela autora como sendo a
“oclusão capilar e o preenchimento, sugerindo uma micro-circulação intacta”. A
epiderme e a derme já estão prejudicadas, porém, não destruídas. O paciente que
tem bastante sensibilidade reclama de dor na área.
Na visão de Bryant et. al. (1992), as UPPs nesse estágio devem ser ponderadas
como aviso, podendo, com isso, cicatrizarem fluentemente, caso seja efetuada uma
intervenção preventiva, como mudança de decúbito freqüentemente, higienização e
a redução ou ausência da força de cisalhamento.
- Estágio II
Aí já existe um comprometimento da epiderme e derme, podendo invadir o tecido
subcutâneo. A UPP é pouco profunda e clinicamente pode ser considerada como
abrasão, bolha ou cratera rasa. A cicatrização pode acontecer através de terapêutica
local, medidas que afastem a pressão sobre o local lesionado e intervenções que
eliminem o fator causal (SILVA, 1998, DEALEY, 2001; JORGE; DANTAS, 2003).
- Estágio III
Trata-se de uma lesão total da epiderme e da derme e tecido subcutâneo. É possível
fazer drenagem de exsudato. A úlcera ocorre como uma cratera profunda, podendo
surgir pontos de necrose e desenvolver infecção. O fechamento dessas lesões pode
acontecer naturalmente, contudo, pode demorar e provocar uma cicatrização
instável, predispondo à reincidência da ferida. Com isso, em vários casos se utiliza o
fechamento cirúrgico, exceto havendo contra indicação (SILVA, 1998, DEALEY,
2001, JORGE, 2003).
- Estágio IV
Acontece um grande estrago apresentando tecidos necróticos, comprometimento
infeccioso e drenagem, invadindo outros tecidos como músculos, ossos ou
estruturas de suporte como tendões e cápsula articular. O risco para complicações
do tipo septicemia, osteomielite é bastante elevado (BRYANT et. al., 1992,
DECLAIR, 2002, SMELTZER; BARE, 2006, JORGE, 2003).
2.2.4 Tratamento
No momento em que todos os recursos relativos à prevenção não são mais
possíveis, serão implantados métodos sempre relacionados com a necessidade
individual de cada paciente.
Para Bergstrom et. al. (1992), os princípios considerados no tratamento da UP são
quatro:
- Suprimir a causa da UPP averiguando os motivos que induziram o paciente a
desenvolver a UPP;
- Aprimorar o ambiente analisando apropriadamente a ferida e a melhor terapia
tópica a ser empregada. Documentar avaliação e implantar mudanças caso
necessário. O tecido necrosado poderá ser retirado por métodos devidamente
existentes;
- Amparar o paciente, avaliar e monitorar o suporte nutricional, verificar se existem
infecções locais ou sistêmicas e buscar controlá-las ou eliminá-las, investigar o
motivo da cicatrização da ferida. A maior parte das UPPs oferecem dor, e por esse
motivo, se deve implantar medidas para a redução desta, já que o paciente precisa
ser preservado;
- Educação: torna-se uma das principais aliadas tanto na prevenção como no
tratamento, já que, na maior parte das vezes, o paciente sai do hospital e continua
os cuidados em casa.
2.3 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES COM UP EM UTI
Segundo Tannure e Gonçalves (2008) e Tuyama et. al. (2004), a assistência de
enfermagem ao portador de UP deve se basear na metodologia científica. Para isso,
o enfermeiro possui um instrumento essencial, que é a Sistematização da
Assistência de Enfermagem (SAE) ou Processo de Enfermagem (PE), considerado
como um processo de solução dos problemas dos pacientes, composto das fases de
investigação ou histórico, diagnóstico, planejamento, intervenção ou implantação e
evolução ou avaliação.
Tal diferencial estratégico “possibilita a aplicação dos conhecimentos técnicos, o
estabelecimento de fundamentos para a tomada de decisão e o registro adequado
da assistência prestada”.
Os cuidados necessários à completa recuperação da integridade
da pele são complexos e exigem a atuação de uma equipe
multiprofissional. Neste contexto, o enfermeiro tem um papel
importante, em muitos momentos sua atuação se sobrepõe à dos
outros profissionais da equipe interdisciplinar, uma vez que é ele
quem tem maior contato com os clientes. Nesse âmbito, esse
profissional possui autonomia e liberdade para traçar as estratégias
de cuidados a serem adotadas no tratamento de feridas, que
incluem avaliação da ferida e da pele do cliente como um todo,
seguido por planejamento do cuidado e avaliação do alcance das
metas de cicatrização, prevenção de complicações, auto-cuidado e
reabilitação (CÂNDIDO, 2001, não paginado).
O enfermeiro deve atentar amplamente o paciente e a ferida. O êxito na cicatrização
de feridas depende bastante do cuidado oferecido em cada fase do tratamento,
compreendendo avaliação crítica, planejamento, implantação, evolução e registro de
enfermagem.
O PE incluindo estas fases consiste numa proposta de melhoria da qualidade do
cuidado oferecido aos pacientes focalizando um relacionamento dinâmico entre
enfermeiro e paciente (TANNURE; GONÇALVES, 2008).
Depois da formulação dos diagnósticos de enfermagem baseado nos dados
colhidos, a assistência de enfermagem ao paciente com UPP deve ser planejada.
Durante a etapa de planejamento, as prioridades devem ser estabelecidas e os
resultados alcançados devem ser escritos. A partir disso, as ações prescritas
poderão ser implantadas e analisadas (TANNURE; GONÇALVES, 2008).
Indiscutivelmente, os cuidados de enfermagem devem ser diferenciados a fim de
atender as necessidades específicas do paciente e podem ser qualificados como
preventivos, quando o paciente apresenta o diagnóstico de risco para integridade da
pele prejudicada, ou assistenciais, quando o diagnóstico de enfermagem de
integridade da pele prejudicada já está fixado.
Murdoch (2002) ressalta que a análise da integridade da pele nem sempre consiste
numa prioridade no período inicial que segue a admissão do paciente. Ademais, a
ausência de uma ferramenta universal para a avaliação do risco de desenvolvimento
de UPP dificulta a avaliação de enfermagem.
A avaliação do paciente deve ser efetuada durante as primeiras 12 a 24 horas da
admissão e reavaliada a cada 12 horas para depois aplicar os cuidados de
enfermagem. Deve ser proporcionada uma atenção especial à reação do paciente
diante do estresse e dos fatores que intervêm na sua reconstituição ou adaptação. A
enfermagem deve considerar o paciente de maneira completa (SOUSA, 2004;
SOUSA et. al., 2004; CARLSON et. al., 1999).
2.3.1 Prevenção
As agressões à pele, que põem em risco a saúde, pelas inúmeras complicações que
podem provocar, levaram pesquisadores a buscar métodos e desenvolver
tecnologias que objetivem a proteção da pele e que possam efetivamente contribuir
para a prevenção desses agravos (BENNETT et. al., 2004).
Pesquisas indicam a utilização de instrumentos de predição de riscos e defendem
que o início da prevenção se dá quando os riscos são identificados, permitindo, com
isso, a adoção de medidas preventivas individuais e eficazes.
Como medidas preventivas, indicadas na literatura atual, se baseando na utilização
das escalas de avaliação e predição de risco, são recomendadas superfícies de
alívio de pressão, como colchões especiais, almofadas e coxins que têm sido
relatados como importantes adjuvantes na prevenção das UPP.
Todavia, alguns salientam que os pacientes necessitam de apoio para escolher a
superfície que melhor lhes convier, em termos de custo, eficácia, facilidade de uso,
conforto que proporciona e a satisfação do paciente (BENNETT et. al., 2004).
O cuidado com a pele, como a higiene e limpeza da pele nas trocas de fralda, deve
ser feito com frequência que não permita maceração da pele pelo excesso de
umidade. O uso de hidratantes, pomadas, óleos previne o ressecamento, ou
barreiras, proporcionadas por protetores cutâneos, filmes e hidrocolóides. São
consideradas medidas valiosas para o controle da agressão à pele ocasionada pela
umidade, pois mantêm uma barreira física na interface entre pele e superfícies
(BERGSTROM et. al., 1992; HESS, 2002).
Deve-se apurar a avaliação dos riscos de pacientes da UTI, examinando os outros
fatores que podem ocorrer e irão aumentar o risco de desenvolvimento de UPP,
incluindo o tempo de duração do internamento, baixa temperatura, reduzida
mobilidade.
A nutrição também foi outro aspecto considerado importante pelos pesquisadores.
Pesquisas apontam alta prevalência de má nutrição em pacientes de risco e indicam
que o uso de suplementação nutricional pode acelerar o processo cicatricial de
úlceras em estágios III e IV (BERGQUIST, 2005; SORIANO et. al., 2004).
Deve-se destacar a importância da avaliação nutricional logo no momento da
admissão, visto que, sobretudo em pacientes idosos há necessidade de uma
reposição nutricional. Pesquisa realizada por Silva (1998), em um hospital escola da
rede municipal, verificou que 42, de um total de 52 dos pacientes identificados como
de risco, apresentavam alterações nutricionais.
Logo, a atenção com a quantidade e a qualidade dos alimentos oferecidos e
efetivamente aceitos é de suma importância para uma avaliação nutricional que
permita um aporte calórico-protêico adequado às necessidades do paciente, aspecto
essencial na manutenção da turgidez e integridade cutâneas.
No que diz respeito ao uso de medicamentos durante a internação, as drogas
vasoativas provocam vasoconstricção periférica, diminuindo a irrigação nos tecidos.
As
drogas
depressoras
do
Sistema
Nervoso
Central,
imunossupressoras,
anticoagulantes, antiinflamatórias, antineoplásicas e outras alteram o processo
cicatricial.
Um planejamento de mudança de decúbito e mobilizações, adequado às
características individuais, e a constante investigação e proteção das proeminências
ósseas, principalmente de pacientes idosos ou emagrecidos, são considerados
cuidados indispensáveis à prevenção.
Vários autores (AGENCY FOR HEALTH CARE POLICY RESEARCH, 1992; CALIRI,
2002; ROSELI, 2003) descrevem as principais medidas de prevenção de UPP, que
podem estar sendo implantadas através da assistência de enfermagem, destacando:
a pele deve ser limpa preferencialmente no momento que se sujar ou em intervalos
de rotina. Minimizar a exposição da pele à umidade devido à incontinência urinária,
perspiração ou drenagem de feridas.
No momento em que indivíduos aparentemente bem nutridos desenvolvem uma
ingestão inadequada de proteínas ou calorias, os profissionais devem primeiro tentar
descobrir os fatores que estão comprometendo a ingestão e então oferecer uma
ajuda na alimentação. Convém ressaltar que todas as intervenções e resultados
devem ser monitorizados e documentados no prontuário.
Alguns autores (AGENCY FOR HEALTH CARE POLICY RESEARCH, 1992)
consideram que a utilização de superfícies de suporte e alívio da carga mecânica de
grande importância e tem como meta proteger o paciente contra os efeitos adversos
de forças mecânicas externas como pressão, fricção e cisalhamento.
Assim sendo, qualquer indivíduo acamado que seja avaliado como estando em risco
para ter UPP, deverá ser reposicionado pelo menos a cada duas horas se não
houver contraindicações relacionadas às condições gerais do paciente. Um horário
por escrito deve ser feito para que a mudança de decúbito e o reposicionamento
sistemático do indivíduo sejam feitos sem esquecimentos.
Materiais de posicionamento como travesseiros ou almofadas de matéria prima
adequada podem ser utilizados para manter as proeminências ósseas (como os
joelhos ou calcanhares) longe de contato direto um com o outro ou com a superfície
da cama.
Deve-se manter a cabeceira da cama em um grau mais baixo de elevação possível,
que seja consistente com as condições clínicas do paciente. Se não for possível
manter a elevação máxima de 30º, limitando a quantidade de tempo que a cabeceira
da cama fica mais elevada. Para aqueles pacientes que não conseguem ajudar na
movimentação ou na transferência e mudanças de posição recomenda-se usar o
lençol móvel ou o forro da cama para a movimentação, ao invés de puxar ou
arrastar.
Qualquer indivíduo avaliado como estando em risco para desenvolver UPP deve ser
colocado em um colchão que redistribua o peso corporal e reduza a pressão como
colchão de espuma, ar estático, ar dinâmico, gel ou água.
Além do saber técnico e científico, é indispensável que o enfermeiro possua uma
visão que ultrapasse os cuidados físicos e enxergue o paciente de modo integral.
Não é só mudança de decúbito o responsável pela prevenção.
Alguns estudos enfocam a preocupação de profissionais da área da saúde,
enfermeiros, médicos, nutricionistas, com a integridade cutânea e a prevenção de
lesões como as úlceras por pressão, em diversas situações, contudo o idoso tem
merecido uma atenção especial (BLANES et. al., 2004).
As superfícies e dispositivos de alívio de pressão e toda a tecnologia desenvolvida
para auxiliar no cuidado com os pacientes de risco são considerados de grande
ajuda, todavia, não isentam profissionais de enfermagem da implantação de
cuidados básicos e medidas essenciais no que se refere à prevenção como, por
exemplo, as sugeridas pelas diretrizes da Agency for Health Care Policy and
Research (AHCPR) (BERGSTROM et. al., 1992).
2.3.2 Adoção de inovações para prevenção de UPP em UTI
Burns e Grove (2001) enfatizam que a utilização do conhecimento é um processo de
dispersão e utilização de informações suscitadas a partir de pesquisas para criar
impacto ou mudanças na prática existente.
Estas autoras expõem ainda, a “prática baseada em evidências” como um processo
de emprego das melhores evidências de pesquisa a fim de subsidiar as decisões,
envolvendo o cuidado em saúde. Normalmente, é fundamentada em diretrizes para
a prática clínica, que inclui a integração do uso de resultados de pesquisa e o
consenso de especialistas e pesquisadores.
A avaliação do conceito de utilização de pesquisa na prática clínica e da prática
baseada em evidências permitiu a identificação do fato de que a meta final deste
processo é o alcance de melhorias nos resultados e na qualidade da assistência
(CALIRI, 2002).
O emprego da prática baseada em evidências para a educação da enfermagem na
prevenção de UPP tem sido apresentado por certos autores e conforme relatos de
Sinclair et. al. (2004), dentre as estratégias utilizadas estão a avaliação do risco,
medidas de prevenção, estadiamento das UPP, métodos formais e informais de
ensino, Escala de Braden e documentação.
Embora a proposta da prática baseada em evidências seja considerada uma opção
para melhoria da qualidade do cuidado, inúmeros são os obstáculos para sua
implantação, e estes se encontram em nível individual ou institucional.
Entre estes obstáculos mencionados na literatura, salientam-se algumas como
sendo (BURNS; GROVE, 2001; SITZIA, 2002): falta de reconhecimento dos
profissionais, com relação aos resultados de enfermagem; qualidade inadequada
dos estudos para gerar evidências para a prática; falta de tempo para uso dos
resultados de pesquisa; falta de recursos financeiros; influência de opinião de
líderes; falta de entendimento dos respectivos papéis da pesquisa, conhecimento
experimental e julgamento clínico; falta de destreza no uso dos resultados de
pesquisa; falta de concordância sobre prioridade; falta de comprometimento da
equipe; interpretações não competentes do papel da enfermagem e de sua prática; o
posicionamento da enfermagem e enfermeiros com relação a outros profissionais e
pressão para a manutenção de uma prática ritualística; falta de formação específica
para promoção de valorização, avaliação e utilização dos resultados de pesquisa;
dentre outros.
Mesmo com o elevado número de obstáculos existentes para a implantação da
prática baseada em evidências, acredita-se que este seja o melhor caminho na
busca de uma assistência inovadora e apropriada, no que se refere à prevenção da
UPP, promovendo assim, possibilidades de melhores resultados com os pacientes
internados em UTI, por já estarem disponíveis diretrizes para o cuidado que, são
resultados de pesquisa, testadas e atualizadas e que podem ser adequadas à
prática clínica (CALIRI, 2002).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo conclui que atualmente, as UPP são avaliadas como um dos maiores
problemas de enfermagem, sobretudo por se tratar de uma complicação séria e
bastante grave quando relacionada a pacientes com longo período de internação,
estando acamados ou debilitados.
A ligação observada nesta pesquisa mostra a importância de buscar em cada
situação ou contexto que se encontra o paciente, principalmente aqueles internados
em UTI, a influência da maior parte dos fatores e condições que aumentam o risco
de ocorrência de UPP, na perspectiva de contribuir com a prevenção ou redução
dessa complicação, facilitando, com isso, a redução do tempo de internamento, do
sofrimento físico e psicológico, bem como a possibilidade de melhora do estado
clínico, e, portanto, sua saída prematura da UTI.
Assim, entende-se que para oferecer uma assistência com qualidade e integralizada,
fundamentada na concepção holística, deve-se considerar que são inúmeros os
elementos que podem provocar a ocorrência de UPP; não dependendo apenas dos
cuidados oferecidos pela equipe multiprofissional, mas inclusive, da identificação dos
diversos fatores que se interatuam entre si, dentre os quais estão os relacionados
aos pacientes e à própria instituição, como dirigente de condições para prestação de
cuidados.
Portanto, com base neste estudo, considera-se imprescindível a adoção de
protocolos assistenciais que considere a dimensão desses fatores e condições
identificados e debatidos, visando aprimorar a qualidade da assistência, tornando-a
mais humanizada, diminuindo as complicações provenientes dessas lesões, o tempo
de hospitalização, mortalidade, os custos terapêuticos, a carga de trabalho da
equipe que presta assistência, além de representar um grande avanço na redução
no sofrimento físico e emocional do paciente e seus familiares.
Analisa-se como essencial para a redução dos índices de UPP e suas
consequências, o desenvolvimento de protocolos de cuidados objetivando a
melhoria da qualidade da assistência prestada pela equipe de enfermagem, que
considere a adoção de uma visão sistêmica desse contexto.
Torna-se fundamental, a partir deste estudo, que atentar para as limitações
metodológicas deste trabalho, não sendo o mais apropriado para avaliar a
assistência. Deste modo, é indispensável realizar outras pesquisas, utilizando-se
outras metodologias, que possibilitem avaliar e analisar além dos fatores de risco
envolvidos, a qualidade da assistência de enfermagem oferecida e o conhecimento
da equipe sobre esta temática, para que seja possível melhor caracterização do
assunto em questão.
Assim, constata-se que, reconhecendo a manutenção da integridade de pele e
tecidos subjacentes tem sido uma responsabilidade da equipe de enfermagem e que
a presença das UPP tem sido exibida como um indicador da qualidade de
assistência dos serviços de enfermagem, percebe-se a necessidade de realização
de mais estudos abordando este assunto, principalmente no Brasil.
REFERÊNCIAS
AGENCY FOR HEALTH CARE POLICY RESEARCH. Preventing pressure ulcers:
a pacient’s guide. Rockville, MD, 1992.
ANDRADE, M. T. S. Fatores psicológicos do paciente nas unidades de cuidados
intensivos. In: ______. Guias práticos de enfermagem: cuidados intensivos. Rio de
Janeiro: McGraw-Hill; p. 11-20, 1998.
BALDWIN, K. M.; ZIEGLER, S. M. Pressure ulcer risk following critical traumatic
injury. Advances in Wound Care, v. 11, n. 4, p. 168-173, jul/ago 1998.
BARRA, D. C. C.; JUSTINA, A. D.; BERNARDES, J. F. L.; VESPOLI, F.;
REBOUÇAS, U. Processo de humanização e a tecnologia para o paciente
internado em Unidade de Terapia Intensiva, 2005.
BENNETT, G.; DEALEY, C.; POSNET, J. T. The cost of pressure ulcers in UK. Age
Ageling, Oxford, v. 33, n. 3, 2004, Disponível em: <http//ageing.oxfordjournals.org
/cgi/reprints/33/3/230>. Acesso em set 2012.
BENOIT, R. A.; WATTS, C. The effect of a pressure ulcer prevention program and
the bowel management system in reducing pressure ulcer prevalence in an ICU
setting. Surgical Intensive Care Unit. Journal of Wound, Ostomy and Continence
Nursing, Nashville (TN), v. 34, n. 2, p. 163-75, mar/abr 2007.
BERGQUIST, S. The quality of pressure ulcer prediction and Prevention in home
health care. Appl Nurs Res., New Jersey, v. 18, n. 3, p. 148-154, 2005.
BERGSTROM, N., et. al. Pressure ulcer treatment clinical practice guideline: quick
reference guide for clinicians, Adv. Wound Care, Houston, v. 8, n. 2, p. 22-44, 1992.
BLANES L. et. al. Avaliação clínica e epidemiológica das úlceras por pressão em
pacientes internados no Hospital São Paulo. Rev Assoc Med Bras., v. 50, n. 2,
p.182- 7, 2004.
BOUCHER, B. A.; CLIFTON, G. D. Critical care therapy in drug and disease
management. Herfindal e Gourley (eds.), USA, 1996.
BOURS, G. J., et. al. Prevalence, risk factores and prevention of pressure ulcers in
dutch intensive care units: results of a cross sectional survey. Intensive Care Med.,
v. 27, p. 1599-1605, 2001.
BRYANT, R. A., et. al. Pressure ulcers. In: BRYANT, R. A. Actue and chronic
wounds: nursing management. Missouri: Mosby, cap. 5, p. 18, 1992.
BRYANT, R. A.; ROLSTAD, B. S. Utilizing a systems approach to implement
pressure ulcer prediction and prevention. Ostomy Wound Mangement, v. 47, n. 9,
supl, p. 26-36, 2001.
BURNS, N.; GROVE, S. K. The practice of nursing research: conduct, critique &
utilization, 4ª ed., Philadelphia: WB, Saunders, 2001.
CAETANO, J. A.; SOARES, E.; ANDRADE, L. M. Cuidado Humanizado em
Terapia Intensiva: Um estudo reflexivo, 2007.
CALARI, M. H. L.; PIEPER, B.; CARDOZO, L. J. Úlcera de pressão, 2004.
Disponível em: <http:// www.eerp.usp.br/projetos/feridas/upressao.htm >.
Acesso em set 2012.
CALIRI, M. H. L. A utilização da pesquisa na prática clínica de enfermagem:
limites e possibilidades, 143 f. Tese (Livre-Docência) – Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2002.
CÂNDIDO, L. C. Nova abordagem no tratamento de feridas, 1 ed., São Paulo
(SP): SENAC; 2001.
CARLSON, E. V.; KEMP, M. G.; SHOTT, S. Predicting the risk of pressure ulcers in
critically ill patients, Am J Crit Care, v. 8, n. 4, p. 9-262, 1999.
CASTRO, D. S. Experiência de pacientes internados em Unidade de Terapia
Intensiva: análise fenomenológica, 1990.
CIVETTA, J. M., et. al. Tratado de Terapia Intensiva, São Paulo: Manole, 1992.
COSTA, I. G. Incidência de úlcera de pressão e fatores de risco relacionados
em pacientes de um centro de terapia intensiva, Dissertação (Mestrado em
Enfermagem Fundamental) – Escola de Enfermagem
Universidade de São Paulo, 2003.
de Ribeirão Preto,
DEALEY, C. Cuidando de feridas: um guia para enfermeiras, 2 ed., São Paulo:
Atheneu, 2001.
DECLAIR, V. Aplicação do triglicedídeos de cadeia média (TCM) na prevenção de
úlceras de decúbito. Rev. Bras. Enferm., v. 47, n. 1, p. 27-30, jan/mar 2002.
DELISA, J. A.; GANS, B. M. Tratado de Medicina de Reabilitação: princípios e
práticas, 3ª ed., Barueri, Manole, 2002.
DRUBACH, D. A.; PERALTA, L. M. Psychiatric Complications, em MACIEL, K. I.;
RODRIGUES, A.; WILES, C.E. (orgs.) Complications in Trauma and Critical care.
W. B. Saunders, Philadelphia. p. 104-15, 1996.
EISENDRATH, S. J. Psychiatric Problems in critical care. In: SUE, D.; BONGARD, F.
S. (org.). Diagnoses e treatment. New York: Prentice & Hall Int, 1994.
FERNANDES, L. M.; CALIRI, M. H. L. Úlcera de pressão em pacientes críticos
hospitalizados: uma revisão integrativa da literatura, Rev. Paul. Enf., São Paulo, v.
19, n. 2, p. 25-31, 2008.
FIFE, C., et. al. Incidence of pressure ulcer in a neurologic intensive care unit. Crit
Care Med., v. 29, n. 2, p. 283-290, 2001.
GOMES, A. M. Enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva. São Paulo, EPU,
1988.
______. A problemática do paciente na unidade de terapia intensiva. Enfermagem
na unidade de terapia intensiva, 2ª ed., São Paulo: EPU; p. 39-43, 1998.
GUIRARDELLO, E. B.; GABRIEL, C. A. A. R.; PEREIRA, I. C.; MIRANDA, A. F. A
percepção do paciente sobre sua permanência na unidade de terapia intensiva. Rev
Esc. Enfermagem USP, v. 33, n. 2, p. 123-9, 1999.
HESS, C. T. Tratamento de feridas e úlceras, 4 ed., Rio de Janeiro: Reichmann &
Affonso, 2002.
HORN, S. D., et. al. Description of the national pressure ulcer long-time care study.
Jags, v. 50, n. 11, p. 1816-1825, 2005.
HUDAK, C. M.; GALLO, B. M. Efeitos a Unidade de Terapia Intensiva sobre o
enfermeiro, Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan, 1997.
ISTO É. Histórias de uma UTI, 1998. [citado em set 2012]. Disponível
em: http://www.terra.com.br/istoe/comport/149813.chtm
JORGE, S. A.; DANTAS, S. R. P. E. Abordagem multiprofissional do tratamento
de feridas. São Paulo: Atheneu, p. 351-362, 2003.
KELLER, B. P. J. A., et. al. Pressure ulcers in intensive care patients: a review of risk
and prevention. Intensive Care Med., v. 28, p. 1379-1388, 2002.
KOIZUMI, M. S.; KAMIYAMA, Y.; FREITAS, L. A. Percepção dos pacientes de
unidade de terapia intensiva: problemas sentidos e expectativas em relação à
assistência de enfermagem, Rev Esc Enfermagem USP, v. 13, n. 2, p. 135-45,
1979.
KRASNER, D.; CUZZELL, J. Úlceras de pressão. In: GOGIA, P. P. Feridas:
tratamento e cicatrização. Rio de Janeiro: Revinter, p. 69-78, 2003.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos da metodologia científica, 5
ed., São Paulo: Atlas, 2001.
LINDGREN, M., et. al. Immobility – a major risk factor for development of pressure
ulcers among adult hospitalized patients: a prospective study. Scand. J. Sci., v. 18,
p. 57-64, 2004.
LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas.
São Paulo, EPU, 1986.
MARUITI, M. R.; GALDEANO, L. E. Necessidades de familiares de pacientes
internados em uma Unidade de Terapia Intensiva, 2007.
McCORD, S.; McELVAIN, V.; SACHDEVA, R.; SCHWARTZ, P.; JEFFERSON, L. S.
Risk factors associated with pressure ulcers in the pediatric intensive care unit.
Journal Wound Ostomy Continence Nursing, Texas (USA), v. 31, n. 4, p. 179-83,
jul/ago 2004.
MINAYO, M. S. C. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde, 2ª
ed., São Paulo: Hucitec - Abrasco; 1993.
MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). Portaria n. 466, de 04 de junho de 1998. Disponível
em:< http://www.amib.com.br.> Acesso em set 2012.
MORO, A.; MAURICI, A.; VALLE, J. B.; ZACLIKEVIS, V. R.; KLEINUBING JUNIOR,
H. Avaliação dos pacientes portadores de lesão por pressão internados em hospital
geral, Rev. Assoc. Med. Bras., [serial on the Internet]. [cited set 2012], v. 53, n. 4, p.
300-304, ago 2007. Available from:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010442302007000400013&lng=en.doi: 10.1590/S0104-42302007000400013.
MURDOCH, V. Pressure care in the paediatric intensive care unit, Nurs Stand.
England, v. 17, n. 6, p. 71-4, 76, out 2002.
OHNISHI, M., et. al. Feridas: cuidados e condutas. Londrina: Eduel, 2001.
ORLANDO, J. M. C. Quem tem medo de UTI? 2003 [citado em set 2012].
Disponível em: http://www.amib.com.br
ROGENSKI, N. M. B.; SANTOS, V. L. C. G. Estudo sobre a incidência de úlcera por
pressão em um hospital universitário. Rev Latino-am Enfermagem, Ribeirão Preto,
v. 13, n. 3, p. 474-480, jul/ago 2005.
ROSELI, M. Classificação das úlceras de pressão, São Paulo, 2003. Disponível
em: <http://rrferidas.com/tema4.asp>. Acesso em set 2012.
SANTOS, I., et. al. Cuidado: construindo uma nova história de sensibilidade, 2005.
Disponível em: <http:// www.alss.org/es/Acts/27-BR.doc>. Acessado em set 2012.
SILVA, M. J. P.; GRAZIANO, K. U. Abordagem psicossocial na assistência ao adulto
hospitalizado. Rev Esc Enfermagem USP, n. 30, p. 291-6, 1996.
SILVA, M. S. L. M. Fatores de risco para úlcera de pressão em pacientes
hospitalizados. João Pessoa, 89p. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) –
Centro de Ciências da Saúde. Universidade Federal da Paraíba, 1998.
SILVA, M. J. P. Humanização em UTI. In: CINTRA, E. A.; NISHIDE, V. M.; NUNES,
W. A. Assistência de enfermagem ao paciente crítico, São Paulo: Atheneu; p. 111, 2000.
SILVA, R. C. L.; PORTO, I. S.; FIGUEIREDO, N. M. A. Reflexões acerca da
assistência de enfermagem e o discurso da humanização em Terapia Intensiva,
2008.
SILVA, R. C. L.; FIGUEIREDO, N. M. A.; MEIRELES, I. B. Feridas: fundamentos e
atualizações em enfermagem, 2 ed., São Caetano do Sul: YENDIS, p. 392, 2010.
SINCLAIR, L., et. al. Evaluation of na evidence-based education program for
pressure ulcer prevention. J. Wound Ostomy Continence Nurs., v. 31, n. 1, p. 4350, jan/fev 2004.
SITZIA, J. Barriers to research utilization: the clinical setting and nurses themselves.
Intensive and Critical Care Nurs., v. 18, p. 230-243, 2002.
SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Enfermagem médico-cirúrgica, 8ª ed., Rio de
Janeiro: Guanabara Koogam; 1999.
______. Brunner & Suddarth: tratado de enfermagem médico-cirúrgica, 10 ed., Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
SORIANO. L., et. al. The effectiveness of oral nutritional supplementation in the
healing of pressure ulcers. J Wound Care, London, v. 13, n. 8, p. 319-322, 2004.
SOUSA, C. A. C. Evidências do cuidado de enfermagem prevenindo úlcera de
pressão: apropriação da teoria de Neuman e da escala de Braden. Rio de Janeiro;
Mestrado [Dissertação] – UERJ, 2004.
SOUSA, C. A. C.; SANTOS, I.; SILVA, L. D. Aplicando recomendações da Escala de
Braden e prevenindo úlceras por pressão: evidências do cuidar em enfermagem,
Rev. bras. enferm., [serial on the Internet]. [cited set 2012], v. 59, n. 3, p. 279-284,
jun 2006. Available from:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672006000300006&lng=en.doi: 10.1590/S0034-71672006000300006.
SOUZA, M.; PASSARI, J. F.; MUGAIR, K. H. B. Humanização e abordagem nas
Unidades de Terapia Intensiva, Rev. Paul Enfermagem, 1985.
TANNURE, M. C.; GONÇALVES, A. M. P. SAE - Sistematização da Assistência
de Enfermagem: Guia Prático. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2008.
TUYAMA, L. Y.; ALVES, F. E.; FRAGOSO, M. P. V.; WANATABE, H. A. W. Feridas
crônicas de membros inferiores: proposta de sistematização de assistência de
enfermagem a nível ambulatorial, Revista Nursing, São Paulo (SP), v. 75, n. 7, p.
46-50, ago 2004.
VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisas em administração, 6 ed.,
São Paulo: Atlas, 92 p, 2007.
VILLA, V. S. C.; ROSSI, L. A. O significado cultural do cuidado humanizado em
Unidade de Terapia Intensiva: “Muito Falado Pouco Vivido”. Rev Latino-am Enf., v.
10, n. 2, p. 137-44, 2002. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v10n2/10506.pdf.
YOUNG, T. Classificação das úlceras de pressão. Rev. Nursing, v. 9, n. 107, p. 21,
jan 1997.