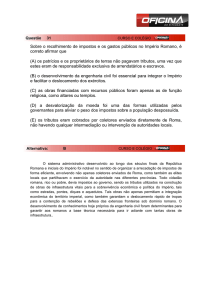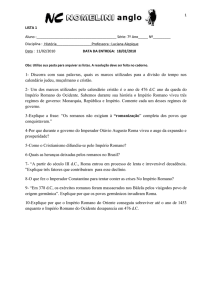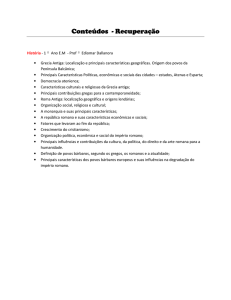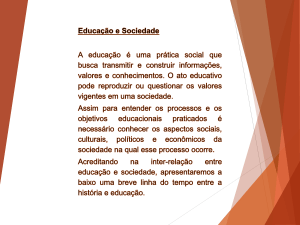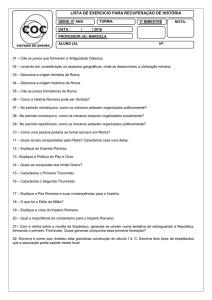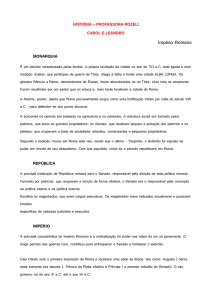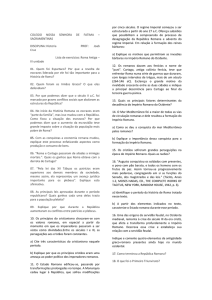O Milagre
Romano
FACULDADE DE DIREITO DA FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Credenciada pela Portaria MEC n.° 3.640, de 17/10/2005 – DOU de 20/10/2005.
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO
Autorizado pela Portaria MEC n.° 846, de 4 de abril de 2006 – DOU de 5/04/2006.
DISCIPLINA DE HISTÓRIA DO DIREITO
O MILAGRE ROMANO - Jean Gaudemet in: El Mediterráneo. Madrid: Editorial EpasaCalpe, 1987, pág. 187 e ss . Tradução livre de Wilmar Corrêa Taborda
Nascida em solo pobre, de onde colinas de tufo emergiam de terrenos pantanosos, entre
uma montanha áspera e uma costa sem relevo, Roma oferece o exemplo único da passagem de
uma aldeia de poucas choças a um império que se acreditou universal. Sucessão de acasos felizes,
gênio de um povo forçado a triunfar sobre condições hostis? Não nos adentraremos pela via das
explicações. Importa somente o fato, e em nenhum caso poderíamos considerá-lo como feliz
consequência da debilidade dos adversários. Dos samnitas às tropas de Aníbal, dos númidas aos
germanos ou aos partos, Roma conheceu adversários temíveis. As qualidades dos últimos, do
mesmo modo que o distanciamento do teatro de operações, puseram limites à expansão romana.
O êxito romano não é menos singular. E, curiosamente, o prestígio de Roma prolongou-se muito
além do domínio político. Sobrevivência de mitos, mas também de noções fundamentais de ordem
política, social e familiar. Tais persistências e ressurgimentos no transcurso de quinze séculos
interpelam o historiador. Talvez menos aparentes, e sem dúvida menos impressionantes do que o
esplendor das ruínas que, em todo o contorno do Mediterrâneo e às vezes muito no interior,
testemunham a presença romana, sua riqueza ou sua força, essas sobrevivências não deixam de ser
um dos dados importantes das civilizações europeias e daquelas que, através do mundo, por sua
vez as imitaram.
A herança jurídica de Roma, a mais citada e a mais evidente, inscreve-se numa herança
ideológica mais ampla. Não nos cabe apreciar o que pôde ser no campo das letras ou das artes. Mas
é inegável no pensamento político.
É que a experiência romana foi aqui de uma excepcional riqueza. Dos primeiros ocupantes
do local da futura Roma sabe-se muito pouco. A vida modesta e frugal de algumas famílias de
pastores, cujas cabanas, agrupadas na colina, constituíam pequenas comunidades. A organização
política, que se esboça na Época Real, somente se afirma verdadeiramente com a República. A
ocupação etrusca, em um segundo período da Era real contribui sem dúvida poderosamente para
substituir por cidade (urbs) as aglomerações de povoados e para assentar as primeiras bases do
regime da cidade (civitas). Talvez o próprio nome Roma seja etrusco, como o são os signos do
poder e uma das noções essenciais do direito público romano, a de imperium, de que surgirá, com
as variações que se sabe, a palavra império.
Sem dúvida, nem o fato urbano, nem a noção política de cidade, com seus prolongamentos
da cidadania e da liberdade, são atributo de Roma. O Oriente Próximo, do terceiro milênio, já
conhecia cidades e, na Grécia do século V, expandiu-se amplamente um regime de cidade (polis).
Mesmo na Itália, e não somente na “Magna Grécia”, as cidades e a organização cívica não foram
ignoradas. A originalidade de Roma radicou na concepção que se fez de cidade. Enquanto a reflexão
política grega vê, antes de tudo, na cidade uma comunidade de homens (designa-se a cidade
ateniense com a expressão “os atenienses”), Cícero, como bom romano, considera fundada a
cidade pelo direito. A noção de res publica, que não é a forma republicana de governo, pois o termo
continua a ser empregado sob o Império, responde à mesma concepção. Seria abusivo encontrar aí
o conceito de Estado tal como o concebemos hoje, com seus serviços, sua multidão de
funcionários, seus órgãos centrais e suas instâncias regionais, A res publica do IV ou do III século
antes de nossa era se contenta com algumas dezenas de magistrados que administram a cidade.
Seu domínio exterior não é ainda suficientemente importante para exigir uma forma de
administração própria (a primeira “província” só aparece no ano 141 antes de nossa era com a
província da Sicília). E não se poderia negar que res publica evoca o povo (populus, publicus). Mas aí
também, e Cícero o atesta (De re publica, I, 25, 39), o povo não é uma simples soma de indivíduos,
é um agrupamento unido “por um consentimento jurídico e pela finalidade comum”. Uma vez mais,
a abstração jurídica vence e se manifesta na fórmula oficial, Senatus Populusque Romanus, que
evoca os dois órgãos da República: a Assembléia e o Senado. São as instâncias políticas e jurídicas, e
não os “romanos” enquanto sucessão de pessoas as que encarnam a cidade. A diferença com o
pensamento grego é manifesta.
Nascida de uma reação contra a “tirania” dos reis, mas servindo aos interesses de uma
aristocracia, a República romana não foi democrática. E também nisso se distingue de Atenas. As
assembléias populares não reúnem em um grupo indiferenciado todos os cidadãos, o que garantia
igual peso a cada voto. Este sistema foi o da ecclesia ateniense. Em Roma, a idade, a fortuna, a
origem, o domicílio concernem a “classes”, “centúrias” ou “tribos”, cujos efetivos são desiguais. Ao
tomar o cálculo de votos como base nesses grupos, aqueles que figuram em uma centúria ou tribo
pouco “cheia”, vêem os seus votos beneficiar-se de mais eficácia. Hábeis repartições feitas pelo
censor, que pertence na maioria das vezes ao grupo dominante, a prolongada persistência do voto
público que, como recordava Cícero, permite aos homens de bem orientar a eleição dos vacilantes,
algumas regras de voto que favorecem a fortuna, submetem as assembléias “populares” à
preponderância de uma aristocracia que monopoliza, através dessas diversas formas de
manipulações, como diríamos hoje, as funções políticas e se assegura importantes benefícios.
Mas se a República não é igualitária, entende ao menos que protege a liberdade dos
cidadãos contra os abusos do poder. O recurso ao povo contra as sentenças a condenações graves
pronunciadas por um magistrado, a possibilidade de um magistrado opor-se ao ato de um de seus
colegas ou de um magistrado de categoria inferior, inclusive de paralisar uma decisão adotada, e a
concessão dessa dupla prerrogativa aos tribunos da plebe são seus signos mais evidentes. A
ideologia política do final da República e seus ecos no começo do Império põem na primeira fila de
bens essa liberdade. Esta não se confunde com a licença, que permite a cada um agir segundo sua
fantasia. Acomoda-se, para os romanos enamorados da ordem, com uma certa disciplina. A
liberdade “está nas leis”, na aceitação voluntária de regras estabelecidas em comum. É tão
incompatível com a arbitrariedade de um rei como com a desordem de uma demagogia. Mas, como
disse com orgulho Cícero, “os demais povos podem suportar a servidão; a liberdade é própria do
povo romano”. Desse mesmo modo, e sem que lhe faltassem razões políticas, Augusto, ao assentar
as bases do regime imperial, declarar-se-á defensor da liberdade, posto que se situa como seu
defensor, garantindo que quer antes de tudo restabelecer o aparato da ordem, da liberdade de
princípio do povo romano, sua liberdade de entidade.
Equívoco posto com toda a consciência nas origens do regime novo e que persistirá por
muito tempo. Quando, no ano 27 antes de nossa era, o Senado, em uma sessão memorável, confia
o poder a quem, no dia seguinte, toma o título de Augusto, não tinha intenção de condenar a
República. Confiava a um homem, como fizera muitas vezes há um século já, o cuidado de restaurar
o Estado e assegurar a paz. O escolhido se beneficiava da força das legiões e do prestígio da vitória.
Este duplo título fará muitos outros imperadores no transcurso de seis séculos do regime imperial.
Mas o Senado, garantia da continuidade romana e recurso supremo nas crises mais graves,
permanece durante o Império como guardião teórico do poder. Terá de designar o imperador
quando o peso das armas ou a herança dinástica não se oponham. E mesmo com o
desaparecimento das assembleias, sem terem sido suprimidas oficialmente, desde o primeiro
século do Império, subsistirão os magistrados, privados sem dúvida de seu papel político, mas
conservando um prestígio a que os chefes bárbaros, inclusive um Clóvis, não permanecerão
insensíveis.
Equívoco das aparências, que não poderiam dissimular as realidades de um regime novo.
Desde Augusto, o poder imperial afirma-se nos fatos. Cresce progressivamente e trata cada vez
menos de abrigar-se sob a ilusão republicana. A monarquia administrativa de Adriano, na primeira
metade do século II, e a da dinastia militar de Severo em princípios do século III, preparam o
caminho para a monarquia do Baixo Império, que se quer absoluta, embora amiúde seja débil, e
cujo absolutismo prático está, na verdade, na razão inversa da potência real.
Embora não se possa qualificar de Estado a cidade republicana, o Império tem
indiscutivelmente suas marcas essenciais. Sua autoridade se exerce sobre um imenso território que
lhe deram, no essencial, as conquistas da República, desde as costas do Atlântico ao reino parto,
dos confins do deserto africano ao mar do Norte. Uma administração numerosa, hierarquizada,
totalmente independente da vontade imperial, rege as províncias e dá assistência ao príncipe.
Exército, finanças e justiça constituem os serviços essenciais. Porém não se poderia falar nem de
um serviço público de ensino (a não ser tardiamente algumas escolas de direito que devem formar
funcionários), nem de um serviço de assistência (exceto o abastecimento de Roma e logo de
Constantinopla, com as distribuições a baixo preço ou grátis para a plebe urbana, e algumas
iniciativas, raras, de alguns imperadores em favor dos mais desafortunados). A eficácia do poder
conta mais do que o bem-estar dos súditos.
Soldado e administrador, o imperador é também juiz e legislador supremo. A política se une
aqui ao campo em que Roma sobressai, o do direito.
A feliz conservação das fontes permite seguir em Roma a lenta formação de um sistema
jurídico. Certamente, nossa informação continua sendo imperfeita e deixa frequentemente
insatisfeito o historiador. Mas as formas arcaicas do direito das XII Tábuas (século V antes de nossa
era) são, em vários campos, bastante bem conhecidas. Assim podemos fazer uma ideia do que foi o
direito da Roma nascente. Sua extraordinária renovação entre o século II anterior a nossa era e o II
posterior, enquanto se afirmava a vasta empresa de Roma, é muito mais conhecida tanto nos
mecanismos das transformações como em seus resultados. A partir daí pode seguir-se a obra da
doutrina e a criação legislativa até a recompilação justinianéia que faz o resumo do passado e
servirá de ponto de partida aos direitos europeus do Oriente e do Ocidente.
A colocação por escrito das regras jurídicas da Lei das XII Tábuas, muito provavelmente em
meados do século V antes de nossa era, já supunha uma larga história que hoje continua sendo
desconhecida. O direito arcaico que as XII Tábuas revelam não é, pois, senão um direito “primitivo”.
Diferentemente de muitos direitos do Oriente antigo, não pretende traduzir a vontade dos deuses.
Obra de legisladores humanos, cujos nomes a lenda quis conservar, foi um direito laico, o ius,
distinto do fas, o que regeu as relações dos homens e dos deuses. Assim, afirma-se de pronto a
especificidade do direito frente à religião. Isso foi, sem dúvida, uma das causas de seu progresso e
de sua excepcional qualidade em Roma. Porém o direito das XII Tábuas traz ainda a marca de
vínculos mais antigos e talvez de uma comunidade primitiva em que as regras jurídicas e princípios
“religiosos” mal se distinguiam de um ritualismo acima de tudo mágico. O valor dos termos, às
vezes acompanhados de gestos rituais, particularmente evidente no formalismo do processo
arcaico, mas que nem o direito de família nem o dos contratos ignoram, recorda esses vínculos
antigos. As sanções penais, que abandonam o culpado à vingança dos deuses (supplicium, sacratio),
o lugar que o direito concede aos ritos funerários e a submissão da vida jurídica a um calendário
religioso mostram que as antigas relações entre direito e religião ainda não se romperam de todo.
Respeitosos com o passado, inclusive quando o abandonam, os romanos não derrogaram as
XII Tábuas. Desviaram-se delas em favor de direito mais moderno, requerido por uma nova
sociedade. A conquista da bacia mediterrânea fez do povoado uma grande potência. Os
intercâmbios comerciais e intelectuais com as regiões conquistadas modificam profundamente a
sociedade. A economia pastoril, logo agrícola, da época antiga dá lugar a uma economia comercial.
As pequenas propriedades exploradas em comum pela família e alguns escravos são objeto de
concorrência e frequentemente absorvidas pelos grandes proprietários, que, através do império
exploram os servos em benefício dos cidadãos ricos. A especulação grega penetra o espírito
romano, embora os conservadores se ponham em guarda, temendo a derrocada das virtudes
antigas. A célula familiar se estilhaça. A autoridade patriarcal do chefe de família deve compor-se
com a atividade econômica de seus filhos e, progressivamente, a “pequena família”, que se apoia
nos laços de sangue (ou na adoção que os limita), triunfa sobre as velhas estruturas de uma família
fundada sobre vínculos de poder.
O direito deve adaptar-se a essas comoções. Curiosamente, o pensamento grego, que se
havia preocupado apenas em dar forma ao direito das cidades gregas, foi amplamente utilizado
pelos juristas romanos para desenvolver e construir o direito “clássico”.
O raro equilíbrio desse direito, e o que sem dúvida constitui seu valor permanente e quase
universal, resulta desta combinação entre uma preocupação muito concreta por necessidades
práticas e a inserção do direito em um marco de pensamento doutrinal.
A criação de novas regras, o estabelecimento de novas relações sociais, econômicas e
familiares, o surgimento de novos tipos de atos jurídicos para facilitar a aquisição e transferência de
bens, coisas todas requeridas obrigatoriamente pelas transformações da sociedade entre o século
III antes de nossa era e o I de nossa era, foram essencialmente obra de magistrados encarregados
da justiça: os pretores (e o governador nas províncias). Por ocasião das dificuldades que se
apresentavam o pretor, graças ao mecanismo técnico do processo “formulário”, viu-se induzido a
proteger situações novas e, por isso mesmo, a criar novos direitos. Método totalmente empírico
que parte da situação concreta exposta como justiça e que, se acha justo, assegura sua proteção.
Ao contrário de nossas concepções modernas que partem do indivíduo, reconhecem-lhe direitos e
logo os sancionam, os romanos “deram a ação”, criando com isso o direito. A flexibilidade do
processo é extrema. Permite acompanhar quase dia a dia as transformações e as novas
necessidades de uma sociedade em plena mutação. Em lugar do recurso ao legislador, sempre
lento e demorado, é o magistrado quem cria um “direito pretoriano”. Assim, foram reconhecidos,
dentre outros, os direitos dos parentes pelo sangue na linha sucessória, a validade de uma
transferência de propriedade, que já não se embaraçava com velhas formas demasiado
complicadas, e contratos tão usuais como o depósito ou a sociedade.
O perigo de semelhante flexibilidade é levar à desordem ou, inclusive, à arbitrariedade. Se
foram sensíveis às necessidades de seu tempo, às transformações e às necessidades da sociedade e
da família, os juristas clássicos também foram marcados por alguns modos de pensar.
Beneficiavam-se de uma formação intelectual quase sempre estóica, às vezes muito eclética, que
lhes proporcionava as formas do raciocínio e os fundamentos da decisão. O argumento de analogia
justifica a extensão para situações próximas de uma solução já utilizada. As categorias de gênero e
espécie permitem classificações e, por isso mesmo, o estabelecimento de regras gerais, válidas para
todos os elementos de um conjunto. O apelo à boa fé vem corrigir os rigores e, às vezes, as
injustiças a que o antigo formalismo levava. Mais amplamente ainda, o argumento de equidade
justifica inumeráveis decisões e permite remover debates doutrinais.
Porque, e é um traço essencial do direito clássico, a busca da melhor solução é
perfeitamente livre. Os jurisconsultos chamados a proferir consultas, a orientar os litigantes, a
aconselhar os juízes foram recrutados primeiro no grupo estreito das grandes famílias da nobilitas
romana. Meio aristocrático e relativamente estreito, que dispõe de fortuna, povoa o Senado e
proporciona os magistrados. Mas esta participação na vida política está aberta às realidades da
época e, na maior parte das vezes, uma vasta cultura e fortes tradições familiares contribuem para
a solidez de seu sentido jurídico. No final da República e começos do Império, esse círculo de
juristas se amplia. Nele os cavaleiros estão lado a lado com as velhas famílias senatoriais. Italianos
e, em seguida, provincianos suplantam em número os genuinamente romanos. Diversidade de
origens, de formações e de opções pessoais que se traduzem na variedade de opiniões jurídicas.
Divergências não explicadas apenas pelo dualismo das “escolas” sabiniana e proculeana. Espírito de
tradição e impulsos inovadores não distinguem somente grupos ou homens. Aparecem
alternativamente em um mesmo jurista.
Junto à atividade criadora do pretor e da livre busca dos juristas, afirma-se cada vez mais a
ação do imperador e de sua assessoria. Augusto rechaçara a cura legum, mas documentos
epigráficos atestam que ele, de fato, exerceu uma atividade legislativa. Modesta em suas origens, a
legislação imperial, na forma de constituições, desenvolve-se rapidamente. A partir do século II
suplanta a atividade criadora dos pretores. No século III já não se discute um poder que, de fato, se
impusera. A legislação imperial é desde então, em grande parte, a mais importante fonte de direito.
O desaparecimento dos pretores, a preponderância de éditos e ordens imperiais traduzem, na
história da criação do direito, a mutação política que fez do imperador o dono do poder, reduzindo
os magistrados a papéis subalternos.
Mas a lei imperial raramente emana do próprio imperador. É preparada e redigida nos
gabinetes para onde foram chamados juristas, às vezes os mais ilustres. Seus nomes não aparecem
nas constituições, apresentadas como obra do imperador. No entanto, a eles a legislação imperial
deve suas qualidades, sua precisão técnica, seu sentido das necessidades concretas, mas também
seu desejo de fazer reinar a equidade.
Ademais, até aos primeiros decênios do século III persiste a atividade doutrinal, e é aí que
encontramos o nome dos grandes juristas. É então, desde Juliano no começo do século II, à célebre
tríade de Papiniano, Paulo e Ulpiano na encruzilhada do século, que a doutrina jurídica romana
atinge seu apogeu. Abundância de obras, variedade de gêneros, diversidade de opiniões, finura de
análise e concisão de estilo fazem desse período o cimo da idade clássica. Com a crise, em meados
do século III, desaparece essa linhagem de grandes juristas.
O que emerge do período que vai de meados do século III ao reinado de Justiniano (527565), junto a uma legislação abundante, frequentemente desconexa e mal observada é, antes de
tudo, o surgimento em algumas grandes cidades, de escolas de direito, nas quais se formam,
estudando as obras clássicas, aqueles que devem alimentar o considerável corpo de funcionários.
Roma, Alexandria, Beirute e Constantinopla atraem os futuros administradores do Império. Foi
célebre, no século V, o esplendor de Beirute.
O outro fato essencial é a constante preocupação de tornar acessível à imensa soma de
direito que, desde o último século da República, pretores, jurisconsultos, imperadores
acrescentaram sem descanso. Como dispor de textos incontáveis? Como orientar-se nessa massa
em que pululam as soluções divergentes, às vezes contraditórias? Preocupação tanto maior, na
medida em que os usuários, e muito especialmente os juízes amiúde carecem de cultura e, às
vezes, de honestidade. Daí os ensaios privados de recompilações, que recolhem elementos da
legislação imperial e fragmentos de obra doutrinal. Utilizando o novo apoio material do codex *,
que tendia a substituir os grandes rolos (de documentos), as recompilações de constituições
imperiais adotaram esse nome, fadado a ter um êxito singular. Nasceram assim os primeiros
“códigos”, obra, sobretudo, de juristas privados (Código gregoriano e Código hermogeniano), logo
codificação feita por ordem imperial, que se beneficiava de uma autoridade oficial: código de
Teodósio II em 438 e código de Justiniano em 529.
Esse código realizava a primeira etapa do grandioso projeto concebido por Justiniano (527–
565): devolver ao império romano sua grandeza. Restauração de sua integridade territorial pela
reconquista do Ocidente: Itália, Espanha, África, que haviam passado ao domínio de chefes
germânicos. Mas era também restauração de um direito que se queria “clássico”. Daí o retorno à
jurisprudência e às constituições do Alto Império, que facilitava enormemente seu estudo, objeto
das escolas de direito. Porém o projeto era ao mesmo tempo mais prático e mais ambicioso. Com
efeito, não se tratava de salvar a herança do passado como um testemunho venerável de tempos
remotos. O fim era prático: dar aos profissionais, juízes, advogados e redatores de atas, mas
também a simples particulares, compêndios manejáveis, em que as constituições antigas e a
doutrina clássica estivessem coligidas em parte e, caso necessário, corrigidas para conformar-se ao
direito do século VI. Testemunho, uma vez mais, do respeito à tradição, inclusive quando não se
vacila em corrigi-la.
Se para as constituições imperiais os códigos anteriores proporcionavam modelos que se
podiam imitar, o trabalho era muito mais árduo para as obras doutrinais. A massa a examinar era
considerável: aproximadamente mil livros e três milhões de linhas, dizia o próprio Justiniano ao
fixar a tarefa para a comissão composta por onze advogados, professores e dois altos funcionários.
Previa-se um trabalho de dez anos. A obra foi concluída em três (530-533) e foi o “Digesto”. Do
mesmo modo, em 533, publicava-se um manual sumário, as “Institutas”, amplamente inspirado no
manual de mesmo nome que fora elaborado por Gaio quatro séculos antes. A recompilação
justinianéia estava concluída. Porém não a atividade legislativa de Justiniano. Também suas
constituições posteriores ao ano de 534 e algumas de suas sucessoras até 575 foram
posteriormente reunidas em coleções de Novelas.
Se deixamos de lado o manual, onde de maneira clara e breve expunha-se o essencial do
direito privado romano e os princípios gerais do processo civil, os dois principais compêndios, o
Código e o Digesto, ofereciam aos profissionais uma massa impressionante de dados jurídicos.
Tanto um quanto o outro, divididos em livros (12 para o Código e 50 para o Digesto), por sua vez
subdivididos em títulos, estavam compostos segundo um plano dogmático, que reunia em um
mesmo título textos de épocas muito diferentes, mas referentes à mesma matéria.
O Código reunia não a totalidade da legislação, mas deixando de lado repetições ou
disposições antigas, tudo o que continuava sendo aplicável na época de Justiniano. As constituições
conservadas abrangiam o reinado de Adriano, para as mais antigas, até ao ano de 529 (534 para a
segunda edição).
No Digesto, os recompiladores recolheram cerca de 9000 fragmentos de obras da
jurisprudência clássica, extraídos de 1625 livros. Mais de um terço desses textos procedia dos
escritos de cinco juristas, qualificados de “estrelas” já em 426, por uma lei de Valentiniano III,
chamada “lei das citações”. Tratava-se de Gaio, dos três grandes juristas da época de Severo –
Papiniano, Paulo e Ulpiano – e, finalmente, de um dos últimos juristas da idade clássica, Modestino.
Justiniano pedira a seus comissários que eliminassem as regras em desuso e as discussões
doutrinais. Tais prescrições foram mal observadas. Se esta falta fazia mais denso o Digesto e talvez
*
Nota desta tradução brasileira. Códice: coleção de leis, conjunto metódico e sistemático de disposições legais relativas
a um assunto ou ramo do direito.
menos facilmente utilizável de imediato, teve a inapreciável vantagem de conservar para as épocas
futuras soluções que, sem isso, continuariam ignoradas. Teve também o mérito de salvar do
esquecimento controvérsias entre juristas, que posteriormente permitiram conhecer melhor seu
método e encontrar nelas, seguidas vezes, exemplos de raciocínio jurídico.
Assim, à vontade justinianéia de reunir em dois compêndios a imponente herança jurídica
de Roma no que ela ainda tinha de útil e a feliz negligência dos recompiladores que conservaram
mais do que se lhes pedia, faziam da recompilação a soma de seis séculos de história jurídica, mas
também o ponto de partida da longa história da herança romana.
O prestígio de Roma demarca a história da Europa. No vocabulário e nos títulos, desde o
consulado de que se orgulhava Clóvis até ao colégio consular do ano VIII e o imperador de 1804.
“Kaiser”, “Czar” invocam César. O empréstimo verbal não é patrimônio do soberano. Marcados
pelas recordações antigas que obsessionavam o pensamento revolucionário, os pais do regime
consular e imperial encontram o tribunato, o senado e os prefeitos. Europa e América, neste fim de
século XX, não os repudiaram.
A palavra não é mais do que um símbolo, e as sobrevivências políticas foram mais
profundas. Transferido de Roma a Constantinopla, o Império prossegue no Oriente, no Império
bizantino, cada vez menos romano sem dúvida, mas, diremos mais adiante, onde o direito privado
romano deixa uma marca profunda. No Ocidente, o império de Carlos Magno e logo o de Oto I,
ambos coroados em Roma, querem restaurar e prolongar o dos imperadores romanos. E, em sua
longa história, o Sacro Império Romano Germânico conserva o nome e a lembrança de Roma. Os
imperadores germânicos medievais, orgulhosos da titularidade romana fazem inserir suas
constituições em seguida após aquelas que o Código de Justiniano havia reunido.
Mais profundamente, a doutrina política dos juristas romanos proporciona argumentos aos
conselheiros dos príncipes, que, tanto na Inglaterra como no Império, tanto na França como na
Corte pontifícia, restauram a idéia de um Estado poderoso e centralizado. Desde os séculos XII e
XIII, esta utilização do direito romano chega a ser deslumbrante.
Isso se explica pela descoberta, em condições cuja obscuridade deixa amplo espaço a
hipóteses e lendas, da recompilação justinianéia, que o Ocidente do século VI ao XI havia quase
esquecido. Se o Digesto e o Código tratavam, sobretudo de direito privado – mais adiante veremos
a importância de seu aporte neste campo -, tinham dado espaço (grande especialmente no Código)
ao direito público. Fórmulas bem cunhadas afirmavam o poder legislativo do imperador e nele
reconheciam o dono da justiça. A teoria do mandato justificava a delegação do poder do príncipe a
seus agentes. Os múltiplos textos dedicados aos funcionários imperiais, unidos ao imperador por
uma organização hierárquica rigorosa, permitiam ordenar as engrenagens complexas de uma
administração centralizada em jovens Estados que intentavam reduzir a fragmentação feudal.
Esta descoberta de um pensamento jurídico novo, infinitamente mais elaborado do que
aquele com que se havia contentado a Alta Idade Média, assinala uma das mais importantes
reviravoltas da civilização ocidental. Os textos achados são estudados, discutidos e prontamente
utilizados. É a tarefa das escolas, e, junto com a filosofia, a teologia e a medicina (que também se
beneficiam de heranças antigas recém-achadas), o direito acarreta a transformação das escolas
episcopais da Alta Idade Média em universidades. Bolonha, uma das primeiras e talvez a mais
antiga – é difícil fixar uma data de origem no que se refere a transformações cujo detalhe segue
sendo mal conhecido -, foi o templo do Direito.
A quatro doutores bolonheses, impregnados de direito romano, em 1158, Frederico
Barbarroxa pede que redijam a lista de seus direitos reais (regalia). Direitos de origem senhorial,
sem dúvida, mas que os doutores confirmam, recordando uma regra de direito romano: não se
pode prescrever contra o príncipe. Na Inglaterra, um século mais tarde, o tratado de Bracton sobre
“as leis e costumes da Inglaterra” revela a cultura romana de seu autor. Na França, como em outros
países da Europa, a aceitação do direito romano não se produziria sem riscos políticos. Ao se
afirmar o império germânico como continuador do dos Césares, tolerar o recurso ao direito romano
não era reconhecer implicitamente uma dependência ante o Império? Talvez por esta razão,
proibiu-se o ensino do direito romano. Proibição mal acatada em Paris e que não se estendia às
demais universidades do reino. O prestígio do direito romano e sua superioridade técnica
asseguravam seu êxito e sua utilização. Um adágio amplamente difundido o fortalecia, ao mesmo
tempo que rechaçava a objeção política. Com efeito, logo se havia difundido uma máxima segundo
a qual o “rei é imperador em seu reino”. Independência, por conseguinte, em relação a soberanos
germânicos; igual autoridade dos príncipes que fazem valer o adágio, tomando, uma vez mais,
Roma como referência.
Máximas romanas proporcionam apoio doutrinal no apogeu do poder real, assegurando,
por outro lado, negociações políticas, alianças dinásticas ou conquistas militares. Os legistas,
servidores discretos e eficazes da monarquia francesa têm a mente moldada pelo direito romano.
Se o rei da França é a “Lei viva”, é porque os juristas romanos haviam dito do imperador que ele era
lex animata.
Até o papado, que, desde Gregório VII, no fim do século XI, organiza seus serviços e
consolida seu império temporal, encontra no direito secular pagão argumentos e técnicas. Há
muito tempo, os clérigos, homens da Igreja e homens de cultura, tinham compreendido o interesse
do direito romano para construir o seu. As coleções jurídicas cristãs nunca se descuidaram disso,
contribuindo assim para sua persistência na Alta Idade Média. Porém, com o renascimento do
direito romano a partir do século XII, seu espaço no direito da Igreja chega a ser considerável. A
teoria romana do mandato permite construir a dos legados pontifícios. O processo romano inspira
o que desde então triunfa nos tribunais da Igreja, na expectativa de que alcance as jurisdições
seculares. Isso foi o processo “romano-canônico” cujas marcas nossos códigos processuais
modernos ainda trazem. A definição do matrimônio dada pelos canonistas dos séculos XII e XIII
recolhe, bem de perto, a dos juristas pagãos do século II. Seria fácil, mas fastidioso, multiplicar tais
exemplos. Recordemos somente que a própria autoridade pontifícia não deixou de se beneficiar
das doutrinas do poder imperial. Sem nos determos no detalhe das regras e das prerrogativas,
recordemos apenas o peso da lenda forjada em meados do século IX, talvez até em Roma, e por um
clérigo, que fazia do papa o dono de Roma, e, de alguma maneira, o continuador, no Ocidente, dos
imperadores romanos que haviam passado para o Oriente. Tratava-se da falsidade conhecida pelo
nome de “Doação de Constantino”. Esse texto – cujo caráter apócrifo, provavelmente logo
descoberto por alguns, não será plenamente reconhecido senão no século XV pelo humanista
Lorenzo Valla – apresentava-se como uma disposição do imperador Constantino deixando ao papa
Silvestre todo o poder sobre Roma e sobre todo o Ocidente. Atribuía ao papa os distintivos do
poder que o imperador portava, reconhecia-lhe os mesmos direitos e privilégios e concedia ao clero
romano o direito e as honras dos senadores de Roma. O excesso das concessões, a incoerência de
certas similitudes delatavam sua falsidade. Que se tenham intentado e que tenham encontrado
uma ampla acolhida, prova como a herança romana parecia evidente... e desejável. Apesar de suas
inverossimilhanças, a Doação foi acreditada e utilizada. Faca de dois gumes, proporcionava uma
base às pretensões temporais do papa, mas, na medida em que seu poder se apresentava, afinal de
contas, como uma concessão imperial, fazia-a depender da boa vontade de qualquer príncipe que,
por sua vez, tivesse conseguido passar a imagem convincente do bem-fundado de suas pretensões
imperiais. Compreende-se que o texto servisse aos dois campos.
Menos prestigiosas e menos deslumbrantes do que as imitações das doutrinas e da
ideologia do poder imperial, as feitas ao direito privado romano não são menos numerosas e, dado
que ainda hoje marcam os direitos latinos e germânicos e, em menor medida, embora nada
desprezável, a tradição bizantina ou anglo-saxônica, sua importância como fato de civilização talvez
seja maior.
Na parte oriental do império romano, a morte de Justiniano (565) não marcava uma
ruptura. O império bizantino começara com a transferência do poder para a nova Roma por
Constantino (320). Prosseguirá até à conquista otomana (tomada de Constantinopla em 1453). O
direito da recompilação justinianéia continua sendo, por isso, aplicável às populações submetidas
ao basileus. Serve de base a múltiplos trabalhos que, a partir do século VII, adaptam uma obra
muito volumosa às necessidades mais limitadas dos profissionais. Por definição, parte indissociável
do edifício imperial bizantino ao qual oferecia sua imagem de espelho, a Igreja, por seu lado, inseria
numerosas constituições de objeto eclesiástico junto a textos dos Pais e dos concílios, em seus
compêndios legislativos, cujo caráter composto explica o nome de “nomo-cânones”.
A utilidade que a recompilação justinianéia ainda oferecia nos fins do século IX é atestada
pela reformulação que dela se fez por ordem de Leão, o Sábio (886-911). O novo compêndio,
conhecido pelo nome de Basilicas, reunia em sessenta livros, de maneira metódica, o que no
Código, no Digesto, nas Institutas e nas Novelas continuava sendo aplicável. Demasiado volumosas
para o uso corrente, as Basilicas suscitaram resumos, compêndios e novos manuais. Em 1345, um
juiz de Tessalônica, Constantino Armenopoulos, publicava seu Hexabiblos (compunha-se de seis
livros), que expunha os princípios do direito romano ainda em vigor no Oriente nessa data. Por
meio desse manual, a influência romana se fará sentir durante longos séculos no direito de países
que saíram do império bizantino.
A sobrevivência do direito romano no Ocidente teve uma história mais complexa,
contragolpe das vicissitudes políticas e dos fracionamentos do Império em múltiplas soberanias.
Desde antes de Justiniano, o Império Romano já não existia no Ocidente (476). Porém, com
a reconquista intentada pelo imperador, sua recompilação se introduziu na Itália. Demasiado
complexos, o “Digesto” e inclusive o “Código” tiveram apenas pouco êxito. As “Institutas”, manual
sumário, foram melhor acolhidas por profissionais cuja cultura jurídica era modesta. Foi em tais
condições que se tornou possível certa sobrevivência de um direito romano “sábio”. Mas no
Ocidente não ultrapassou a Itália.
Através da herança pós-clássica, essencialmente pelo Código teodosiano e por manual
sumário, abusivamente qualificado de Sentenças de Paulo, a tradição jurídica romana persistiu no
Ocidente, do século VI ao XI.
As leis redigidas nas jovens monarquias dos burgúndios, dos visigodos e dos ostrogodos
inspiram-se neles. A “lei romana” dos visigodos, conhecida pelo nome de “Breviário de Alarico”
(506), é elaborada essencialmente com textos do Código teodosiano e das “Sentenças de Paulo”.
Os formulários de atos da prática, doação, testamento, venda, etc., conservam traços romanos. A
Igreja, que declara “viver sob a lei romana”, mistura em seus compêndios jurídicos textos
eclesiásticos e tradição romana. Primeira adaptação do direito romano a uma sociedade para a qual
não fora feito e cujas estruturas políticas, econômicas e sociais diferiam profundamente das da
Roma antiga. Progressivamente, de outra parte, mais bem adaptados às necessidades da
sociedade, formavam-se alguns costumes locais que reduziam muito o campo de aplicação de um
direito romano mal compreendido e frequentemente atraiçoado por seus usuários.
Encontrada de novo na segunda metade do século XI, a recompilação justinianéia foi o
ponto de partida de uma renovação jurídica no Ocidente, cuja importância para a história política já
ressaltamos. O rápido apogeu das escolas em que se ensinou o direito, de Bolonha a Orléans, de
Oxford a Salamanca e a plêiade de universidades que pouco a pouco cobrem a Europa
proporcionam em abundância juízes, advogados, profissionais que põem sua cultura de romanistas
a serviço da sociedade medieval. Graças a eles, a técnica jurídica romana, as noções e as regras
penetram tanto nas decisões judiciais como nos atos da prática. As modalidades dessa “recepção
do direito romano” no Ocidente, suas datas e etapas, assim como as resistências que às vezes
encontrou, suscitaram inúmeras investigações. Não se pode fazer, todavia, um quadro seguro e
completo deste renascimento. Encontrada de novo na Itália, a recompilação de Justiniano é
estudada em Bolonha desde o último quarto do século XI, e os textos romanos são invocados em
sentenças judiciais na Itália, desde essa época. Desde o primeiro terço do século XII, sua marca
aparece em atos da França meridional e não se exclui que as relações comerciais das cidades da
Itália setentrional com os portos languedoquianos estivessem na origem dessa penetração. Esta
tropeçará nas resistências de uma população reticente a respeito do direito estrangeiro; também,
sem dúvida, em profissionais pouco inclinados a modificar seus formulários. Atraso, mas não
fracasso. Progressivamente, nos fins do século XII e XIII, o direito romano se assenta e se difunde
não só na França, mas também em Flandres, na Inglaterra e até na Frísia. Do século XIV ao XV,
chega na Europa até à Polônia, Bohemia e Hungria.
O espaço que ocupa varia conforme os países. Na Alemanha ou na Itália, é “direito comum”
que derroga estatutos e costumes locais. A França se reparte em “regiões consuetudinárias” e
“regiões de direito escrito” (=direito romano); o que não quer dizer que estas últimas regiões não
admitam costumes (encontrou-se no Sul grande número deles, alguns muito importantes), nem
que o Norte consuetudinário não deixe espaço para o direito romano. Porém a tradição romana é
mais forte nas regiões de direito escrito, e a parte do costume, mais importante nas regiões
consuetudinárias. É assim que o direito romano conserva força obrigatória na França até ao Código
Civil de 1804. Teve autoridade inclusive na Alemanha até à promulgação do Código Civil de 1900.
Sem dúvida, esse direito romano, glosado pelos doutores e aperfeiçoado sem descanso pelo
uso, tomara certas liberdades a respeito do que Justiniano codificara. Alterações de detalhe, que
não afetavam a economia geral do sistema; ao rigor de sua construção, ao primor de suas análises e
à plasticidade que lhe conferia uma elaboração multissecular deveu seu êxito e sua duração.
Assim se explica a recuperação de prestígio que teve entre os juristas da “escola do direito
natural”, nos séculos XVII e XVIII. A regra romana lhes pareceu a expressão da razão natural e a
adotaram como tal. Para uma época que teve o culto da razão, que mais belo elogio e que maior
título para ser respeitado do que dizer-se do direito romano que era “a razão escrita”?
Habilmente moldado pelo espírito dos jurisconsultos romanos, assegurado por uma tradição
mais do que milenar, sustentado pela autoridade da razão, o direito romano dominou o
pensamento jurídico europeu até às grandes codificações da época contemporânea: o Código de
Napoleão de 1804 e o Código Alemão de 1900. Tanto um quanto o outro o suplantaram, retirandolhe desde então seu valor de lei aplicável. Ambos, porém, o salvaram ao se inspirarem amiúde nele.
Através desses códigos e dos que, pelo mundo, inspiraram-se neles, a herança do direito romano
chegou até nós. Aparece no vocabulário e nas noções fundamentais: propriedade e contrato,
obrigação e sucessão, testamento, legados, ou servidões, ações judiciais, curatela. Seria longa a
lista das palavras tomadas a Roma e, com a palavra, frequentemente, a noção jurídica.
Empréstimos terminológicos semelhantes aos da linguagem político-administrativa. Porém, muito
mais numerosos e mais “reais”. Porque as rupturas políticas foram múltiplas e, se foi tomado um
vocabulário, foi para designar outras instituições. Ocorre diferentemente com as relações privadas.
A longa continuidade que a utilização do direito romano teve, do século V a nossos dias, assegurou,
apesar das comoções econômicas e sociais, a persistência das noções e não somente das palavras.
Também a de regras e mecanismos, demasiado técnicos para serem abordados aqui.
Bastará um exemplo para ilustrar esta fidelidade ao sistema romano: é o do matrimônio,
instituição que, mais do que muitas outras, deveria, na aparência, ficar marcada pelas
transformações sociais e pelas mudanças de mentalidade.
Já foi dito, de forma bastante curiosa, como o direito da Igreja cristã no século XII não
acreditara poder propor uma definição melhor da união conjugal do que a dada pelo jurista pagão
Modestino nas “Institutas” de Justiniano (viri et mulieris coniunctio, individuam consuetudinem
vitae continens). O plágio não estava somente na expressão que descreve o estado de matrimônio.
Está também, e isso é o essencial, na análise que se faz do ato constitutivo desse estado.
Parece-nos hoje muito normal que o vínculo matrimonial se estabeleça em sua plenitude no
momento mesmo em que ambos os esposos intercambiam seu compromisso recíproco. Duas
perguntas breves e a resposta monossilábica. Antes não acontecia assim. A partir desse instante,
tudo está decidido. Solução que tem o grande mérito da simplicidade e, portanto, da segurança.
Posto que a prova desse intercâmbio pode ser feita, será fácil dizer a partir de quando existe o
matrimônio. Mas é evidente que tal regime se mostra indiferente ao encaminhamento psicológico,
que, na maior parte das vezes, precede o compromisso e, mais ainda, todas as etapas (que não são
só negociações familiares) que progressivamente aproximam os futuros esposos. Pois bem,
curiosamente, este sistema, hoje difundido por todo o mundo pelos europeus, revela uma
singularidade do direito romano. Nada tem em comum com os ritos matrimoniais dos sistemas
tradicionais que os etnólogos conhecem bem. O exemplo dos costumes africanos é, a esse respeito,
probatório. Na Antigüidade, inclusive a solução romana se opunha ao “matrimônio por etapas”
que, segundo modalidades diferentes, foi a de outros sistemas jurídicos. Os direitos semíticos, seja
o direito babilônico, as tradições hebraicas, ou o matrimônio árabe distinguem dois momentos
essenciais para a formação do vínculo: a entrega de uma soma de dinheiro (tirhatu babilônico ou
mohar hebraico) e a entrega da jovem a seu marido. Na Grécia clássica, o matrimônio comportava
igualmente duas etapas: a de compromisso (enguesis) e a da entrega de mulher (ekdosis). E os
velhos costumes germânicos conheciam uma distinção análoga entre a Verlobung e a Travung. O
matrimônio concluído por simples intercâmbio de consentimento é, portanto, uma originalidade
romana. Sentimo-nos tentados a ver nisso uma das manifestações deste espírito que, pela
simplicidade e pela precisão de que o direito é sempre ávido, soube reduzir a um só ato a
complexidade dos esponsais. “É o consentimento que faz o matrimônio”, diziam com satisfação os
juristas romanos. Fórmula que os Pais da Igreja tornaram a adotar para deixar de lado a exigência
da consumação. Seguindo Roma, o direito canônico foi, pois, consensualista e terá de esperar o ano
de 1563 e o Concílio de Trento para que se exija um consentimento público diante do sacerdote.
Quando, em fins do século XVIII, o matrimônio se secularizou, os legisladores, na França, mas
também na Prússia, na Áustria, nos Países Baixos ou na Itália setentrional, conservaram o princípio
consensualista e a publicidade da união. Assim, pelo viés do direito da Igreja, a concepção romana
se converteu na dos legisladores modernos.
Em muitos outros pontos nossos códigos não fizeram senão conservar a herança romana.
Sem dúvida muitas reformas, que têm em conta transformações da sociedade e das mentalidades,
sobretudo de trinta anos para cá, romperam com essas tradições romanas. A herança diminui, mas
não desapareceu. E talvez continue sendo a melhor fiança, acima de uma linguagem comum e
acima de sistemas econômicos aparentemente divergentes, de eventuais aproximações entre
direitos de nações diferentes.