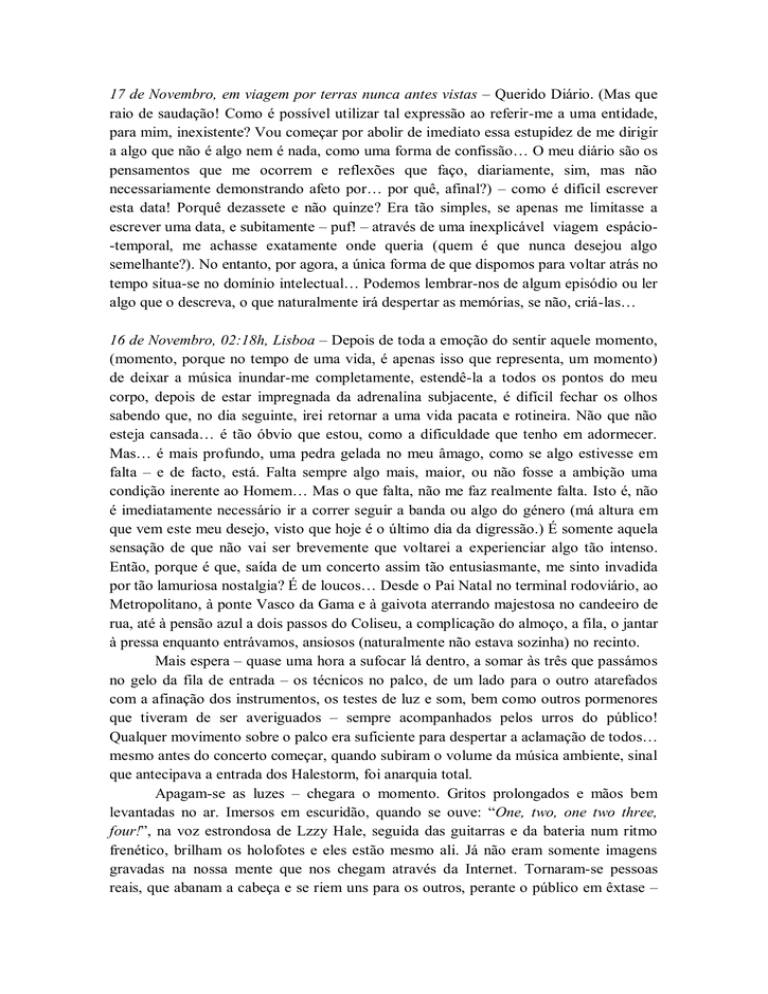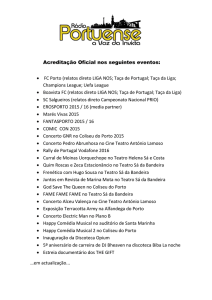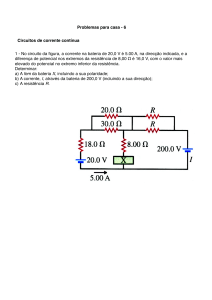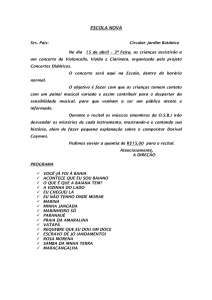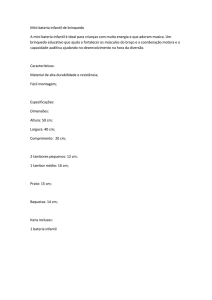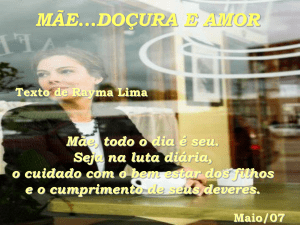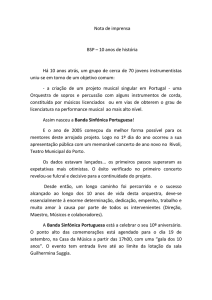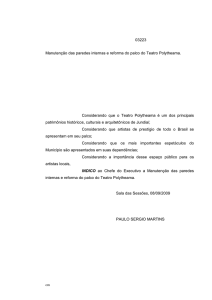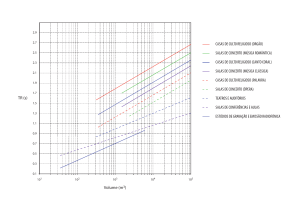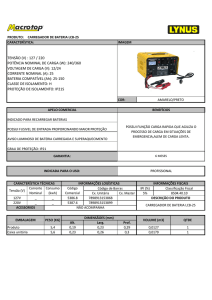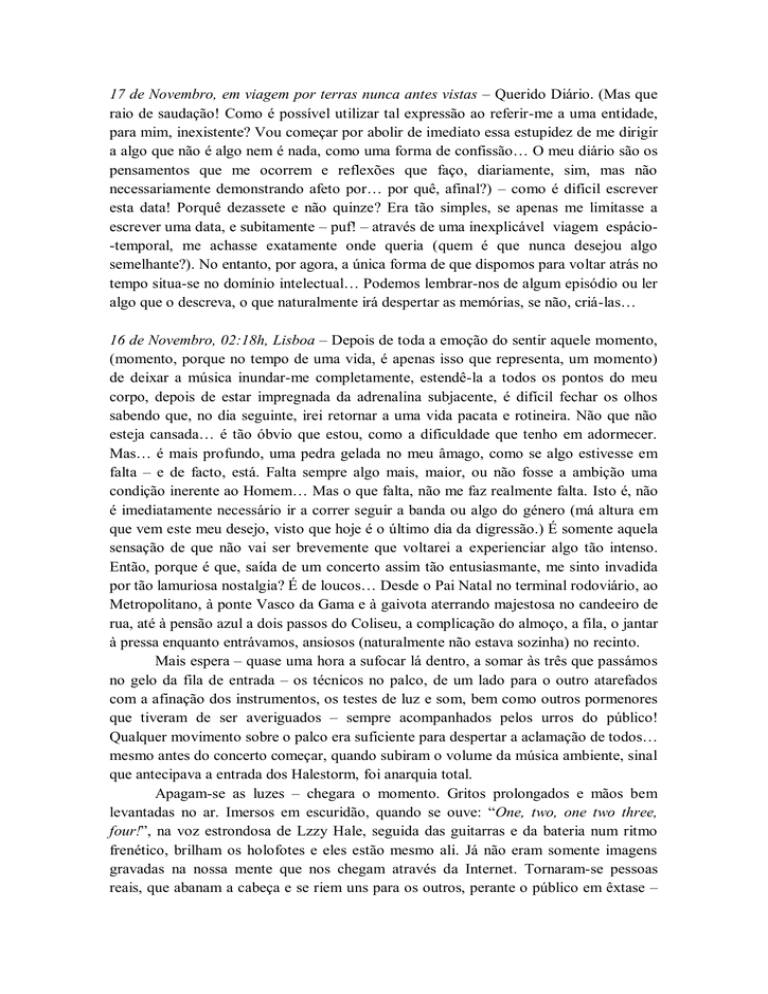
17 de Novembro, em viagem por terras nunca antes vistas – Querido Diário. (Mas que
raio de saudação! Como é possível utilizar tal expressão ao referir-me a uma entidade,
para mim, inexistente? Vou começar por abolir de imediato essa estupidez de me dirigir
a algo que não é algo nem é nada, como uma forma de confissão… O meu diário são os
pensamentos que me ocorrem e reflexões que faço, diariamente, sim, mas não
necessariamente demonstrando afeto por… por quê, afinal?) – como é difícil escrever
esta data! Porquê dezassete e não quinze? Era tão simples, se apenas me limitasse a
escrever uma data, e subitamente – puf! – através de uma inexplicável viagem espácio-temporal, me achasse exatamente onde queria (quem é que nunca desejou algo
semelhante?). No entanto, por agora, a única forma de que dispomos para voltar atrás no
tempo situa-se no domínio intelectual… Podemos lembrar-nos de algum episódio ou ler
algo que o descreva, o que naturalmente irá despertar as memórias, se não, criá-las…
16 de Novembro, 02:18h, Lisboa – Depois de toda a emoção do sentir aquele momento,
(momento, porque no tempo de uma vida, é apenas isso que representa, um momento)
de deixar a música inundar-me completamente, estendê-la a todos os pontos do meu
corpo, depois de estar impregnada da adrenalina subjacente, é difícil fechar os olhos
sabendo que, no dia seguinte, irei retornar a uma vida pacata e rotineira. Não que não
esteja cansada… é tão óbvio que estou, como a dificuldade que tenho em adormecer.
Mas… é mais profundo, uma pedra gelada no meu âmago, como se algo estivesse em
falta – e de facto, está. Falta sempre algo mais, maior, ou não fosse a ambição uma
condição inerente ao Homem… Mas o que falta, não me faz realmente falta. Isto é, não
é imediatamente necessário ir a correr seguir a banda ou algo do género (má altura em
que vem este meu desejo, visto que hoje é o último dia da digressão.) É somente aquela
sensação de que não vai ser brevemente que voltarei a experienciar algo tão intenso.
Então, porque é que, saída de um concerto assim tão entusiasmante, me sinto invadida
por tão lamuriosa nostalgia? É de loucos… Desde o Pai Natal no terminal rodoviário, ao
Metropolitano, à ponte Vasco da Gama e à gaivota aterrando majestosa no candeeiro de
rua, até à pensão azul a dois passos do Coliseu, a complicação do almoço, a fila, o jantar
à pressa enquanto entrávamos, ansiosos (naturalmente não estava sozinha) no recinto.
Mais espera – quase uma hora a sufocar lá dentro, a somar às três que passámos
no gelo da fila de entrada – os técnicos no palco, de um lado para o outro atarefados
com a afinação dos instrumentos, os testes de luz e som, bem como outros pormenores
que tiveram de ser averiguados – sempre acompanhados pelos urros do público!
Qualquer movimento sobre o palco era suficiente para despertar a aclamação de todos…
mesmo antes do concerto começar, quando subiram o volume da música ambiente, sinal
que antecipava a entrada dos Halestorm, foi anarquia total.
Apagam-se as luzes – chegara o momento. Gritos prolongados e mãos bem
levantadas no ar. Imersos em escuridão, quando se ouve: “One, two, one two three,
four!”, na voz estrondosa de Lzzy Hale, seguida das guitarras e da bateria num ritmo
frenético, brilham os holofotes e eles estão mesmo ali. Já não eram somente imagens
gravadas na nossa mente que nos chegam através da Internet. Tornaram-se pessoas
reais, que abanam a cabeça e se riem uns para os outros, perante o público em êxtase –
os gritos quadruplicam e a excitação aumenta, à medida que todo o público é contagiado
– headbang e mãozinha do rock “\m/” por todo lado! É impossível descrever... Mas
quem sou eu para determinar o que é ou não possível? Acaso virei uma deusa sem
saber? Por isso, tentarei!
O baterista dos Halestorm é passado dos carretos. Literal e completamente.
Como é que hei-de explicar… ele conseguiu (sistematicamente, sem nunca parar de
tocar, nem abanar a cabeça, atirando os cabelos num turbilhão loiro de um lado para o
outro) atirar uma baqueta ao ar, uns bons 5 metros, que depois de girar umas boas 10
vezes vem parar, incólume e perfeitamente, à sua mão? Saltar, tirar os pés do chão e do
pedal da bateria, continuando a dar tudo de si, e aterrar no banco de novo, sem arruinar
o andamento da música? Sem falar de todas as vezes que tocava só com uma baqueta,
atirava a outra ao público e esperava que lha enviassem de volta, para a apanhar no ar e
prosseguir com o completo furor! Foram tantas as vezes que tentaram, ele e o público,
que quando conseguiram atingir a coordenação – ah, o nosso deleite e o do baterista
(por entre risos de toda a banda): “O gajo ali na bateria é o meu irmão mais novo!” –
disse a Lzzy. Êxtase. Seguiu-se o solo de bateria. Êxtase. Headbang, headbang,
headbang, coração a bater em sintonia – não me contive e comecei a saltar. É
inacreditável a intensidade de dores de pernas e pés que sentia quando acabava uma
música, uma vez que enquanto as colunas deitavam cá para fora, ou melhor, para dentro
do Coliseu, tudo o que era produzido bem ali no palco, não havia dor que se fizesse
sentir.
Acabou.
Mais tempo de espera entre as duas bandas – aí vêm os Alter Bridge!
Ó minha santa, quantas vozes unidas numa só, abrindo um sorriso nos lábios do
vocalista, quanta gente cantando (o que equivale a dizer berrando a plenos pulmões) as
letras do início ao fim – por acaso reparei num rapaz que sabia as letrinhas todas de
cada música (tenho a impressão de que no final do concerto foi galardoado com uma
palheta). No palco, olhando uns para os outros, com uma expressão como quem diz
“Estes gajos dão-lhe bem!”, estavam Myles Kennedy, Mark Tremonti, Scott Phillips
e Brian Marshall. O vocalista inclinava o microfone para o público e as palavras fluíam
automaticamente da nossa boca. Em acabando uma música, tornou-se ritual gritar: Al-ter Bridge! Al-ter Bridge! Al-ter Bridge!”. Claro que isto se traduziu em “Vocês são
fantásticos!”; ”Estávamos à espera há tanto tempo para vir a este magnífico país,
Portugal” – ao que surge um uivo comum: Por-tu-gal, Por-tu-gal, Por-tu-gal! – “Se nós
voltarmos cá, vocês também vão voltar?”. A resposta era óbvia, fazendo-se ouvir num
clamoroso “yeees!”. Bem, eu ainda lancei um olhar à minha irmã antes de responder
(nem sei porquê, foi algo automático, como que a pedir autorização para dizer que sim,
apesar de ter plena consciência de que a minha resposta não representaria grande
diferença) e, vendo-a a juntar-se ao “yees”, ato a minha voz ao sentimento comum.
Penso agora nessa resposta afirmativa como numa espécie de promessa (até já sinto um
laivo de esperança) – afinal nem tudo está perdido. É natural que os artistas elogiem os
seus espetadores em todos os locais em que atuam, mas gosto de pensar que, não apenas
pela nossa resposta, em geral, mas também por ter sido o último concerto da digressão,
que, no fundo, estavam a agradecer a todos os fãs para quem haviam tocado.
Nem todas as músicas têm sentido definido. Conheço muitas, que, para além de
contraditórias, debruçam-se sobre temas tão fúteis, tão ridículos, que não consigo
perceber como é que algumas pessoas ouvem aquilo. Para mim, já que gostos não se
discutem, as músicas dos Alter Bridge possuem um significado muito próprio. E se já
ouvindo os álbuns, em casa, no autocarro, na escola, onde quer que seja, tento
mergulhar completamente no significado de cada faixa, num concerto nem se questiona.
Éramos uma inteira comunidade, em uníssono, quase admitindo um compromisso: “I
want to rise today, and change this world.”: Eu quero levantar-me, hoje, e mudar este
mundo. Uma frase, uma promessa, uma ideologia, que integra o sentimento comum de
quem desprezou todas as horas mal passadas, não simplesmente para ver um artista ao
vivo, mas sim para aproveitar de todas as formas a sua vinda.
Acabou.
De vez.
Bem, todos temos as nossas fantasias. No entanto, perdoa-me pela minha,
porque eu sei que é completamente ridícula: houve certa altura em que comecei a fazer
um sorriso desviado, gradualmente, enquanto fitava o Myles Kennedy; e como nessa
altura não havia braços, nem cabeças, nem telemóveis, nem mãozinhas do rock à minha
frente, conseguia vê-lo mesmo bem. Embora não descortinasse para onde ele olhava,
devido às sombras sobre os seus olhos, definitivamente estava voltado na minha
direção… É aí que, à medida que construo esse sorriso, ele também faz um, qual
espelho do meu. Ligeiramente abanando a cabeça e tal, sentindo a música. Assim me
pareceu… torna-se cada vez menos nítido, quanto mais tento desenterrar a imagem. Por
isso, suponho que, por agora, mais vale deixá-la bem enterrada. Quanto mais
profundamente, melhor.
17 de Novembro, 23:10h, em casa – E aqui estou. De volta a casa e aos meus,
superando a melancolia… quando me vir rodeada de exercícios de matemática do arco
da velha que nesta altura já deveria saber resolver com facilidade, sabendo que o teste
de avaliação é dentro de 5 dias, aí é que vão ser elas. Hum… amanhã, quando regressar
a casa, depois de ouvir Alter Bridge (no autocarro, não num certo Coliseu, com fones de
ouvido separando-me do mundo exterior e não uma parede de betão – bendito quem
inventou o mp3!) talvez estude. Ou não. Ainda tenho de copiar para o computador, se a
sua lentidão se dignar a assim mo permitir, as fotografias e vídeos que tive a
oportunidade de capturar, e juntá-las com as da minha irmã. Trocado por miúdos:
facebook e youtube – que linda perspetiva!
Isabel Gonçalves – 10.º B