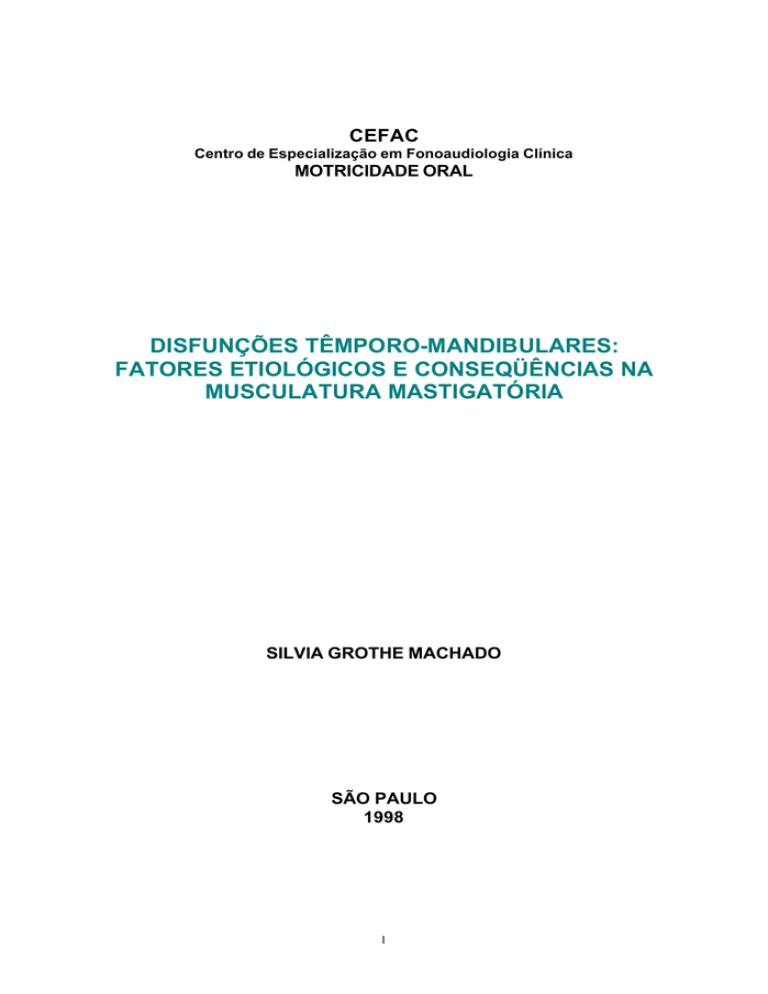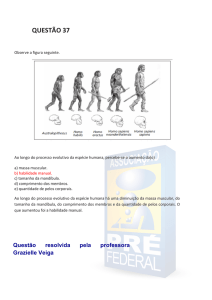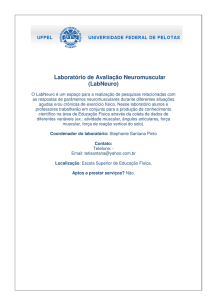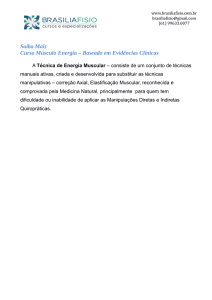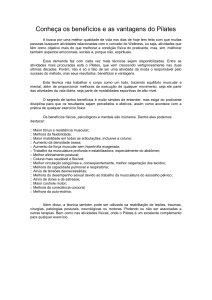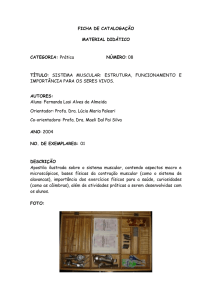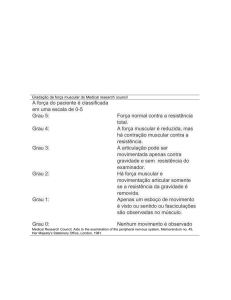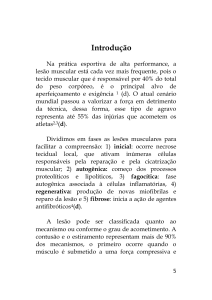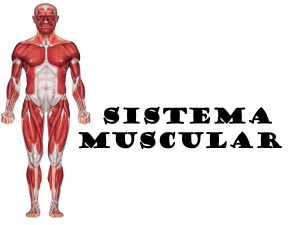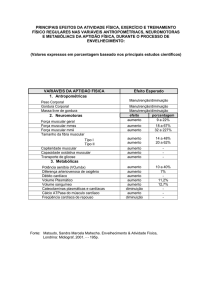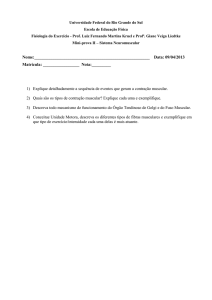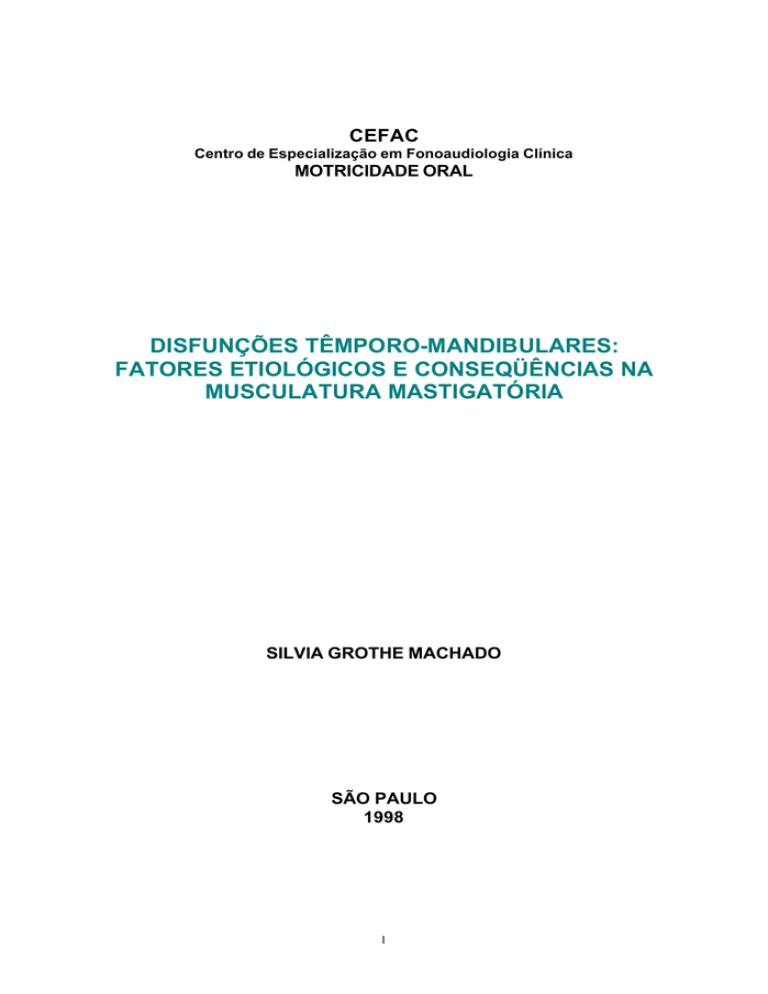
CEFAC
Centro de Especialização em Fonoaudiologia Clínica
MOTRICIDADE ORAL
DISFUNÇÕES TÊMPORO-MANDIBULARES:
FATORES ETIOLÓGICOS E CONSEQÜÊNCIAS NA
MUSCULATURA MASTIGATÓRIA
SILVIA GROTHE MACHADO
SÃO PAULO
1998
1
CEFAC
Centro de Especialização em Fonoaudiologia Clínica
MOTRICIDADE ORAL
DISFUNÇÕES TÊMPORO-MANDIBULARES:
Fatores etiológicos e conseqüências na
musculatura mastigatória
Monografia de conclusão do curso de
especialização em Motricidade Oral
Orientadora: Mirian Goldenberg
SILVIA GROTHE MACHADO
SÃO PAULO
1998
2
Resumo
Com o objetivo de abordar determinados fatores que permeiam a
síndrome da dor e disfunção miofacial, principalmente os fatores etiológicos
e as conseqüências na musculatura mastigatória, me propus a realizar uma
investigação teórica acerca deste assunto.
No que diz respeito à etiologia, a grande maioria dos autores
consultados apresenta opiniões similares referindo-se a ela como sendo de
ordem multifacetada, abrangendo aspectos tanto emocionais quanto físicos.
Entretanto, uma grande ênfase foi dada às parafunções orais como fatores
desencadeantes da disfunção em questão.
A mesma semelhança de opiniões entre os autores foi observada no
que tange a abordagem terapêutica, sendo praticamente unânime a idéia de
se adotar uma conduta clínica multidisciplinar devido à multideterminação do
problema.
Em contrapartida, com relação às conseqüências na musculatura
mastigatória, foram encontradas algumas divergências nos achados clínicos.
Por este motivo, a maioria dos autores consultados acredita na necessidade
de uma constante pesquisa na área.
3
Summary
With the purpose of approaching some factors that permeates the
myofascial pain-dysfunction syndrome, specially the etiological factors and
the consequences in the masticatory muscles, I decided to develop a
theorical investigation around this subject.
Regarding the etiology, nowadays, most of the consulted authors
present similar opinions about it, refering to the subject as something with
many facets, including aspects both emotional and physical. However, a
great emphasis has been given to oral parafunction activities as being the
factors that cause the refered dysfunction.
There is also a great similarity of opinions between the authors
regarding the therapeutic approach, being almost unanimous in the idea of
using a multidisciplinary clinical action due to the multidetermination of the
problem.
Meanwhile, about the consequences in the masticatory muscles,
some divergences around clinical findings have been found. For this reason,
most of the consulted authors believe in the necessity of a constant research
about the subject.
4
Sumário
1 - Introdução_______________________________________________
6
2 - Anatomia ________________________________________________ 9
3 - Miologia Mastigatória_______________________________________ 12
4-Anatomia e Fisiologia da Articulação Têmporo-Mandibular___________ 16
5- Discussão Teórica__________________________________________ 20
5.1 - Parafunções e Desordens Têmporo-Mandibulares______________
27
5.2 - Fatores Oclusais e Musculares _____________________________ 35
5.3 - Tratamento ____________________________________________
49
5.3.1 - Abordagem Fonoaudiológica _____________________________
54
6 - Considerações Finais _____________________________________
63
7 - Referências Bibliográficas __________________________________
66
5
1 - Introdução
Há aproximadamente trinta anos, trabalhos na área mioterápica vêm
sendo realizados por fonoaudiólogos. Entretanto, observa-se ainda em
pequeno grau a procura de atendimento fonoaudiológico por pacientes com
queixas de alterações do sistema motor oral, associadas às disfunções
têmporo-mandibulares.
Provavelmente esta procura esteja ocorrendo em função de uma
maior conscientização de alguns profissionais sobre a importância da
intervenção multidisciplinar, visando condutas coerentes e integradas para a
efetivação do trabalho a ser desenvolvido, uma vez que as alterações acima
citadas envolvem mais de um campo científico.
Contudo, pelo fato de ter contato com alguns odontólogos, cuja
atuação está diretamente direcionada à estes paciente, tenho observado
que na grande maioria dos casos um parecer fonoaudiológico não chega a
ser solicitado.
Ao conversar com alguns pacientes da clínica onde atuo e obter
informações dos dentistas responsáveis pelos pacientes em questão, pude
observar a freqüente queixa relacionada aos músculos mastigatórios. A
partir desse momento, tenho questionado-me
sobre a relação entre os
fatores envolvidos na disfunção referida e o campo de atuação
fonoaudiológica.
Assim, o conhecimento sobre os fatores etiológicos, os sintomas e
as abordagens terapêuticas referentes às influências das disfunções
6
têmporo-mandibulares na musculatura mastigatória, motivou a realização do
presente trabalho que está centrado na revisão literária que abrange tais
aspectos.
Neste estudo, irei abordar em um primeiro momento a anatomia orofacial, focalizando a musculatura mastigatória, a anatomia e fisiologia da
articulação têmporo-mandibular. Em seguida, será realizada uma discussão
teórica sobre os fatores etiológicos e as conseqüências encontradas tanto
nos músculos da mastigação quanto em outras partes do sistema
estomatognático. Por fim, a abordagem estará em torno dos processos
relacionados às intervenções terapêuticas da disfunção apresentada, sendo
que a área fonoaudiológica será mais evidenciada.
Considero que este estudo seja relevante à ciência fonoaudiológica,
uma vez que o fonoaudiólogo é um dos profissionais responsáveis pela
reabilitação oral do paciente. Assim sendo, cabe muitas vezes a ele intervir
nas alterações do sistema estomatognático e, portanto, nos músculos da
mastigação.
Acredito que a relevância deste trabalho estenda-se também aos
demais
profissionais
que
atuam
nas
referidas
alterações
e
consequentemente aos pacientes que, por sua vez, são submetidos a
tratamentos relacionados a essa área motora.
Como em qualquer outra forma de intervenção fonoaudiológica, é
fundamental o amplo conhecimento da área a ser abordada para que o êxito
terapêutico tenha maior probabilidade de ocorrer, evitando condutas
inadequadas e prejudiciais ao paciente.
7
Considerando os fatores abordados, é indiscutível que quanto mais
e melhor informado estiver o profissional em questão, maior será o benefício
para todas as partes envolvidas no processo.
8
2 - Anatomia
Devido ao intuito deste trabalho estar relacionado ao estudo das
influências
das
desordens
têmporo-mandibulares
na
musculatura
mastigatória, a abordagem anatômica das partes envolvidas torna-se de
importante para o entendimento da relação existente entre as áreas
afetadas. De acordo com Sicher e Tandler (1981), Erhart (1987) e Medeiros
(1991) tal abordagem é descrita da seguinte forma:
A anatomia da cabeça abrange a do esqueleto cefálico e a das
partes moles que nele encontram-se. No esqueleto cefálico distinguem-se
duas regiões: o crânio e a face, cujos limites entre elas não são muito
nítidos.
Os ossos estabelecem conexão entre si através de articulações que,
de acordo com a conformação e o aspecto estrutural, agrupam-se em
articulações fibrosas, cartilaginosas, ou sinoviais.
Exceto a articulação da mandíbula com o osso temporal, a união
entre os ossos ocorre ou por sincondrose, que é a interposição de
substância cartilaginosa, ou por sindesmose, que significa a interposição de
tecido conjuntivo no crânio.
A articulação da mandíbula com o osso temporal pertence ao tipo
sinovial de articulação e recebe o nome de Articulação Têmporo-Mandibular
(ATM).
9
As articulações sinoviais possuem, geralmente, grande mobilidade e
apresentam elementos constituintes: cápsula, cavidade e superfícies
articulares que as caracterizam.
O sistema muscular, considerado parte mole, é constituído por
órgãos ativos do movimento denominados músculos e órgãos anexos. Os
músculos cutâneos e os esqueléticos compreendem os músculos da cabeça
e do pescoço.
A musculatura cutânea da cabeça é representada pelos músculos
mímicos que localizam-se logo abaixo da pele e apresentam inserção de
uma das extremidades na face profunda da mesma, desencadeando sua
movimentação.
Dentre os vários músculos esqueléticos da cabeça, encontram-se
os músculos da mandíbula, mais comumente denominados músculos
mastigatórios. Alguns autores apontam como mastigatórios um grupo de
apenas quatro músculos, sendo eles o masséter, temporal, pterigóideo
medial e pterigóideo lateral. Entretanto, devido aos músculos mandibulares
serem
estudados
durante
a
função
mastigatória,
autores
como
Marchesan(1993) têm considerado como mastigatórios, não apenas o grupo
de músculos acima citados, mas também outros que desempenham papel
fundamental na função em questão. A miologia mastigatória é determinada,
então, tanto pelos músculos elevadores ou levantadores da mandíbula como
pelos abaixadores desta estrutura.
O grupo de músculos elevadores da mandíbula é composto pelo
músculo temporal, masséter e pterigóideo medial, enquanto que o grupo
10
muscular responsável pela depressão mandibular é constituído pelo músculo
pterigóideo lateral, o digástrico, o geni- hióideo e o milo- hióideo.
Cabe ressaltar que, além desta musculatura específica para o
desempenho da função mastigatória, contamos ainda com a participação de
um grupo de músculos auxiliares da mastigação, formado pelo músculo
bucinador, o orbicular dos lábios, o zigomático maior e o zigomático menor,
que participam ativamente da função estomatognática referida.
11
3 - Miologia Mastigatória
A anatomia da musculatura mastigatória é abordada de maneira
semelhante por inúmeros autores como Moore (1985), Sicher e Tandler
(1991) e Medeiros (1991).
Músculo Temporal
Com um formato triangular semelhante ao de um leque, é composto
por fibras musculares que têm origem na fáscia e soalho da fossa temporal.
Estas fibras convergem em direção ao espaço situado medialmente ao arco
zigomático, onde o músculo atinge sua espessura maior, e atravessam este
espaço para terminar na mandíbula.
A inserção do músculo é feita por duas porções tendinosas
separadas entre si. A porção superficial insere-se na borda da apófise
coronóide e o tendão profundo insere-se na face medial da apófise
coronóide, numa zona que se estende de seu ápice até abaixo da crista
temporal.
A ação principal deste músculo é a de elevar a mandíbula, porém
também participa da retrusão e lateralização da mesma.
Músculo Masséter
Constitui uma
massa quadrangular na qual reconhecem-se duas
porções, uma superficial e outra profunda.
As fibras da porção superficial dirigem-se de cima para baixo e de
diante para trás. As da porção profunda têm direção quase vertical,
desviando-se às vezes um pouco para diante e para baixo.
12
Sua origem ocorre no arco zigomático, sendo que a porção
superficial origina-se nos dois terços anteriores da borda inferior deste arco e
a porção profunda tem origem em todo o arco zigomático.
A zona de inserção do masséter compreende a superfície lateral do
ramo mandibular, até chegar superiormente na apófise coronóide.
Embora este músculo tenha como ação principal a elevação da
mandíbula, ele também contribui significativamente para a projeção
e
lateralização desta estrutura.
Músculo Pterigóideo Medial ou Interno
É um músculo quadrilátero espesso, que apresenta duas cabeças de
origem e situa-se profundamente no ramo mandibular.
A cabeça superficial tem origem na tuberosidade maxilar, enquanto
que a cabeça profunda, representante da maior parte deste músculo,
origina-se na face medial da lâmina lateral do processo pterigóide.
A inserção desta musculatura ocorre na face medial da mandíbula,
nas proximidades do ângulo.
A principal ação deste músculo é a elevação mandibular porém, ele
participa também do movimento de sua protrusão e lateralização, com a
boca fechada.
Músculo Pterigóideo Lateral ou Externo
Insere-se no crânio através de
duas cabeças e termina na
articulação têmporo-mandibular na fossa pterigóidea, no colo da mandíbula.
Segue uma direção médio-lateral e ântero-posterior.
13
O feixe superior, menor, insere-se na face infratemporal da asa
maior do osso esfenóide, dirigindo-se até a crista esfenotemporal.
O feixe inferior, por sua vez, insere-se na face lateral da lâmina
lateral da apófise pterigóide, deixando livre apenas uma faixa estreita da
mesma, situada atrás da sutura pterigomaxilar.
A inserção terminal do músculo faz-se na borda anterior do menisco
interarticular, na parte anterior da cápsula da articulação têmporomandibular e na fossa pterigoidéia da mandíbula que se encontra situada
logo abaixo dos dois terços laterais do côndilo.
Este músculo age mediante contração unilateral do lado ativo e
relaxamento do lado passivo, na depressão, projeção e lateralização
mandibular.
Digástrico
É dividido em dois ventres por um tendão intermediário.
O ventre posterior origina-se na incisura mastóidea do osso
temporal e/ou da face medial da apófise mastóide, dirigindo-se obliquamente
para baixo e para diante.
O ventre anterior do músculo, grosso em sua porção lateral e
achatado de cima para baixo na parte próxima da linha média, tem origem
na fossa digástrica da mandíbula junto à sínfise.
Este músculo age na depressão e retropulsão da mandíbula.
Geni- Hióideo
Este músculo dirige-se desde o mento até o corpo do osso hióide.
Sua zona de origem situa-se acima da extremidade anterior da linha milo-
14
hioidéia, juntamente à espinha mentoniana, na chamada apófise genisuperior. À medida que se dirige para o osso hióide, alarga-se e achata-se
simultaneamente. Termina na metade anterior da face anterior do hióide,
sendo que as suas inserções estendem-se pela parte inicial do corno maior
deste mesmo osso.
O geni-hióideo é um músculo depressor e retropulsor da mandíbula,
além de dirigir o osso hióide para diante.
Milo- Hióideo
Também chamado diafragma bucal, forma com o do lado oposto
uma lâmina muscular ampla, convexa para baixo, fechando inferiormente o
soalho da boca até uma extensão bem posterior. A lâmina muscular é mais
delgada anteriormente que posteriormente.
A zona de origem deste músculo ocupa toda a linha milo-hioidéia,
estendendo-se desde a parte compreendida entre a região alveolar do
terceiro molar e da face medial do mento, até a mesma região do lado
oposto.
As fibras mais posteriores do músculo descem com direção medial e
vão inserir-se, por meio de fibrilas tendinosas, na superfície anterior do corpo
do hióide. As fibras restantes estão dispostas cada vez menos obliquamente,
confluindo com as do lado oposto em uma lâmina tendinosa denominada
rafe milo-hioidéia.
Este músculo deprime a mandíbula quando o osso hióide está fixo,
além de puxá-lo para cima favorecendo a deglutição.
15
4 - Anatomia e Fisiologia da Articulação Têmporo-Mandibular
A articulação têmporo-mandibular é a única do esqueleto cefálico
classificada como uma articulação sinovial, bilateral e triaxial, ou seja, é
capaz de realizar movimentos em torno de três eixos. Como toda articulação
sinovial, apresenta corpos articulares recobertos de cartilagem, membrana
sinovial e cavidade articular.
É composta pelo tubérculo articular do temporal, a cabeça ou côndilo
da mandíbula e o disco articular.
O tubérculo articular é uma saliência óssea, alongada com raio
variável entre 5 e 15 milímetros que se dirige paralelamente à fossa
mandibular, que é a porção côncava posterior da superfície articular do
temporal. É bastante convexo no sentido sagital e ligeiramente côncavo no
transversal. Lateralmente continua-se com a raíz lateral do zigoma e sua
cobertura é formada de fibrocartilagem.
A cabeça ou côndilo da mandíbula apresenta-se em par e
representa a superfície articular, encontrando-se bilateralmente no extremo
superior do bordo parotídeo do ramo da mandíbula. O côndilo é um ovóide
ósseo de aproximadamente dois centímetros de largura e meio centímetro
de espessura, cujo eixo longitudinal forma com o lado oposto um ângulo de
150 à 160 graus, com ápice voltado para trás e convexo nos sentidos sagital
e frontal.
Embora toda a parte delimitada do côndilo mandibular encontre-se
intracapsularmente, somente a vertente anterior é realmente articular, uma
16
vez que apenas ela contacta com a parede anterior da cavidade articular.
Dessa forma, é a única região recoberta de fibrocartilagem, sendo que a
zona situada atrás dela possui apenas um invólucro de simples tecido
conjuntivo.
O disco ou menisco articular é uma placa elíptica fibrocartilaginosa
considerada de difícil regeneração. A região anterior corresponde ao
tubérculo temporal, a posterior relaciona-se com a cavidade articular e a face
inferior adapta-se à cabeça mandibular. Pode suportar de um a dois
quilogramas de pressão. Na porção posterior a espessura varia de 4 a 5 mm
e na anterior de 3 a 4 mm e dá inserção a feixes do músculo pterigóideo
lateral.
A articulação têmporo-mandibular é circundada por uma membrana
fibrosa e frouxa denominada cápsula articular. Estende-se entre a superfície
articular superior e o colo da mandíbula, fusionando-se anularmente com o
disco articular.
A base da cápsula insere-se anteriormente na vertente do côndilo
temporal, posteriormente no lábio anterior da fissura petrotimpânica,
medialmente na base da espinha do esfenóide e lateralmente no tubérculo
anterior e na raíz longitudinal.
O vértice da cápsula, por sua vez, apresenta circunferência oblíqua,
para baixo e para trás, encontrando-se fixada no contorno da superfície
articular.
17
A cápsula não existe na face ântero-medial, uma vez que nesta
região ocorre a fusão das fibras tendinosas do músculo pterigóideo lateral
com as fibras do disco articular. A cápsula articular é revestida na sua face
interna por uma membrana conjuntiva e delgada denominada membrana
sinovial, a qual secreta líquido sinovial ou sinóvia visando a redução do atrito
entre as superfícies articulares.
Nesta articulação também são encontrados ligamentos que estão
intimamente ligados à cápsula articular, sendo que certas regiões da cápsula
são mais espessas para garantir maior reforço ao sistema ligamentar,
composto pelo ligamento lateral externo, lateral interno e posterior.
A inervação da articulação têmporo-mandibular é realizada pelos
nervos aurículo-temporal e masseterino, ambos pertencentes ao ramo
mandibular do nervo trigêmio e a irrigação é feita por ramos das artérias
temporal superficial, timpânica, meníngea média, auricular posterior, palatina
ascendente e faríngea superior.
Jankelson (1990) explica que a articulação têmporo-mandibular
movimenta-se através da ação da musculatura mastigatória e dos músculos
supra-hióideos
apresentando
movimento
de
rotação,
translação
e
associação dos mesmos.
No início da abertura bucal o côndilo apresenta movimento de
rotação em função da contração da musculatura depressora da mandíbula e
relaxamento da elevadora, sendo que no final da abertura ele translada
anteriormente.
18
No fechamento bucal, os depressores da mandíbula e pterigóideo
lateral inferior relaxam-se e os músculos temporais entram em contração
levando a mandíbula para trás. Assim, o côndilo é puxado para cima
colocando-se contra a eminência articular e o disco apresenta um
movimento de rotação para frente do côndilo.
Os movimentos da articulação têmporo-mandibular são limitados
pela ação de ligamentos, visando a proteção dos tecidos moles, da placa
timpânica e o impedimento de deslocamento do côndilo para fora da
eminência articular.
O sistema ligamentar é constituído pelo ligamento capsular, pelos
colaterais( laterais e mediais), o temporomandibular, esfenomandibular e
estilomandibular.
19
5 - Discussão Teórica
Através de revisão na literatura, observa-se que a região orofacial
pode ser afetada
por várias condições motoras e sensoriais. Clark e
Takeuchi (1995) as agrupam em três blocos, sendo o primeiro composto
pelas desordens têmporo-mandibulares, o segundo pelas condições da dor
orofacial crônica
e o último pelas desordens motoras orais. Embora os
demais autores não realizem a mesma divisão didática, o conteúdo de seus
trabalhos aborda as mesmas condições acima citadas.
É claramente evidenciado na literatura que a articulação têmporomandibular pode ser afetada por vários fatores. Entretanto, dependendo do
autor tais fatores são referidos como disfunções, desordens ou distúrbios.
Medeiros (1991) os classifica em seis grupos de distúrbios.
O primeiro é o grupo dos distúrbios do desenvolvimento da
articulação têmporo-mandibular, no qual encontram-se a aplasia, a
hipoplasia e a hiperplasia do côndilo mandibular.
O segundo refere-se aos distúrbios traumáticos da articulação
têmporo-mandibular, no qual encontram-se a sub-luxação, a luxação, a
anquilose, as lesões do disco articular e as fraturas do côndilo da mandíbula.
No terceiro grupo estão os distúrbios inflamatórios da articulação
têmporo-mandibular, ou seja, a artrite infecciosa, a artrite reumatóide a
osteoartrite e a artrite traumática.
20
O quarto grupo é composto pelos distúrbios neoplásicos da
articulação têmporo-mandibular e o quinto grupo pelos distúrbios extraarticulares desta articulação.
No sexto grupo situa-se a síndrome da dor e disfunção miofacial.
O presente trabalho tem por objetivo concentrar-se neste último
grupo. Contudo, na literatura grande parte dos autores ainda referem-se à
esta síndrome utilizando a denominação
ampla de desordens têmporo-
mandibulares. As demais desordens, quando referidas, são especificamente
nomeadas.
Devido ao fato de a maioria dos autores consultados utilizarem o
termo desordens têmporo-mandibulares ao abordarem a síndrome acima
citada, optou-se por ainda utilizar esta mesma nomenclatura mesmo tendo
conhecimento de que em estudos mais recentes a mesma vem sendo
substituída.
A terminologia desordem têmporo-mandibular é adotada pela
American Dental Association para referência da desordem quando há dor na
região pré-auricular, nos músculos mastigatórios ou na articulação têmporomandibular, ruídos nesta articulação durante o funcionamento da mandíbula,
limitações ou desvios nos movimentos mandibulares de extensão.
Fricton e Schiffman (1995) explicam que os problemas têmporomandibulares são geralmente vistos como desordens multifacetadas e de
etiologia variada. Segundo estes autores , em parte isto ocorre porque os
problemas têmporo-mandibulares envolvem algumas possíveis desordens
do sistema mastigatório, geralmente relacionadas com o funcionamento
21
propriamente dito dos músculos da mastigação e o funcionamento da
articulação têmporo-mandibular.
Turk, Thomas e Zaki (1995) salientam que desde a identificação
destes problemas, na década de trinta, dois modelos etiológicos têm sido
propostos como base para a classificação de subgrupos de indivíduos que
apresentam alterações desta ordem.
O primeiro modelo está relacionado à causa miogênica, ou seja,
relaciona-se ao aspecto muscular. Geralmente, ele é subdividido em
atividade muscular causada por influências psicológicas, como o estresse, e
alterações musculares associadas com os hábitos parafuncionais.
O segundo modelo etiológico , por sua vez, relaciona-se à causa
artrogênica, relativa às
articulações e
subdivide-se em anormalidades
estruturais específicas.
Embora
as
desordens
têmporo-mandibulares
estejam
sendo
referidas por mais de seis década, ainda não se chegou ao consenso do que
constitui este quadro clinicamente significativo.
Decker et al (1995) abordam este assunto categorizando os sinais e
sintomas à ele relacionados. Os autores citam como os sinais mais comuns
das desordens têmporo-mandibulares, o ruído articular, a fragilidade
muscular e articular, a dor, a limitação e o desvio do movimento mandibular.
Os sintomas mais comuns, por sua vez, incluem a dor facial, a dor
de cabeça, ouvido e pescoço, ruídos na articulação e dificuldade na
execução das funções mandibulares.
22
Com relação a estes fatores apontados acima, Turk et al (1995)
ressaltam que a tentativa de diferenciar pacientes com desordens têmporomandibulares dos não portadores de tal acometimento, simplesmente pela
quantidade de sintomas e os sinais, como foi realizado por determinado
tempo, não se traduz em uma prática efetiva. Para os autores, o grupo
clínico e o de controle são diferenciados, em suas práticas clínicas, ao
reportarem dor, dor em resposta à palpação muscular, restrição da
amplitude vertical durante o movimento mandibular e estalo articular, sendo
válido salientar que este último não se encontra presente na maioria dos
indivíduos que procuram tratamento para as desordens têmporo-articulares
relacionadas à dor.
Clark
e
Takeuchi
(1995)
complementam
estas
abordagens
explicando que com relação às desordens em questão, pode-se encontrar
a mialgia que significa dor insípida, contínua e que aumenta com a função,
podendo ocorrer como resultado de trauma no tecido muscular, hábitos de
forte fechamento mandibular como bruxismo ou apertamento dentário e
infecção ou dano do tecido articular.
Em vários estudos, o estresse, a ansiedade, o trauma, os hábitos e
as atividades motoras durante o sono são sugeridos como fatores
iniciadores do processo de mialgia. Levy et al (1990) abordam estes
mesmos fatores, mas complementam com a fraqueza muscular congênita
acentuada por contrações máximas repetidas, uso contínuo da musculatura,
uso incompatível da musculatura e seus tendões no limite da integridade
estrutural.
23
Esses autores alertam para o fato de que quando a mialgia é
localizada, denomina-se dor miofacial. Entretanto, o uso de tal denominação
somente se faz possível desde que algumas características estejam
presentes, como por exemplo bandas frágeis de palpação local no músculo
e pontos de gatilho no interior dessas bandas, com dor referida aos tecidos
vizinhos. Quando a dor encontra-se mais generalizada é denominada
fibromialgia.
Após alguns anos, concordando com estes autores, Jaeger (1995)
também aponta para a queixa da presença da dor, que pode ser localizada
em qualquer região, não apenas nos músculos ou ao redor deles e que é
referida a partir de pontos localizados de fragilidade, também conhecidos
como pontos de gatilhos, encontrados nas bandas tensas da musculatura
esquelética.
Utilizando-se da denominação de Síndrome da Dor Miofacial,
Thornhill (1996) a caracteriza por dor crônica pré-auricular e, assim como
Clark e Takeuchi (1995), aponta para a fragilidade que envolve a
musculatura mastigatória, além de salientar que a causa é geralmente
multifacetada e pobremente definida.
Skootsky et al (1989) já haviam apontado para o fato de que a dor
miofacial tem sido documentada como a causa mais comum das dores na
região da cabeça e pescoço.
Essa dor orofacial é também abordada por Graff-Radford (1995) e,
segundo este autor, ela pode ser subdividida em duas grandes categorias. A
primeira é caracterizada por dor aguda e a segunda por dor crônica.
24
Na categoria da dor aguda, tal sensação caracteriza-se por curta
duração, presença de uma patologia evidenciada, geralmente considerada
de tratamento fácil e de mínimas inabilidades envolvidas.
A dor crônica, entretanto, é caracterizada por períodos de longa
duração (superior à seis meses), geralmente a patologia é pobremente
definida, existência de relatos sobre tratamentos fracassados e significativa
inabilidade oral.
Para o autor, quando se trata desta última categoria, torna-se
fundamental a existência de uma abordagem multidisciplinar.
Com relação aos aspectos etiológicos, vários estudos têm
demonstrado que hábitos orais como o apertamento dentário e o bruxismo
têm sido considerados como os grandes fatores desencadeantes destas
desordens têmporo-mandibulares e das situações de dor. Isto já havia sido
apontado por Browne , Clark e Koyano (1993) ao afirmarem que, embora
existam várias desordens motoras que afetam a musculatura orofacial,
esses dois fatores vêm merecendo destaque na literatura no que tange aos
aspectos desencadeantes das duas situações referidas.
Estas referências vêm de encontro com as observações de Fricton e
Schiffman (1995). Os mesmos descrevem que os hábitos parafuncionais têm
sido
freqüentemente analisados como possíveis fatores etiológicos da
síndrome da dor e disfunção miofacial.
Em alguns estudos, vem sendo observada a prevalência da
associação de tais hábitos com os sinais e sintomas das referidas
25
disfunções, sendo que em outros a associação entre o apertamento dentário
e dores de cabeça relatadas pelos pacientes é abordada.
Ainda Fricton e Schiffman (1995) complementam
expondo que,
quando determinados hábitos são induzidos experimentalmente, podem
causar dor semelhante àquela relatada por pacientes com as desordens em
questão. Contudo, apontam para o fato de que nenhuma relação causal,
demonstrando que hábitos parafuncionais são causadores de desordens
têmporo-mandibulares, tem sido estabelecida por estudos longitudinais.
26
5.1 - Parafunções e Desordens Têmporo-Mandibulares
Browne, Clark e Koyano (1993) explicam que a atividade motora de
baixa intensidade e involuntária da mandíbula durante o sono é considerada
como um comportamento fisiológico e, portanto, normal.
As funções deste processo são as de manter a passagem do ar e
garantir a deglutição do excesso de saliva ou da secreção nasal acumulada
na orofaringe durante o período de sono.
Entretanto, quando a atividade motora ocorre com grande freqüência
ou grande intensidade, podem ocorrer danos nas fibras musculares e tornálas doloridas. Para estes autores, o bruxismo, então, pode ser considerado
sempre que ocorrer contração muscular forte, freqüente e rítmica que resulte
em movimento de esmagamento dos dentes.
Geralmente, os indivíduos apresentam movimentos rítmicos da
mandíbula em ambos os lados, porém é possível encontrar aqueles que
apresentam apenas o apertamento dentário sem movimentação, mas tão
danoso quanto a atividade com o movimento.
Helkimo (1974) relata que o bruxismo engloba várias atividades orais
como o contato dentário, a rigidez mandibular e a pressão lingual.
Os estudos nesta área continuam e a definição de tal parafunção vai
modificando-se. Glaros (1981) faz sua definição com base em relatos de
pacientes sobre alguma possível alteração sendo que ao longo do tempo,
chegou a ser descrita, por exemplo, simplesmente pelas evidências
deixadas nas facetas dentárias.
27
Embora não se tenha chegado à um consenso, outros autores
discutem, em alguns estudos, se a presença
ou ausência de dor na
musculatura mastigatória deve ser considerada como um aspecto importante
para a definição da parafunção em questão.
Mais recentemente, Lavigne et al (1992), considerando
algumas
destas observações acima citadas, definem esta parafunção ressaltando a
presença de um freqüente rangimento ou apertamento dentário durante o
sono por pelo menos seis meses de duração, podendo existir ruídos
associados, alterações dentárias, freqüente rigidez nos músculos da
mastigação durante a manhã, fadiga ou desconforto e hipertrofia do músculo
masséter.
No encontro da Associação Americana de Dor Orofacial em 1993,
Hathaway e Lavigne sugerem, como definição de bruxismo, a contração
ritmada e mantida dos músculos da mastigação, acompanhada pelo contato
dentário.
Os efeitos danosos causados nos indivíduos com tal parafunção,
são abordados por Rompré et al (1992) ao citarem a tensão ocorrida nas
estruturas
envolvidas
na
atividade
mastigatória,
principalmente
nas
articulações têmporo-mandibulares e nos músculos da mastigação.
Hathaway (1995) complementa tais observações apontando para as
possíveis alterações no aspecto dentário e os danos nas estruturas
periodontais.
Indo de encontro à essas colocações, Medeiros (1991) atenta para o
fato de que o apertamento dentário interfere na harmonia do sistema
28
estomatognático, pois apresenta ação direta nas estruturas que compõe este
sistema. Segundo este autor, o músculo masséter geralmente encontra-se
em hiperatividade sendo possível levar à alterações peiodontais e até
mesmo à uma mobilidade dentária. Contrações excessivas de língua e
lábios são freqüentemente observadas e também podem levar à abalos no
periodonto, bem como gerar desconforto na região bucal. Nos tecidos
periodontais pode-se encontrar, como seqüela do apertamento dentário,
uma hiperatividade compensatória das estruturas do periodonto. Nos dentes,
a ação deste hábito parafuncional é bastante evidenciada por desgastes,
presença de hipersensibilidade pulpar, periodontite, mobilidade e abrasão
dentária, além da perda da dimensão vertical.
Lund (1995) relata ser provável que a dor originada pelo bruxismo
seja causada por uma irritação muscular que ocorre após um exercício ou
fadiga. Segundo ele, vários pacientes relatam que ao acordarem, os
músculos da mastigação ou mandibulares encontram-se doloridos, mas que
tal sensação vai sendo amenizada com o passar do dia.
É válido destacar que tal fato pode ser apenas considerado como
uma
simples
fadiga
muscular.
Contudo,
existem
pacientes
que
esporadicamente apresentam episódios de bruxismo quando suas vidas
tornam-se estressantes e, neste caso, a dor inicia-se aproximadamente no
mesmo momento em que ocorre aumento da atividade eletromiográfica
noturna e ultrapassa o período da exercitação excessiva, podendo durar um
dia ou mais.
29
Contribuindo, Lavigne, Lund e Dao (1994) relatam que a maioria dos
indivíduos com bruxismo ou apertamento dentário seguidos de dor, referem
que esta última apresenta considerável piora pela manhã, sendo minimizada
durante o decorrer do dia. Dessa forma, os autores comparam a dor
experienciada por estes indivíduos à sensibilidade muscular induzida por
uma sobrecarga excessiva, decorrente de exercícios físicos realizados por
uma pessoa despreparada fisicamente.
Os autores citados acima concordam com Browne, Clark e Koyano
(1993) ressaltando que, juntamente a esta sensibilidade, também podem
ocorrer danos às fibras musculares e/ou tecido conjuntivo, causando edema
e inflamação.
Lund (1995) ainda destaca que, embora o bruxismo possa levar à
dor, existem indivíduos que demonstram tal parafunção noturna, hipertrofia
da musculatura mandibular ,
desgaste dentário considerável e não
apresentam episódios de dor. Segundo ele, a explicação para este fato é a
de que tais indivíduos têm treinado a musculatura em questão e
consequentemente ela tornou-se resistente a danos e/ou fadiga.
Estudos demonstram que as fibras do músculo masséter nestes
sujeitos parecem estar adaptadas. Tal conceito postula, então, que a
hiperatividade muscular pode levar à dor, porém não invariavelmente.
Ainda Lund (1995) demonstra um esquema que contraria o conceito
do ciclo vicioso de que a dor leva à hiperatividade muscular e que a mesma
leva à dor. Para ele, o estresse e uma alteração dentária podem levar a uma
hiperatividade muscular, que, por sua vez, pode provocar uma fadiga do
30
músculo gerando mioespasmo. O mesmo pode ser decorrente de uma super
contração ou extensão muscular.
O mioespasmo pode levar tanto a um quadro de dor quanto a uma
síndrome de disfunção. Decorrendo destes dois processos, é possível
encontrar contraturas, desarmonia oclusal, desarranjo interno da articulação
têmporo-mandibular e artrite degenerativa, que podem ocasionar um padrão
mastigatório alterado. Segundo este autor, este padrão pode ser
responsável tanto pela dor miofacial quanto pela síndrome disfuncional.
Lavigne
e
Montplaisir
anteriores relatando que
(l995)
complementam
esses
estudos
o bruxismo pode ocorrer juntamente a outras
desordens do sono como apnéia, movimentos periódicos das pernas durante
o sono, miaclonia mandibular e grunhidos. Além disso, ele pode ocorrer na
presença de desordens psiquiátricas e neurológicas como tiques, distonia
oromandibular, coma, acidente vascular cerebral, hemorragia cerebelar e
retardo mental.
Para estes autores, o bruxismo pode ser considerado como um
comportamento normal, no qual alguns fatores tenham transformado a
atividade normal e usual da musculatura mandibular em uma atividade de
maior freqüência e força, com um ocasional contato dentário.
Browne et al (1993), através de estudos polissonográficos
(monitorização do sono), sugerem que o bruxismo é visto mais
freqüentemente durante a transição do estágio profundo do sono para o
menos profundo. Observam que, ao se estimular eletricamente o lábio
superior, o bruxismo é suprimido devido à produção de um reflexo inibitório
31
que reprime o fechamento mandibular, não alterando, contudo, os
batimentos cardíacos ou o ciclo respiratório.
Assim como Sturdevant, Lundeen e George (1988), Browne et al
(1993) abordam a existência de hipóteses de que o estresse excessivo
possa produzir uma hiperatividade muscular, sendo que na musculatura
mastigatória ela se expressa através de atividades parafuncionais como o
apertamento dentário ou o rangimento dos dentes, também denominado
bruxismo.
Ao concordarem com os demais autores, Browne et al (1993)
novamente reforçam a tese de que quando estas parafunções apresentam
força elevada, geralmente causam danos na musculatura. O resultado de um
estudo realizado por Widmalm et al (1995) vai de encontro à esta afirmação,
demonstrando que as parafunções orais apresentam papel predominante na
etiologia das desordens têmporo-mandibulares.
Contudo, Sturdevant et al (1988) estendem tais danos também às
articulações e neste caso, as atividades são expressas em forma de dor,
ruído articular e/ou limitação nos movimentos da mandíbula. Esses mesmos
autores
observam
que
o
estresse
foi
encontrado
como
o
fator
desencadeante mais fraco no que tange às dores musculares combinadas
com as articulares. Assim, as manifestações psicossociais como a
depressão e o estresse, podem ser aspectos importantes com relação à dor
muscular, mas não à dor articular ou combinada.
Dessa forma, é possível que as dores articulares tenham uma
etiologia separada da dor muscular, como por exemplo: trauma intrínseco ou
32
extrínseco, processo inflamatório, imunológica ou degenerativa. Além disso,
observa-se, com base em estudos, que mais tempo e energia são
necessárias para produzir sintomas articulares e portanto, é sugerido que a
dor na articulação ocorra mais tardiamente que a dor muscular, uma vez
que os músculos da mastigação são facilmente danificados pelo
apertamento
e
rangimento
dos
dentes,
tornando-se
rapidamente
sintomáticos. Em contrapartida, as articulações são mais resistentes
deixando de apresentar dor após breves episódios de sobrecarga.
Com relação as teorias sobre a etiologia do bruxismo observa-se
que elas estão centradas, principalmente, no que tange aos efeitos da
oclusão, às alterações psicológicas (como mudanças na personalidade e/ou
no nível de estresse) e aos hábitos orais parafuncionais.
As teorias oclusais vêem a oclusão como um possível fator que
contribui para a freqüência e intensidade das atividades de contato dentário,
mas não como o fator etiológico primário.
As teorias psicológicas, por sua vez, defendem a idéia de que tal
parafunção é causada por alguma alteração psicológica ou psicopatológica.
Com o intuito de sustentar tal teoria, estudiosos têm pesquisado a relação
entre a freqüência do bruxismo e a prevalência de vários tipos de desordens
psicológicas, principalmente a depressão e a ansiedade.
A partir de 1980, não são encontradas, na revisão de literatura,
novas opções de tratamento embasadas nos princípios etiológicos. As
mesmas continuam centradas nos tratamentos oclusais, psicológicos,
biofeedback e farmacológicos.
33
Embora a teoria oclusal observe que as alterações oclusais podem
afetar o contato dentário em alguns indivíduos, pesquisas demonstram que
elas não representam um efeito universal e não parecem ser efetivas para a
maioria das pessoas que relatam a presença do bruxismo.
Na prática clínica, o enfoque psicológico tem sido amplamente
direcionado para o bruxismo. Contudo, estudos têm demonstrado que tal
conduta proporciona um efeito global (redução da ansiedade em geral) e não
específico para a mudança do hábito instalado.
34
5.2 - Fatores Oclusais e Musculares
Partindo do pressuposto de que a fragilidade muscular é
considerada como um dos fatores encontrados nas desordens têmporomandibulares e nas dores miofaciais, Solberg, Pullinger e Seligman (1988)
buscam realizar uma associação entre fatores oclusais e fragilidade
muscular.
Em seus achados, observam a ausência de associação entre
fragilidade muscular e padrão oclusal de mordida cruzada. Entretanto, em
indivíduos com sobremordida profunda de incisivos e overbite superior ou
igual à 5 mm, a fragilidade muscular é mais comumente referida, sendo que
pacientes com oclusão classe ll, divisão 2, apresentam maior fragilidade
muscular que classe ll, divisão 1.
Isto se deve a dois fatores: primeiro porque o trespasse vertical está
diretamente relacionado à desoclusão posterior que é
responsável pela
redução da atividade da musculatura elevadora de mandíbula e segundo,
porque nestes padrões oclusais tal mecanismo encontra-se prejudicado.
Dibbets e Weele (1996) complementam apontando para o fato de
que, em adultos, os sinais de desordens têmporo- mandibulares parecem
estar relacionados à forma craniofacial, mais precisamente com relação às
deficiências faciais horizontais.
Embora tenham encontrado tais associações, os autores não
apontam os fatores oclusais como bons indicadores de fragilidade muscular,
35
mas sim os sinais intracapsulares. Esclarecendo, relatam que os indivíduos
com esta fragilidade apresentam maior fragilidade também na articulação
têmporo-mandibular.
Assim sendo, descrevem que quando estes estão livres de qualquer
fragilidade muscular, demonstram menor incidência nos estalos desta
articulação em comparação àqueles com a musculatura enfraquecida. Além
disso, observam também maior associação entre estalos articulares e
fragilidade muscular localizada, de 1 à 3 pontos, que na fragilidade
generalizada, com 4 pontos ou mais.
Estes autores demonstram, através de estudos, que a fragilidade
referida encontra-se em 96% dos indivíduos com fragilidade na articulação
têmporo-mandibular, em 68% com estalo nesta mesma articulação e em
71% com crepitação articular.
Medeiros (1991) aborda por ordem de surgimento cinco teorias sobre a
etiologia da Síndrome da disfunção miofacial.
Inicialmente encontra-se a teoria da mordida profunda, cuja principal
causa é a perda da dimensão vertical, relacionada geralmente à perda uni
ou bilateral dos dentes posteriores, grande desgaste da superfície oclusal ou
erupção parcial de dente permanente. A diminuição da dimensão vertical
gera alteração na relação de oclusão dentária bem como no interrelacionamento do sistema mastigatório. Dessa forma, ocorre pressão do
côndilo sobre os nervos aurículo- temporal e corda do tímpano.
A teoria da desarmonia oclusal baseia-se nos contatos dentários
traumatogênicos que têm por conseqüência uma posição retrusiva da
36
mandíbula e compressão dos tecidos retro-auriculares. Neste caso, acreditase que as interferências oclusais sejam mais significativas que a
sobremordida. Entretanto, tal teoria é contestada pois vários indivíduos com
uma oclusão considerada adequada apresentam alterações semelhantes às
relatadas pelos demais portadores da síndrome da dor e disfunção miofacial,
sendo que a maior parte dos sintomas relacionam-se à parte muscular e não
oclusal.
Em seguida, a teoria músculo-dentária acredita que um contato
dentário
pode
alterar
o
mecanismo
de
propriocepção,
gerando
incoordenação e espasmos musculares.
A teoria neuro-fisiológica diz que a desarmonia muscular pode surgir
logo após um desequilíbrio da oclusão, sendo que inicialmente a síndrome
manifesta-se por uma incoordenação funcional dos músculos ligados à
mandíbula.
Posteriormente
evolui
para
espasmos
da
musculatura
mastigatória, fazendo com que os movimentos da mandíbula tornem-se
dolorosos e limitados. Nesta teoria, a situação psicológica começa a ser
levada em consideração devido uma tensão muscular generalizada.
A última teoria abordada é denominada Teoria Psiconeurofisiológica,
também conhecida por Teoria de Laskin. Acredita-se que o fator inicial é o
espasmo muscular, que pode ser originado por uma sobre-extensão em
função de um aumento inadequado da dimensão vertical, por contração e
pela fadiga muscular geralmente causada pelo apertamento dentário. Assim,
os movimentos apresentam uma limitação, a mandíbula altera seu
37
posicionamento, surge uma desarmonia oclusal levando tanto à uma
alteração na oclusão quanto à espasmos.
Nesta última teoria, diferentemente das demais, o desarranjo oclusal é
conseqüência da problemática e não o fator etiológico. Ela está
fundamentada em estudos que demonstram que em indivíduos considerados
normais quanto à situação oclusal apresentam sintomas relacionados à
disfunção têmporo-mandibular. Estudos radiológicos demonstram uma
porcentagem pequena de sinais radiográficos e nos estudos bioquímicos
dos pacientes com alterações na articulação têmporo-mandibular observa-se
aumento nos níveis de catecolamidas e esteróides.
Okeson (l995) avalia o papel da oclusão nas desordens dos músculos
mastigatórios, no bruxismo e nas desordens intracapsulares. O autor aponta
duas maneiras da condição oclusal influenciar no funcionamento das
articulações têmporo-mandibulares.
A primeira está relacionada à introdução de mudanças na condição
oclusal. Segundo ele,
tais mudanças podem originar uma dor muscular
como resposta, embora seja possível observar que freqüentemente novos
engramas musculares são desenvolvidos e o paciente acaba por adaptar-se
às mudanças com uma pequena conseqüência.
A segunda condição está relacionada à instabilidade ortopédica. Assim,
o autor avalia que ela deve ser significativa assim como deve ocorrer
sobrecarga das estruturas mastigatórias. Para ele, esta sobrecarga é
responsável por obter respostas das articulações.
38
Segundo este autor, somente quando a relação dinâmica da condição
oclusal é ativada durante uma função, é que o verdadeiro impacto da
oclusão pode ser apreciado. Isso explica por que algumas condições
oclusais consideradas pobres não estão associadas aos sintomas da
síndrome da dor e disfunção miofacial enquanto que condições oclusais
sadias parecem estar positivamente associadas a essa desordem.
Pullinger et al (1993), através de análises multifatoriais, mostram
que, exceto em poucas condições oclusais definidas, existe um risco
relativamente baixo de fatores oclusais estarem associados com as
desordens têmporo-mandibulares.
Para Okeson (1995), ainda se faz necessária uma avaliação
científica dos efeitos dinâmicos das atividades mastigatórias nas estruturas
da mastigação, para que sejam verdadeiramente avaliados os efeitos da
condição oclusal nas desordens têmporo-mandibulares.
Fricton e Shiffman (1995) contribuem
salientando que, embora
alguns estudos tenham demonstrado que tanto o aspecto oclusal funcional
quanto o estrutural são importantes como possíveis fatores de risco para as
desordens têmporo-mandibulares, isto não estabelece se a oclusão causa
tais desordens, resulta delas ou se é uma associação independente destas
variáveis.
Embora grande parte dos autores aponte para a necessidade de
continuidade de estudo neste campo, atualmente é aceito na Odontologia
que a posição mandibular e o padrão de contato oclusal dentário podem
influenciar no tipo de atividade muscular dos músculos mastigatórios.
39
Atividades funcionais normais de mastigação, deglutição e fala não
parecem estar relacionadas com o surgimento de desordens têmporomandibulares. Entretanto, outras atividades não relacionadas com a função
produzem hiperatividade muscular que apresentam uma relação mais
estreita com sintomas dessas desordens.
Essas atividades citadas acima têm sido referidas como parafunções
e incluem, assim, o bruxismo e o apertamento dentário.
Alguns autores acreditam que o contato oclusal pode aumentar
consideravelmente a hiperatividade muscular, sendo que alguns estudos
demonstram relação entre fatores oclusais e sintomas mastigatórios e outros
não demonstram tal ocorrência. Tem sido notado que um padrão específico
de contato oclusal pode influenciar um grupo muscular, também específico,
quando os indivíduos realizam voluntariamente o apertamento dentário e os
movimentos em posição excêntrica.
Em contrapartida, também tem sido demonstrado que o contato
oclusal não influencia o bruxismo. No entanto, alterando-se a condição
oclusal, a função muscular também é afetada. Assim, a introdução de uma
interferência experimental pode levar a sintomas de dor, mas não ao
bruxismo.
A idéia de que um grande contato oclusal possa aumentar uma
atividade muscular, como o bruxismo, deve ser questionada levando-se em
consideração alguns princípios ortopédicos.
Estes princípios mostram que quando um ligamento que sustenta
uma articulação está alongado, um reflexo nocioceptivo é ativado e acaba
40
resultando na redução da atividade dos músculos relacionados à articulação.
A resposta obtida é vista no sistema mastigatório quando um dente se
encontra sobrecarregado, alongando, assim, o ligamento periodontal. Tal
sobrecarga resulta em uma redução imediata dos músculos elevadores da
mandíbula.
Por esta razão, seria uma violação dos princípios ortopédicos
assumir que o forte contato dentário pudesse causar aumento da atividade
muscular no bruxismo ou no próprio apertamento dentário.
Todavia,
este
mesmo
contato
oclusal
pode
criar
sintomas
relacionados à dor muscular.
Visando a relação entre os vários padrões de contato oclusal e os
músculos masséteres e temporais, estudos referem que quando os
indivíduos portadores de contatos oclusais bilaterais realizam uma excursão
laterotrusiva, os dois pares de músculos citados entram em atividade.
Entretanto, se o contato mesial for eliminado, somente os músculos do lado
do trabalho são consideravelmente ativados. Isto demonstra que, quando tal
contato é eliminado, os músculos masséter e temporal do lado do balanceio
podem sofrer mínima ativação durante este movimento.
Felício(1994) ressalta que uma hiperatividade muscular pode ser
desencadeada em função de um contato prematuro, visando proteger os
dentes que estão proporcionando tal contato. Se durante os movimentos
mandibulares interferências oclusais ocorrerem, a tonicidade muscular pode
alterar-se. Essa hiperatividade também pode estar presente, no lado do
trabalho, em casos de mastigação unilateral decorrente de interferências
41
oclusais, cáries e/ou perdas dentárias. Além disso, a articulação têmporomandibular do lado do balanceio sofre maior esforço, a linha média pode
apresentar desvio e o côndilo pode sofrer remodelação.
Anelli (1997) diz que os masseteres podem apresentar hipertonia ou
espasmos uni ou bilateralmente. Quanto aos músculos temporais,
pterigóideos
mediais,
laterais,
esternocleidomastóideos
e
trapézios
geralmente apresentam-se hipertônicos e doloridos quando em movimento e
palpação.
Okeson (1995) aponta para o fato de que, quando um grupo dentário
funciona como guia, ambos os músculos masséter e temporal do lado do
trabalho são ativados durante o movimento laterotrusivo. Porém, se houver
apenas o contato dos dentes caninos, ou seja, a guia canina, somente o
músculo temporal é ativado durante o movimento.
Há mais de uma década estudos como os de Shupe et al e Riise e
Sheikholislam, ambos de 1984, demonstram que certas condições oclusais
podem afetar o grupo muscular a ser ativado durante o movimento
mandibular específico. Isto quer dizer que alguns contatos oclusais
posteriores podem aumentar a atividade da musculatura elevadora de
mandíbula.
Em contrapartida, outros estudos demonstram que o contato oclusal
prematuro não favorece o aumento do bruxismo. Isto foi constatado a partir
de um trabalho realizado por Okeson (1995) no qual aumentou-se
consideravelmente a altura dentária de um grupo de indivíduos e a maioria
42
deles apresentou diminuição significativa da parafunção, de duas a quatro
noites, havendo, após este período, o retorno ao nível normal da mesma.
De início, pode-se imaginar que os dois princípios dos contatos
oclusais sejam opostos. Porém, Okeson (1995) relata que uma avaliação
cuidadosa revela duas atividades musculares diferentes em ambos os
casos. Dessa forma, explica que, no primeiro caso, aborda-se os efeitos do
contato oclusal nos movimentos mandibulares conscientes e voluntários; já
no segundo, revela-se o efeito na atividade muscular subconsciente e
involuntária.
Enquanto a primeira atividade é produzida pelo uso funcional de
nível periférico, a segunda é iniciada e regulada no sistema nervoso central.
Isso quer dizer que influências das estruturas periféricas têm um efeito
inibitório na atividade muscular.
É válido ressaltar que o bruxismo parece ser gerado no sistema
nervoso central e sua estimulação tem um efeito de excitação nessa
atividade. Sendo assim, Shupe et al (1984) e Riise e Sheikholislam (1984)
sugerem que os contatos oclusais influenciam nas respostas musculares
durante atividades funcionais do sistema mastigatório, enquanto Okeson
(1995) destaca que estes mesmos contatos têm pequeno efeito na
parafunção denominada bruxismo.
Este último autor destaca, como outro influenciador das respostas
musculares, a intensidade de qualquer interferência na condição oclusal.
Uma interferência aguda poderá precipitar uma resposta de proteção
muscular durante uma atividade funcional. Ao mesmo tempo, esta mudança
43
na condição oclusal tende a suscitar
um efeito inibitório na atividade
parafuncional.
Quando a interferência oclusal torna-se crônica, a resposta muscular
é alterada. O autor destaca que esta interferência pode afetar a atividade
funcional, alterando os engramas musculares para evitar um contato
potencialmente danoso e exigir demasiadamente da função. Pode ser que
esta alteração seja controlada pelo gerador central do padrão muscular e
represente uma resposta adaptativa. Assim, se a alteração dos engramas
musculares não for criada, pode ser desenvolvida uma significativa
desordem de dor muscular.
Considerando
todas
estas
abordagens,
o
autor
salienta
a
importância da condição oclusal para a saúde funcional do músculo durante
a mastigação, deglutição, fala e postura mandibular.
Segundo ele, distúrbios nesta condição podem levar ao aumento da
tonicidade muscular e a alguns sintomas. Para este autor o bruxismo
também parece não estar relacionado aos contatos dentários, mas sim às
mudanças nos níveis de estresse e estágios do sono, numa atividade do
sistema nervoso central, como já foi abordado no presente trabalho.
Okeson (1995) ainda considera de suma importância a compreensão
das diferenças acima descritas para se estabelecer um diagnóstico e
tratamento apropriado para o paciente.
Vários autores desenvolveram estudos abordando a atividade
muscular dos músculos mastigatórios. Com o intuito de verificar a atividade
muscular craniofacial nas desordens craniomandibulares, Isberg et al (1985)
44
observam que na mastigação dos indivíduos com dor nos músculos
mandibulares, ocorre
aumento da duração e da atividade muscular.
Entretanto, em pessoas sem tal acometimento, o aumento da atividade
eletromiográfica não foi detectada.
Posteriormente, Levy et al (1990) abordam o mesmo assunto e
contribuem com novas considerações. Observam que indivíduos com dor
nos músculos mandibulares e cervicais demonstram, em grau limitado
mudanças no restabelecimento destes músculos, devido a presença de
modificações musculares durante reações específicas, como por exemplo,
no fechamento mandibular e na sobrecarga da dentição ou da articulação
têmporo-mandibular.
Independentemente da localização da dor e do músculo envolvido,
estes autores notam que o restabelecimento do músculo temporal, por
exemplo, ocorre com menor freqüência que nos demais músculos, sendo
que tal efeito torna-se mais pronunciado quando a dor localiza-se somente
nos músculos mandibulares.
Além disso, observam que todas as pessoas com queixa de dor
muscular, avaliadas por eles, relatam dor no músculo masséter. Este
músculo também sofre alteração quanto ao seu padrão de restabelecimento
em indivíduos com dor muscular, sendo que normalmente ela ocorre durante
movimentos rápidos de elevação mandibular, desenvolvendo velocidade e
força durante a fase de fechamento, tanto na mastigação quanto no
apertamento intercuspideano.
45
Estes fatores sugerem que indivíduos com dor muscular podem
mudar significativamente o padrão de
restabelecimento muscular em
reações motoras específicas. Além disso, quando o músculo em questão
reduz sua atividade ou ocorre o cessamento da descarga durante, por
exemplo, a mastigação, desenvolve-se menor velocidade e força, sendo
possível que outro músculo assuma tal função.
Em estudos anteriores, estes mesmos autores observam que em
indivíduos considerados normais, o restabelecimento dos músculos
temporais e masséteres encontra-se afetado pelo número e localização de
contatos oclusais e, por esse motivo, sugerem que estes fatores sejam
avaliados nas pessoas que apresentam dor muscular.
Ainda em 1990, Levy et al apontam para o fato de que as mudanças
encontradas no restabelecimento muscular podem ser atribuídas a um
mecanismo compensatório, cuja finalidade é a de proporcionar o alívio ou ao
menos a diminuição da dor.
Achados eletromiográficos , descritos por Lavigne, Lund e Dao
(1994), demonstram que períodos de elevação da atividade no músculo
masséter, coincidem com a oscilação da dor referida por pacientes
explicando, assim, por que o nível de dor nos indivíduos com bruxismo
parece ser consideravelmente mais elevado que em pacientes com dor
miofacial que não apresentam tal parafunção.
Shroeder et al (1991) contribuem neste aspecto demonstrando que
achados eletromiográficos não mostram diferenças entre os músculo
masséter do lado direito e esquerdo em casos de sintomas unilaterais e que
46
os registros do músculo trapézio revelam atividade deste músculo
acompanhando a atividade periódica do masséter em alguns pacientes.
Embora
tenham
sido
encontradas
atividades
musculares
aumentadas em pacientes com desordens têmporo-mandibulares, também
foram registrados casos de pessoas com este comprometimento sem
aumento de tal atividade e indivíduos normais com aumento da mesma.
A partir desses achados, Shroeder et al (1991) concluem que ao
mesmo tempo em que a eletromiografia identifica algumas situações
importantes, o seu valor como diagnóstico auxiliar ainda encontra-se restrito.
Isto ocorre pelo fato de não haver diferenças na atividade muscular capazes
de serem refletidas nas gravações eletromiográficas além das condições
experimentais muitas vezes não serem suficientes para evocar a atividade
muscular tal qual ocorre nas condições fisiológicas do cotidiano.
Outros aspectos que têm sido descritos em muitos estudos são os
posturais. Clinicamente, tem-se observado que uma má postura geralmente
encontra-se associada com a síndrome da dor e disfunção miofacial.
Considerando a estreita relação entre os sintomas crâneo- cervicais
e o sistema mastigatório, Clark (1983) aponta para a importância de se
avaliar a coluna cervical. Posteriormente, a necessidade de tal avaliação
volta a ser abordada em alguns estudos.
Vários autores, entre eles Valk et al (1992) descrevem a relação
existente entre a posição da cabeça e a mandíbula. Outros estudos
demonstram, ainda, que aproximadamente um terço dos pacientes que
47
apresentam disfunções têmporo-mandibulares também referem queixas de
comprometimento na região cervical variando de grau moderado à severo.
Braun et al (1992) contribuem com as observações citadas acima,
demonstrando a grande incidência de desordens têmporo-mandibulares em
indivíduos que recorrem ao serviço fisioterápico para avaliação e tratamento
de dores e disfunções cervicais.
48
5.3 - Tratamento
Alguns processos de tratamento, anteriormente citados no presente
trabalho, são complementados por outras abordagens terapêuticas bastante
evidenciadas na literatura que concerne as alterações abordadas.
Vickers e Cousins (1994) afirmam que tanto o diagnóstico quanto o
tratamento destas desordens podem ser dificultados devido a natureza
multifatorial do problema, pois envolvem variáveis orgânicas, psicológicas,
sociais e culturais. Dessa forma, os autores defendem o estabelecimento de
uma clínica multidisciplinar que possa auxiliar nas condutas a serem
adotadas, norteando o trabalho a ser desenvolvido.
Anteriormente ao tratamento encontra-se, evidentemente, a etapa do
diagnóstico. Para Steenks et al (1995) o principal desafio clínico em se fazer
um diagnóstico em pacientes com possível síndrome da dor e disfunção
miofacial refere-se às queixas apontadas e às estruturas afetadas. Segundo
estes autores, os movimentos ativos e as articulações têmporo-mandibulares
geralmente são avaliados e os músculos mastigatórios palpados.
Entretanto, devido a relação topográfica próxima entre os músculos
e as estruturas das articulações têmporo-mandibulares, confusões sobre a
origem miogênica, artrogênica ou combinada da desordem podem
permanecer.
Visando o estabelecimento do diagnóstico, Felício (1994) aponta
para aspectos que devem ser investigados como, por exemplo, o início,
49
freqüência, duração, localização da dor, fatores desencadeantes, fatores de
alívio, além da história pessoal, médica e odontológica do paciente.
Além disso, torna-se fundamental que exames clínicos e exames
complementares, como os exames radiográficos da articulação têmporomandibular, tomografia, artroscopia e ressonância magnética, sejam
realizados com a finalidade de se estabelecer o diagnóstico desejado.
Steenks et al (1995) utilizam vários testes clínicos diagnósticos
derivados da terapia física. No que tange à avaliação funcional do sistema
mastigatório, acreditam que a atenção do examinador deva estar voltada
para os seguintes fatores: os movimentos ativos e passivos, nos quais a
amplitude do movimento é medida de forma diferenciada em cada caso; a
tração e a translação; a compressão e resistência das estruturas articulares
e, por fim, a palpação das articulações têmporo-mandibulares , dos
músculos masséteres, temporais e ligação dos pterigóideos mediais.
No que tange às abordagens terapêuticas, Medeiros (1991) defende
que o tratamento esteja baseado em fatores neuromusculares, que por sua
vez, podem ser abordados por vários ângulos:
Psicologicamente, o tratamento está centrado na conscientização
sobre os efeitos do apertamento ou rangimento dentário nas estruturas do
sistema estomatognático. Além disso é trabalhada a tensão psíquica,
visando minimizar essas alterações encontradas.
Fisicamente, o tratamento ocorre através da administração de calor
seco ou úmido, ondas curtas, massagens, ultra-som ou raios infravermelhos. Além disso, exercícios podem ser realizados visando a harmonia
50
muscular e estabilidade mandibular através do treino da musculatura
mastigatória.
No tratamento oclusal, ocorre a utilização de placas oclusais que
objetivam a desmemorização proprioceptiva mandibular, levando à uma
melhora na condição neurofisiológica presente.
Quanto aos processos de tratamento, Decker et al (1995) relatam
que a terapia física tem tornado-se parte fundamental da abordagem
multidisciplinar no tratamento de disfunções têmporo-mandibulares, dor e
algumas outras condições de dor orofacial. Estão incluídos, neste tipo de
intervenção, os exercícios terapêuticos e algumas modalidades dos
mesmos.
Os presentes autores concordam com as colocações de Medeiros
(1991) ao destacarem que os exercícios na musculatura mastigatória e
cervical são importantes para a
estabilização e futura manutenção da
posição músculo-esquelética adequada, melhora no conforto muscular e
articular, além de facilitar a adequação de funções alteradas. Para eles, os
exercícios terapêuticos para o sistema mastigatório incluem aspectos como
a amplitude nos exercícios de deslocamento para melhora da mobilidade,
exercícios
isométricos
para
fortalecimento
muscular
e
melhora
de
coordenação, exercícios repetitivos para a melhora da biomecânica da
função articular e muscular, exercícios posturais para redução de tensão
tanto na musculatura quanto na articulação e exercícios de estiramento para
aumentar a amplitude do movimento e comprimento de tecidos moles.
51
Marchesan (1994) concorda com a utilização de
exercícios
musculares afirmando que os mesmos têm o papel de estabilizar e melhorar
as funções alteradas em decorrência de desordens na articulação têmporomandibular.
Com relação ao processo de tratamento, Quinn (1995) também se
coloca favorável aos exercícios mandibulares, destacando a importância dos
mesmos. Segundo o autor, eles ajudam na correção de problemas como
bruxismo, desvio e hipermobilidade mandibular. Contudo, ele ressalta a
importância
dos
hábitos
parafuncionais
inconscientes
tornarem-se
conscientes para, então, serem oferecidas estratégias capazes de solucionar
tais dificuldades. Para o autor, os exercícios de alongamento e contração
alternada entre músculos antagonistas, durante a movimentação da
articulação têmporo-mandibular, tendem a minimizar as dores e a disfunção
encontrada, além de promover o aumento da força e da extensão muscular
em resposta a eventuais sobrecargas.
Turk et al (1995) destacam que os principais objetivos que visam o
controle das disfunções têmporo-mandibulares incluem a redução dos
processos de dor, o restabelecimento da função normal da mandíbula,
redução do uso de medicação analgésica, diminuição da desconforto
psicológico e recuperação do funcionamento normal da vida.
Visando estes fatores, esses autores explicam que o tratamento
deve envolver a educação cuidadosa do paciente com relação aos hábitos
parafuncionais, postura mandibular e relação entre a atividade muscular e os
sintomas como a dor. Com isso, objetiva-se treinar a capacidade do paciente
52
em observar, reduzir e evitar atividades danosas, enquanto as intervenções
físicas são administradas pelos profissionais envolvidos no caso.
Um outro recurso que também tem sido bastante observado na
literatura é o uso de placa oclusal de resina, através da qual supõem-se que
haja a redução do dano dentário e da atividade muscular.
Lund (1995) explica que a finalidade do uso desta placa é a de
permitir o contato interoclusal exclusivamente no centro dos arcos dentários,
promovendo a redução na tensão nos músculos da mastigação de forma
rápida e eficaz.
Lavigne e Montplaisir (1995) relatam que além dos benefícios acima
citados, a placa age tentando corrigir alguns hábitos orais inadequados.
Neste mesmo ano, o uso da placa também é defendido por Willis,
porém com o objetivo de limitar os movimentos mandibulares laterais, ou
seja, uma placa protetora dos dentes caninos.
Apesar da existência de vários recursos terapêuticos, a grande
maioria destes autores alerta para a possibilidade existente dos pacientes
apresentarem respostas diversas quando submetidos a tais procedimentos.
Torna-se, então, fundamental que os profissionais envolvidos com o caso
realizem adaptações e/ou modificações específicas necessárias para cada
paciente. Dessa forma, novamente é defendida a idéia de que a atuação
multidisciplinar seja a mais indicada para os problemas discutidos.
53
5.3.1 - Abordagem Fonoaudiológica
Este tipo de intervenção é minuciosamente abordada por
autoras
como Felício (1994) e Anelli (1997).
A primeira, ressalta que o trabalho fonoaudiológico em casos de
disfunções têmporo-mandibulares baseia-se na terapia miofuncional, cujo
objetivo é o de adequar os músculos orofaciais às funções estomatognáticas
através delas próprias e minimizar a dor.
O terapeuta deve tornar-se um investigador, juntamente ao paciente,
buscando
o
entendimento
dos
processos
que
levam
à
condição
desagradável na qual este último encontra-se.
Primeiramente deve-se abordar com o paciente o porquê da
intervenção fonoaudiológica, ou seja, entender qual é a contribuição desta
ciência para o trabalho de equilíbrio muscular, dentário e ósseo bem como
das funções orais. Discutir sobre as alterações existentes e os possíveis
fatores etiológicos também são de grande relevância no processo
terapêutico, uma vez que objetivam a conscientização da problemática e as
mudanças necessárias para a modificação do quadro existente.
Ambas as autoras citadas acima apontam para algumas alterações
do sistema estomatognático que podem ser encontradas no momento da
avaliação das pessoas que apresentam queixas compatíveis com a
síndrome da dor e disfunção têmporo-mandibular.
Com relação aos lábios, ambas as autoras observam que
geralmente encontram-se desocluídos no repouso, sendo o superior evertido
54
e o inferior volumoso, além de uma tensão elevada durante as funções
estomatognáticas de mastigação e deglutição.
Entretanto, também é
possível encontrar lábios finos e estirados, sendo observada tensão no
momento da oclusão.
Felício (1994) ressalta que estas últimas características geralmente
são observadas em pessoas que apresentam dimensão vertical insuficiente
e/ou apertamento dentário.
A interposição labial também pode ser verificada, sendo que em
alguns casos podem existir marcas na mucosa labial inferior ou superior,
podendo ser conseqüência de uma maloclusão ou de um hábito de
apertamento dentário.
A língua, por sua vez, deve ser avaliada quanto à mobilidade,
postura e forma, levando-se em consideração o que é possibilitado pela
conformação dos arcos dentários. É possível
encontrá-la interposta nas
arcadas dentárias, hipotônica, com um tônus satisfatório e com marcas em
suas laterais principalmente se existe apertamento dentário.
Quanto ao palato mole, Felício (1994) atenta para o fato de que a
inervação do músculo tensor do palato mole, que promove a abertura da
tuba auditiva, é realizada pelo V par craniano ( Nervo Trigêmio) que também
inerva os músculos da mastigação e o músculo tensor do tímpano. Dessa
forma, é possível que algum sintoma auditivo esteja relacionado à uma
incoordenação muscular promovida por esse conjunto de músculos.
As bochechas geralmente encontram-se com marcas na região
interna, em função da pressão dos dentes nesta mucosa. Isto pode ocorrer
55
por uma hipotonia desta musculatura e/ou por que as mesmas são sugadas
durante o apertamento dentário.
As autoras descrevem que a avaliação da maxila relaciona-se aos
aspectos morfológicos como atresia e simetria da hemi-arcada direita e
esquerda.
A mandíbula, por sua vez, é avaliada quanto à simetria óssea, o tipo
de crescimento e sua movimentação funcional.
Segundo Felício (1994) na abertura bucal máxima, se a medida
obtida for menor que 30mm suspeita-se de uma disfunção muscular ou
articular, uma vez que a medida normal pode variar entre 40 e 45mm.
Ainda com relação à mandíbula, observa-se a abertura e
fechamento lentos, verificando a presença de desvios mandibulares, ruídos
na articulação e presença de dor, sendo que os desvios podem estar
relacionados à uma espasticidade muscular unilateral.
No repouso, é importante observar se há desvio de linha média, ou
seja, se o freio labial superior coincide com o inferior. Assim, quando a
postura encontra-se alterada é sinal de que as forças musculares podem
estar desequilibradas, podendo refletir nas funções estomatognáticas.
As autoras ressaltam que na presença de contatos prematuros
pode-se observar desvio mandibular, quando em máxima intercuspidação,
para o lado oposto ao do contato.
Na avaliação, os movimentos de lateralidade e protrusão também
devem ser investigados visando obter dados sobre restrições
56
e
desconfortos durante o movimento, sendo que a medida normal de
lateralidade varia entre 10 e 12mm.
Para as autoras, os fatores relacionados à respiração devem ser
atentamente observados, pois um elevado número de indivíduos com
disfunção têmporo-mandibular possuem uma respiração superior e rápida,
geralmente associada à uma hiperatividade da musculatura extrínseca da
laringe e da face, durante a fonação. Dessa forma, o estabelecimento da
respiração diafragmática-abdominal e o controle pneumo-fonoarticulatório
devem ser promovidos. Neste caso, a avaliação deve estender-se para ao
aspectos relacionados à voz devido à hiperatividade da musculatura cervical
estar geralmente presente.
O processo de avaliação fonoaudiológica estende-se para as
funções estomatognáticas.
Com relação à mastigação, deve-se observar como ela está
ocorrendo, ou seja, se existe movimento cíclico, se há um padrão
verticalizado, se restrições encontram-se presentes e se é bilateral alternada
ou unilateral. Esta última situação pode indicar uma limitação ou somente
um hábito mastigatório.
Na deglutição deve-se observar os pressionamentos da língua, a
tensão da musculatura peri-oral e a presença de desvio mandibular.
No que tange à fala, podem ocorrer restrições articulatórias,
sigmatismo anterior ou lateral e projeção lingual nos fonemas /t/, /d/, /n/ e /l/.
Anelli (1997) ressalta a importância de uma investigação sobre os
hábitos parafuncionais, visando a retirada ou minimização dos mesmos.
57
Hábitos como o apertamento dentário, roer as unhas, mascar chicletes em
demasia, morder objetos e apoiar a mão na mandíbula com freqüência são
hábitos geralmente encontrados em pessoas com queixas relacionadas com
a síndrome da dor e disfunção têmporo-mandibular.
Com relação à terapia propriamente dita, Anelli (1997) ressalta que
a explicação inicial sobre as reais possibilidades
de tratamento e o
prognóstico são fundamentais para que o paciente não abandone ao
tratamento, por acreditar que não está sendo obtido o resultado desejado.
Esta conscientização é importante porque geralmente os pacientes chegam
aos consultórios com dor e, assim, esperam o quanto antes livrarem-se dela,
o que geralmente não ocorre com a rapidez desejada.
Após esta primeira etapa, o fonoaudiólogo deve instruir o paciente
com relação à sua dieta alimentar, devendo inicialmente evitar alimentos
muito consistentes. Gradativamente a consistência alimentar vai sendo
adequadamente
administrada,
acompanhando,
assim,
o
processo
terapêutico muscular.
Ainda com relação à alimentação é preciso informar o paciente
sobre a importância da limitação da abertura bucal, visando proteger as
estruturas orais alteradas. À medida que ocorre melhora da tonicidade e
mobilidade muscular, a abertura bucal tende a modifica-se até chegar à um
padrão adequado.
Para Felício (1994) o início do processo terapêutico deve ser
semelhante ao apontado por Anelli (1997). Assim, acredita que ele encontrase baseado na conscientização da problemática existente juntamente às
58
técnicas de relaxamento que propiciam o aumento da circulação sangüínea
periférica e eliminação de resíduos metabólicos. Com isso, a hiperatividade
muscular e a dor vão sendo minimizadas.
A postura corporal durante a realização dos exercícios miofuncionais
é um fator que merece atenção constante. O ideal é que o paciente
permaneça sentado com a cabeça ereta, pois assim alterações posturais da
mandíbula e assimetrias no trabalho muscular são evitadas, contribuindo
para o processo de reabilitação.
Tanto a postura da língua na cavidade oral quanto a sua
movimentação estão relacionadas à função e postura mandibular. Assim,
Felício (1994) sugere a realização de exercícios que envolvem a
musculatura intrínseca e extrínseca da língua. Dessa forma, pode-se
trabalhá-la alargando e afilando a língua, protruindo-a e também tocando os
lábios com a sua ponta. Os movimentos ântero-posteriores da língua contra
o palato propiciam a sua retrusão e o seu posicionamento no palato pode ser
facilitado através da realização de estalo lingual.
Tanto a postura da língua quanto a depressão e elevação
mandibular podem ser abordadas quando a língua mantém-se no palato e
concomitantemente abre-se e fecha-se a boca. Tal exercício pode
demonstrar a existência de desvio mandibular, podendo ocorrer em função
de um acoplamento lingual insuficiente, por desordens intra-articulares ou
porque os músculos elevadores da mandíbula apresentam-se espásticos
unilateralmente.
59
Exercícios de fortalecimento da musculatura supra-hioidéa são
recomendados para as pessoas que
pressionam os dentes anteriores
inferiores e/ou a sínfise mentoniana, nas quais o côndilo sofre um
deslocamento anterior.
Com relação aos lábios, Felício (1994) sugere um trabalho que vise
a adequação da forma e função quando uma atividade excessiva desta
musculatura é observada durante principalmente a mastigação e deglutição.
Quando a musculatura labial encontra-se em hiperatividade, geralmente
associada à uma atividade excessiva dos músculos faciais e elevadores da
mandíbula,
devem
ser
administrados
exercícios
que
promovem
o
relaxamento da musculatura envolvida.
A presente autora sugere a utilização de água salgada e morna que
deve ser deslocada alternadamente de um vestíbulo labial para o outro,
promovendo
um
aumento
da
circulação
sangüínea,
distensão
da
musculatura e consequentemente seu relaxamento.
Além do recurso citado acima, também pode-se utilizar um garrote
(aproximadamente 15mm de comprimento e 9mm de espessura) que deve
se mantido no vestíbulo labial sem que haja força labial contrária , visando o
alongamento desta musculatura.
No caso da musculatura labial encontrar-se hipofuncionante,
exercícios isocinéticos e isométricos labiais são indicados.
Conforme citado pela a autora em questão, a sucção também pode
ser uma grande aliada no trabalho com a musculatura depressora da
mandíbula. Contudo, deve-se estar atento para que não ocorram
60
movimentos de protrusão ou ântero-posteriores da mandíbula e para que a
elevação e depressão desta estrutura sejam realizadas vagarosa e
suavemente.
A sucção, então, promove o relaxamento da musculatura elevadora
da mandíbula, fazendo com que o paciente sinta-se aliviado.
A lateralização mandibular, por sua vez, também pode ser
trabalhada através do uso de um garrote com cerca de 15mm de
comprimento que deve ser transferido do lado direito da cavidade oral para o
esquerdo da mesma, com os lábios em oclusão. Entretanto, para a
realização destes movimentos é preciso que não haja ruído articular na
lateralização da mandíbula.
No
que
tange
à
abordagem
terapêutica
das
funções
estomatognáticas, as autoras apresentam condutas semelhantes.
Acreditam, dessa forma,
que a partir do momento em que uma
melhora da situação oclusal e muscular for sendo atingida, a mastigação
começa a ser abordada. Assim, destacam que para se trabalhar esta função
é necessário primeiramente que os movimentos da mandíbula possam ser
realizados sem a presença de dor e com uma amplitude mais adequada.
Associada a esses fatores, a consistência dos alimentos vai sendo
devidamente modificada, adequando-se às possibilidades que o sistema
estomatognático oferece.
Tanto para uma autora quanto para a outra, inicialmente a
alimentação
sólida
pode
ser
utilizada
61
para
treino,
devendo
ser
gradativamente incorporada ao cotidiano do paciente, visando a manutenção
da harmonia muscular e das estruturas que compõe o sistema em questão.
Pelo fato da respiração geralmente encontrar-se alterada devido as
tensões musculares existentes, a atenção do fonoaudiólogo deve estar
voltada para esta função estomatognática , visando sua adequação.
Anelli (1997) expõe que o trabalho respiratório pode ser realizado
através dos exercícios de relaxamento, bastante utilizados para alterações
de voz.
Caso a deglutição esteja modificada, sua abordagem vai sendo
realizada à medida que as demais funções vão sendo trabalhadas.
Contudo, segundo as autoras, qualquer abordagem deve estar
respaldada pela conscientização dos processos alterados, para que a
conduta terapêutica apresente um efeito desejado.
Felício (1994) complementa afirmando que cada momento do
processo terapêutico deve ser cuidadosamente avaliado para que somente
seja realizado com o paciente o que uma determinada etapa permite,
evitando o agravamento da situação.
62
6 - Considerações Finais
Há mais de seis décadas, estudos científicos vêm sendo realizados
com o intuito de esclarecer os inúmeros fatores que permeiam algumas
desordens têmporo-mandibulares, também classificadas como Síndrome da
Dor e Disfunção Miofacial. Contudo, ainda existem muitas incertezas no que
tange ao diagnóstico, etiologia e tratamento das mesmas.
Especificamente com relação ao diagnóstico, é unânime a postura
de que esta é uma faceta de suma importância, uma vez que é o
fundamental norteador para se estabelecer um tratamento adequado e
conseqüente melhora da patologia referida.
Segundo a maioria dos autores estudados, para que a realização do
diagnóstico e o acompanhamento do caso sejam os mais satisfatórios
possíveis, é fundamental que os profissionais envolvidos tenham um amplo
conhecimento das características e dos fatores que desencadeiam as
desordens em questão.
Observou-se, a partir de uma revisão literária, que os problemas
têmporo-mandibulares
são,
geralmente,
vistos
como
desordens
multifacetadas que envolvem algumas possíveis alterações do sistema
mastigatório e das articulações têmporo-mandibulares, comprometendo,
assim, o aspecto funcional dos mesmos.
A etiologia destes problemas, também abordada nesta revisão, foi
descrita como sendo variada, abrangendo tanto aspectos psicológicos
quanto físicos.
63
Durante algum tempo, acreditou-se que as alterações oclusais ou
dentárias pudessem ser as causadoras da síndrome da dor e disfunção
miofacial. Entretanto, devido à incessante realização de estudos na área,
este conceito foi cedendo o seu lugar.
Atualmente, pesquisas demonstram que os principais fatores
desencadeantes das desordens abordadas são as parafunções orais, como
o rangimento e o apertamento dentário, embora alguns fatores oclusais
também possam contribuir para os sintomas destas desordens. Contudo, a
grande maioria dos autores abordados apontam para a necessidade da
continuidade de pesquisas na área, buscando com isso, cada vez mais o
entendimento sobre os fatores que permeiam as desordens em questão.
Uma vez que a etiologia dos problemas têmporo-mandibulares e
suas conseqüências envolvem mais de um campo científico, como
demonstrado nos estudos pesquisados, o tratamento a ser instituído deve,
então, englobar uma clínica multidisciplinar. Este tipo de tratamento visa
garantir a adoção de condutas pertinentes, uma vez que devem ser
abordados os aspectos psicológicos, odontológicos e musculares do
paciente.
Cabe ressaltar que o último aspecto acima citado tem sido
destacado na literatura sendo atribuído grande parte do êxito terapêutico às
intervenções nesta área.
A intervenção fonoaudiológica baseia-se justamente no terceiro
modo de abordagem física, contribuindo com o restabelecimento muscular e
funcional das estruturas afetadas. Vários estudos demonstraram que a
64
musculatura mastigatória encontra-se alterada nas desordens têmporomandibulares merecendo, assim, atenção específica.
Baseando-se na multideterminação do problema pesquisado,
conclui-se que
é fundamental ao fonoaudiólogo, assim como para os
demais profissionais envolvidos no processo de reabilitação, o conhecimento
das inúmeras variáveis determinantes das desordens discutidas, de suas
possíveis conseqüências e das condutas terapêuticas adequadas. Com isso,
espera-se garantir uma melhor qualidade de vida para os indivíduos que
sofrem com os problemas abordados durante este trabalho.
65
7 - Referências Bibliográficas
ANELLI, W. - Atuação fonoaudiológica na desordem temporomandibular.
In:LOPES FILHO, O . ed. Tratado de fonoaudiologia. 1997. p.82128.
BRAUN, B.; DI GIOVANA.; SCHIFFMAN, E.; et al.- A cross–sectional
study of temporomandibular joint dysfunction in post cervical
trauma patients. J. Craniomandib.Disord. Facial Oral Pain,
6:24-31, 1992.
BROWNE, P.A.; CLARK, G.T.; KOYANO, K.- Oral motor disorders in
humans. Journal of Califórnia, 21:19-30, 1993.
CLARK, G.T.- Examining temporalmandibular disorder patients for
cranio-cervical dysfuntion. J. Craniomandibular Pract, 2:55-63,
1983.
CLARK, GT. & TAKEUCHI, H.- Temporomandibular dysfunction,
chronic orofacial pain and oral motor disorders in the 21st
century. Califórnia Dent. J., 23: 41-50, 1995.
66
DECKER, K.L.; BROMAGHIM, C.A.; FRICTON, J.R.- Physical therapy
for temporomandibular disorders and orofacial pain. In: FRICTON,
J.R. ed. Advances in pain research and therapy. 1995. p.465-84.
DIBBETS, J.M. & VAN DER WEELE, L.T.- Signs and symptoms of
temporomandibular disorder and craniofacial form. Am. J. Orthod
Dentofacial Orthop., 1 :73-8, 1996.
ERHART, E.A. - Elementos de anatomia humana. São Paulo,
Atheneu: 73-83, 1987.
FELÍCIO,C.M.- Fonoaudiologia nas desordens
temporomandibulares: uma ação educativa-terapêutica. São
Paulo, Pancast, 1994.179p.
FRICTON,J.R. & SCHIFFMAN,E.L Epidemiology of
temporomandibular disorders. In: FRICTON, J.R. ed. Advances in
pain research and therapy. !995. p.1-14.
GLAROS, A.- Incidence of diurnal and nocturnal bruxism. J. Prosthe.
Dent.,45,545-49, 1991.
GRAFF-RADFOR, S.B. -Orofacial pain: an overview of diagnosis and
management. In: FRICTON, J.R. ed. Advances in pain research and
therapy. 1995. p. 215-41.
67
HATHAWAY, K.M.- Bruxism: definition, measurement, and treatment.
In: FRICTON, J.R. ed. Advances in pain research and
Therapy. : 1995. p. 375-86.
HELKIMO,M.-Studies on functional and dysfunction of the masticatory
system. Proc. Finn. Dent. Soc., 70:37-49, 1974.
ISBERG, A.; WIDMALM, S.E.; IVARSSON, R.- Clinical, radiographic,
and electromyographic study of patients with internal derangement
of the temporomandibular joint. Am J Orthod Dentofac Orthop.,
88:453-60, 1985.
JAEGER, B. - Tension-type headache and myofascial pain. In: FRICTON,
J.R. ed. Advances in pain research and therapy. 1995. p.205-13.
JANKELSON, R.R. - Neuromuscular dental diagnosis and treatment.
St. Louis, Ishiyaku Euroamerica, 1990. 683p.
LAVIGNE, G.J.; LUND, J.P., DAO, T.T.T. - Comparison of pain and
quality of life in bruxers and patients with myofascial pain of the
masticatory muscles. J. Orofac. Pain, 8:350-56, 1994.
68
LAVIGNE, G.J. & MONTPLAISIR, J.V. - Epidemiology, diagnosis,
pathophysiology and pharmacology. In: FRICTON, J.R ed. Advances
in pain research and therapy. 1995. p.387-404.
LEVY, J.; NIELSEN, I.L.; MC NEILL, C.; DANZIG, W.; GOLDMAN, S.
MILLER, A.J.- Adaptation of craniofacial muscles in subjects with
craniomandibular disorders. American J. Orthod. Dentofacial
Orthop., 97:20-34, 1990.
LUND, J.P.- Pain and the control of muscles. In: FRICTON, J.R. ed.
Advances in pain research and therapy. 1995. p. 103-15.
MARCHESAN, I.Q.- O trabalho fonoaudiológico nas alterações do
sistema estomatognático.In: BOLAFFI, C., GOMES, I.C.D.,
MARCHESAN,I.Q., ZORZI, J.L. eds. Tópicos em fonoaudiologia. São
Paulo,1994. p.89.
MEDEIROS, J.S.- Oclusão. São Paulo, American Med,1991.214p.
MOORE, K.L. - Anatomia orientada para a clínica. Rio de Janeiro,
Guanabara,1985. 754p.
OKESON, J.P.- Occlusion and functional disorders of the masticatory
system. Dental clinics of North America, 39:285-300, 1995.
69
PULLINGER, AG.; SELIGMAN, D.A.; GORNBEIN, J.A. - A multiple
regression analysis of the risk and relative odds of
temporomandibular disorders as a functional of common occlusal
features. J. Dent. Res., 72:968, 1993.
QUINN, H.J. - Mandibular exercises to control bruxism and deviation
problems. J. Cranio, 13:30-4, 1995.
RIISE,C.& SHEIKHOLESLAM, A.- Influence of experimental interfering
occlusal contacts on the activity of the anterior temporal and
masseter muscles during mastication. J. Oral Rehabilit.,11:325,
1984.
ROMPRÉ, P.H.; VELLY-MIGUEL, A M.; MONTPLAISIR, J.; LUND, J.P.;
LAVIGNE, G.J. - Bruxism and other orofacial moviments during
sleep. J. Craniomandib. Disorder Facial Oral Pain,6 :71-81, 1992.
SCHROEDER, H.; SIGMUND, H.; SANTIBÁÑEZ, G.; KLUGE, A. -Causes
and signs of temporomandibular joint pain and dysfunction: an
electromyographical investigation. J. Oral Rehabilitation.,18:301-10,
1991.
70
SHUPE, R.J.; MOHAMED, S.E.; CRISTENSEN, L.V.; et al. - Effects of
oclusal guidance on jaw muscle activity. J. Prosthet. Dent., 51:811,
1984.
SICHER, H. & TANDLER, J. - Anatomia para Dentistas. São Paulo,
Atheneu,1981. 416p.
SKOOTSKY, S.A.; JAEGER, B.; OYE, R.K. - Prevalence of myofascial
pain in general internal medicine practice. West Journal of
Medicine, 151:157-60, 1989.
SOLBERG,W.K.; SELIGMAN, D.A.; PULLINGER, A.G. - Temporomandibular disorders part lll: oclusal and articular factors associated
with muscle tenderness. J. Prosthetic Dent., 19:483-89, 1988.
STEENKS, M.H.; WYJER, A.; LOBBEZOO-SCHOLTE, AM.; BOSMAN, F.
Orthopedic diagnostic tests for temporomandibular and cervical spine
disorders. In: FRICTON, J.R. ed. Advances in pain research and
therapy. 1995. p.325-50.
STURDEVANT, J.R.; LUNDEEN, T.F.; GEORGE, J.M. - Stress in patients
with pain in muscles of mastication and the temporomandidular
joints. J.Oral Rehabil.; 15:631-37, 1988.
71
THORNHILL, M.H. - Masticatory muscle symptoms in a patient with Mc
Ardle’s disease. Oral Surg. Med. Pathol. Radiol. Endod., 5:544-46,
1996.
TURK, D.C.; THOMAS, E.R.; ZAKI, H.S. - Multiaxial assessment and
classification of temporalmandibular disorder pain patients. In:
FRICTON, J.R. ed. Advances in pain research and therapy.1995.
p.145-63.
VALK, J.W.; ZONNEBERG, AJ.J.; VAN MAANEM, C.J.; et al. - The
biomechanical effectes of a sagital split ramos osteotomy on the
relationship of the mandible, the hyoid bone, and the cervical spine.
Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop., 102:99-108, 1992.
VICKERS, R. & COUSINS, M. - Management of chronic orofacial pain.
Aust Fam Physic., 12:2315-21, 1994.
WIDMALM, S.E.; GUNN, S.M.; CHRISTIANSEN, R.L.; HAWLEY, L.M.
Association between craniomandibular disorder signs and symptoms,
oral parafunctions, race and sex. J. Oral Rehabil., 2:95-100,1995.
WILLIS, W.A. - The effectiveness of an extreme canine-protected splint
with limited lateral movement in treatment of temporomandibular
Dysfunction. Am. J. Orthod. Dentof. Orthop.,3:229-34, 1995.
72