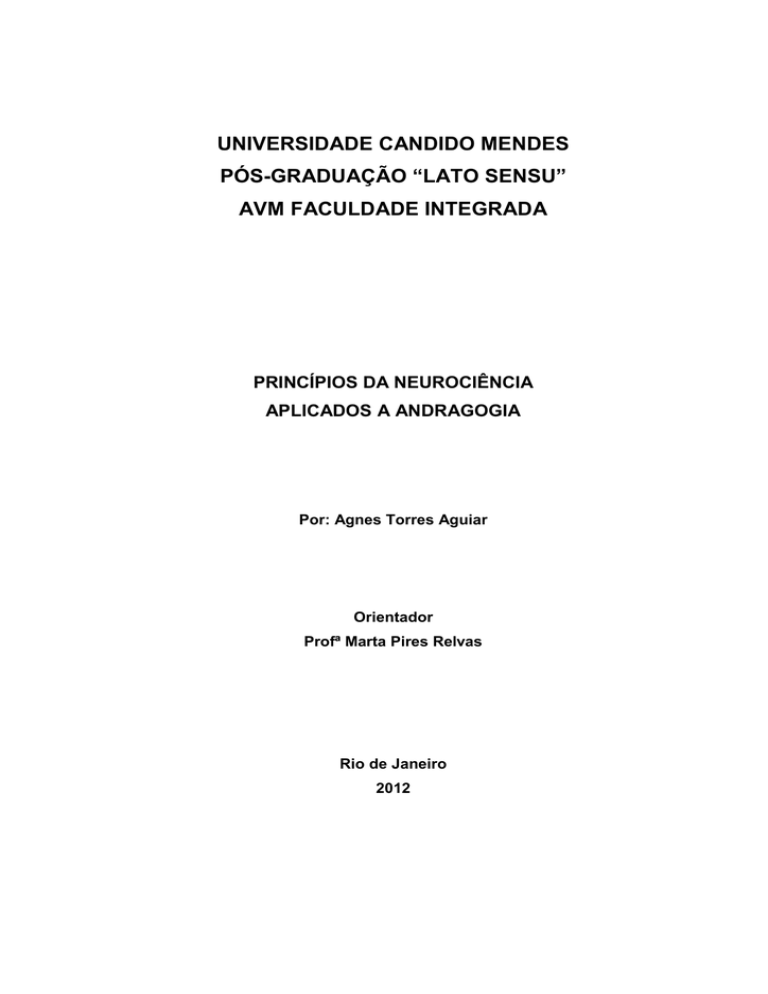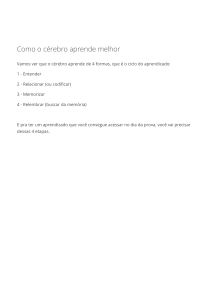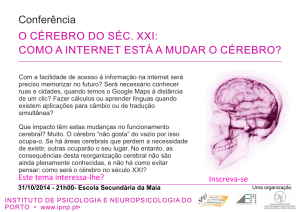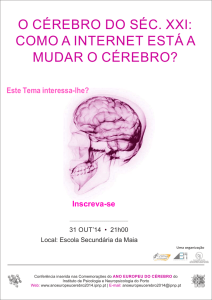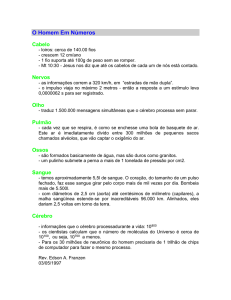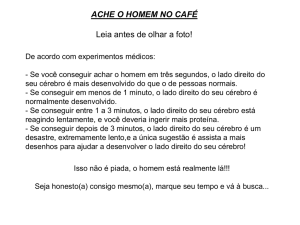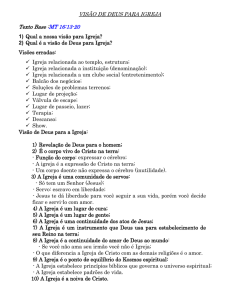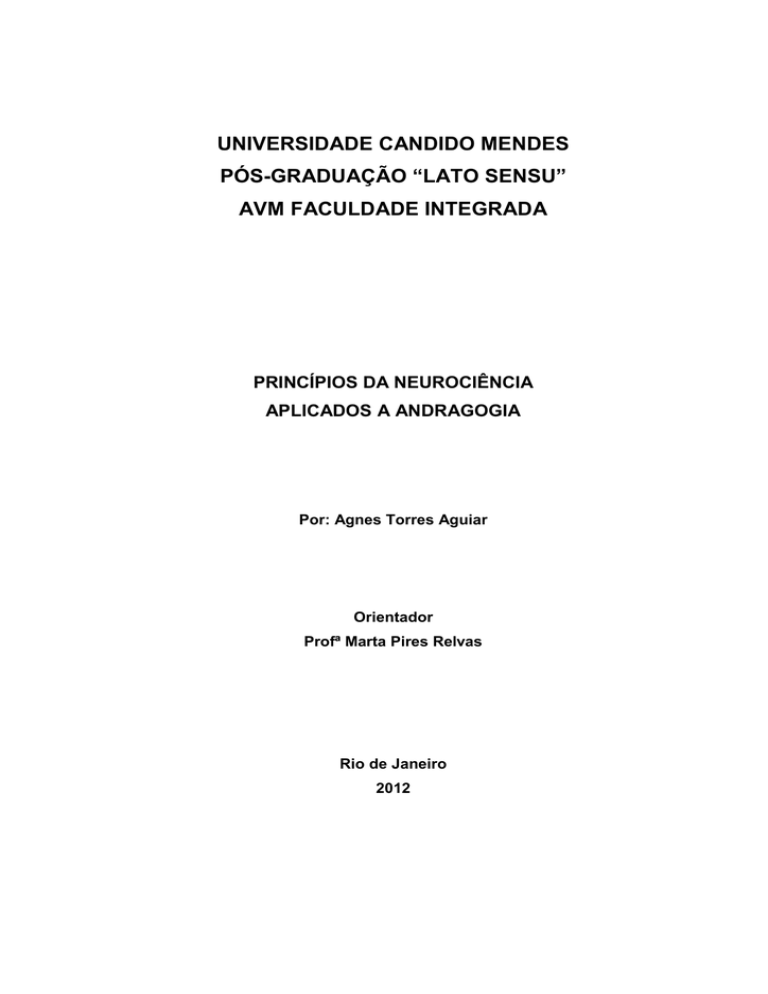
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
AVM FACULDADE INTEGRADA
PRINCÍPIOS DA NEUROCIÊNCIA
APLICADOS A ANDRAGOGIA
Por: Agnes Torres Aguiar
Orientador
Profª Marta Pires Relvas
Rio de Janeiro
2012
2
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
AVM FACULDADE INTEGRADA
PRINCÍPIOS DA NEUROCIÊNCIA
APLICADOS A ANDRAGOGIA
Apresentação
de
monografia
à
AVM
Faculdade
Integrada como requisito parcial para obtenção do grau
de especialista em Neurociência Pedagógica.
Por: Agnes Torres Aguiar.
3
AGRADECIMENTOS
...as pessoas importantes da minha vida
que torcem sempre por mim...
...aos Mestres maravilhosos que tive
nesta pós-graduação, e que souberam,
sobremaneira, estimular novas sinapses
no meu cérebro, diante do desafio de
aprender com eles...
4
DEDICATÓRIA
Dedico esse trabalho a perseverança, a
coragem, a resistência, ao entusiasmo e ao
amor a vida, pois sempre é tempo de
aprender com o coração e sentir com o
cérebro.
5
RESUMO
A neurociência busca compreender os aspectos anatômicos e funcionais
do Sistema Nervoso e o seu “centro de comando” - o cérebro. A tendência atual
sustenta que o cérebro é um sistema aberto, auto-organizável capaz de ser
moldado pela sua interação com o ambiente. Este princípio sugere um novo tipo
de aprendiz.
O grande desafio para os profissionais da educação está em entender
como o cérebro humano aprende e como guarda este aprendizado. Em outras
palavras, é buscar entender como processos que obedecem a mecanismos de
dimensões microscópicas interagem com dinâmicas sociais, culturais e históricas
de dimensões macroscópicas. É tarefa da neuropedagogia estudar o cérebro
como órgão propulsor do aprendizado, considerando, acima de tudo, as
abordagens, métodos e estratégias que irão interferir de forma significativa na
aprendizagem.
Nessa monografia, o desafio está em aplicar os avanços destas duas
ciências na educação específica de adultos, a andragogia, com o objetivo de
oferecer subsídios para a transformação da prática. Todavia, para orientar adultos
a aprender, é preciso considerar que estes não são aprendizes sem experiência,
ao contrário, a experiência individual é a fonte mais rica para a aprendizagem
nesta fase. Além disso, esse aluno é imediatista e busca na realidade acadêmica
soluções de problemas, tanto profissionais, quanto pessoais, que farão diferença
em sua vida
A proposta de uma aprendizagem autônoma e significativa transpassa a
necessidade educacional de adequação dos métodos e técnicas de ensino
vigentes para ensinar adultos, dando-se maior ênfase para a construção da
aprendizagem pelo próprio aluno, não de forma passiva, mas, sobretudo, de
forma ativa, como num jogo envolvente, que o motiva a trilhar caminhos ainda
desconhecidos.
6
METODOLOGIA
A metodologia utilizada caracteriza-se por uma abordagem exploratória do
tema “Neurociência aplicada à aprendizagem de adultos”, alicerçada em
pesquisas bibliográficas em autores pertinentes, na tentativa de alinhavar idéias e
juntar saberes. Assim, descreve-se a relação entre cérebro e aprendizagem; as
possibilidades da neurociência aplicadas a pratica de ensino; e a utilização de
jogos didáticos como estratégia de ensino para aprendizagem do adulto.
7
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
08
CAPÍTULO I - APRENDER OCORRE NO CÉREBRO
10
CAPÍTULO II - APRENDER A APRENDER
20
CAPÍTULO III – APRENDER EM AÇÃO
35
CAPÍTULO IV – APRENDER COM JOGOS DIDÁTICOS
43
CONSIDERAÇÕES FINAIS
52
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
54
BIBLIOGRAFIA CITADA
55
FOLHA DE AVALIAÇÃO
57
8
INTRODUÇÃO
Aprender ocorre no cérebro, é o que afirmam os recentes avanços da
neurociência. Sendo verdadeira a afirmação, então, a educação está intimamente
ligada ao conhecimento de como o cérebro funciona.
Mas como o cérebro aprende?
A que estímulos responde melhor?
Existem métodos e técnicas diferentes para ensinar adultos e crianças?
Essas e outras tantas questões vem impondo aos educadores de hoje, e
de amanhã, um embasamento bio-psicológico dos processos mentais envolvidos
na aprendizagem, em conjugação com os aspectos didáticos pertinentes a prática
pedagógica – ou seja, uma visão científica da educação.
Com o objetivo de contribuir para a melhor compreensão do cérebro
humano como o propulsor da aprendizagem, esta monografia tem como
pressuposto aplicar os conhecimentos e descobertas da neurociência à
andragogia, naturalmente levando em conta a fase cognitivo-comportamental em
que se encontra o aluno em questão, para melhor auxiliá-lo.
Assim, no primeiro capítulo, intitulado “aprender ocorre no cérebro”
tratamos de situar o cérebro como órgão da aprendizagem. No capítulo 2,
dedicamos atenção as características que melhor definem a aprendizagem com
significado, com o enfoque voltado para o “aprender a aprende”, na educação de
adultos. O capítulo 3 aborda aspectos da aprendizagem ativa como um caminho
possível para envolver o aluno maduro no seu processo de aprendizagem,
destacando o “aprender em ação” como um recurso motivador da aprendizagem.
O quarto e último capítulo traz como sugestão a utilização de jogos didáticos
como ferramenta de aprendizagem, e não de ensino, de modo a colocar o aluno
experiente à frente da construção do seu caminho acadêmico, de acordo com
suas necessidade e motivações, ao “aprender com jogos didáticos”. A conclusão
9
enfatiza as considerações finais a que se chegou com a pesquisa sobre os
“Princípios da Neurociência aplicados a Andragogia.
Espera-se, modestamente, ao final deste trabalho conseguir defender a
idéia de que não se pode mais fazer educação sem interessar-se em desvendar,
mesmo que minimamente, o funcionamento do “cérebro”; e com isso, contribuir de
forma significativa para a transformação da prática educacional.
10
CAPÍTULO I
APRENDER OCORRE NO CÉREBRO
“Já nascemos com a mais poderosa máquina que se
conhece no universo, mas de que adianta se não
soubermos fazê-la funcionar bem? Imagine um
computador espetacular, mas que você não sabe nem
ligar!” (VALLE, 2004, p.19).
Em nosso cérebro existem aproximadamente 100 bilhões de neurônios1,
cada um com capacidade para efetuar milhares de ligações com outros neurônios
(BEAR; CONNORS; PARADISO, 2008, p. 690). Isso cria em nossa cabeça uma
verdadeira “rede neural”2, responsável pela assimilação, comunicação, recepção,
armazenamento e transmissão de informações, mesmo quando estamos
dormindo, e por toda nossa vida.
O que antes se pensava ser apenas uma “caixa vazia”, atualmente é
reconhecidamente à base de sustentação e evolução filo3 e ontogênica4 do ser
humano. Sede das nossas memórias, onde ocorre à aprendizagem, nossos
pensamentos, razão, emoção, e onde mudamos nosso comportamento.
Mas nem sempre foi assim. Até meados do século passado muito pouco se
sabia sobre a anatomia e fisiologia cerebral. Apenas com a comprovação
científica de inúmeras pesquisas das neurociências, e do progressivo avanço das
neuroimagens, no último meio século, é que essa “máquina” sem precedentes
pode começar a ser desvendada.
1
Célula nervosa.
São sistemas estruturados numa aproximação à computação baseada em ligações em rede.
3
Filogênico (ou filogênese) (grego: phylon = tribo, raça e genetikos = relativo à gênese = origem) é o termo
comumente utilizado para hipóteses de relações evolutivas de um grupo de organismos, isto é, relações
ancestrais entre espécies conhecidas.
4
Ontogênico (ou ontogênese) (ὄντος, ontos "ser", genesis "criação") é o estudo das origens e
desenvolvimento de um organismo desde o embrião (ovo fertilizado), até sua plena forma desenvolvida.
2
11
De fato, a neuroimagem funcional5, tem apontado para aspectos
conceituais novos, que anteriormente não eram enfatizados (LENT, 2010, p.741),
possibilitando um entendimento, cada vez mais preciso, sobre como os circuitos
neurais incorporam e consolidam experiências passageiras em eventos
duradouros de nossa memória, por exemplo, ou como transformam informações
sensoriais em aprendizagem.
“O desenvolvimento de novas técnicas de imagem,
especialmente a Tomografia por Emissão de Pósitrons
(PET) e o aperfeiçoamento das técnicas de
Ressonância Magnética (MRI) permitem observar, em
tempo real, imagens da fisiologia associada com o
processo de aprendizagem. É possível observar, por
exemplo, regiões específicas do cérebro sendo
ativadas, quando atividades de leitura são efetuadas,
bem como os neurônios e sua intrincada rede de
células organizando-se e coordenando suas tarefas”
(WOLYNEC, Jan 2004).6
Mas como o cérebro aprende? Se em tempos atuais está claro que a
aprendizagem, assim como nossas funções mentais superiores (memória,
pensamento, etc), se dão no cérebro, algumas questões ainda permanecem sem
resposta e vem sendo objeto de estudo de diversas pesquisas em andamento,
sugerindo que, a qualquer momento, o que já conhecemos pode vir a mudar,
frente aos avanços científicos. Entretanto, isso não invalida que os
educadores tomem conhecimento sobre o que os avanços das neurociências têm
a dizer até aqui sobre o assunto, e de que modo esses conhecimentos podem
interferir na prática em sala de aula.
5
Refere-se a um conjunto de técnicas que buscam obter imagens do encéfalo do paciente por meios nãoinvasivos. Entre elas encontram-se a tomografia, cintilografia e a ressonância magnética. As informações
obtidas nestes exames podem ser complementadas por outros meios de aferição da atividade cerebral,
como o eletroencefalograma ou testes de habilidade cognitiva.
6
WOLYNEC, Elisa. Evolução dos conceitos sobre o cérebro e o processo de aprendizagem. Disponível em:
WWW.techne.com.br/artigos/ArtEdu_evolução.pdf. Acessado em: 22/11/2011.
12
1.1
– Aprender de fora para dentro, e vice-versa
A tendência atual das neurociências sustenta que o cérebro é um sistema
aberto, auto-organizável capaz de ser moldado pela sua interação com o
ambiente. Este princípio sugere um novo tipo de aluno em processo de
aprendizagem - o sujeito cerebral (RELVAS, Revista Psiquê ciência &vida. Ano
IV, nº 64, abril/2011), cujos “circuitos cerebrais” emergem e são moldados a partir
de uma combinação de influências dos planos bio-psico-social.
Entender de que maneira os estímulos ambientais chegam ao cérebro e
como as redes neurais são formadas no momento da aprendizagem, é saber
como o cérebro aprende, como registra, organiza e interpreta experiências, em
um processo dinâmico e coeso.
O grande desafio para os profissionais da educação está em entender a
relação que existe entre a organização de estruturas microscópicas (dentro do
cérebro) e os repertórios comportamentais macroscópicos (aprendizagem e
comportamento). Em outras palavras, entender como processos que obedecem a
mecanismo químico e elétrico de dimensões microscópicas interagem com
dinâmicas sociais, culturais e históricas de dimensões macroscópicas.
“o desenvolvimento humano emerge da dialética e da
tensão entre fatores externos sociocuturais e os fatores
internos psicobiológicos” (FONSECA, 2011, p. 106).
Atualmente, tais conhecimentos são relevantes para o reposicionamento
das ações pedagógicas, de modo a permitir que as experiências individuais frente
à aprendizagem conectem o ser biológico ao ser social. A neurociência
pedagógica7 oferece um enorme potencial para nortear pesquisas futuras. Talvez
esta ciência seja a “chave” que faltava – compreender as bases biológicas dos
processos mentais pelos quais percebemos, agimos, lembramos, aprendemos.
Porém, ainda se faz necessário construir mais pontes entre a neurociência e a
7
Ou neuropedagogia. Princípios da neurociência com potencial aplicação na educação.
13
prática educacional; e quem pode fazer essa ligação são os profissionais de
ambas, que se dedicarem a estudar o assunto.
1.2
– Aprender é ativar sinapses
“Aprende-se com o cérebro e é com ele que todas as
ações perpassam como um filme na máquina
fotográfica. É um hardware onde vários softwares são
“rodados”
por meio das ondas eletromagnéticas”
(RELVAS, 2009, p. 60).
Aprender ocorre no cérebro e, portanto, o processo de ensino-
aprendizagem está intimamente ligado ao conhecimento de como o cérebro
funciona. Isso requer que se conheçam as bases morfofisiológicas do Sistema
Nervoso8. Neste trabalho, de forma sintética, trataremos de conhecer um pouco
sobre a célula nervosa e suas peculiaridades funcionais, sem, todavia, o devido
aprofundamento neurocientífico que tal assunto requer.
A unidade celular básica do Sistema Nervoso é o neurônio ou célula
nervosa. Um neurônio típico apresenta corpo celular (onde está o núcleo, o
citoplasma e o citoesqueleto9), e finos prolongamentos celulares que podem ser
subdivididos em dendritos e axônio. A neurociência estuda os neurônios, sua
anatomia e também suas funções específicas.
Com características muito peculiares, únicas no nosso organismo, os
neurônios são células altamente estimuláveis, capazes de perceber as
mínimas variações que ocorrem em torno de si, reagindo com uma alteração
elétrica que percorre sua membrana chamada impulso nervoso. Além disso, as
células nervosas podem estabelecer milhares de conexões entre si, de tal
maneira que um neurônio pode ligar-se a cerca de mil outros neurônios.
8
9
O Sistema Nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente e elaborar respostas.
Responsável por manter a forma da célula.
14
Estando ligados, quando um deles é estimulado pode transmitir aos
outros o estímulo recebido, gerando uma reação em cadeia, uma verdadeira
“onda” sucessiva de despolarização e repolarização, o impulso nervoso, que se
propaga ao longo da membrana plasmática do neurônio, em um único sentido:
DENDRITO – CORPO CELULAR – AXÔNIO. O impulso é transmitido de uma
célula nervosa para outra através das sinapses10, região de contato muito
próxima entre a extremidade terminal do axônio de um neurônio e a superfície
de outras células, que podem ser tanto outros neurônios como células
sensoriais, musculares ou glandulares.
Então, se um neurônio pode se conectar a milhares de outros - e no
cérebro humano existem quase 100 bilhões de neurônios, a projeção de uma rede
neural gira em torno de, aproximadamente, 100 trilhões de possíveis conexões.
Esse é o nosso potencial cerebral. Quem irá confirmar ou induzir a formação das
conexões é o estímulo recebido do ambiente, no qual o “sujeito cerebral” está
inserido.
“ O que torna os cérebros diferentes é o fato de que os
detalhes de como os neurônios se interligam vão seguir
uma história própria. É como uma cidade planejada,
que à medida que vai sendo construída vai adquirindo
características próprias, podendo ocorrer, inclusive,
algumas mudanças no plano original. A história de vida
de cada um constrói, desfaz e reorganiza as conexões
sinápticas entre os bilhões de neurônios que
constituem o cérebro” (CONSENZA; GUERRA, 2011,
p. 28).
A educação formal e a informal são tipos de interações que podem
favorecer, ou não, a criação de novas sinapses e levar, ou não, a aprendizagem.
Daí a relevância de se aprofundar os conhecimentos sobre o assunto.
10
Região de contato entre dois neurônios, onde os impulsos nervosos passam do axônio de um deles para
os dendritos do outro.
15
“O treino e a aprendizagem são interações que podem
levar à criação de novas sinapses e a facilitação do
fluxo de informações dentro de um circuito nervoso
(...)Por outro lado, o desuso, ou uma doença, podem
fazer com que ligações sejam desfeitas, empobrecendo
a comunicação nos circuitos atingidos (...) a
aprendizagem pode levar não só ao aumento da
complexidade das ligações em um circuito neural, mas
também à associação de circuitos até então
independentes. É o que acontece quando aprendemos
novos conceitos a partir de conhecimentos já
existentes” (CONSENZA; GUERRA, 2011, p 36).
Em síntese, a aprendizagem pode ser compreendida como o processo pelo
qual o cérebro reage aos estímulos do ambiente ativando os neurônios a formar
novas sinapses; uma função biológica desenvolvida nos seres vivos de certa
complexidade, que implica em produzir mudanças no organismo para responder
às mudanças ambientais relevantes, conservando essas mudanças para futuras
interações com o ambiente.
Se a aprendizagem é o processo pelo qual o cérebro reage aos estímulos
do ambiente fazendo novas conexões, então o ensino bem sucedido é aquele que
afeta as funções cerebrais provocando alterações na taxa de conexões
sinápticas. Vendo por este ângulo, a qualidade da intervenção pedagógica,
portanto, altera a funcionabilidade do cérebro e sua anatomia microscópica.
Assim, alimentar as células nervosas com informações e atividades eleva a
capacidade de fazer conexões entre as células nervosas, aumentando a agilidade
mental e a capacidade de aprender (VALLE, 2004, p.16).
Por certo, este conhecimento afeta o contexto da sala de aula, pois todos
os fatores envolvidos no processo de ensino (currículo, métodos, estratégias)
interagem com as características do cérebro de cada indivíduo em processo de
aprendizagem, num movimento de conexões que nunca estanca.
Sendo assim, toda relação que o indivíduo estabelece com o meio produz
modificações no seu cérebro.
16
“Com um ensino adequado, e devidamente
mediatizado, com prática e treino, as funções ou
competências cognitivas podem ser melhoradas e
aperfeiçoadas, uma vez que todos os indivíduos
possuem um potencial de aprendizagem para se
desenvolver de forma mais eficaz do que efetivamente
tem feito” (FONSECA, 2011, p. 72).
É interagindo, refletindo, descobrindo por si mesmo ativamente, que novas
conexões vão se formando, e quanto melhores e em maior número elas forem,
melhor a qualidade do aprendizado. Para isso, o cérebro necessita de estímulos.
Cada vez mais, a ciência confirma a importância de se exercitar tal órgão, para
que as potencialidades de cada um, da memória à coordenação, sejam
desenvolvidas ao máximo (RELVAS, 2009, p 36).
“O cérebro, como sabemos, é a parte mais importante
do nosso sistema nervoso, pois é através dele que
tomamos consciência das informações que chegam
pelos órgãos dos sentidos e processamos essas
informações, comparando-as com nossas vivências e
expectativas. É dele também que emanam as
respostas voluntárias ou involuntárias, que fazem com
que o corpo, eventualmente, atue sobre o ambiente”
(CONSENZA; GUERRA, 2011, p 11).
Concluindo,
aprender
envolve
simultaneidade
da
integridade
neurobiológica e a presença de um contexto facilitador. (FONSECA, 2011, p 65).
Deve-se considerar, tanto a marca que a experiência deixa em nosso cérebro,
quanto à herança ancestral carregada pelos genes que influenciam a organização
funcional e estrutural do nosso cérebro (LEDOUX, 2002)11.
1.3 – Aprender em resposta às experiências
11
Joseph E. LeDoux é neurobiólogo, Professor na Universidade de Nova York. O interesse de suas pesquisas
centra-se essencialmente sobre as bases biológicas da memória e da emoção, especialmente os
mecanismos de medo. Este trecho foi extraído da obra Synaptic self: how our brains became Who we are,
2002, citado no site www.cns.nyu.edu/ledoux/.../synaptic_review.htm, em 20/12/2011.
17
Á medida que interagimos com o ambiente, as ligações sinápticas
começam a mudar. Há a formação de novas sinapses, o reforço de sinapses com
atividade útil, e as ligações pouco usadas tornam-se mais fracas ou
desaparecem. Sinapses ativas são mantidas, enquanto outras sem uso são
suprimidas. Esta regra obedece ao princípio “usa ou perde”, através do qual
moldamos o nosso cérebro.
Apesar do cérebro como um todo ser relativamente imutável (aspecto
anatômico), os neurônios individualmente podem ser modificados por diferentes
razões - a aprendizagem é uma delas. Assim, o cérebro pode se modificar
significativamente ao longo da vida, em resposta às experiências aprendidas.
Essa flexibilidade do cérebro, em resposta às exigências ambientais, é chamada
plasticidade cerebral12.
“ O homem é um ser multifacetado. O ser humano e o
diamante bruto têm muito em comum. Assim como o
diamante, que passa pelo processo de uma cuidadosa
lapidação para se tornar uma bela e valiosa pedra,
assim, também, acontece com o ser humano. O
homem não nasce perfeito e acabado. Antes, parece
como um feixe de potencialidades que devem ser
“lapidadas” ao longo de uma vida” (RELVAS, 2009, p.
139).
Fruto do incessante trabalho de pesquisa de renomados neurocientistas, o
conceito de plasticidade cerebral é recente, data de meados do século XX, e um
dos mais revolucionários no avanço das neurociências. Até bem pouco tempo
atrás, admitia-se que o tecido cerebral não tinha capacidade regenerativa e que o
cérebro era definido geneticamente, e ponto final. Atualmente, o aumento do
conhecimento sobre o cérebro mostrou que este é mais maleável do que até
então se imaginava, modificando-se sob o efeito das experiências, das
percepções, das ações e dos comportamentos, mesmo na idade madura. Esse
12
Analogia aos modelos de plasticina que podem ser moldados e mudar de forma
18
conhecimento é de suma importância e interesse para o desenvolvimento dessa
monografia e será abordado durante todos os capítulos.
Trazendo para a educação o princípio da plasticidade cerebral, é possível
perceber que existe uma estreita relação entre aprendizagem e plasticidade
cerebral. Nas palavras de Ramon M. Consenza e Leonor B. Guerra (2011), na
obra Neurociência e educação: como o cérebro aprende, seria o mesmo que dizer
que, à base da aprendizagem está no fazer e desfazer as associações existentes
entre as células nervosas, e, felizmente, isso se dá ao longo de toda vida.
“ nos últimos anos, neurocientistas descobriram que o
cérebro muda durante a vida toda e essa mudança é
benéfica. Experiências revelam que situações
desafiadoras e ambientes “complexos”, agradáveis e
divertidos fornecem capacidade extra de que o cérebro
precisa para reconfigurar-se” (RELVAS, 2009, p.54).
O cérebro pode ser alterado (no nível microscópico) através da criação,
reforço e eliminação de conexões neurais. Entretanto, fenômenos neuroplásticos
mais duradouros ocorrem apenas com o tempo de treinamento e aprendizagem,
estando o grau de modificação neural intimamente relacionado com a qualidade
(significado) e freqüência do estímulo. Quanto mais significativo for o estímulo e
as interações efetuadas, maiores e mais estáveis serão as conexões
e as
alterações produzidas, em razão da atividade cerebral. Neste caso, os circuitos
neurais envolvidos tornam-se fortes e permanentes, com a emergência de novos
circuitos entre os neurônios e o fortalecimento dos mais utilizados. Ao que tudo
indica, tal qual nossos músculos, o cérebro também gosta de ser exercitado.
“Terá mais chance de ser significante aquilo que tenha
ligações com o que já é conhecido, que atenda a
expectativa ou que seja estimulante e agradável”
(CONSENZA; GUERRA, 2011, p. 48).
Quando nosso aluno absorve algum novo conceito e muda seu
comportamento, é porque houve modificação sináptica no seu cérebro e ocorreu a
19
aprendizagem. Seja do nível escolar que for (fundamental, infantil, superior), o
processo cerebral é o mesmo, pois a plasticidade de que tratamos é uma
propriedade intrínseca ao cérebro humano. Assim sendo, o cérebro adulto, objeto
de estudo deste trabalho, também se modifica a cada novo aprendizado, não
sendo a plasticidade exclusividade das crianças. O cérebro adulto responde aos
estímulos ambientais, não apenas com operações funcionais imediatas, mas
também com alterações de longa duração. Seu cérebro maduro também é
mutante e não estático como se imaginava.
“O cérebro determinou e determina assim a
aprendizagem humana, mas a aprendizagem
contextualizada
e
mediatizada
determinou
inexoravelmente a sua plasticidade funcional. Em
síntese, a cognição humana aprende-se e ensina-se
por meio de mediatização” (FONSECA, 2011, p. 122,
123).
Até aqui, foi possível afirmar que o cérebro, em perfeitas condições, é o
“órgão da aprendizagem”. E porque a plasticidade baseia-se na aprendizagem, e
vice-versa, pode-se aprender em qualquer fase da vida, pois o cérebro do adulto
também reorganiza a comunicação entre os neurônios a cada novo aprendizado.
Contudo a forma como processamos a aprendizagem segue caminhos diferentes
na criança e no adulto. Agora, resta saber como estimular novas conexões, a
partir das existentes, sem desmotivar o “sujeito cerebral adulto”. Daqui para
frente, o desafio será o de aplicar os princípios da neurociência à andragogia,
para tentar sugerir um método ou estratégia de ensino que melhor se adeque a
aprendizagem do adulto.
20
CAPÍTULO 2
APRENDER A APRENDER
“Uma profunda transformação conceitual ocorreu na
neurociência quando caiu por terra a idéia de que
nosso cérebro é todo formado durante a vida
embrionária, nada mais restando após o nascimento
senão aproveitar as nossas capacidades congênitas
para aprimorá-las. Se o cérebro é plástico, mutável,
como poderíamos aplicar esse conceito na educação?
Afinal, não é a educação a prática social que objetiva
mudar as pessoas e capacitá-las a realizar tarefas e
comportamentos, ensiná-las a executar operações
mentais sofisticadas e complexas e viver em sociedade
segundo normas vigentes e vantajosas para a
coletividade?” (LENT, 2010 ).
No primeiro capítulo vimos que, a cada nova experiência do indivíduo,
redes de neurônios são rearranjadas, outras tantas conexões são reforçadas e
múltiplas possibilidades de respostas ao ambiente tornam-se possíveis,
permitindo a constante plasticidade cerebral, um forte argumento neurocientífico
para a aprendizagem, inclusive do adulto. Neste segundo capítulo buscaremos
conhecer aspectos específicos da aprendizagem de adultos, de modo a subsidiar
argumentos que reforcem a importância de se dar atenção também às práticas de
ensino voltadas para o aluno maduro, face aos princípios da neurociência
aplicados à educação.
2.1 – Aprender a ensinar adultos
O cérebro adulto tem uma anatomia diferente e reage a estímulos de modo
diferente do das crianças, por isso mesmo há que se conhecê-lo, de modo à
melhor contextualizarmos os procedimentos e estratégias mais apropriadas ao
processo cognitivo13 do adulto. Segundo Marta Pires Relvas (2009, p. 17), a
escolha dos exercícios cuja cognição seja bem estimulada são importantes e
13
Ato de adquirir conhecimento.
21
fundamentais para a repaginação do movimento cerebral de aprender e estimular
as sinapses nervosas, para que ocorra um (re)arranjo das informações neurais,
em qualquer idade. Utilizando-se de estratégias didáticas diferenciadas,
apropriadas a cada fase do desenvolvimento cognitivo, é possível redimensionar
o processo de ensino-aprendizagem, em favor da recontextualização dos
indivíduos.
O termo Andragogia remete a um conceito de educação voltada para o
adulto, em contraposição à pedagogia, que se refere à educação de crianças.
Segundo a definição creditada a Malcolm Knowles (1970), é a ciência que estuda
as melhores práticas para orientar adultos a aprender.
Todavia, para orientar adultos a aprender é preciso considerar que estes
não são aprendizes sem experiência, ao contrário, a experiência individual é a
fonte mais rica para a aprendizagem nesta fase. Além disso, esse aluno é
imediatista e busca na realidade acadêmica soluções de problemas, tanto
profissionais quanto pessoais, que farão diferença em sua vida; aprende melhor
quando o assunto é de valor utilitário, e, são motivados a aprender conforme
vivenciam necessidades e interesses que a aprendizagem trará.
Mas quem é esse aluno adulto? O conceito de adulto, defendido por
Oliveira (1998)14, é, de forma resumida, o de um indivíduo maduro o suficiente
para assumir as responsabilidades por seus atos diante da sociedade, em pelo
menos quatro aspectos da capacidade humana: sociológico, biológico, psicológico
e jurídico. Segundo o autor, adultos são capazes de analisar situações, fazer
paralelos e aceitar, ou não, as informações que chegam até ele. As suas
experiências vêm da realidade; seus erros e acertos trazem vivência
e
oportunidade de aprendizado.
14
Citado no texto Andragogia – uma concepção filosófica e metodológica de ensino e aprendizagem.
Disponível em <psicopedagogia. com.br/artigos/artigo.asp?entrID=905> de Maria de Lourdes Cysneiros.
Acessado em 18/01/2012. Ari Batista Oliveira é autor do texto Andragogia - a educação de Adultos de 1998.
22
Uma vez estabelecido o que entende por ser adulto, Oliveira (1998) passa
a refletir sobre os pressupostos que devem nortear o relacionamento com a
pessoa madura, a partir da elaboração de 14 princípios que fornecem um
referencial objetivo para situações de ensino e aprendizagem na maturidade, em
apologia aos 14 pontos para a gestão de Deming15citados a seguir:
Princípio 1 – O adulto é dotado de consciência crítica e consciência
ingênua, sendo que sua postura pró-ativa ou reativa tem direta relação
direta com seu tipo de consciência predominante;
Princípio 2 – Compartilhar experiências é fundamental para o adulto, tanto
para reforçar suas crenças, como para influenciar as atitudes dos outros;
Princípio 3 – A relação educacional do adulto é baseada na interação
entre facilitador e aprendiz, onde ambos aprendem entre si, num clima de
liberdade e pró-ação;
Princípio 4 – A negociação com o adulto sobre seu interesse em participar
de uma atividade de aprendizagem é a chave para sua motivação;
Princípio 5 – O centro das atividades educacionais de adulto é na
aprendizagem e jamais no ensino;
Princípio 6 – O adulto é o agente de sua aprendizagem e, por isso, é ele
quem deve decidir sobre o que aprender;
Princípio 7 – Aprender significa adquirir: conhecimento – habilidade –
atitude (CHA), e o processo de aprendizagem implica na aquisição
incondicional e total desses três elementos;
15
Os 14 pontos para a gestão de William Edwards Deming (1990), administrador americano, descrevem o
caminho para a qualidade total, o qual deve ser continuamente aperfeiçoado.
23
Princípio 8 – O processo de aprendizagem do adulto se desenvolve na
seguinte ordem: sensibilização (motivação), pesquisa (estudo), discussão
(esclarecimento), experimentação (prática), conclusão (convergência) e
compartilhamento (sedimentação);
Princípio 9 – A experiência é o melhor elemento motivador do adulto,
portanto, o ambiente de aprendizagem com pessoas adultas precisa ser
permeado de liberdade e incentivo para cada indivíduo falar de sua história,
de suas idéias, opinião, compreensão e conclusões;
Princípio 10 – O diálogo é a essência do relacionamento educacional entre
adultos, por isso a comunicação só se efetiva através dele;
Princípio 11 – A práxis educacional do adulto precisa estar baseada na
reflexão e ação. Consequentemente, os assuntos devem ser discutidos e
vivenciados, para que não se caia no erro de se tornarem verbalistas, que
induzem à reflexão, mas não são capazes de colocar em prática, ou por
outro lado, ativistas, que se apressam a executar, sem antes refletir nos
prós e contras;
Princípio 12 – Quem tem capacidade de ensinar adulto é apenas Deus,
que conhece o íntimo da pessoa e suas reais necessidades. Portanto, se
você não é Deus, não se atreva a desempenhar esse papel;
Princípio 13 – O professor tradicional prejudica o desenvolvimento do
adulto, pois o coloca num plano inferior de dependência, reforçando, com
isso, seu indesejável comportamento reativo, próprio da fase infantil; e
Princípio 14 – O professor que exerce a “Educação Bancária” –
depositador de conhecimentos – cria a perniciosa relação de “Opressor e
Oprimido”, que pode influenciar, negativamente, o modelo cognitivo do
indivíduo, pela vida inteira.
24
Entretanto, os sistemas de ensino voltados para o público adulto, de um
modo geral, continuam estruturados como se a mesma pedagogia utilizada para
crianças devesse ser aplicada. Mas, nem sempre foi assim. Se voltarmos no
tempo, a História da Educação revela que educação de adultos é uma prática tão
antiga quanto à história da raça humana. Na antiguidade, Confúsio e Lao Tse, na
China; Aristóteles, Sócrates e Platão, na Grécia; Cícero e Quintiliano, em Roma,
foram exclusivos educadores de adultos (OLIVEIRA, 1998, p. 1). Indo adiante no
tempo, a nossa herança cristã, com cerca de dois mil anos, apresenta fartos
exemplos de relacionamento educacional adulto através dos patriarcas e do
próprio Jesus Cristo, educador de adultos de por excelência.
Na percepção desses grandes pensadores, a aprendizagem do adulto era
um processo de ativa indagação e não de passiva recepção de conteúdos
transmitidos, como a prática de hoje impõe. Suas técnicas educacionais
desafiavam o aprendiz para a indagação e o crescimento intelectual. Contudo,
somente muito tempo depois, após a Primeira Guerra Mundial, foi que começou a
crescer nos Estados Unidos e na Europa um corpo de concepções diferenciadas
sobre as características do aprendiz adulto. Essas concepções se desenvolveram
e assumiram o formato de Teoria de Aprendizagem, com destaque para as idéias
de Eduard C. Lindeman (1926)16.
“a educação de adultos será através de situações e
não de disciplinas (...) na educação de adultos o
currículo é construído em função da necessidade do
estudante. Todo adulto se vê envolvido com situações
específicas de trabalho, lazer, de família, da
comunidade, etc – situações essas que exigem
ajustamentos.O adulto começa nesse ponto. As
matérias (disciplinas) só devem ser introduzidas
quando necessárias (...) a fonte de maior valor na
educação de adulto é a experiência do aprendiz(...) a
experiência é o livro vivo da aprendiz” (LINDERMAN,
1926, p. 8,9 e 10).
16
Eduard C. Lindeman (USA) foi um dos maiores contribuidores para pesquisa da educação de
adultos através do seu trabalho The Meaning of Adult Education, publicado em 1926.
25
Na época, Lindeman (1926) enumerou 6 pressupostos ou princípios-chave
para a educação de adultos. Hoje eles fazem parte dos fundamentos da moderna
teoria de aprendizagem de adulto, apesar de pouco divulgados e amplamente
aplicados. O modelo andragógico sugerido por ele baseia-se nos seguintes
princípios:
1 – Necessidade de saber: adultos precisam saber por que precisam
aprender algo e qual o ganho que terão no processo;
2 – Autoconhecimento do aprendiz: adultos são responsáveis por suas
decisões e por sua vida, portanto querem ser vistos e tratados pelos outros
como capazes de se autodirigir;
3 – Papel das experiências: para o adulto, suas experiências são a base
de seu aprendizado, e as técnicas que aproveitem a amplitude de
diferenças individuais serão mais eficazes;
4 – Prontidão para aprender: o adulto fica disposto a aprender quando a
ocasião exige algum tipo de aprendizagem relacionado a situações reais de
seu dia-a-dia;
5 – Orientação para aprendizagem: o adulto aprende melhor quando os
conceitos apresentados estão contextualizados para alguma aplicação e
utilidade; e
6 – Motivação: adultos são mais motivados a aprender por valores
intrínsecos,
tais
como:
autoestima,
qualidade
de
vida,
ascensão
profissional, desenvolvimento.
Analisando os princípios andragógicos citados neste trabalho, até o
momento, é possível perceber a importância de se encontrar estratégias de
ensino que mobilizem as vivências, as experiências e, sobretudo, as demandas
motivacionais do aluno adulto. As aulas devem ser enriquecidas com atividades
prazerosas e desafiadoras que enlacem os alunos maduros na construção ativa e
participativa do saber, viabilizando a troca de experiências através de dinâmicas e
de materiais diversificados que explorem todos os sentidos ao trabalhar o mesmo
conteúdo de diversas formas. Tudo isso acarreta uma verdadeira mudança de
26
paradigma, onde o centro do processo passa a ser o aluno adulto, suas
características e as suas circunstâncias.
“O humano somente se realiza com o saber, a
aprendizagem. Esta aprendizagem permite capacitar a
mente, respeitando a individualidade, a maturidade, a
parte psicológica e o ambiente sociocultural de cada
um (...) a mente humana é uma criação que se afirma
no cérebro. Então, atenção educadores para suas
ações pedagógicas, pois são por meio delas que os
cérebros são moldados em sua plasticidade cerebral “
(RELVAS, 2009, p. 140).
Na aprendizagem de adultos, o indivíduo circula continuamente em um
processo de construção concreta, desenvolvendo observações, experiências e
reflexões; formando conceitos e estabelecendo generalizações; testando suas
idéias em uma nova situação e redirecionando suas ações. A andragogia propõe
ensinar o adulto de forma integral, visando a promover o aprendizado focado mais
no processo e menos no conteúdo ministrado, buscando estimular através de
experiências e vivências que o impulsionem à assimilação de conteúdos
significativos para sua vida.
2.2 – Aprender tem que ter significado
“uma aprendizagem significativa pede que o sujeito que
quer aprender processe, ativamente e de forma
relevante, o material de aprendizagem” (PORTILHO,
2009, p. 117).
Se cada indivíduo possui uma vivência diferente do outro, como saber qual
conteúdo com significado escolher para montar uma grade curricular que atenda
a todos? E se aprender tem que ter significado para a vida pessoal e profissional
de alguém, que caminho seguir diante da diversidade de experiências existente
entre adultos? Os conhecimentos da neurociência não têm respostas prontas
para essas indagações, mas podem iluminar o caminho pedagógico apontando
27
para
alguns
conhecimentos
e
descobertas
pertinentes
a
aprendizagem
significativa, pelo ponto de vista do cérebro.
“O cérebro é ávido por novas informações. O professor
que não instiga seus estudantes à dúvida e à
curiosidade, inibe o potencial de inteligência e
afetividade no processo de aprender” (RELVAS,
Revista Psiquê, nº 64, p.43).
O cérebro é um dispositivo aperfeiçoado pela natureza ao longo de milhões
de anos de evolução, com a finalidade de detectar no ambiente os estímulos que
sejam importantes para a sobrevivência do indivíduo e da espécie. Assim,
estamos naturalmente programados para procurar por significado. Esse princípio,
orientado para a sobrevivência, impõe resistência ao cérebro quanto à
assimilação, interpretação e arquivamento de padrões sem significado. Não
sendo significativa uma informação, ele não consegue disparar seu registro; para
ele esse conhecimento é inútil.
De fato, para que a aprendizagem ocorra ela deve ter significado em
relação às experiências anteriores do indivíduo, pois o cérebro reconhece o que
lhe é familiar e automaticamente o registra, ao mesmo tempo em que procura
estímulos adicionais e reage a eles, eliminando o que não faz “gancho” com os
seus registros.
Isso quer dizer que o ambiente de aprendizagem precisa fornecer
familiaridade e fazer os preparativos para as novidades e descobertas. A partir do
que tem significado, permitir a formulação de problemas de algum modo
desafiantes que incentivem o aprender, desencadeando modificações de
comportamentos e contribuindo para a utilização do que é aprendido em
situações diferentes.
Em suma, o ser humano constrói conhecimentos sobre experiências
anteriores, e aprender significa que as informações se relacionam e estão
conectadas, indicando que são importantes. A percepção de novos eventos é
28
modulada, em parte, por eventos passados que já produziram alterações no
cérebro (memórias) e pode ser enriquecida com outras.
Aprender, portanto, possui um caráter dinâmico que nunca está acabado e
que exige ações de ensino direcionadas para que os alunos aprofundem e
ampliem os significados elaborados, mediante a participação consciente nas
atividades propostas. Novamente, para reforçar, para uma aprendizagem
significativa,
a
estrategicamente,
aula tem
a
fim
que
de
ser prazerosa,
atender
aos
elaborada
movimentos
e
organizada,
neuroquímicos
e
neuroelétricos do estudante (RELVAS, Revista Psiquê, nº 64, p.43), de acordo
com a etapa do desenvolvimento cognitivo que estiver.
“o cérebro está permanentemente preparado para
aprender os estímulos significantes e aprender as
lições daí decorrentes. Essa é uma boa notícia para os
professores, ao mesmo tempo em que é, talvez, o
maior desafio que têm no ambiente escolar. Podemos
dizer que o cérebro tem uma motivação intrínseca para
aprender, mas só está disposto a fazê-lo para aquilo
que reconheça como significante. Portanto, a maneira
primordial de capturar a atenção é apresentar o
conteúdo a ser estudado de maneira que os alunos o
reconheçam como importante (...) um ambiente
estimulante e agradável pode ser criado envolvendo os
estudantes em atividade que eles assumam um papel
ativo e não sejam meros expectadores” (CONSENZA;
GUERRA, 2011, p.48).
Por isso, os estudantes precisam encontrar significado no que estudam, do
contrário, o cérebro, como fiel escudeiro da aprendizagem significativa, se não
encontrar coerência na informação que recebe a apaga. (RELVAS, Revista
Psiquê, nº 64, p. 45)
29
2.3 – Aprender com a razão e a emoção: embora quase sempre
ninguém se conscientize disso
“De um modo ou de outro, nossos atos e pensamentos
são sempre guiados ou influenciados pelas emoções”
(LENT, 2010).
Que aprendemos o tempo todo, mesmo na idade adulta, não resta mais
dúvidas; que as mais ricas fontes de aprendizagem são as experiências
significativas está claro também. Agora, que isso acontece de uma forma
integrada entre a função cognitiva17 e as emoções, precisa-se conhecer melhor.
Segundo Marta P. Relvas (Revista Psiquê, nº 64, p. 42), para garantir que
as informações sejam transformadas em aprendizagem, as aulas devem ser
emolduradas pela emoção, pois quando estas tem significado para a vida e vem
pelo caminho da emoção, jamais são esquecidas, tendo em vista que, o
envolvimento emocional, além de fazer aprender melhor, em sua intencionalidade,
traz em si o segredo do sucesso inteiro. Com ele “mergulhamos de cabeça”, sem
separar “saber” e “ser”, com intensidade e gostando do que se faz (VALLE, 2004,
p. 61).
“o corpo constitui-se pelo organismo transversalizado
pela inteligência e pelo desejo e que é este corpo que
se lança na tarefa de aprender e, para vivenciar cada
um dos níveis hierárquicos de experiência, conta-se
com um arcabouço físico, cognitivo e afetivo que, em
última instância, constitui o sujeito que aprende, além
de prevalecer também o aspecto social da
aprendizagem” (RELVAS, 2009, p. 67).
Quando um indivíduo se defronta com determinada situação, a avalia com
base, inicialmente, nas informações sensoriais (visuais, táteis e outras). Nessa
hora,
pensamentos,
intuições,
predisposições
e
emoções
operam
simultaneamente e interagem com a informação, mobilizando recursos cognitivos
17
O termo “razão” é freqüentemente substituído pelos neurocientistas por “cognição”, palavra de
origem latina que se relaciona como o ato de conhecer.
30
como a atenção, a memória e a percepção. Esse conjunto de informações
sensoriais é então comparado com os arquivos situados na memória e
ponderados segundo seu significado emocional. Com base nesse novo conjunto
de dados é possível avaliar resultados, planejar ações, traçar objetivos e tomar as
decisões que orientam o comportamento.
Em síntese, quando um estímulo com valor emocional é captado ele
mobiliza a nossa atenção e atinge regiões corticais específicas, tornando-se
consciente. Por isso as emoções precisam ser consideradas nos processos
cognitivos, de forma a mobilizar as emoções positivas (entusiasmo, curiosidade,
envolvimento, desejo, desafio), enquanto as negativas (ansiedade, apatia, medo,
frustração) devem ser minimizadas para que não perturbem a aprendizagem
(CONSENZA; GUERRA, 2011, p.84).
A todo o momento, a multiplicidade de informações sensoriais abre
diversas opções de resposta e muitas vezes ocorrem ambigüidades na
interpretação. Roberto Lent (2010) explica que isso ocorre porque as atividades
de cognição (raciocínio lógico, resolução de problemas, tomada de decisões,
fixação de objetivos e planejamento das ações) de fato começam com a seleção
das informações que chegam vindas do meio externo, ou da própria mente, pelo
gradiente emocional a ela atribuído. Quer dizer, a cognição é seletiva, e isto tem
um forte apelo emocional.
O neurocientista português Antônio Damásio, em suas recentes pesquisas,
tem mostrado que os processos cognitivos e emocionais estão profundamente
entrelaçados no funcionamento do cérebro. Ele tem tornado evidente que as
emoções são importantes para que o comportamento mais apropriado seja
selecionado em momentos importantes da vida dos indivíduos.
Se um estímulo com valor emocional é captado, ele mobiliza a atenção e
atinge regiões corticais específicas, onde é percebido e identificado, tornando-se
consciente.
31
“O humano nasce potencialmente inclinado a aprender,
necessitando de estímulos externos e internos
(motivação e necessidade) para o aprendizado (...) Na
maioria dos casos, a aprendizagem se dá no meio
social e temporal em que o indivíduo convive; sua
conduta muda, normalmente, por esses fatores e por
disposições genéticas” (RELVAS, 2009, p. 91).
É fácil perceber que, dada a complexidade que caracteriza o controle
cognitivo, é de se esperar que isso exija uma eficiente coordenação entre as
diferentes áreas e processos cerebrais envolvidos. Ocorre que tal controle é uma
operação de altíssima complexidade, que envolve receber, processar e interpretar
uma
infinidade
de
informações
que
entram
pelos
canais
sensoriais
simultaneamente, sob a interferência sensível do víeis emocional sempre
presente. Três áreas do cérebro merecem destaque por serem sempre ativadas
quando o assunto é cognição e emoção: o cerebelo, o sistema límbico e o
córtex cerebral.
• O cerebelo é a parte do encéfalo responsável por estruturar os comandos
mecânicos de nosso corpo (escrever, escovar os dentes, dirigir). É ele que
recebe as instruções difíceis de serem implantadas e que necessitam de
treino e muita repetição, mas que depois jamais são esquecidas, como
andar de bicicleta.
• O sistema límbico é composto pelo hipotálamo, tálamo, amígdalas e
hipocampo. Pode ser entendido como um “cérebro réptico”18, completo em
si mesmo. A nossa evolução, enquanto espécie, fez com que fosse
somado a esse cérebro réptil um córtex capaz de dar suporte evolutivo as
capacidades humanas superiores e manteve este “cérebro primitivo”
atribuindo-lhe vários papéis instintivos (medo, raiva), além da função
essencial de reter as informações colhidas durante o dia. A decisão de lutar
ou correr diante de uma ameaça são gerenciados pelas amígdalas e
hipotálamo; já o hipocampo perfaz a memória que registra os dados
colhidos diurnamente.
18
Referência ao cérebro primitivo dos répteis.
32
• O córtex cerebral é onde se registram definitivamente o que se aprendeu
durante o dia. O córtex, embora possa reter informação equivalente a de
milhares de computadores de último tipo, não consegue gravar dados
durante o dia (ou ele se deixa ler ou ele se deixa gravar). Durante o dia, os
dados coletados vão para o hipocampo. Todas as noites, seus dados são
copiados para o córtex durante o sono, e depois o hipocampo é apagado.
Uma vez registrado no córtex, os dados ficam retidos para sempre.
Mas quais informações são transferidas do hipocampo e armazenadas no
córtex? Ao contrário do cerebelo, onde escolhemos conscientemente o que
queremos gravar (com reforço e treino), no córtex o sistema que copia do
hipocampo para ele é inconsciente. O critério de escolha do que se copia é dado
pela profundidade das marcas deixadas no hipocampo. Estas podem ser mais
marcantes se tiverem um estímulo, ou emoção significativa qualquer associada,
ou então se fizermos deliberadamente marcas mais fortes em certos saberes
simplesmente
estudando,
refletindo,
questionando,
prestando
atenção,
descobrindo por si mesmo, praticando, fazendo exercícios e atividades.
Quanto mais se estuda e se busca compreender um dado conceito, o
esforço empregado atribui certo valor que o sistema inconsciente de cópia
reconhece como sendo importante e então o copia, ou seja, ao estudar,
atribuímos grau de importância a uma determinada informação; conexões vão se
formando no hipocampo, e quanto melhor elas forem, melhor a qualidade da
cópia que irá para o córtex. É no córtex que o estudante consolida as
informações, de forma pessoal e intransferível. Basta que seja no mesmo dia da
aula para que o conteúdo ainda esteja no hipocampo.
Concluindo, a aprendizagem não é nem uma atividade passiva e nem
simplesmente objetiva; ao contrário, a aprendizagem é essencialmente ativa e
afetiva. Para estimular as diversas etapas neurais que possibilitam a
aprendizagem, há de se considerar não apenas os aspectos formais, mas
também os aspectos emocionais envolvidos na seleção do que tem importância
aprender – ou não.
33
“O cérebro, como sabemos, é a parte mais importante
do nosso sistema nervoso, pois é através dele que
tomamos consciência das informações que chegam
pelos órgãos dos sentidos e processamos essas
informações, comparando-as com nossas vivências e
expectativas. É dele também que emanam as
respostas voluntárias ou involuntárias, que fazem com
que o corpo, eventualmente, atue sobre o ambiente”
(CONSENZA; GUERRA, 2011, p. 11).
2.4 – Aprender a aprender
Se a aprendizagem pode ser entendida como um processo pessoal e
intransferível de aquisição de informações do ambiente, englobando sua
recepção, processamento e consolidação, bem como a recuperação dessa
informação e aplicação em momentos apropriados, é preciso ensinar o aluno a
trilhar o caminho da sua aprendizagem; a buscar o conhecimento que lhe falta; a
refletir por conta própria, e não apenas reproduzir mecanicamente informações
sem sentido.
Neste contexto, o indivíduo “educado” é o que “aprendeu a aprender”; que
aprendeu a adaptar-se e mudar; que percebeu que nenhum conhecimento é
seguro, e que só o processo de busca do conhecimento dá uma base para
segurança; cuja mudança de atitude o transforma intrinsecamente, em relação ao
seu processo de aprendizagem. O professor, por sua vez. passa a exercer o
papel de facilitador da aprendizagem, cuja capacidade de aceitar o aluno como
pessoa e criar condições para que ele aprenda são mais relevantes do que sua
erudição, ou o correto uso dos recursos instrucionais. Isso implica em:
• confiar na potencialidade do aluno para aprender;
• criar condições favoráveis para o crescimento e auto-realização do
aluno; e
• deixá-lo livre para aprender, manifestar seus sentimentos, escolher
suas direções, formular seus próprios problemas, decidir sobre seu
próprio curso de ação e viver as conseqüências de suas escolhas.
34
“ um dos principais fins da educação formal deveria ser
o de equipar os estudantes com instrumentos
intelectuais, crenças de eficácia e interesse intrínseco
para educar a si mesmo durante toda sua vida”
(BRANDURA, 1999, p. 34)
Neste capítulo, procurou-se apontar como o adulto aprende, evidenciando
que a atividade educacional deveria ser centrada na sua aprendizagem, e não no
ensino. Se de fato ficou evidente que os adultos aprendem de modo diferente das
crianças, é essencial que os métodos aplicados também sejam distintos. Neste
caso, as atividades devem promover o desenvolvimento de pensamentos e
atitudes mais complexos do cérebro do que apenas memorizar informações;
provocar desafios, despertar para os debates, permitir a criação de um
comportamento ativo.
Essas são as bases da proposta de uma prática de ensino apropriada para
a educação de adultos que se pretende fazer nos próximos dois últimos capítulos.
“O objetivo da educação não deve ser, portanto,
ensinar a pensar ou promover competências cognitivas
em oposição a ensinar conteúdos, mas sim ensinar a
aprender a aprender como complemento ao ensino de
matérias ou disciplinas, dotando os estudantes com
pré-requisitos cognitivos que lhe permitam aprender
com mais eficácia no futuro” (FONSECA, 2011, p. 72).
35
CAPÍTULO 3
APRENDER EM AÇÃO
“ ensinar a um sujeito cerebral uma habilidade nova
implica maximizar o potencial de funcionamento de seu
cérebro. Isso porque aprender exige necessariamente
planejar novas maneiras de solucionar desafios e de
atividades que estimulem as diferentes áreas cerebrais,
a fim de desvendar com eficiência o desenvolvimento
das potencialidades humanas” (RELVAS, Revista
Psiquê ciência &vida. nº 64, abril/2011, p.47).
O significado é o tema crucial da aprendizagem em uma proposta
pedagógica que coloque o aluno maduro em evidência no processo. Neste caso,
o ambiente de aprendizagem deve orquestrar atividades que capitalizem a imensa
capacidade do cérebro para aprender, permitindo que os alunos façam o maior
número possível de conexões e construam seus próprios significados.
Entretanto, até hoje, predominou a forma analítica e lógica de ensinar,
caracterizada pela aceitação passiva e incondicional do conhecimento ensinado.
Em contraposição, o que se propõe é a potencialização do pensamento
independente, sintonizado com o processo criativo, que estimule a reflexão, o
senso crítico e a ação consciente, diante das diferentes fontes de informação.
“Nossos sistema acadêmico se desenvolveu numa
ordem inversa: assuntos e professores são o ponto de
partida, e os alunos são secundários. O aluno é
solicitado a se ajustar a um currículo pré-estabelecido.
Grande parte do aprendizado consiste na transferência
passiva para o estudante da experiência e
conhecimento de outrem” (LINDERMAN, 1926).
Sugere-se, as instituições de ensino voltadas para esse tipo de aluno,
centrar o aprendizado no “aprender fazendo”, planejando, em sua programação
curricular, espaços para o debate e representações da realidade. Ou seja,
ambientes onde os alunos sejam vistos como indivíduos capazes de construir,
36
modificar e integrar suas idéias com as de outras pessoas, em situações que
exijam seu envolvimento e participação, levando em conta o que se sabe sobre o
desenvolvimento intelectual do aprendiz adulto.
“O ambiente ou conteúdo de ensino tem que ser
percebido pelo aprendiz em termos de problemas,
relações e lacunas que ele deve preencher, a fim de
que a aprendizagem seja considerada significativa e
relevante“ (BRUNER, 1969).
Considerando os princípios da andragogia e da neurociência, apresentados
nos capítulos anteriores, pode-se dizer que alunos adultos aprendem melhor
quando:
• em ação;
• trocam experiências e conhecimentos;
• estão motivados; e
• tem as suas necessidades pessoais ou profissionais atendidas.
Daí a crítica a educação pela instrução, principalmente no que se refere à
ênfase dada à memorização, e a proposta de uma educação pela ação, pois o
conhecimento é uma atividade dirigida pela experiência.
“Nós aprendemos aquilo que fazemos. A experiência é
o livro-texto vivo do adulto aprendiz” (LINDERMAN,
1926).
3.1 – Aprender fazendo
Desde o início desse trabalho apontou-se para o fato dos adultos serem
portadores de uma experiência que os distingue das crianças e dos jovens. Em
numerosas situações de formação, são eles próprios que com sua experiência
constituem o recurso mais rico para o processo de ensino- aprendizagem.
37
“Imaginar o decurso das ações e os seus efeitos
conseqüentes, e depois decidir da sua execução ou
inibição, é próprio da cognição humana. Juntar
elementos, quer sejam movimentos em gestos, ações
em coordenações, coordenações em operações,
palavras em frases, notas em melodias, passos em
dança, é uma das características mais extraordinárias
do cérebro humano” (FONSECA, 2011, p 19).
Daí a importância de estimular os alunos a um posicionamento ativo no
aprendizado, evitando a passividade e o esmorecimento. Cabe ressaltar que os
alunos adultos estão dispostos a iniciar um processo de aprendizagem, desde
que compreendam a sua utilidade para melhor afrontar os dilemas sua vida
pessoal ou profissional. E isto faz muita diferença, ou seja, adultos são sensíveis
a estímulos da natureza externa, mas são os fatores de ordem interna que o
motivam a aprender. A aprendizagem procede da participação voluntária em
tarefas, do estudo consciente e da troca de experiência.
Os
alunos
adultos
estão
motivados
para
iniciar
uma
ação
de
aprendizagem, ao reconhecer sua utilidade para superar necessidades reais de
sua vida. Inclusive, Carl Rogers (1951)19, em suas idéias, destaca que o
importante é a auto-realização e o crescimento pessoal, e enumera alguns
Princípios de Aprendizagem que o ensino deve contemplar:
1. Seres humanos têm a potencialidade natural para aprender;
2. A aprendizagem significante ocorre quando a matéria de ensino é
percebida pelo aluno como relevante para seus próprios objetivos;
3. Quando é pequena a ameaça ao eu, pode-se perceber a experiência de
maneira diferenciada e a aprendizagem pode prosseguir;
4. Grande parte da aprendizagem significante é adquirida através de atos.
5. A aprendizagem é facilitada quando o aluno participa responsavelmente do
processo de aprendizagem;
19
Carl Rogers, psicólogo americano precursor da Psicologia Humanista e criador da linha teórica conhecida
como Abordagem Centrada na Pessoa (ACP).
38
6. A aprendizagem auto-iniciada que envolve a pessoa do aprendiz como um
todo – sentimento e intelecto – é mais duradoura e abrangente;
7. A independência, a criatividade e autoconfiança são todas facilitadas,
quando a autocrítica e a auto-avaliação são básicas e a avaliação por
outros é de importância secundária; e
8. A aprendizagem socialmente mais útil, no mundo moderno, é a do próprio
processo de aprender, uma contínua abertura à experiência e à
incorporação, dentro de si mesmo, do processo de mudança.
“não podemos ensinar diretamente outra pessoa;
podemos, apenas, facilitar sua aprendizagem (...) uma
pessoa aprende, significativamente, somente aquelas
coisas que percebe estarem ligadas a manutenção, ou
ampliação da estrutura do seu eu. (...)Tudo o que pode
ser ensinado a uma pessoa é relativamente pouco
utilizado e não tem senão pouca influência sobre o seu
comportamento (...) os únicos conhecimentos que
podem influenciar o comportamento de um indivíduo
são aqueles que descobre por si mesmo e se apropria”
(ROGERS, 1961).
Na andragogia, a aprendizagem adquire uma peculiar necessidade de ser
mais focalizada na independência e na auto-gestão para a aplicação prática na
vida diária. A circunstância de aprendizagem deve caracterizar-se por um
ambiente adulto, e a metodologia de ensino mais apropriada deve fundamentar-se
em eixos articuladores da motivação e da experiência dos aprendizes adultos,
transformando o conhecimento em uma ação dialética de troca de experiências
vivenciadas e construção de novas aprendizagens.
A idéia de ensinar de acordo com o nível de desenvolvimento do aluno não
é recente, e levou Jerome S. Bruner (1969)20 a dizer que é possível ensinar
qualquer assunto, de uma maneira intelectualmente honesta, desde que se leve
em conta as diversas etapas do desenvolvimento intelectual, e que há, portanto,
uma versão de cada conhecimento ou técnica apropriada para determinada idade.
20
Jerome Seymour Brune, psicólogo americano, considerado, modernamente, como o pai da Psicologia
Cognitiva.
39
Em suma, o aluno adulto aprende conceitos sendo o “sujeito ativo da
própria aprendizagem”, e não somente recebendo informações a respeito. A sua
participação consciente nos processos de assimilação e de acomodação (Piaget,
1969) pode definir contornos cerebrais originais, e mudanças de atitudes mais
significativas.
Todavia, os sistemas tradicionais de ensino continuam estruturados como
se somente a pedagogia passiva existisse e devesse ser aplicada aos adultos. Ao
contrário, procurou-se afirmar que o adulto possui uma postura mais ativa e
intelectual frente as suas necessidades acadêmicas. Ele anseia por refletir,
descobrir, conhecer, experimentar e aplicar o que aprende – ele quer a práxis21.
Além do mais, diferentemente de uma “esponja”, que só absorve sem critério, o
adulto é seletivo e utilitarista quanto as suas necessidades de aprender.
3.2 – Aprender a ser
Ao invés de discutir, refletir e até atuar, o aluno adulto, ainda hoje, é
submetido à mesma rotina diária, que se resume à repetição de exercícios
mecânicos, à memorização de conteúdos inflexíveis e à reprodução de programas
rígidos, que não abrem espaço para o pensamento autônomo. De um modo geral,
as atividades pedagógicas apresentadas em sala de aula não promovem, nem o
aprofundamento dos conceitos, nem a pesquisa e nem o desenvolvimento de
pensamentos mais abrangentes e complexos no cérebro, quando na verdade
deveriam outorgar um papel de destaque ao aluno, propondo atividades nas quais
ele possa ser o artífice do seu aprender. O sentido da sua aprendizagem deve ser
o “aprender a ser” e não o de mero ouvinte.
Se levarmos em conta que o sentido da aprendizagem do adulto deve ser o
de aprender, citando Evelise Portilho (2009, p 79), este deixa de ser considerado
como um sujeito passivo e passa a ser o “sujeito”, capaz de colocar em prática
21
Em seu sentido amplo, é a atividade humana em sociedade e na natureza. Na pedagogia, “práxis” é o
processo pelo qual uma teoria, lição ou habilidade é executada ou praticada, convertendo-se em parte da
experiência vivida.
40
uma ampla variedade de condutas que determinam a construção da sua
aprendizagem. Para isso, ele deve compreender “o quê e o porquê” de estar
fazendo tal e qual atividade e aprendendo determinado conteúdo.
“Quando elaboramos os nossos próprios conceitos e,
consequentemente, nossas opiniões, percebemos que
transformamos as informações em conhecimentos. E
isso acontece durante toda a nossa vida. Estamos
constantemente aprendendo a fazer uso de novos
instrumentos (computador, celular, máquinas de
fotografar, sites, celulares); aprendendo a fazer novas
escolhas (companheiros, amigos, músicas, livros);
aprendendo a desenvolver novas atitudes diante dos
novos papéis e das funções (pai, mãe, avó, supervisor,
marido, professor); enfim, aprendendo a aprender”
(PORTILHO, 2009, p. 13).
Jerome S. Bruner, citado em Portilho (2009, p. 48), salienta que, em
qualquer nível, a aprendizagem deve desenvolver no aluno a capacidade de
reflexão orientada para redefinição e reorganização de problemas, em lugar de
limitar a aprendizagem somente à memorização de conteúdos sem sentido e
aplicação. O ideal é que o aprendiz durante o seu processo de aprendizagem:
• realize experiências enquanto aprende;
• reflita sobre elas;
• elabore hipóteses; e
• aplique tudo o que aprendeu em qualquer outra situação.
“Com certeza, o ensino deve estimular a pessoa a
parar, refletir sobre sua própria maneira de ser, pensar,
agir
e
interagir,
assim
como
convidá-la,
conscientemente, a mudar quando for necessário
melhorar sua aprendizagem (...). A possibilidade do
sujeito para elaborar suas próprias ações é, sem
dúvida, a apropriação mais significativa do
conhecimento” (PORTILHO, 2009, p. 105 e 109).
Em oposição à pedagogia tradicional, que impõe e supõe a passividade do
aluno, “aprender fazendo”, exige o desenvolvimento no aluno adulto de
41
habilidades básicas, aqui entendidas como: capacidade de pensar por conta
própria, selecionar informações, compartilhar conhecimentos e construir sua
aprendizagem autonomamente. Isso se dá ao envolver-se num constante ciclo de
reflexão - troca – aplicação – avaliação – reflexão – troca – aplicação, e assim por
diante. Um eterno “vir a ser”.
Aos educadores compete buscar essencialmente estratégias que permitam
maximizar a capacidade de aprender a aprender, pensar, refletir, transferir e a
generalizar conhecimentos, muito mais do que a memorizar e reproduzir
informações (RELVAS, Revista Psiquê,). Isso não é tarefa fácil, necessita olhar o
aluno com outros olhos, olhos de quem acredita que o aluno adulto já é um sujeito
que elaborou representações, e que a dificuldade não é mais a de preencher uma
“casa vazia”, mas sim a de agregar valor as suas representações para que
tenham significado e utilidade. A principal função dessa educação é mediatizar a
primazia do sujeito, seu dinamismo interno, seu interesse e envolvimento,
concebidos como elementos motivacionais de aprendizagem, conjugadas aos
conhecimentos formais necessários ao seu crescimento pessoal ou profissional.
Partindo de uma concepção dinâmica da aprendizagem, no quarto e último
capítulo desta monografia veremos como a praxis andragógica pode apontar para
uma atividades que, ao ser desenvolvida, favorece o processo de aprendizagem
do aluno adulto. A intenção é evidenciar que, quando a motivação em participar
torna-se um elemento constituinte do método, como nos jogos didáticos, por
exemplo, o envolvimento do aprendiz, nas tarefas propostas cria bases mais
sólidas para o aprender.
“As estratégias de aprendizagem que têm mais chance
de obter sucesso são aquelas que levam em conta a
forma do cérebro aprender. É importante respeitar os
processos de repetição, elaboração e consolidação.
Também faz diferença utilizar diferentes canais de
acesso ao cérebro e de processamento da informação”
(CONSENZA; GUERRA, 2011, p. 74).
42
Pois,
“O domínio teórico dos conteúdos, a clareza de retórica
e a utilização de metodologias adequadas, embora
elementos necessários e indispensáveis ao trabalho do
professor, não são são em si mesmos suficientes para
garantir um envolvimento dos alunos com o
conhecimento” (ROSA, 1998, p. 9).
43
CAPÍTULO 4
APRENDER COM JOGOS DIDÁTICOS
O interesse desse capítulo é apresentar uma melhor visualização do jogo e
suas possíveis aplicações didáticas, oportunizando a reflexão sobre seu valor
como objeto de aprendizagem.
Durante as leituras realizadas para a elaboração deste trabalho foi possível
perceber que ainda são poucas as pesquisas que buscam relacionar os
conhecimentos neurocientíficos com os jogo didático na educação de adultos.
Pretende-se
continuar
estudando
o
assunto
e
contribuindo
para
o
amadurecimento do tema, por considerá-lo relvante e com possibilidades de
aplicação no ambiente educacional de adultos.
4. 1 – Que caminho seguir
A problemática de qual método seguir desempenha uma papel central na
pedagogia e na andragogia, atividades humanas que tem seus princípios,
métodos e técnicas dentro de uma lógica contextualizada. Cada momento ou
“modelo” tem um conjunto organizado e cosciente de práticas (mecanismos de
ação), que privilegiam a formação de um tipo determinado de “sujeito”.
Mas qual seguir? Aquele que permita chegar ao lugar que se deseja..
As vezes mais de um modelo é necessário para se atingir o objetivo
traçado e exige traçar um plano ordenado de idéias que guiem o exercício da
ação de educação. Saber identificar as caracteísticas cognitiva-comportamentais
dos sujeitos, além das abordagens em educação, facilita a escolha do melhor
caminho a seguir, bem como permite uma maior base conhecimento e saberes.
44
“Das idéias as práticas, os modelos descrevem o
vínculo e o sentido previsto entre ensinar e aprender”
(MORANDI, 2002, p.24).
As estratégias mais eficientes serão aquelas que atentarem para os
princípios do funcionamento do cérebro, que devem ser respeitados para uma
aprendizagem mais eficiente.
“ É fazendo que se aprende (...) A escola deve ser ativa
(...) Ela deve ser um laboratório mais do que um
auditório (...) a atividade de um aluno jamais deveria
ser senão um meio empregado por ele para satisfazer
uma necessidade que se terá sabido criar nele”
(CLAPARÈDE, 1930)22.
Mas como desencadear isso em sala de aula? O desafio está em viabilizar
aulas desafiadoras e prazerosas, com atividades que estimulem a formação de
novas sinapses e o fortalecimento de redes neurais.
Todo ensino ministrado de forma lúdica, com aulas dinâmicas, onde o
aluno não é um mero observador, mas sim, participante e ativo na construção do
seu próprio saber, tem esse efeito. O princípio da experiência está no centro do
método ativo e também na vida do aluno adulto. Assim, toda atividade que
proporcionar o seu envolvimento se torna um pretexto de motivação para o
desenvolvimento intelectual significativo e prazeroso.Talvez uma das mais
animadoras conclusões que a neurociência nos apresente seja a de que aprender
pode ser divertido.
“E jogar contribui para exercitar a criatividade,
experimentar possibilidades e, consequentemente,
aprender, pois coloca o cérebro em estado de
prontidão
para
assimilar
novos
conteúdos”
(RETONDAR, 2000, p. 74).
22
Édouard Claparède. L’ éducation fontionalle. Paris: Delachoux, 1930.
45
Por certo, o ensino deve estimular a pessoa a refletir, interagir, pensar e
agir, bem como convidá-la, conscientemente, a participar da sua aprendizagem. A
possibilidade do sujeito elaborar suas próprias ações de regulação é, sem dúvida,
a apropriação mais significativa do conhecimento (PORTILHO, 2009, p. 109).
“ Pobre do aluno a quem se explica tudo na escola, em
vez de fazê-lo experimentar e agir, a quem se explicam
as ciências em vez de fazê-lo construí-las, a quem se
explica a escrita e a redação em vez de fazê-lo vivê-las
pela correspondência. O erro mais grave, aquele que
está na base de toda a falsa educação atual, é o erro
intelectualista” (FREINET, 1959)23.
4. 2 – Jogo e jogador
“O jogo é uma das manifestações mais sérias que
conheço, pois é nele que os indivíduos se permitem
profundamente se manifestar como são e como
gostariam de ser e não são” (ANTUNES, 1998, p.90).
Quando se fala em jogo, muitas imagens nos vêm a cabeça. De fato,
devido ao seu caráter polissêmico, a palavra jogo pode assumir sentidos diversos
e muitas vezes até contraditórios, mas, de toda maneira, o jogo é antes de tudo
uma atividade, isto é, uma ação humana pautada por uma intenção, sob o pano
de fundo do universo imaginário, balizado por regras. O modo como os indivíduos
se apropriam do jogo tem a ver também com o universo cultural e social no qual
se encontram inseridos.
23
Freinet, Congrés de L’école moderne. Actes: Angers, 1959.
46
“só o homem joga, porque somente ele é capaz de
voluntariamente atribuir, aderir e negar sentidos que
enredam o jogo e o ato de jogar” (RETONDAR, 2007,
p.59).
O ser humano sempre jogou. Desde a infância, joga às vezes mais, à
vezes menos e, através do jogo, aprendeu normas de comportamento que o
ajudaram a se tornar adulto. O jogo portanto é um fenômeno antropológico que se
deve considerar no estudo do ser humano. Esteve sempre unido à cultura dos
povos, à sua história, literatura, aos costumes, à guerra. O jogo serviu de vínculo
entre povos, é um facilitador da comunicação entre os seres humanos . (MURCIA,
2005, p.9)
‘há poucas coisas tão sérias na vida como o jogo para
quem joga, ou melhor, para quem se permite entrar em
jogo e ser jogado pelo movimento que detonou”
(RETONDAR, 2007, 12).
O jogo em si mesmo não é ruim nem bom, ele é uma possibilidade
concreta conforme o sentido que atribuímo a ele. Jogos podem ser de vários tipos
e aplicados a inúmeras situações, atendendendo a diferentes propósitos e das
mais diversas formas possíveis. Também é uma forma de imitação da realidade.
Pois quem joga, joga sempre dentro de um lugar social determinado, em um
contexto cultural e social demarcado (RETONDAR p. 22). A decisão de participar,
de iniciar e continuar no jogo, considerando o bem que tal atividade proporciona
enquanto prática significativa, atende às necessidades mais imediatas e
profundas do jogador.
“ Quando o jogo possibilita ao sujeito mergulhar em seu
mundo imaginário e manifestar-se de maneira visceral
durante o ato de jogar, tudo o que se vivencia e o que
se vivenciará no decorrer do jogo não se perde quando
do término, as sensações de intensidade e de
excitação provocadas durante o jogo ficam registradas
sensivelmente. Não costumamos dizer que alguns
gestos valem mais do que mil palavras? Pois bem, é
justamente isto” (RETONDAR, 2007, p. 86).
47
Em síntese, nas palavras de J. Huizinga24, o jogo é uma atividade
voluntária, sujeita a regras, que se desenvolve dentro de uma relação espacial e
temporal definida, e que promove a evasão momentanea da realidade. Pode e
deve ser apreendido como uma possibilidade de se exercitar também a
capacidade crítica e reflexiva de se pensar a realidade e de se propor possíveis
mudanças para ela.
Do ponto de vista da formação do sujeito, o ato de jogar exercita a
capacidade do indivíduo em tomar decisões e ser capaz de apontar com rigor
aquilo que lhe convém e aquilo que não lhe convém, bem como a assunção da
responsabilidade em arcar com as consequências de seus atos.
Entretanto, ele nunca foi bem-visto pela pedagogia tradicional. Felizmente,
a posição da pedagogia atual converteu o jogo em trabalho didático.Sob este
ponto de vista, tentaremos contribuir com a aplicação do jogo como ferramenta
didática, numa proposta ativa de ensino.
4.2 – O jogo didático
“Quando observamos crianças ou pessoas de maneira
geral jogando um determinado jogo, podemos perceber
nelas o seu comprometimento com a melhor forma de
se jogar. Parece que estão realizando algo
profundamente sério, tamanha a doação e
compenetração naquilo que estão fazendo Pois de fato
estão realizando algo sério. Diria, algo profundamente
sério, pois é muito sério se permitir realizar uma
atividade que tende a desnudar o indivíduo para si e
perante os outros; que expõe de maneira visceral
traços profundos da personalidade do sujeito; que é
capaz de mobilizar sentimentos e valores profundos
que se manifestam de maneira gratuita e espontâneano
e que dificilmente se manifestariam no plano do
cotidiano; que põe à prova o indivíduo diante de suas
24
HUIZINGA, J. Homo ludens.São Paulo: Perspectiva, 1982, citado em Teoria do Jogo de Jeferson José M.
Retondar, 2007, p. 26.
48
paixões e de seus ímpetos e a necessidade de se
autocontrolar para poder se relacionar com os limites
impostos pelo jogo e que deverão ser cumpridos;
experimentar um lugar onde terá que tomar decisões
rápids, negociar com o “outro”, lugar onde se persegue
o prazer, a satisfação e a felicidade, como o contrário
também pode ser verdadeiro; a autopermissão de viver
momentos intensos por demais que podem até levar o
indivíduo ao êxtase. Diante disso, talvez possamos
entnder por que o jogo é tão sério para quem joga e
quão deve ser respeitado o espaço do jogo como
estando muito próximo, por sua significação, ao espaço
sagrado” (RETONDAR, 2000, p. 74-75).
Podemos dizer que o jogo, por intermédio das possíveis intervenções e
mediações proporcionadas pode ajudar a construir as diferenças conscietuais e
práticas. Aprender a conviver, ouvindo, falando, aceitando, discordando e
respeitando a decisão coletiva em nome do coletivo e em detrimento dos
posicionamentos individuais é uma outra apropriação que se pode e que se deve
ter do jogo, com inúmeras consequencias reflexivas e práticas, extensivas à vida
como um todo.
As características do jogo fazem com que ele mesmo seja um veículo de
aprendizagem e comunicação ideal para o desenvolvimento da personalidade e
da inteligência. Envolver-se enquanto aprende faz com que o aluno cresça, mude
e participe ativamente do processo educativo. Os alunos devem refletir e discutir
sobre suas ações para te êxito no jogo. Todos tem papel importante. O objetivo é
compartilhado, não-individual ou excludente, e só é atingido se todos os membros
do grupo o alcançarem
“O verdadeiro valor do jogo reside na quantidade de
oportunidades que oferece para que a educação possa
ser levada a cabo” (GRUPPE, 1976, citado em
MURCIA, 2005, p. 10).
O jogo é utilizado como recurso educativo desde a Antiguidade, mesmo
que a pedagogia tradicional o tenha mantido afastado da educação formal,
49
acusando-o de carecer de virtudes educativas (Estebam Garfella, 1987, citado em
MURCIA, 2005, p. 123). Apenas na segunda metade do século XX, a corrente dos
métodos ativos despertou o interesse pela possibilidade de introduzir jogos no
ambiente escolar.
Desde então não se deixou mais de discutir o planejamento mais
apropriado para sua utilização pedagógica.
No âmbito das novas tendências
pedagógicas, a interação entre os alunos e a construção do conhecimento
recuperamo valor educativo do jogo graças à concepção construtivista da
aprendizagem.
Os
jogos
didáticos
são
práticas
de
grande
potencial
educativo,
caracterizados por um ambiente de cooperação e participação plena. Supõem,
também, contextos apropriados para abordar uma aprendizagem a partir da
compreensão cognitiva e afetiva das diferentes situações de experiência emotiva,
na qual os jogadores passam a evidenciar seu conhecimento em suas atuações,
ao interagir de forma positiva em uma dinâmica de cooperação, reflexão e
participação inteligente.
Se como foi dito andragogia consiste em ensinar o adulto de forma integral,
visando promover o aprendizado focado no processo e menos no conteúdo
ministrado, através de experiências, buscando estimular através da vivência
transformadora, que impulsione à assimilação de conteúdos significativos e sua
aplicação, cabe ao interventor provocar situações-problema no decorrer do jogo, a
fim de aguçar a percepção dos jogadores para a capacidade de enfrentarem e
resolverem tais problemas. Aprender a refletir, a raciocinar, a utilizar estratégias
de resoluções de problemas é uma necessidade fundamental de qualquer aluno.
O jogo deve privilegiar no treino cognitivo não só formas de pensamento
analítico, dedutivo, convergente, formal e crítico, como formas de pensamento
sintético, indutivo, expansivo, divergente, concreto e criativo, interligando-os de
forma harmoniosa (FONSECA, 2011, p. 72). Trata-se de um proposta de atuação
50
diferente da tradicional, pondo em jogo um conjunto original de estratégias de
mediatização especificamente centradas, direcionadas e enfocadas no processo
de aprendizagem. (FONSECA, 2011, p. 74)
O
diálogo
constritivo
que
o
jogo
sustenta
tende
a
provocar
significativamente no jogador a modificação do seu estado atual e a forma como
lida com as informações. A aprendizagem daí emergente não se reduz mais a
uma simples observação, a uma pura imitação ou a um restrito condicionamento,
ao contrário, induz novos e renovados processos e procedimentos cognitivos
(FONSECA, 2011, p. 78).
Por efeito da interação intencional posta em prática pelo mediatizador, a
informação passa a ser integrada de forma adequada, interiorizada e significativa,
possibilitando a integração da informação de forma mais clara e precisa,
possibilitando por meio dessa estratégia, a aquisição do conhecimento de modo
mais reflexivo e crítico. As experiências de interação ajudam a adquirir funções
cognitivas fundamentais que os impele a aprender mais eficientemente ao longo
dos mais variados contextos da sua experiência vivida.
Não somos suficientemente ingênuos para acreditar que o jogo, quando
apropriado como intervenção séria, do ponto de vista da formação, na realidade,
resolverá todos os problemas dos indivíduos e da educação. Temos porém a
certeza e a convicção de que se não podemos mudar as pessoas e o mundo
podemos mudar a relação que estabelecemos com as pessoas e com o mundo. E
aí o espaço do jogo é um dos espaços possíveis de aprendizagem e crescimento.
De fato, podemos simplesmente levar nosso aluno a decorar uma
informação, mas o registro se tornará mais forte se procuramos criar ativamente
vínculos e relações daquele novo conteúdo com o que já está armazenado em
nosso arquivo de conhecimentos. Informações aprendidas utilizando um nível
mais complexo de elaboração têm mais chance de se tornarem um registro forte,
51
uma vez que mais redes neurais estarão envolvidas (CONSENZA; GUERRA,
2011, p. 62).
52
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Até um passado recente acreditava-se que a mudança na vida cerebral
adulta limitava-se ao declinio das capacidades existentes. Hoje, porém, sabemos
que não é bem assim, ao contrário, a palsticidade cerebral nos permite
adaptarmos a sua estrutura e fisiologia durante a vida toda. Mas para modificar a
estrutura cerebral, segundo os princípios da neurociência, tem que manter a
atividade e não parar de exercitar o cérebro.
Não é possível mais aos educadores ignorar tais descobertas e ficar imune
as suas inúmeras possibilidades. Sob o ponto de vista educacional, conhecer os
aspectos bio-psicológicos envolvidos no processo de aprendizagem do aluno
tornou-se um desafio e obrigação para os profissionais da educação
comprometidos com seu o “ofício”. É saber como estimular novas conexões
neurais e modificar a estrutura cerebral dos alunos com a sua prática em sala de
aula.
Ao educador de hoje compete buscar conhecer a organização e as funções
do cérebro, os períodos receptores entre cognição, emoção, motivação e
desempenho, as dificuldades de aprendizagem, as intervenções a elas
relacionadas, e como todas essas informações podem contribuir para o cotidiano
escolar.
Ao relacionar os princípios da neurociência à andragogia, neste trabalho,
verificamos como o adulto aprende e o que é preciso fazer para promover um
ensino bem sucedido nesta fase. Para começar, deve-se respeitar as
caracteísticas da pessoa adulta como ponto de partida para iniciar uma relação de
aprendizagem, e para as ações educativas futuras. Além disso, o conexto
educacional, no caso do aluno adulto, deve considerar as suas experiências e
vivências, aliadas a motivação intrínseca para aprender, elevando sua condição
de mero observador a de sujeito ativo e construtor da própria aprendizagem.
Afinal, diz-se que alguém aprendeu quando adquire competência para resolver
53
problemas
e
realizar
tarefas,
utilizando-se
de
atitudes,
habilidades
e
conhecimentos que foram assimilados ao longo do seu desenvolvimento
cognitivo.
De fato, todo adulto tem condições de criar caminhos no processo de
aprender, tendo já desenvolvido noções de responsabilidade, liberdade de ação,
consciência dos seus limites e de suas necessidades. Tais requisitos
fundamentais possibilitam sua busca de um sentido para aprendizagem, qual
seja, a resolução de problemas de ordem pessoal ou profissional da vida real. As
experiências vividas, em muitas situações, proporcionam condições de troca e
crescimento diante da necessidade de estabelecer novas relações entre o
conhecido e o desconhecido.
Partindo
desse
pressuposto,
os
procedimentos
metodológicos
e
estratégias adotadas devem possibilitar a potencialização de suas capacidades
mentais. Aulas dinâmicas, ricas em conteúdo e onde o aluno não é um mero
observador passivo e distante, mas sim um sujeito participativo, questionador e
ativo são mais apropriadas às características neurofisiológicas deste aluno e
capazes de mantê-los envolvidos.
Sugere-se explorar as potencialidades do cérebro adulto de forma criativa e
autônoma por meio de intervenções significativas, que estimulem o raciocínio, a
atenção, a concentração de forma desafiadora e prazerosa. Isso é tudo que o
cérebro gosta e agradece.
54
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
1. FIORI, Nicole. As neurociências cognitivas. Petrópolis: Vozes, 2008.
2. KAUARK,
Fabiana.
Motivação
no
ensino
e
na
aprendizagem:
competências e criatividade na prática pedagógica. Rio de Janeiro:
Wak, 2008.
3. MAIA, Heber (org). Neurociências e desenvolvimento cognitivo. Vol. 2.
Rio de Janeiro: Wak, 2011.
4. PEÑA, Antonio Ontoria (org). Potencializar a capacidade de aprender e
pensar: o que mudar para aprender e como aprender a mudar. São
Paulo: Madras, 2004.
55
BIBLIOGRAFIA CITADA
1. ANTUNES, Celso. Jogos para estimulação das múltiplas inteligências. 10 ed.
Petrópolis: Vozes, 1998.
2. BEAR, Mark F.;CONNORS, Barry W.; PARADISO, Michael A. Neurociências:
desvendando o sistema nervosa. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.
3. BRANDURA, A. Autoeficácia: cómo afrontamos los câmbios de La sociedad
actual. Bilbao: Desclée de Bdroker, 1999.
4. CONSENZA, Ramon M.; GUERRA, Leonor B. Neurocência e educação: como o
cérebro aprende. Porto Alegre: Artmed, 2011.
5. FONSECA, Vitor da. Cognição, neuropsicologia e aprendizagem: abordagem
neuropsicológica e psicopedagógica. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.
6. LENT, Roberto. Cem bilhões de neurônios?: conceitos fundamentais de
neurociência. 2.ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2010.
7. MORANDI, Franc. Modelos e métodos em pedagogia. Bauru, SP: EDUSC,
2002.
8. MURCIA, Juan Antonio Moreno (org). Aprendizagem através do jogo. Porto
Alegre: Artmed, 2005.
9. PORTILHO, Evelise. Como se aprende? Estratégias, estilos e metacognição.
Rio de Janeiro: Wak, 2009.
10. RELVAS, Marta Pires. Neuropedagogia e a complexidade cerebral na sala de
aula. Revista Pisiquê ciência & vida. Ano IV – edição 64 – Abrill/2011.
11. RELVAS, Marta Pires. Neurociência e educação: potencialidade dos gêneros
humanos na sala de aula. Rio de Janeiro: Wak, 2009.
56
12. RELVAS, Marta Pires. Fundamentos biológicos da educação: despertando
inteligências e afetividade no processo de aprendizagem. 4.ed. Rio de
Janeiro: Wak, 2009.
13. RETONDAR, Jeferson José Moebus. Teoria do Jogo. Petrópolis: Vozes, 2007.
14. ROSA, Sanny S. da. Brincar, conhecer, ensinar. São Paulo: Cortez, 1998.
15. VALLE, Luiza Elena L. Ribeiro do. Cérebro e aprendizagem. Ribeirão Preto:
Tecmedd, 2004.