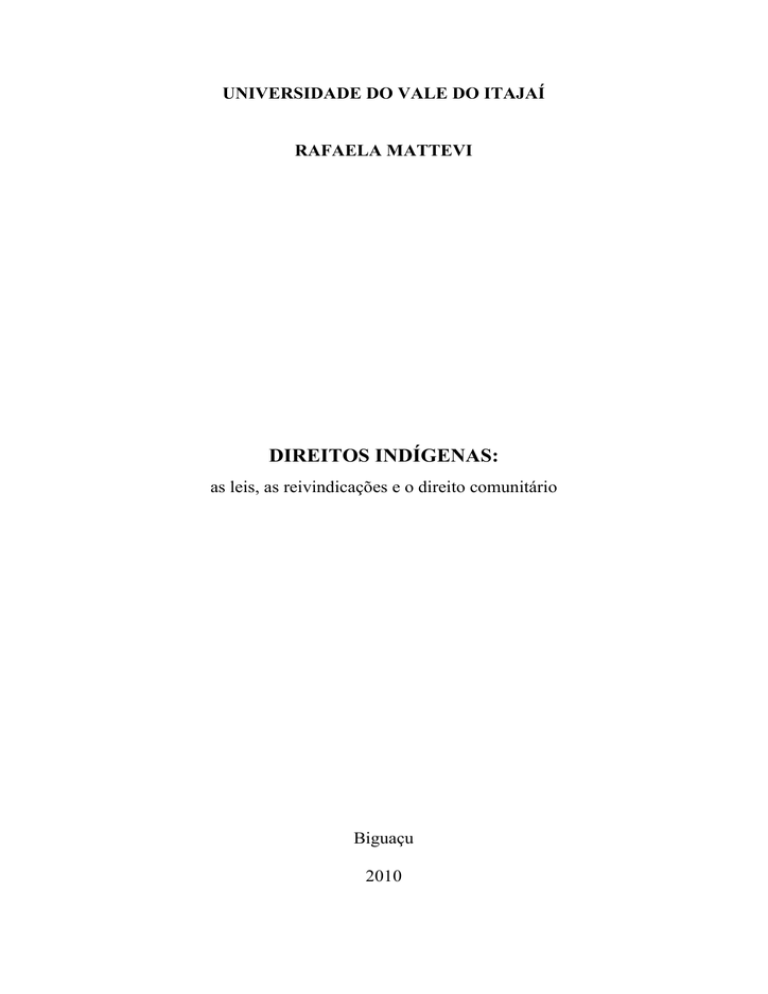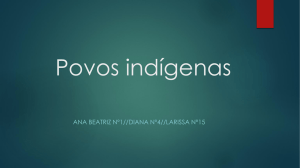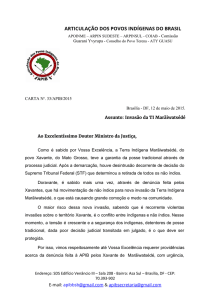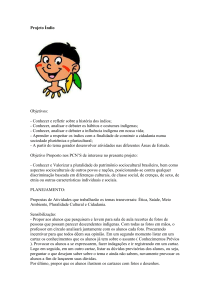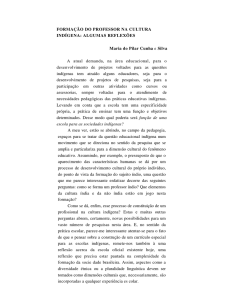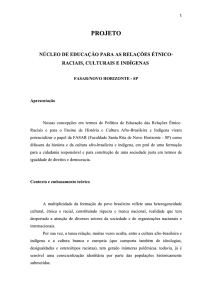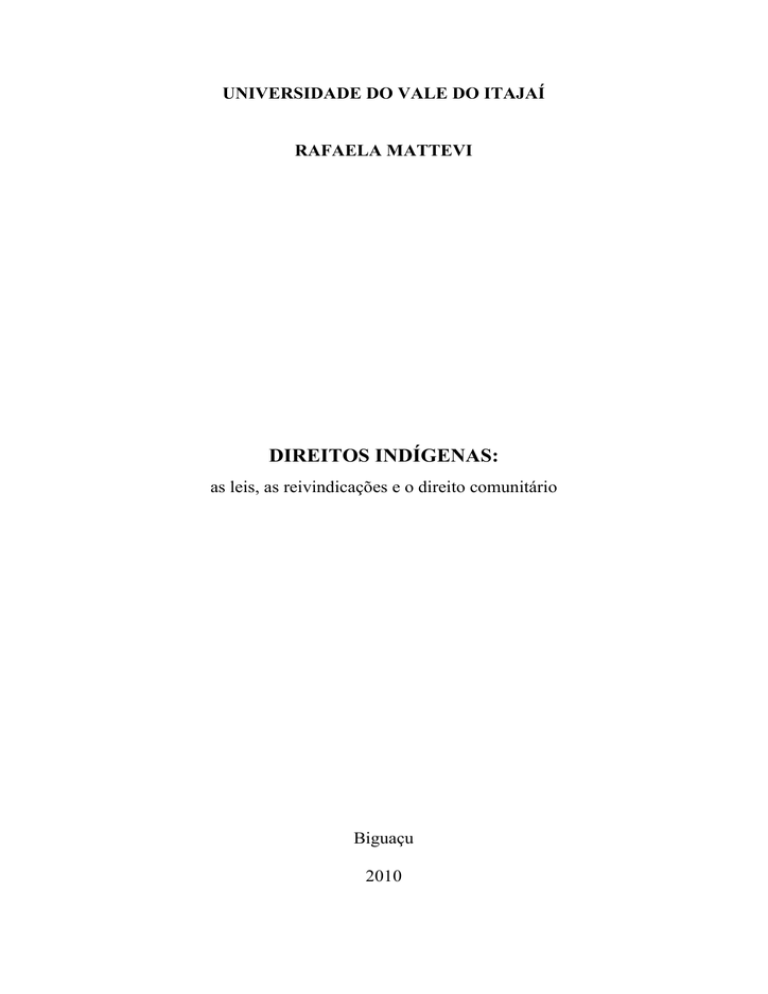
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
RAFAELA MATTEVI
DIREITOS INDÍGENAS:
as leis, as reivindicações e o direito comunitário
Biguaçu
2010
RAFAELA MATTEVI
DIREITOS INDÍGENAS:
as leis, as reivindicações e o direito comunitário
Monografia apresentada à Universidade
do Vale do Itajaí (UNIVALI), como
requisito parcial à obtenção do grau de
Bacharela em Direito.
Orientador: Prof. Sandro Cesar Sell.
Biguaçu
2010
2
Dedico este trabalho aos povos indígenas, por sua perseverança;
à minha mãe maravilhosa, exemplo de dedicação e de amor incondicional;
e ao Rodrigo, companheiro que escolhi para a vida.
3
AGRADECIMENTOS
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos das comunidades de Morro
dos Cavalos e de M’Biguaçu que me receberam e que partilharam comigo suas
histórias, em especial ao cacique Teófilo, ao cacique Hyral, à Nice, ao professor Adão,
ao Batista, ao Márcio, ao Seu Alcindo, ao Geraldo e à Adriana.
Não poderia deixar de agradecer ao meu querido orientador, Sandro, que, com
sua visão pluralista, me ajudou com tudo que precisei para que bem pudesse finalizar
este trabalho e muito me animou com suas palavras encorajadoras.
Também devo meus profundos agradecimentos: a Dione, minha mãe
maravilhosa, que me apoiou o tempo inteiro na execução deste trabalho e em todos os
passos da minha vida; sem sua ajuda, sem a sua doação, não teria conseguido me
concentrar para bem finalizá-lo, tampouco teria finalizado a faculdade ou seria hoje
quem sou; ao Rodrigo, meu anjo, que me tranqüilizou sempre que precisei e foi paciente
com meu nervosismo; à Kaká, tia, irmã e amiga, pelas sempre doces e animadoras
palavras de apoio; ao meu pai, Hélio Ricardo, que me estimulou a continuar nadando,
sempre com bom humor; à minha linda sogra, Elisabeth, que, além de ser uma
companhia maravilhosa e de sempre dar sábios ensinamentos, me ajudou a conseguir
livros fundamentais para este trabalho; a meu sogro querido, Maurílio, por sua alegria
contagiante e indispensável, e também à Cla, ao Amigão e ao Bina, queridos amigos
que ganhei junto com o Rodrigo; ao Herculano, figura indispensável em minha vida,
sem o qual talvez nem tivesse me interessado por direito, com quem sempre tive debates
jurídicos e filosóficos muito proveitosos e que também me abriu sua valiosa biblioteca;
a toda a minha família e aos meus amigos, que fazem da minha vida tão especial.
4
RESUMO
Desde muito antes da invasão européia no que hoje é o Brasil, os vários povos que aqui
viviam tinham seu próprio direito. Neste trabalho, analisamos as principais leis estatais
que lhes foram impostas até hoje, assim como suas reivindicações e seu direito
comunitário. Com fundamento no pluralismo jurídico comunitário-participativo
apresentado por Antonio Carlos Wolkmer, demonstra-se a importância de pensar um
outro tipo de direito, que está nas próprias necessidades dos sujeitos coletivos, para a
construção de uma melhor legislação para os indígenas e para a legitimação do seu
direito comunitário. Para comprovar a existência do direito indígena de dentro da aldeia,
realizou-se pesquisa etnográfica qualitativa, com entrevistas de profundidade, trazendo
o direito indígena pelo próprio indígena.
Palavras-chave: Pluralismo jurídico; direitos indígenas; leis estatais; monismo jurídico;
direito comunitário; antropologia; reivindicações.
5
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 7 1 PANORAMA GERAL DA QUESTÃO INDÍGENA NO BRASIL ...................... 10 2 AS LEIS SOBRE INDÍGENAS DESDE A INVASÃO EUROPÉIA .................... 25 2.1 Sobre como os europeus regulamentaram a guerra e a sua permanência .... 25 2.2 Século XIX e direitos territoriais indígenas ..................................................... 35 2.3 Origem da tutela e seus reflexos nos séculos XIX, XX e XXI ......................... 45 2.4 A criação e o fim do Serviço de Proteção ao Índio e a FUNAI ....................... 49 2.5 As primeiras constituições do século XX e os direitos indígenas ................... 54 3 OS DIREITOS INDÍGENAS VIGENTES NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.. 57 3.1 O Estatuto do Índio ainda está em vigor? ........................................................ 57 3.2 As mudanças trazidas pela Constituição Federal de 1988 .............................. 72 3.3 O Código Civil, o etnocentrismo da doutrina e da jurisprudência e a
necessidade de um novo Estatuto do Índio............................................................. 84 4 UMA OUTRA VISÃO SOBRE OS DIREITOS INDÍGENAS ............................. 97 4.1 O pluralismo jurídico, as reivindicações dos povos indígenas para a lei e o
direito comunitário indígena ................................................................................... 97 4.2 O direito indígena pelo indígena: um estudo de caso em duas aldeias Guarani
da Grande Florianópolis ........................................................................................ 113 4.2.1 Ocupação Guarani na Grande Florianópolis ............................................. 113 4.2.2 Introdução às entrevistas etnográficas ....................................................... 117 4.2.3 Resultado das entrevistas etnográficas ....................................................... 124 CONCLUSÃO............................................................................................................. 132 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 134 6
INTRODUÇÃO
Neste trabalho, percorreremos uma história dos povos indígenas brasileiros a
partir de seu direito: tanto as leis escritas que portugueses e brasileiros criaram, quanto o
direito de dentro da comunidade, que já existia antes da invasão portuguesa e que existe
até hoje. O objetivo é trazer e criar teoria para demonstrar que existe direito além das
leis, dentro das aldeias, e que esse direito é tão importante, se não mais, que o direito
positivado. Além de trazer o direito de dentro e de fora da comunidade, o trabalho quer
demonstrar que, para construir uma boa legislação na área dos direitos indígenas, é
obrigatório ouvir os representantes dessas etnias. As leis precisam partir deste ponto:
das necessidades dos povos indígenas – e não é impossível ouvi-los. Aliás, cada vez
mais os índios se organizam em comissões estaduais e interestaduais, reivindicando que
sejam ouvidos.
A pesquisa combina doutrina jurídica e antropológica acerca da legislação
brasileira indigenista e do direito comunitário indígena, além de trazer as exigências
indígenas para a legislação. Essas perspectivas são analisadas com um estudo de caso
nas aldeias Guarani de M’Biguaçu (Biguaçu – SC) e Itaty, mais conhecida como aldeia
de Morro dos Cavalos (Palhoça – SC). As comunidades foram escolhidas, em primeiro
lugar, por estarem próximas da pesquisadora, e também por serem as maiores que estão
em mais contato com não-indígenas na Grande Florianópolis. O contato interétnico é
algo que precisa ser muito levado em conta para a compreensão desse estudo, porque é
nele que se iniciam muitos problemas de incompreensão dos não-indígenas.
No primeiro capítulo será realizado um panorama geral sobre as questões
indígenas no Brasil. Consideramos que por ser um assunto não muito conhecido, é
importante que a questão jurídica seja analisada somente após uma primeira análise dos
conflitos sociais que envolvem o tema; por isso a necessidade de um capítulo a mais,
para introduzir o leitor e a leitora à temática geral do indígena no Brasil. No segundo
capítulo, entramos no mundo jurídico e fazemos um histórico das principais leis
indígenas desde a invasão européia. No terceiro capítulo, é feito um estudo sobre as leis
vigentes. E, por fim, no quarto, a partir da teoria do pluralismo jurídico, justifica-se a
importância de trazer as reivindicações indígenas para a legislação e legitima-se o
direito comunitário indígena. Também neste último capítulo entramos no mundo do
direito Guarani, fazendo uma introdução sobre essa etnia, para em seguida trazer os
7
dados da pesquisa qualitativa realizada nas aldeias de M’Biguaçu e de Morro dos
Cavalos.
As hipóteses levantadas pelo trabalho são: de que a legislação brasileira ainda é
etnocêntrica e omissa, não resguardando a proteção das necessidades mais básicas de
índias e índios – porque se nega, ainda, realmente escutá-los; e que a dificuldade dos
povos indígenas em manter o seu direito comunitário e em fazer parte de um direito
dogmático que compreenda a sua complexidade – é decorrente desse tratamento
prejudicial da legislação e de sua aplicação. Sem ter garantidos os direitos mais básicos,
os povos indígenas não podem viver conforme sua cultura, o seu modo de vida. Um
exemplo disso está com o sempre presente impasse da maioria dos povos de
conseguirem amplos espaços de terra, estando cada vez mais confinados em pequenos
terrenos desfavoráveis à plantação para a subsistência – que é o caso de muitas aldeias,
como as de M’Biguaçu e de Morro dos Cavalos –, impedindo sequer que se alimentem
segundo suas tradições.
Esta pesquisa pretende analisar os povos indígenas como sujeitos de direito.
Baseando-se na definição pluralista de direito de Antonio Carlos Wolkmer, de que
direitos são necessidades, seria a intenção da pesquisadora – se possível – descobrir as
necessidades de todos os povos indígenas brasileiros. Somente sabendo o que os povos
indígenas consideram direitos, ou seja, sabendo das suas reais necessidades, pode-se
construir uma legislação verdadeiramente protetora e efetiva. Sendo, no entanto, uma
pesquisa que abrangesse todos os povos indígenas brasileiros tarefa impossível para
uma única acadêmica, busca-se acrescentar à totalidade teórica da temática indígena
uma pesquisa etnográfica qualitativa em duas aldeias Guarani – especialmente para
chamar atenção para a atitude imprescindível de ouvi-los. Esse é o principal objetivo da
acadêmica com a pesquisa etnográfica, demonstrar essa obrigatoriedade de ouvi-los.
As aldeias escolhidas são de índios não-isolados e situam-se às margens da
rodovia BR-101, em Palhoça e em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Aqui utiliza-se o
conceito de não-isolados apenas para deixar claro que se trata de comunidades que há
muito convivem com não-indígenas, mas essa classificação estática de cultura já foi
muito contestada.
Robert Lowie, antropólogo do século passado e aluno de Franz Boas (principal
expoente do culturalismo norte-americano), já combatia na década de 1920 a idéia de
isolamento de quaisquer povos, com o simples – porém eficaz – argumento de que os
seres humanos existem há cerca de 100 mil anos:
8
Não é possível conceber que uma subdivisão qualquer do gênero humano,
ainda que houvesse se separado das restantes durante uma décima parte desse
imenso período de tempo [100 mil anos], tenha permanecido estática por
completo. Existem duas razões muito convincentes para supor o contrário.
Em primeiro lugar, o isolamento sempre foi relativo se consideramos grandes
períodos de tempo. Em outras palavras, as influências do exterior sempre
produziram alguma mudança nos costumes, nas crenças e nas artes materiais.
Em segundo lugar, tais alterações acontecem - embora com maior lentidão inclusive na ausência de estímulos externos, como conseqüência das
inovações realizadas com êxito a cada geração. 1
A perspectiva teórica abordada tenta trazer a compreensão da cultura como
uma soma de discursos que não se anulam e que estão em constante ressignificação.
Pensando nessa impossibilidade de traçar uma linha imaginária entre duas culturas, e,
ainda assim, na necessidade de proteger minorias culturais que ainda tentam viver
conforme algumas manifestações culturais tradicionais, como é o caso das aldeias
Guarani aqui estudadas – é preciso formular uma legislação que contemple a
complexidade da situação. E somente escutando a sociedade indígena será possível
compreender as suas necessidades nesse mundo de interpenetrações e ressignificações
culturais. Na pesquisa busca-se, então, entender como o direito pode fazer a complexa
situação dos povos indígenas no Brasil melhorar.
1
LOWIE, Robert. Religiones Primitivas. Madrid: Alianza, 1983 (1925), pp. 13-14. Tradução própria.
9
1 PANORAMA GERAL DA QUESTÃO INDÍGENA NO BRASIL
Mesmo que não haja um consenso sobre a data exata em que os seres humanos
surgiram na América do Sul nem de onde exatamente vieram, sabe-se que a ocupação
dessa região é muito antiga. As datas vão de 12 mil a 70 mil anos atrás, sendo que o
menor número é resultado de uma teoria da década de 1950 que considerava que as
migrações pré-históricas somente poderiam acontecer por terra. O humano teria passado
da Ásia, por meio da Beríngia, para o Alasca, e descido, ao longo do tempo, para a
América Central e do Sul. Essa teoria é contestada por não considerar a capacidade
intelectual do humano de então e, além disso, por considerar que seria mais fácil criar
uma tecnologia para o frio intenso do que para a navegação. Hoje se propõe que
diversos grupos humanos chegaram à América por diferentes vias de acesso, marítimas
e terrestres, os primeiros há 70 mil anos. 2
A região onde hoje é o Brasil já estava completamente ocupada há 12 mil anos,
e surgem cada vez mais sítios arqueológicos antigos, como no sudeste do Piauí, na área
arqueológica de São Raimundo Nonato, que comprova uma ocupação de pelo menos 60
mil anos. 3
A verdade é que a presença humana é antiga em todos os continentes e em
todos eles povos se formaram e desenvolveram culturas complexas. Lamentavelmente,
alguns se acharam no direito de subjugar, explorar e matar os demais, o que aconteceu
em grande escala no continente americano a partir do século XV. Os povos nativos
foram quase aniquilados porque os povos invasores queriam as riquezas de seu
território:
Povos e povos indígenas desapareceram da face da terra como conseqüência
do que hoje se chama, num eufemismo envergonhado, o “encontro” de
sociedades do Antigo e do Novo Mundo. Esse morticínio nunca visto foi
fruto de um processo complexo cujos agentes foram homens e
microorganismos mas cujos motores últimos poderiam ser reduzidos a dois:
ganância e ambição, formas culturais da expansão do que se convencionou
chamar o capitalismo mercantil. Motivos mesquinhos e não uma deliberada
política de extermínio conseguiram esse resultado espantoso de reduzir uma
população que estava na casa dos milhões em 1500 aos parcos 200 mil índios
que hoje [em 1992] habitam o Brasil. 4
2
GUIDON, Niéde. As ocupações pré-históricas do Brasil. In: CUNHA, Manuela Carneiro da. (Org.).
História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
3
Id., Ibd.
4
CUNHA, Manuela Carneiro da. Introdução a uma história indígena. In: CUNHA, Manuela Carneiro da.
História dos Índios no Brasil. (Org.). São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 12, grifado.
10
Enquanto a população da Europa teria de 60 a 80 milhões de habitantes em
1500, em toda a América a cifra pode ter chegado a 100 milhões, com mais de 11
milhões somente nas terras baixas da América do Sul. Isso significa dizer que um
continente logrou a façanha de, com um punhado de colonos, despovoar um continente
mais habitado que o seu, com o que “esvai-se a imagem tradicional [...] de um
continente pouco habitado a ser ocupado pelos europeus. Como foi dito com força por
Jennings, a América não foi descoberta, foi invadida”. 5
Depois de um breve período de parceria comercial de meio século, o interesse
privado de viajantes e posteriormente da Coroa portuguesa pela mão-de-obra e pelas
riquezas do território indígena, além do interesse da Igreja Católica de cristianizar os
nativos, iniciou um longo período de exploração, de destituição e de morte.
Bartolomé de Las Casas, frei espanhol que chegou à América em 1502, foi
encomendeiro 6 de índios, mas se transformou em grande defensor dos povos após
presenciar inúmeros massacres da ocupação. Ele afirmava que todos os reinos
americanos eram possuidores da mesma potestade dos reinos europeus, mas que nem
Portugal nem Espanha reconheceram esse “poder dos reis de coroa de penas”, nem seus
domínios como territórios independentes: 7
Qualquer nação e povos, por infiéis que sejam, possuidores de terras e de
reinos independentes, os quais habitaram desde o princípio, são povos livres
e que não reconhecem fora de si nenhum superior, exceto os seus próprios, e
este superior ou estes superiores têm a mesma pleníssima potestade e os
mesmo direitos do príncipe supremo em seus reinos, como os que agora
possui o imperador em seu império. 8
Para Manuela Carneiro da Cunha, importante antropóloga brasileira, a política
colonial portuguesa não resultou somente na eliminação física e étnica dos índios, mas
também pretendeu a eliminação dos índios como sujeitos históricos. Ela ressalta que,
apesar disso, os povos indígenas não foram apenas vítimas das práticas externas, foram
atores políticos importantes de sua própria história. Freqüentemente, exemplifica, as
mitologias indígenas explicam a desigualdade tecnológica como uma escolha dos
5
CUNHA, 2002, p. 14. Cunha menciona JENNINGS, Francis. The Invasion of America: indians,
colonialism and the cant of conquest. University of North Carolina Press: Chapel Hill, 1975.
6
Este conceito se assemelha ao de comerciante e é melhor explicado na seção 1 do segundo capítulo.
7
MARÉS DE SOUZA FILHO, Carlos Frederico. O renascer dos povos indígenas para o direito. Curitiba:
Juruá, 2000, p. 25.
8
MARÉS, 2000, p. 47.
11
índios, que preferiram o arco e a cuia à espingarda e ao prato. Além disso, apesar de
serem exceções, houve também coalizão entre grupos indígenas e grupos europeus para
guerrear com outros grupos indígenas. 9
Se por um lado sabemos que os povos indígenas tinham culturas complexas,
sociedades organizadas e religião, os europeus se basearam justamente em uma suposta
falta de lei e de deus para dominar o continente e tentar controlar a sua história. Antonio
Carlos Wolkmer, professor e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina,
explica que portugueses e espanhóis desconsideraram e tentaram eliminar também o
direito dos povos indígenas:
[...] num período de um pouco mais de três séculos, as metrópoles
colonizadoras européias impuseram e consolidaram uma cultura jurídica
formalista e individualista de tradição romano-canonística, inviabilizando a
dinâmica espontânea e consuetudinária de um pluralismo comunitário
indígena. [...] Além do desprezo e da negação às praticas plurais de um
Direito nativo e de uma Justiça informal, o projeto de colonização
expansionista portuguesa implementou as condições necessárias para
institucionalizar uma ordem de controle e de regulamentação essencialmente
formalista, elitista e segregadora. 10
Infelizmente, a postura da sociedade brasileira não diferiu muito da portuguesa.
O Estatuto do Índio, da década de 1970, ainda apresenta uma missão civilizadora dos
índios, e traça limites, como se fosse possível traçar linhas culturais, a partir dos quais
os índios seriam ou não considerados índios. Com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, o sentimento era de uma nova fase para os direitos
indígenas no país. Mas os poucos artigos que trazem em seu favor não são suficientes
para suprir todas as necessidades de mais de 200 povos indígenas.
E ainda que muitos estudiosos do tema considerem que a Constituição não
recepcionou o Estatuto do Índio (ao menos a parte que se baseia na ideologia
civilizatória utilizada desde a colonização), magistrados de todas as instâncias ainda
decidem segundo a antiga ideologia, com uma visão completamente rasa do que é ser
índio. O Judiciário demonstra ainda um total despreparo e uma total incompreensão dos
povos indígenas, porque prescinde, muitas vezes, de conceitos básicos sobre como o de
cultura e do conhecimento de como vivem os povos atualmente. Decisões e decisões se
9
CUNHA, 2002, pp. 18-19.
WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralidade jurídica na América luso-hispânica. In: WOLKMER,
Antonio Carlos. (Org.) Direito e Justiça na América Indígena: da conquista à colonização. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 1998, pp. 76 e 91.
10
12
acumulam que consideram os índios que falam português, usam roupas e celulares
como índios “integrados” à sociedade e não merecedores de direitos indígenas.
Clifford Geertz ensina que os humanos são animais amarrados a teias de
significados que eles mesmos teceram – sendo a cultura essas teias e sua análise. Essa
análise constituiria, para ele, não uma ciência em busca de leis, mas uma ciência em
busca do significado, por isso uma fundamentalmente interpretativa.11 Se a cultura é
formada por teias de significado tecidas pelas pessoas, então esse emaranhado de
significados não podem ser pré-determinados por quem está de fora, não pode ser
considerado cultura somente o que um determinado grupo o considera. A cultura é
fluida, ela se transforma conforme são transformadas as teias de significado de quem a
tece. A cultura indígena não deixa de ser cultura porque outros significados, construídos
fora dela, são por ela aproveitados. Muitas vezes, esses significados são adaptados,
ressignificados, ou seja, ganham outro significado para a cultura indígena. Ou seja, a
cultura indígena, assim como qualquer outra cultura, pode manter dentro de suas teias
significados que não foram “originalmente” construídos por ela, isso não a desqualifica.
Muitos pensam, no entanto, que a cultura deve ser delimitada, como se
precisasse se manter “pura”, de alguma forma. Para citar um exemplo recente, em
fevereiro deste ano três índios da etnia Xokleng, lideranças indígenas da Terra Indígena
Laklaño, em José Boiteux (SC), foram julgados pela Justiça Comum do estado de Santa
Catarina e condenados a penas de até 20 anos de reclusão porque impediram que
caminhões saíssem de sua reserva carregados de madeira retirada dela ilegalmente. Os
índios impediram também que os caminhoneiros saíssem do local até que pagassem a
quantia de mil reais em alimentos – sua forma de tentar resolver o conflito, sua
jurisdição. O magistrado considerou que essa atitude nada teve a ver com a cultura
indígena e, portanto, eles não deveriam ser julgados pela Justiça Federal. Ora, o
primeiro e mais fundamental direito indígena é o direito territorial, sem o qual os índios
não conseguem viver segundo sua cultura. Se eles estavam defendendo a sua terra,
como desvincular isso de sua cultura? Simplesmente três lideranças indígenas, entre elas
uma índia de 55 anos (considere-se o respeito que os povos indígenas têm pelos mais
velhos), resolveram entrar para o mundo do crime praticando roubo e extorsão mediante
seqüestro de caminhoneiros que estavam com toneladas de madeira extraída de sua terra
ou estavam os índios defendendo o seu povo e o seu direito cultural à terra? O juiz
11
GEERTZ, Clifford. Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989, p. 15.
13
considerou, no entanto, que não havia interesse da comunidade indígena na prática do
“crime”. Além disso, sequer menciona a etnia dos indígenas, cita o Estatuto do Índio e
traz um recorrente argumento em decisões judiciais brasileiras, de que “o indígena
apresenta-se integrado à civilização, sendo alfabetizado e sabendo falar a língua
portuguesa” 12 .
Interessante lembrar que os índios são obrigados a falar português, porque a
maioria dos demais brasileiros não falam suas línguas; e que o Ministério da Educação
exige, na formulação do currículo diferenciado das escolas indígenas, a alfabetização
em português. O próprio Estatuto do Índio, quanto à educação, exige a alfabetização em
português. Não que o Estatuto seja referência a ser seguida, mas é seguido em quase
todas as esferas públicas.
A jurisprudência segue essa linha confusa, havendo decisões que tentam
inovar e outras que continuam aplicando o Estatuto do Índio, estas sendo maioria. Em
especial, a aplicação dos níveis de integração do Estatuto (art. 4º.13 ) reflete a dificuldade
da sociedade em compreender a complexidade do tema, uma vez que a cultura é um
sistema complexo e dinâmico, nada impedindo que índios e índias tenham a sua cultura
indígena, mas participem, também, de outras culturas – sem deixar de serem indígenas.
Isso porque a cultura não é algo estanque, delimitável, mas resultado também da
interação e da ressignificação cultural. Por isso, nessa decisão do Judiciário catarinense,
percebe-se de maneira clara a definição que muitos brasileiros têm dos índios, ainda
ligada à visão diacrítica do índio pelado com penacho que só vive na mata. Não lhes é
permitido ter cultura própria que dinamize com outras culturas, sem que deixem de ser
índios.
Orivaldo Nunes Júnior, indigenista catarinense e membro da Comissão Geral
de Gestão Ambiental da FUNAI em Brasília (DF), relata um caso muito interessante
que exemplifica essa questão. Na sua dissertação de mestrado, ele conta o que ocorreu
12
BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Comarca de Ibirama. Sentença nos autos n°.
027.06.002495-6. Juiz Jeferson Isidoro Mafra. Ibirama (SC), 12 de novembro de 2009. Disponível em:
<http://ibirama.tj.sc.gov.br/cpopg/pcpoQuestConvPDFframeset.jsp?cdProcesso=0R00013R20000&cdDo
c=183673&cdCategDoc=&cdModeloDoc=&OrigemDoc=3&PG=pg&cdForo=27&pdf=true>.
13
Art. 4º. Os índios são considerados: I - Isolados - Quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se
possuem poucos e vagos informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional; II
- Em vias de integração - Quando, em contato intermitente ou permanente com grupos estranhos,
conservam menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e modos
de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual vão necessitando cada vez mais
para o próprio sustento; III - Integrados - Quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no
pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua
cultura.
14
durante uma dinâmica de grupo na Área Tumukumaque, em Macapá (AP), quando
participaram lideranças das etnias Apalai, Kaxuyana, Wayana e Tiriyó:
Quando os questionei sobre a utilização destas tecnologias [eletrônicas] por
povos que não as possuíam em sua história, com interesse de provocar uma
discussão, um dos estudantes, chamado Aturapoty Apalai, logo colocou sua
posição, com a qual todos concordaram. Disse ele: “Uma vez veio um
japonês aqui em Macapá e queria conhecer um índio, eu tava por aqui e aí me
chamaram. Quando ele me viu, ficou perguntando por que eu usava relógio e
andava de roupa, e disse ainda que eu não era índio porque tinha perdido
minha cultura. Aí nem fiquei bravo. Só perguntei pra ele de onde ele tinha
vindo, e falou que era do Japão. Então fiz uma proposta pra ele. Eu tirava a
roupa, me pintava, e voltava a morar no mato como antigamente se ele
voltasse pro Japão e usasse de novo aquelas roupas de Samurai e fosse morar
como antigamente. Depois que falei isso ele pediu desculpas, aí ficamos
amigos”. 14
Não se admite que a cultura indígena se ressignifique a partir da cultura nãoindígena, como se fosse possível, em qualquer caso, delimitar culturas. Isso se reflete
diretamente na formulação dos direitos dos índios e na sua garantia, resultando na sua
injusta marginalização na sociedade brasileira. A grande dificuldade na construção de
uma legislação para resguardar os direitos indígenas que atenda, de fato, as necessidades
dos diversos povos que convivem conosco é justamente a linha imaginária que muitos
acreditam existir entre cultura indígena e não-indígena. Acredita-se que se o índio
cruzar essa linha em direção à uma cultura “diversa” da sua, ele perde seus direitos. É o
que o antigo Estatuto indígena determinava expressamente, e é a mentalidade que se
manteve.
É preciso perceber que, por mais que a cultura indígena tenha se ressignificado,
como a maioria das culturas de todo o mundo, inclusive a nossa, e que isso aconteça o
tempo inteiro, os povos indígenas se diferenciam na medida em que ainda vivem,
prioritariamente, conforme sua cosmologia extremamente ligada à natureza, à religião e
à vida em comunidade. Se falam português, utilizam roupas e aparelhos eletrônicos,
nada disso impede que vivam sua cultura.
Para viver sua cultura, no entanto, existem necessidades fundamentais,
geralmente ligadas ao direito territorial, porque os povos indígenas não conseguem
viver a tradição sem um bom espaço de terra preservada. É nesse ponto que o problema
14
NUNES JÚNIOR, Orivaldo. INTERNETNICIDADE: Caminhos dos uso de Novas Tecnologias de
Informação e Comunicação por Povos Indígenas. 2009. 111 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de
Programa de Pós-graduação em Educação, Ufsc, Florianópolis, 2009, p. 93.
15
começa, com o interesse pela terra indígena. A partir daí, constrói-se todo um discurso
contrário aos povos indígenas, na tentativa de anulá-los para que se tomem suas terras.
E esse discurso toma todas as esferas pensantes do país, inclusive aquelas que
deveriam ser especializadas, como o Judiciário brasileiro. A imensa distância que a
maioria dos juízes mantêm da realidade indígena e de suas necessidades (ou a
proximidade que mantêm com os interesses contrários) é comprovada no julgamento do
Supremo Tribunal Federal sobre a Terra Indígena Raposa Serra do Sol (RR), que,
apesar de ter decidido a favor da demarcação contínua, elencou dezenove restrições aos
direitos dos índios. 15
Entre essas restrições, os ministros do STF cometeram o absurdo de determinar
a proibição de ampliação de terras indígenas já demarcadas, demonstrando que não
estão interessados em defender a cultura indígena, que não pode se manter sem território
amplo com natureza preservada. Além de ser uma limitação contrária à própria
Constituição Federal de 1988, que protege as terras tradicionais dos índios
“imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as
necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”
(art. 231, §1º.), é pior – é uma manifestação que corrobora o racismo da sociedade
brasileira; principalmente porque pressupõe que a população indígena não pode e não
deve crescer.
O discurso hegemônico do Brasil é etnocêntrico e elitista. Esse discurso
compõe o senso comum e acaba considerando como verdade que os índios são
selvagens, atrapalham o progresso, desmatam a natureza, são bêbados, são
aproveitadores, fingem ser índios para conseguir terras, são preguiçosos e ocupam terras
grandes demais. Todos esses argumentos podem ser ouvidos na televisão, lidos nas
revistas e nos jornais, sentidos nas atitudes políticas, nas omissões da legislação
brasileira – e, também, no que ela determina expressamente.
Podemos exemplificar isso a partir da repercussão do caso de agressão de um
engenheiro da Eletrobrás por um índio Kayapó, no encontro Xingu Vivo para Sempre,
de 19 a 23 de maio deste ano de 2008, em Altamira (PA) na grande mídia.
Paulo Rezende discursava para índios de várias etnias, moradores da região,
ambientalistas, movimentos de atingidos por barragens – cerca de mil pessoas.
15
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão nos autos da Petição 3388/2005. Relator Min. Carlos
Ayres Britto. “Condição” XVII da decisão. Brasília (DF), 19 de março de 2009. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=raposa%20serra%20do%20sol&
base=baseAcordaos>.
16
Enquanto falava sobre como não causaria tanto impacto na região a construção da usina
hidrelétrica Belo Monte no Rio Xingu, os índios presentes o circundaram cantando e
dançando. Em seguida, conta-se que alguns índios rasgaram sua camisa, jogaram-no ao
chão, dando socos e um golpe de facão no braço direito.
O olho da matéria da revista Época 16 é a direção da matéria: “A agressão dos
índios contra um engenheiro na Amazônia é um atraso. As hidrelétricas podem ser boas
para todos”. A matéria também diz que se a hidrelétrica de Belo Monte não for
construída, vai faltar luz na região. Certamente inundar a região do Xingu em uma área
correspondente à cidade de Curitiba pode ser maravilhoso para todos os diferentes
povos indígenas que há milhares de anos estão sem luz, pobres coitados, finalmente
serão iluminados pela razão ocidental! E continuam, na matéria: “A cena de barbárie fez
o país acordar para algumas verdades incômodas. Primeiro, ela corrói a imagem
romântica sobre os povos da floresta”.
Os povos da floresta não são citados senão para relatar o episódio de 1989, em
que uma mesma índia, Tuíra, presente nesta última manifestação, encostou um facão no
rosto de um engenheiro da Eletronorte. José Lopes discursava, então, sobre os
benefícios da mesma hidrelétrica, de nome diferente, Cararaô; que agora prevê uma área
alagada maior.
Em nenhum outro momento os índios são citados, tampouco para relatar os
motivos do protesto, quantos povos serão atingidos pela barragem, para onde irão os
índios, omissões a serviço do interesse da nação.
“As cenas de um grupo de selvagens amazônicos”, como disse a revista
17
Veja , é uma afirmação eurocêntrica e que segue a lógica que divide, desde a Grécia
antiga (aliás, ponto de partida da história eurocêntrica), civilizados e bárbaros. Os índios
são os bárbaros menos desenvolvidos, os selvagens, desprovidos de humanidade. Por
não falar do completo despreparo que levou o jornalista Ronaldo Soares (e seus
comparsas editoriais) a dizer, ainda, no final da matéria, que “um policial antropólogo é
o que faltava para o crime se perpetuar na Amazônia”.
16
Matéria de Juliana Arini e Mariana Sanches. Uma guerra equivocada. Revista Época. Ed. 523, 26 de
maio de 2008. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG83883-6009-523,00UMA+GUERRA+EQUIVOCADA.html>.
17
Matéria de Ronaldo Soares. Um golpe de insensatez. Revista Veja. Ed. 2062, 28 de maio de 2008.
Disponível em: <http://veja.abril.com.br/280508/p_064.shtml>.
17
A revista Istoé 18 esquece que os povos nativos tinham o Brasil inteiro: “Muita
terra para pouco índio”, diz um dos subtítulos. “A extensão das terras dos índios em
Roraima é superior à área de um país como Portugal, de 92 mil quilômetros quadrados”.
O box da matéria é sobre “Ameaças à Amazônia” e no primeiro quadro há a foto de
índio com a seguinte descrição: “A alta concentração de terras indígenas em Roraima
(46% do estado) e as unidades de conservação (27%) não deixam espaço para alavancar
a economia”. Aparentemente, a revista considera que o único espaço bem aproveitado é
aquele que gera capital imediato.
No caso de Raposa Serra do Sol, a grande mídia propagou muitas inverdades
inicialmente ditas por partes diretamente interessadas na terra: que a demarcação seria
uma ameaça à soberania nacional, que os índios são manipulados por interesses
estrangeiros, que a terra indígena seria grande demais (chegou-se a dizer que seria o
equivalente ao tamanho de Portugal, parece haver uma fixação por essa comparação –
irônico e trágico, no mínimo), que prejudicaria muitas comunidades que já moravam
dentro da reserva.
Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo do Museu Nacional (Universidade
Federal do Rio de Janeiro), em entrevista muito interessante ao jornal O Estado de São
Paulo 19 , desmonta todos esses argumentos.
Sobre a soberania nacional, ele menciona outra terra indígena que fica em
fronteira, a Cabeça de Cachorro, no município de São Gabriel da Cachoeira (AM): “O
Exército está lá, como deveria estar. A área indígena não teria como impedir a presença
dos militares. O que não permite é a exploração das terras por produtores não-índios”.
Para Viveiros de Castro, dizer que o Exército não pode ali atuar “é um sofisma
alimentado por políticos e fazendeiros que agem de comum acordo, numa coalizão de
interesses típica da região” e serve para criar pânico em quem não está lá. Inclusive ele
explica que os índios foram decisivos para que o Brasil ganhasse essa área, numa
disputa com a Inglaterra, sobre a região da Guiana. “Dizer que viraram ameaça
significa, no mínimo, cometer uma injustiça histórica”, diz.
18
Matéria não assinada. Amazônia: a soberania está ameaçada. Muita terra para pouco índio. Revista
ISTOÉ. Ed. 2012, 28 de maio de 2008. Disponível em:
<http://www.istoe.com.br/reportagens/4261_AMAZONIA+A+SOBERANIA+ESTA+EM+XEQUE>.
19
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Jornal O Estado de São Paulo. Suplementos – Aliás, 20/04/2008.
Entrevista concedida a Flávio Pinheiro e Laura Greenhalgh. Disponível em:
<http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,nao-podemos-infligir-uma-segunda-derrota-aeles,159735,0.htm>.
18
Quanto aos interesses estrangeiros, Viveiros de Castro ressalta que empresas
estrangeiras já são proprietárias de partes consideráveis do Brasil, detendo extensões
enormes de terra e parece não haver inquietação em relação a isso. “Agora, quando os
índios estão em terras da União, que lhes são dadas em usufruto, daí fala-se do risco de
interesses estrangeiros”. Ele relembra que a Amazônia já está internacionalizada há
muito tempo, não pelos índios, mas por grandes produtores de soja ligados a grupos
estrangeiros ou pelas madeireiras da Malásia. O que não falta por lá é capital
estrangeiro. “Por que então os índios incomodam? Porque suas terras, homologadas
e reservadas, saem do mercado fundiário”.
Sobre ser a terra indígena grande demais, ele afirma que se disseminam
mentiras “como a de que a área da reserva ocupa 46% de Roraima, quando apenas
ocupa 7%. As terras indígenas de Roraima, somadas, dão algo como 43% do Estado.
Mas a Raposa tem 7%”. Ele acrescenta, ainda, que:
As terras de índios são 43% [em Roraima] ao todo, porém, até 30, 40 anos
atrás, eram 100%. E o que acontece hoje com os 57% que não são terras de
índios? São ocupados por uma população muito pequena, algo em torno de 1
milhão de pessoas. O que é isso? É latifúndio. Sabe quantos são os
arrozeiros que exploram terras da reserva [de Raposa Serra do Sol]?
Seis. Não há dúvida de que o que se quer são poucos brancos, com muita
terra. Outra inverdade: as terras da reserva são dos índios. Não são. Eles não
têm a propriedade, mas o usufruto. Porque as terras são da União. E a União
tem o dever constitucional de zelar por elas. Já os arrozeiros querem a
propriedade. As notícias que temos são as de que, desde a homologação,
produtores rurais que estão fora da lei já atacaram quatro comunidades
indígenas, incendiaram 34 casas, arrebentaram postos de saúde, espancaram e
balearam índios.
Ou seja, toda a discussão de Raposa Serra do Sol foi gerada, essencialmente,
por seis latifundiários, que conseguiram incrivelmente ganhar muito apoio da mídia, do
Executivo, do Legislativo e até do Judiciário. Gilmar Mendes, antes do julgamento,
afirmou ser favorável à demarcação em ilhas, afirmação que Viveiros de Castro repudia,
entre outras coisas, porque não cabe ao Judiciário demarcar terras indígenas.
Então dizer que existe uma manipulação no discurso propagado pela mídia não
é teoria de conspiração. É possível, sim, criar um discurso que finge ser verdadeiro, mas
que é composto de mentiras que soam bem aos ouvidos mais conservadores e, de fato,
isso ocorre. A formulação desse discurso hegemônico no país explica por que os índios
não têm apoio nem das camadas que mais deveriam se demonstrar compreensivas e
favoráveis aos seus interesses.
19
Quem começou a construção desse discurso foram os europeus. Ella Shohat e
Robert Stam explicam que o colonialismo e o racismo precisavam de justificativas, por
isso, esses aliados utilizaram várias técnicas para estigmatizar a diferença com o
propósito de legitimar vantagens injustas e abusos de poder de natureza econômica,
política, cultural e psicológica. Essa construção discursiva tentava reduzir a diversidade
cultural a apenas uma perspectiva paradigmática, que vê a Europa como a origem única
dos significados. Surgiu como um discurso naturalizante – que finge que não é discurso,
que finge ser a verdade – e normaliza relações de hierarquia geradas pelo colonialismo e
pelo imperialismo, como uma epistemologia oculta, colocando o ocidente como centro
do mundo e origem da história. 20
A partir desse discurso eurocêntrico, a sociedade portuguesa tentou reconstruir
aqui no Brasil uma versão sua. Mas o raciocínio teve de ser repensado. Roberto Da
Matta, antropólogo brasileiro, explica que a ideologia e o método da colonização
tiveram que ser reformulados com a Independência, quando se “apresentou à elite
nacional e local a necessidade de criar suas próprias ideologias e mecanismos de
racionalização para as diferenças internas do país”. Já não se podia mais colocar a culpa
em Portugal, porque a estrutura de poder tinha seu ponto final no Rio de Janeiro. A
ideologia católica e o formalismo jurídico não eram mais suficientes para sustentar o
sistema hierárquico. Dessa forma, com a abolição da escravatura, houve a libertação
jurídica do escravo, mas não houve a libertação social e científica. Para ele, a nova
justificação brasileira ao racismo veio no racismo à brasileira e na forma da fábula das
três raças, que ele chama de a mais poderosa força cultural do Brasil, a ideologia
dominante: “uma ideologia que permite conciliar uma série de impulsos contraditórios
de nossa sociedade, sem que se crie um plano para sua transformação profunda”. A
ideologia que foi utilizada para tentar criar uma identidade nacional, permitindo pensar
o país como uma sociedade integrada, multicultural, multirracial e sem racismo. 21
Esse racismo à brasileira é mais perigoso que qualquer outro: é aquele que se
finge não existir. Adotou-se a idéia de um país onde não haveria espaço para o racismo,
uma mistura de raças e de crenças onde todos se aceitam e se amam, um lindo carnaval
sem fim. Como combater o inexistente? Se não existe racismo, como acabar com ele?
20
SHOHAT, Ella; STAM, Robert. Crítica da imagem eurocêntrica. São Paulo: Cosacnaify, 2006, pp. 3755.
21
DA MATTA, Roberto. Digressão: a fábula das três raças ou o problema do racismo à brasileira.
Relativizando: uma introdução à antropologia social. Petrópolis: Ed. Vozes, 1983, pp. 63-64.
20
Apesar disso, se o racismo não existe, não há como explicar os dados de
desigualdade social de “cor e raça” no Brasil. Se os brasileiros não são tratados de
maneira diferente por questões étnicas, de modo a prejudicar negros e índios – não há
como explicar por que os negros já são mais da metade da população brasileira e
continuam tendo metade da renda dos brancos, nem por que somente uma fração
mínima deles completa o ensino superior; não dá de explicar também por que os índios
têm a maior mortalidade infantil do país.
Com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2008,
o IBGE revelou, no ano de 2009, que pretos e pardos (que formam a parcela negra) já
são mais da metade da população brasileira: 50,6%. Do total da população, no entanto,
15% das pessoas de 25 anos e mais com curso superior são brancas, e apenas 4,7%
negras. Entre os 10% mais pobres do país, 74% são negros; e entre o 1% mais rico, 83%
são brancos. 22
No último Censo Demográfico, de 2000, 734 mil brasileiros se auto-declararam
indígenas, de um total de 169 milhões. Isso significa menos de 1% da população. Um
pouco mais da metade dos índios declara que possui algum tipo de atividade econômica.
Desses, 54% sobrevive com até meio salário mínimo e 70% com até um salário
mínimo. 23
A cada mil índios que nascem, 50,4 morrem, enquanto a média brasileira é de
30,1, por mil. Ambos os números são altos e terríveis, mas percebe-se a disparidade
entre eles. A mortalidade infantil indígena é a única do país considerada alta, as demais,
por etnia, são todas consideradas médias. 24
As pessoas não deveriam ser tratadas de maneira diferente por causa da cor de
sua pele, mas isso acontece no país e não pode ser ignorado. Não se pode dizer que um
país onde negros ainda hoje têm metade da renda de brancos e onde índios têm a maior
taxa de mortalidade infantil não é racista 25 . Fica ainda mais difícil mudar esses dados
quando se diz que eles não são resultado do racismo.
22
IBGE. Síntese dos indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira. Rio
de Janeiro: IBGE, 2009. pp. 184-187. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsoc
iais2009/indic_sociais2009.pdf >.
23
IBGE. Tendências demográficas: uma análise dos indígenas com base nos resultados da amostra dos
censos demográficos 1991 e 2000. Rio de Janeiro: IBGE, 2005. pp. 84-88. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/tendencia_demografica/indigenas/indigenas.pdf>.
24
IBGE, 2005, Ibd. pp. 88-92.
25
O racismo pressupõe a existência de raças entre os seres humanos, conceito que foi essencialmente
substituído pelo conceito de etnocentrismo, que pressupõe a existência de etnias diferentes, com culturas
diferentes. Apesar de haver uma denominação que pode ser considerada mais correta, infelizmente ainda
21
O Censo Agropecuário de 2006, publicado também em 2009, traz mais uma
dose da desigualdade brasileira. Da área rural total do país, somente 2,7% tem menos de
10 hectares. Mais de 43% dessas terras são latifúndios com mais de 1.000 hectares –
sendo que essas terras são menos de 1% do número total de estabelecimentos. Ou seja,
menos de 1% do número de propriedades rurais ocupam 43% dessas terras. Considerese que 30% dos estabelecimentos rurais têm como atividade a criação de bovinos, que é
potencialmente prejudicial à natureza, ou seja, acaba com a riqueza natural que deveria
ser de todos. 26
O total de terras indígenas do Brasil soma 12,5% do território:
Fontes: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia e Coordenação de Cartografia, Malha Municipal do
Brasil, Situação em 2001; Fundação Nacional do Índio, Diretoria de Assuntos Fundiários. 27
existem manifestações de racismo – com o sentido de discriminação de uma pessoa ou de um grupo
considerados de uma “raça” inferior – no Brasil e no mundo. Considerando isso, os dois conceitos serão
utilizados no trabalho, por serem praticamente sinônimos na sua prejudicialidade efetiva.
26
IBGE. Censo Agropecuário de 2006. Comentários. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. pp. 107-109.
Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/brasil_2006/comentarios.pdf
>.
27
IBGE, 2005, Ibd., p. 15. Mapa confeccionado com dados do IBGE e da FUNAI.
22
No mapa, são 488 terras indígenas, das quais 90 ainda precisam ser declaradas,
homologadas ou regularizadas. Além disso, ainda existem 123 em fase de estudo, que
não foram nem delimitadas e são 20% do total de terras indígenas no país.
Em estudo
Delimitadas
nº. de TIs
123
33
%
20,2%
5,4%
hectares
em revisão
1.751.576
Declaradas
30
4,9%
8.101.306
Homologadas
Regularizadas
TOTAL
27
398
611
4,4%
65,1%
100
3.599.921
92.219.200
105.672.003
Fonte: Fundação Nacional do Índio.Tabela adaptada retirada do site da FUNAI.
28
A elite branca detém a maior parte das terras do país, e ainda assim não se
contenta. A cada demarcação de terra indígena é a mesma história: os índios têm terras
demais, atrapalham o desenvolvimento econômico, invadiram terras que têm outros
donos. Se essa elite não mudar essa linha de raciocínio, as injustiças contra os povos
indígenas certamente não vão cessar, porque os índios não vão desaparecer, pelo
contrário, a tendência é que a quantidade de brasileiros índios só aumente.
A taxa de fecundidade dos índios é a maior do Brasil. O Censo de 1991 foi o
primeiro que considerou a categoria indígena, quando 294 mil pessoas foram assim
classificadas. Enquanto o país apresentou um ritmo de 1,6%, os indígenas teriam
aumentado na proporção de 10,8%. Isso equivale a seis vezes mais que a população em
geral e a 150% de aumento. O IBGE destaca que o crescimento foi percebido em todos
os estados e que a taxa de fecundidade indígena é superior à da média brasileira
especialmente no meio rural 29
O IBGE acredita que pessoas que se identificaram em outras categorias no
Censo de 1991 passaram a se declarar como indígenas neste último recenseamento, e
isso atrapalharia o resultado da verdadeira taxa de fecundidade. Mesmo que assim seja,
continua sendo um crescimento, significa dizer que mais pessoas quiseram ser
reconhecidas como indígenas. Essa auto-afirmação ficou mais forte após o contexto da
Constituição Federal de 1988, quando comunidades indígenas que preferiam
permanecer invisíveis para se proteger passaram a reivindicar seus direitos mais
fortemente. O crescimento vegetativo da população indígena representa, portanto,
28
FUNAI. Tabela com a situação das terras indígenas. Disponível em:
<http://www.funai.gov.br/indios/terras/conteudo.htm#atual>.
29
IBGE. Tendências demográficas, 2005.
23
reconhecimento tanto da população não-indígena, quanto segurança dos índios de se
afirmarem enquanto tais:
Constata-se que há um crescimento vegetativo significativo, mas paralelo a
isso há uma maior visibilidade, fruto de afirmação da identidade expressa na
relação de alteridade, bem como na concepção de cidadania. Indivíduos e
comunidades que não eram consideradas pelas estatísticas conquistaram
direito e adquiriam visibilidade e iniciaram um processo de reconquista das
terras, ou seja, afirmaram o desejo de viver a seu modo em espaços
próprios. 30
Mesmo com a incompreensão predominante da sociedade envolvente, os povos
indígenas se sentiram mais confiantes em ter seus direitos reconhecidos na Constituição
Federal do Brasil. Podemos imaginar, então, o quão fortalecidos ficariam se fossem
mais compreendidos pelos não-indígenas brasileiros.
30
NÖTZOLD, Ana Lúcia Vulfe; BRIGHENTI, Clóvis Antônio. Demografia e direito indígena: uma
leitura a partir do contexto catarinense. Revista de Ciências Humanas, Florianópolis, EDUFSC, Volume
43, Número 1, p. 145-163, Abril de 2009, p. 161.
24
2 AS LEIS SOBRE INDÍGENAS DESDE A INVASÃO EUROPÉIA
2.1 Sobre como os europeus regulamentaram a guerra e a sua permanência
A ocupação da América não foi um acontecimento isolado, fazia parte do
contexto expansionista europeu do século XVI, que se baseava em critérios econômicos
(a busca por metais preciosos) e político-ideológicos (cristianizar os índios e convertêlos em servos da Igreja e da Coroa). 31
A juridicidade da operação de conquista foi fixada pelos espanhóis antes
mesmo da ocupação. Em 1493, o papa Alexandre VI outorgou aos reis católicos
Fernando de Aragão e Isabel de Castela a Bula de Participação, por meio da qual dava
soberania, jurisdição e domínio à Coroa Espanhola sobre o Novo Mundo – se em
contrapartida os espanhóis enviassem às novas terras homens que instruíssem os
habitantes na fé católica. Portugal contestou a concessão e conseguiu, no ano seguinte,
um acordo intermediado pelo papa sobre a divisão das terras, o tratado de Tordesilhas. 32
Tanto a ocupação, quanto a colonização, não foram planejadas e ordenadas
detalhadamente pelo Estado, mas estabelecidas por contratos entre as coroas e
expedições particulares. Isso significava que Portugal e Espanha podiam manter o
controle, sem precisar se responsabilizar financeiramente por isso. Esses contratos,
chamados de capitulações, foram também o início do conflito entre a coroa e os
empreendedores privados, na disputa do monopólio dos lucros. As capitulações foram o
primeiro esforço espanhol para legislar sobre as terras que invadiram, e nelas se
estabelecia o direito da Coroa de Castela sobre os territórios e a autorização aos chefes
de expedições para conquistá-lo. 33
No início, a forma de dominação das metrópoles espanhola e portuguesa foi
muito distinta, já que a riqueza dos metais preciosos do México e do Peru não podiam
ser comparadas à produção agrícola na colônia portuguesa. Portanto, as leis e as
instituições espanholas foram muito mais complexas e formuladas de maneira mais
ampla do que as portuguesas. A Espanha impôs um sistema político administrativo
31
WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralidade jurídica na América luso-hispânica. In: WOLKMER,
Antonio Carlos. (Org.) Direito e Justiça na América Indígena: da conquista à colonização. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 1998, pp. 76.
32
PIRES, Sérgio Luiz Fernandes. O aspecto jurídico da conquista da América pelos espanhóis e a
inconformidade de Bartolomé de Las Casas. In: WOLKMER, 1998, p. 64.
33
WOLKMER, 1998, op, cit., p. 77 e pp. 81-82.
25
complexo e rígido, criando órgãos como a Casa da Contratação, que controlava as
relações comerciais entre colônias e metrópole e fiscalizava o recebimento das rendas
reais, e como o Conselho das Índias, que tinha autoridade para ditar leis e fazer
inspeções. 34
As leis, no entanto, desde o início não foram respeitadas. Na capitulação de
Colombo, por exemplo, a Igreja e a Coroa determinaram como deveriam ser tratados os
habitantes das novas terras, mas o conquistador escolheu escravizar os índios por
necessidade de mão-de-obra. A Corte afastou-o do empreendimento por isso, mas não
continuou fiscalizando ou punindo os demais exploradores. 35
No começo, eram aplicadas as regras gerais espanholas, mas, influenciado por
padres, Fernando Aragão reuniu juristas e teólogos para criar as Leis de Burgos, de
1512, com o suposto intuito de amenizar a sobrecarga sobre os índios. O rei foi
pressionado, porque logo após Colombo, o novo governador das Índias instituiu o
regime das encomiendas. Esse sistema funcionava da seguinte forma: para que os índios
pudessem viver nas próprias terras, deveriam pagar tributos em espécie à metrópole, só
assim teriam a proteção da Coroa, de quem seriam vassalos, e não escravos. Esses
tributos seriam recolhidos pelos encomendeiros, que teriam a obrigação de cuidar bem
dos índios fisicamente e espiritualmente. As Leis de Burgos fixavam que os índios eram
livres e deveriam ser assim tratados, instruídos na fé, como mandava o papa, com toda a
diligência; que a Coroa podia mandar que trabalhassem, mas sem que o trabalho fosse
impedimento à instrução da fé e que fosse proveitoso aos índios e à república e o rei
servido por meio de seu senhorio. 36
A última tentativa da Coroa espanhola de frear os ímpetos demolidores e
individualistas dos conquistadores foram as Leis Novas, de 1542, mas houve reações
políticas negativas nas colônias e a lei também não foi aplicada. Não tinha o propósito
de proteger a vida dos índios, mas pretendia proibir novas conquistas e mais
destruição. 37
Nenhuma das duas leis foi efetivada, virando letra morta. Isso aconteceu
porque o direito espanhol aplicado em território americano permitia a utilização da
“prerrogativa de não cumprir” - a fórmula “se acata, pero no se cumple” -, uma
instituição jurídica segundo a qual as autoridades da colônia não precisariam cumprir as
34
WOLKMER, 1998, op. cit., pp. 77-78.
PIRES, op. cit., p. 66.
36
PIRES, op. cit., pp. 67-68.
37
WOLKMER, 1998, op. cit., p. 83.
35
26
leis da metrópole em circunstâncias justificadas.38 Mais tarde, em 1681, foi publicada a
Recompilação de Leis dos Reinos das Índias, com 6.377 leis, que trazia também leis
sobre situação jurídica dos índios. 39
Jesus Antonio de La Torre Rangel defende que, sem o direito indígena da
América espanhola, os índios não teriam sobrevivido. Para ele, foi a construção de uma
legislação que tratava o índio como desigual, baseada nas diretrizes protecionistas da
Igreja, que conseguiu a conservação das comunidades indígenas. Mesmo com a
submissão a que eram condicionados, inclusive por lei, Rangel acredita que, sem o
direito espanhol na América, teria valido apenas a máxima de que índio bom seria índio
morto. Ele reconhece que em muitos casos a lei não valia e eram violados os direitos
indígenas, em especial pela avareza dos conquistadores, pela falta de fiscalização da
metrópole e pela docilidade dos índios. Mas, para o teórico, a lei pretendia, sim,
proteger o índio e muitas vezes teve aplicação real. Ele cita alguns trechos das Leis
Novas, que falava inclusive em resguardar usos e costumes indígenas, que ordenava
informar a metrópole sobre maus tratos cometidos pelos particulares, que obrigava
castigar os culpados que se excedessem. Se o direito indígena não tivesse se orientado
nessa direção, para ele, hoje não estaríamos falando em resgate dos direitos das
comunidades indígenas. 40
A Igreja Católica, no entanto, não defendia os índios apenas por
compadecimento. Mais do que isso, era uma estratégia contrária à Reforma Protestante,
já que a conversão de pagãos lhe parecia mais fácil que a reconversão de hereges. Para a
conversão, os jesuítas se basearam nas seguintes linhas: os índios são nossos próximos;
são homens; têm uma alma também criada por deus; a natureza é igual em todos os
homens, apesar da diversidade de criação e meio ambiente; os índios são mais fáceis de
serem convertidos que os hereges. Ao mesmo tempo, quando precisava atender a seus
interesses, a Igreja encontrava argumentos para implementar a “guerra justa” contra os
índios, por supostas ofensas concretas à obra de deus na terra, daí com as seguintes
linhas: os índios punham empecilho à propagação da fé católica; atacavam povoados ou
fazendas portuguesas; eram antropófagos; eram aliados ou inimigos dos portugueses.
Mesmo com toda essa manipulação discursiva, o objetivo maior da Igreja, em conluio
38
PIRES, op. cit., p. 68.
WOLKMER, 1998, op. cit., p. 82.
40
RANGEL, Jesus Antonio de La Torre. Direitos dos povos indígenas: da Nova Espanha até a
Modernidade. In: WOLKMER, Antonio Carlos. (Org.) Direito e Justiça na América Indígena: da
conquista à colonização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, pp. 219-225.
39
27
com o Estado, era a de justificar a obtenção de mão-de-obra índia. 41 Com a desculpa de
que defendia a vida dos índios, o clero também usufruiu de sua exploração:
Através dos seus representantes, que integravam o bloco de classes no poder,
a Igreja Católica participava de todas as formas de exploração do produtor
direto. [...] Numa economia onde preponderavam atividades agrárias, os
representantes da Igreja asseguravam a propriedade do principal meio de
produção, a terra. 42
Há quem diga que os primeiros contatos entre os povos nativos e os europeus
foram amistosos. Relatos de Pêro Vaz de Caminha, Cristóvão Colombo e Américo
Vespúcio discorrem sobre a bondade e a generosidade dos povos. Apesar disso, em seus
relatos eles não reconhecem qualquer forma de organização social ou de religião.
Caminha acredita que os índios não tinham morada, chefes espirituais ou políticos: “esta
gente é boa e de boa simplicidade e imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho
que lhes quisesse dar”. Colombo conta, em suas cartas ao rei da Espanha, que os índios
o ajudaram a desencalhar uma nau sem nada pedir em troca: “Certifico a Vossa Alteza
que em nenhuma parte de Castela se colocaria tanto cuidado em todas as coisas. [...]
Acredito que não exista no mundo melhor gente e melhor terra”. Vespúcio fala da
fraternidade e também da diversidade: “Eu encontrei países [...] com mais população do
que conhecíamos. [...] Descobri o continente habitado pelo maior número de povos e
animais que nossa Europa, ou Ásia ou mesmo África”. 43
Ao longo do século XVI, apesar de na prática ter ocorrido de modo muito
diferente, firmou-se na Espanha e em Portugal a doutrina que negava o poder temporal
do papa sobre os infiéis e a jurisdição européia nas terras recém-descobertas. Afirmava
essa doutrina a plena soberania original das nações indígenas. 44
Desde antes da invasão, começaram a se formar duas tendências principais
sobre a legitimidade dessa dominação. Como a “conquista” da América era reconhecida
pelo papa, uma tendência buscava sustentação justamente na sua autoridade e na
jurisdição do rei, e defendia que os valores ocidentais eram superiores aos dos
aborígines, que eram bárbaros e pecadores. Assim, seria juridicamente fundamentada a
41
VIEIRA, Otávio Dutra. Colonização portuguesa, catequese jesuítica e Direito Indígena. In:
WOLKMER, 1998, pp. 157-158.
42
VIEIRA, Ibd., p. 161.
43
MARÉS de Souza Filho, Carlos Frederico. O renascer dos povos indígenas para o direito. Curitiba:
Juruá, 2000, p. 28-30. Tradução da autora.
44
CUNHA, Manuela Carneiro da. Terra Indígena: história da doutrina e da legislação. In: CUNHA,
Manuela Carneiro da. (Org). Os Direitos do Índio: ensaios e documentos. São Paulo: Ed. Brasiliense,
1987, pp. 53-54.
28
guerra justa contra os indígenas que não aceitassem a entrada dos conquistadores. Em
contraposição a esses argumentos, surgiu uma corrente de um grupo de teólogos,
moralistas e religiosos que não reconheciam o poder do papa e a pretensa jurisdição
universal dos reis sobre os infiéis. Defendiam que a jurisdição dos colonizadores não
poderia ser colocada além de suas fronteiras e que os indígenas possuíam dignidade e
direitos humanos. Esta perspectiva foi representada pela Escola de Salamanca 45 e por
seu mais ilustre professor, Francisco de Vitória, considerado um dos fundadores do
direito internacional. Vitória dizia que não era justa a guerra contra os indígenas que
não queriam se cristianizar. 46
O teólogo sustentava que nem o Papa, tampouco o Imperador, seriam senhores
de todo o mundo, pois ninguém deteria o império da terra por direito natural; e essa
idéia influenciou o conceito de soberania. A ordem internacional que Vitória preconizou
era de uma sociedade de povos que não se submetem ao poder de um só senhor. Ele
argumentou em favor da autonomia e dos direitos territoriais dos povos americanos.
Mesmo se o Imperador fosse senhor do mundo, dizia ele, nem por isso poderia ocupar
todos os territórios, estabelecer novos senhores, depor antigos e cobrar tributos. Ainda
assim, Vitória reconhecia a importância da universalização da fé cristã, e a possibilidade
de guerra justa se esses povos tentassem impedir a difusão da catequese. 47
Francisco de Vitória foi o jurista que com maior autoridade estabeleceu a
soberania original dos povos indígenas na América. Em suas duas Relecciones, “Dos
índios recém-descobertos e dos títulos não legítimos, pelos quais os bárbaros do Novo
Mundo puderam passar para o poder dos espanhóis” e “Dos índios ou do direito da
guerra dos espanhóis contra os bárbaros”, Vitória contesta todos os argumentos que
negavam aos índios domínio e jurisdição original. Ele refuta, inclusive, a suposta falta
de razão ou demência invocada para impedir o domínio indígena, escrevendo que os
índios tinham sua própria razão. Para ele os índios eram os verdadeiros senhores de suas
terras e isso era fundamentado no direito das gentes das Instituições de Justiniano, que
determinava conceder ao ocupante da terra o que não é de ninguém. 48
45
Universidade mais antiga da Espanha e uma das mais antigas do mundo. Esse foi o seu período de
maior prestígio.
46
WOLKMER, 1998, op. cit., p. 84.
47
APARICIO, Adriana Biller. Direitos Territoriais Indígenas: Diálogo entre o Direito e a Antropologia –
O Caso da Terra Guarani “Morro dos Cavalos”. 134 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Direito, UFSC,
Florianópolis (SC), 2008, p. 17.
48
CUNHA, 1987, pp. 55-56.
29
O frei espanhol Bartolomé de Las Casas embarcou para a América em 1502
com o intuito de se tornar encomendeiro e chegou a guerrear contra os índios em busca
de ouro. Após presenciar um dos mais cruéis massacres da ocupação na Ilha
Fernandina, Las Casas ficou marcado para sempre. Voltou para a Espanha e começou
uma luta pela proteção dos povos indígenas e pela reforma das leis espanholas a eles
aplicada. Criou uma corrente de pensamento indigenista a que se agregaram muitos
pensadores. Para ele, todos os povos tinham sido criados por deus e cumpria aos
católicos apenas levar as suas revelações, sem interferir na vida, organização social,
direito e propriedade dos povos; o direito natural e das gentes não dependiam, para o
frei, de serem os povos fiéis ou infiéis, todos eram por ele regidos. Las Casas
reconhecia que todo povo tinha direito à sua jurisdição e esse direito era preexistente ao
ser humano. 49
No ano de 1550, o rei espanhol mandou formar em Valladolid uma
congregação de letrados, teólogos e juristas para determinar se eram justas as guerras da
chamada conquista. O maior debate se deu entre Las Casas e o ferino jurista Ginés de
Sepúlveda. O jurista defendeu que os reis cristãos tinham a obrigação de tirar os povos
indígenas de um estado de idolatria e eram assim exortados pelas escrituras sagradas;
essa obrigação daria legitimidade ao direito de conquista, estabelecido por lei. Se a lei
não fosse acatada, caberia guerra justa dos reis cristãos e a avaliação de sua justeza
caberia aos clérigos. A decisão da congregação foi proferida por Vitória e foi favorável
a Las Casas e aos povos indígenas, por mais que não tenha se efetivado. Vitória chegou
a dizer que se os espanhóis tivessem praticado a quarta parte dos princípios e normas
legais que pregoavam, a América não teria sido uma colônia, mas um pequeno
paraíso. 50 O direito indiano foi fortemente influenciado por esses debates. 51
Wolkmer explica que a obra de Las Casas expressou um projeto de
convivência pacífica entre todos os povos, com respeito pela diversidade de raças,
religiões e culturas - e que, por isso, Las Casas foi o precursor do conceito moderno de
pluralismo racial, cultural, político, religioso e jurídico. 52
Portugal estava muito mais interessado nas riquezas do Oriente e reintroduziu
na América o sistema das capitanias hereditárias que já havia utilizado em algumas ilhas
49
MARÉS DE SOUZA FILHO, Carlos Frederico. O renascer dos povos indígenas para o direito.
Curitiba: Juruá, 2000; p. 49.
50
MARÉS DE SOUZA FILHO, p. 49.
51
Id., Ibd., p. 51.
52
WOLKMER, 1998, p. 85.
30
do Atlântico, mas como as capitanias foram um fracasso e o mercado açucareiro tornouse promissor, assim como a exploração agrícola de produtos tropicais, criou em 1548 o
Governo Geral, que centralizou a administração do território invadido. A plantação
açucareira constituiu a base da colonização até o século XVIII, quando ocorreu a crise
na produção açucareira e Portugal se voltou para o minério. O Brasil foi edificado como
uma sociedade agrária baseada no latifúndio. Prevaleceram os privilégios de uma
aristocracia branca e a submissão de uma maioria despossuída e explorada como mãode-obra escrava, primeiramente de maioria indígena, e mais tarde substituída pela do
negro africano, devido à dificuldade em escravizar os índios: 53
A aliança do poder aristocrático da Coroa com as elites agrárias locais
permitiu construir um modelo de Estado que defenderia sempre, mesmo
depois de independência os intentos de segmentos sociais donos da
propriedade e dos meios de produção. Naturalmente, o aparecimento do
Estado não foi resultante do amadurecimento histórico-político de uma nação
unida ou de uma sociedade consciente, mas da imposição da vontade do
Império colonizador. Instaura-se, assim, a tradição de um intervencionismo
estatal no âmbito das instituições sociais e na dinâmica do desenvolvimento
econômico. Tal referencial aproxima-se do modelo de Estado absolutista
europeu, ou seja, no Brasil, o Capitalismo se desenvolveria sem o capital,
como produto e recriação da acumulação exercida pelo próprio Estado.54
Na América portuguesa não existiu um direito colonial independente do direito
português. O rei era auxiliado por conselhos criados para as questões coloniais, mas
mesmo as questões mais específicas deviam ser aprovadas pela Coroa. Para aplicar a lei
da metrópole, os governadores emitiam, aqui, Decretos, Alvarás e Bandos. 55
A coroa portuguesa não construiu nada parecido com a Lei das Índias
espanhola. O Direito português, de tradição jurídica do Direito romano, e também sem
descartar o Direito canônico e o germânico, foi a fonte quase exclusiva da legislação
aplicada no Brasil colônia. Durante o período das capitanias hereditárias, primeira
metade do século XVI, a organização da Justiça estava entregue aos senhores
donatários, que eram concomitantemente os administradores, os chefes militares e os
juízes. Com os governadores gerais, implementou-se um sistema de jurisdição
centralizadora controlado pela Metrópole. Nos séculos XVI e XVII, os tribunais
53
WOLKMER, 1998, op. cit., pp. 77-80.
WOLKMER, Antonio Carlos. História do Direito no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 38-39.
55
PERRONE-MOISÉS, Beatriz. Índios livres e índios escravos: os princípios da legislação indigenista do
período colonial (séculos XVI a XVIII). In: CUNHA, Manuela Carneiro da. História dos Índios no Brasil.
(Org.). São Paulo: Companhia das Letras, 2002, pp. 115-116.
54
31
superiores ficavam em Lisboa, mas foram criados Tribunais de Relação (Bahia e Rio de
Janeiro), onde atuavam funcionários civis preparados na metrópole. 56
Por mais que Portugal tenha tentado repetir o que os teóricos espanhóis diziam,
o debate jurídico colonial português foi muito menos elaborado, e a preocupação
principal era sobre a dificuldade dos moradores da colônia em conseguir tomar posse
dos índios. A Coroa, fonte primária dessa legislação incoerente, variava entre agradar os
colonos e os missionários religiosos (em especial os jesuítas), que pressionavam de cada
lado para deter a maior quantidade de mão-de-obra, aqueles com o pressuposto de
manter os rendimentos econômicos e estes com o pretexto de converter os gentios. 57
A legislação regulamentadora da colônia era composta por leis eclesiásticas,
cartas de doação, forais, cartas-régias, alvarás e regimentos dos governadores gerais.
Aos poucos, a legislação da metrópole passa a ser aplicada na colônia sem qualquer
alteração em todo o território: as Ordenações Reais (Ordenações Alfonsinas, de 1446,
Manuelinas, de 1521, e Filipinas, de 1603). Para tentar resolver as necessidades
comerciais nas colônias também foram promulgadas Leis Extravagantes: 58 “A
experiência político-jurídica colonial reforçou uma realidade que se repetiria
constantemente na história do Brasil: a dissociação entre a elite governante e a imensa
massa da população”. 59
As leis coloniais transformaram o Brasil num caldeirão de interesses
conflitantes: “Contraditória, oscilante, hipócrita: são esses os adjetivos empregados, de
forma unânime, para qualificar a legislação e a política da Coroa portuguesa em relação
aos povos indígenas do Brasil Colonial”. Proibiu-se o cativeiro, liberou-se o cativeiro,
proibiu-se com exceções, liberou-se novamente, às vezes não para todos os povos,
agindo de forma diferente com cada um. As duas principais distinções diziam respeito a
“índios amigos” e “gentios bravos”. 60
Aos índios amigos, aqueles que se submeteram aos aldeamentos, a liberdade
foi garantida, legalmente falando, ao longo de toda a colonização. Eles eram “descidos”,
ou seja, trazidos de suas terras no interior para junto das povoações portuguesas,
catequizados, e deveriam trabalhar nas roças e nas plantações, para sustentarem a
56
WOLKMER, 1998, pp. 88-89.
PERRONE-MOISÉS, p. 115-116.
58
WOLKMER, 1998, p. 89.
59
Id., 2003, p. 45.
60
PERRONE-MOISÉS, p. 115-117.
57
32
colônia, além de promoverem sua defesa, constituindo o grosso dos contingentes das
tropas de guerra. 61
Os descimentos foram incentivados desde o Regimento de São Tomé de Souza
(1547) até o Diretório Pombalino (1757), e consistiam em trazer povos inteiros para
aldeias próximas dos estabelecimentos portugueses, por meio do convencimento de que
era do interesse dos índios, teoricamente sem violência. A disputa entre missionários,
especialmente os jesuítas, e colonos fez com que as leis ora atribuíssem os descimentos
aos primeiros (Lei de 1587, Regimento do governador de 1588, Alvará de 1596, Carta
Régia de 1653 e Regimento das Missões de 1686), ora aos administradores das aldeias
(Lei de 1611). Foi proibido, por mais de uma lei, o descimento forçado e o uso de
violência, mas as leis que contrariavam os interesses dos colonos raramente eram
cumpridas. Os índios aldeados deveriam ser considerados senhores de suas terras, e isso
foi estabelecido pela primeira vez no Alvará de 1596. A proximidade entre as aldeias e
os povoamentos portugueses foi determinada pelo Alvará de 1582 e pela Provisão Régia
de 1680. 62
Havia leis também para determinar sobre a criação de aldeamentos em locais
estratégicos, a qualidade da terra dos aldeamentos, a garantia de posse dos índios, a
preferência de aldeamentos com índios da mesma “nação”, o tamanho das aldeias e a
sua transferência, a obrigatoriedade de remuneração dos índios aldeados, um mínimo de
tempo para que eles pudessem trabalhar para a própria subsistência.63
A administração das aldeias era dividida entre espiritual e temporal. No
começo, os jesuítas eram encarregados de toda a administração, mas várias vezes os
colonos moradores conseguiram pressionar a coroa para serem legitimados do governo
temporal. Os indígenas chegaram a conseguir a administração temporal (Provisão de
1653, Lei de 1663 e Lei de 1755), quando os missionários fariam o governo espiritual,
mas o Diretório de 1757 considerou-os incapazes de se autogovernarem, instituindo
diretores das povoações. 64
Nos séculos XVII e XVIII, Portugal estava interessado em ocupar a Amazônia
e os jesuítas talharam para si um enorme território. Foi o seu século de ouro. A partir da
expulsão dos jesuítas por Pombal, em 1759 e da chegada de D. João VI não havia mais
61
Id., Ibd., pp. 117-118.
PERRONE-MOISÉS, pp. 117-118.
63
Id., Ibd., p. 119.
64
Id., Ibd., loc. cit.
62
33
vozes dissonantes quanto a escravizar os índios e tomar suas terras. 65 O aldeamento foi
a instituição que tornou possível o projeto colonial: só assim os portugueses
conseguiram a “conversão” dos indígenas, a ocupação e a defesa do território e uma
constante reserva de mão-de-obra para o desenvolvimento econômico da colônia e da
metrópole. 66 Interessante apontar que enquanto o trabalho servil desaparecia na Europa,
os europeus recriaram a escravidão nas suas colônias. 67
Mesmo os índios amigos não eram bem tratados como determinava a lei.
Escravizados, atacados, capturados, como se inimigos fossem, a Coroa decidiu acabar
com a distinção entre eles e os gentios bravos, com as “grandes leis de liberdade”. Com
a reação dos colonos, diversas exceções foram exigidas e viraram leis que permitiam a
escravização, o ataque e a captura de índios considerados muito bárbaros, com o
pretexto de que os colonos os civilizariam. 68
A escravidão era o destino dos índios inimigos e os principais casos de
escravização lícita – das “justas razões de direito” mencionadas nas leis – eram o
decorrente de guerra justa contra índios inimigos e do resgate de seus cativos. As causas
legítimas de guerra justa foram: o impedimento à propagação da fé, a prática de
hostilidades contra vassalos e aliados dos portugueses e a quebra de pactos celebrados.
A afirmação de hostilidades dos índios foi sempre a principal causa da guerra justa, e
muitas guerras foram movidas por necessidades econômicas dos colonizadores, para as
quais encontraram justificativas posteriormente. Diante disso, a coroa portuguesa
determinou que seriam justas apenas as guerras que o rei, de próprio punho, declarasse
tais (Lei de 1597 e de 1655). No entanto, muitas foram as recomendações de destruição
total dos “inimigos” nos séculos XVII e XVIII e os documentos falam de guerra
rigorosa, total, veemente, a ser movida cruamente, com todo dano possível, de
preferência até a extinção total 69 :
[O] Regimento de Tomé de Sousa, em 1548, recomenda que os Tupinambá,
que atacaram os portugueses “e fizeram guerra sejam castigados com muito
rigor, destruindo-lhes suas aldeias e povoações e matando e cativando aquela
parte deles que vos parecer que basta para seu castigo e exemplo”. O
Regimento de 24/12/1654, de uma entrada a ser feita na Bahia para castigar o
gentio bárbaro por suas “insolências”, recomenda “desbaratar”, queimar e
65
CUNHA, Manuela Carneiro da. Introdução a uma história indígena. In: CUNHA, Manuela Carneiro da.
História dos Índios no Brasil. (Org.). São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 16.
66
PERRONE-MOISÉS, p. 120.
67
WOLKMER, 2003, p. 36.
68
PERRONE-MOISÉS, pp. 122-123.
69
Id., Ibd., pp. 123-126.
34
destruir totalmente aldeias inimigas, escravizando a todos e matando a quem
de algum modo resistir. Uma Carta do governador geral do Brasil sobre a
assim chamada Guerra dos Bárbaros na capitania do Rio Grande, de
14/3/1688, recomenda a um dos capitães-mores que “dirija a entrada e guerra
que há de fazer aos bárbaros como bem entender que possa ser mais ofensiva,
degolando-os, e seguindo-os até os extinguir, de maneira que fique exemplo
desse castigo a todas as mais nações que confederadas com eles não temiam
as armas de sua majestade”. Em Alvará de 4/3/1690, relativo a essa mesma
guerra, o governador geral do Brasil recomenda que os inimigos sejam
seguidos “até lhes queimarem, e destruírem as aldeias, e eles ficarem
totalmente debelados, e resultar da sua extinção não só a memória, e temor
de seu castigo, mas a tranqüilidade, e segurança com que sua majestade quer
que vivam e se conservem seus vassalos”. Uma Carta Régia de 25/10/1707
ordena que se faça guerra ao Gentio do Corço no Maranhão “procurando
fazê-la cruamente ao tal gentio que se entende podem ser danosíssimos a
essas terras, para que o temor desse destroço amoderente os mais a que se
abstenham de os assaltarem”. Uma Carta do vice-rei do Brasil de 30/6/1721
diz que tendo o gentio bárbaro atacado, “é preciso procurar extingui-los,
fazendo-se-lhes veemente guerra”. 70
2.2 Século XIX e direitos territoriais indígenas
A antropóloga Manuela Carneiro da Cunha acredita que as leis expressam por
excelência o pensamento indigenista hegemônico da época. No século XIX, o interesse
dominante deixa de ser a mão-de-obra indígena e vira uma questão de terras.
Começando ainda nos tempos de colônia, para a chegada da família real portuguesa e o
começo do Império e terminando na República Velha, neste século heterogêneo a
distância ideológica entre o poder central e as necessidades locais indígenas só
diminuem fisicamente. Os índios ficam completamente sem representação desde 1759
quando os jesuítas são expulsos, manifestando-se só eventualmente com rebeliões ou
petições ao imperador ou na Justiça. 71
Debate-se a partir do fim do século XVIII até meados do século XIX, se se
devem exterminar os índios “bravos”, “desinfestando” os sertões – solução
em geral propícia aos colonos – ou se cumpre civilizá-los e incluí-los na
sociedade política – solução em geral propugnada por estadistas e que
supunha sua possível incorporação como mão-de-obra. 72
É no século XIX que se questiona a humanidade dos índios pela primeira vez.
No século XVI, com a declaração papal de que os índios tinham alma, não se duvidava
de que se tratavam de homens e mulheres. O cientificismo da primeira metade do século
XIX preocupou-se em demarcar claramente humanos de “antropóides”, segundo o
70
PERRONE-MOISÉS, p. 126.
CUNHA, Manuela Carneiro da. Política Indigenista no Século XIX. In: CUNHA, 2002, pp. 133-134.
72
Id., Ibd., p. 134.
71
35
critério da perfectibilidade. Outra discussão já prefigura o evolucionismo e coloca a
posição dos povos indígenas na história da espécie humana. Estrangeiros como Karl
Phillip Von Martius e Cornelius de Pauw acreditavam que os índios não eram perfeitos
e que estavam destinados à extinção, nunca chegando a atingir a maturidade. Johann
Friedrich Blumenbach, um dos fundadores da antropologia física, analisou um crânio de
Botocudo e classificou-o como a meio caminho entre o orangotango e o homem. Na
segunda metade do século, novas teorias afirmam que os índios são a infância da
humanidade, e não sua velhice, como antes acreditaram, consagrando-os como
primitivos, testemunhas de uma era pela qual os europeus já teriam passado. 73
D. João VI foi o mais célebre adepto da violência contra os índios. Assim que
chegou ao Brasil, em 1808, desencadeou uma guerra ofensiva contra os genericamente
chamados Botocudos, para liberar as regiões do vale do Rio Doce, no Espírito Santo, e
dos campos de Garapuava, no Paraná, para a colonização. Até então, a guerra contra os
índios era dada como defensiva. 74
Com a revogação do Diretório Pombalino (1750), em 1798, um regulamento
que dispusesse de maneira mais geral sobre as questões indígenas só é publicado em
1845, com a votação do Regulamento das Missões, decreto 426, pelo presidente da
província do Rio. Isso deixa os povos indígenas em uma espécie de vácuo legal. 75 Essa
falta de leis gerais permitiu que métodos violentos fossem retomados com os índios,
como as leis de D. João VI. 76
Com a independência, a ausência de uma legislação indígena bem estruturada
se mantém. A Constituição de 1824 sequer menciona os índios. Marés de Souza Filho
diz que os Estados latino-americanos, ao serem constituídos, esqueceram-se de seus
povos indígenas. A burguesia brasileira desejava criar um só Estado, com um só
Direito, de um só povo:
O século XIX foi marcado na América Latina pela criação de Estados
nacionais, alguns majoritariamente indígenas, mas construídos à imagem e
semelhança dos antigos colonizadores: Estado único e Direito único, na
boa proposta de acabar privilégios e gerar sociedades de iguais, mesmo
que para isso tivesse que reprimir de forma violenta ou sutil as
diferenças culturais, étnicas, raciais, de gênero, estado ou condição. 77
73
CUNHA, 2002, pp. 134-135.
Id., Ibd., pp. 136-137.
75
Id., Ibd., pp. 138-139.
76
GAGLIARDI, José Mauro. O Indígena e a República. São Paulo: Ed. Hucitec, Ed USP e Sec. Estado
da Cultura de SP, 1989, p. 29.
77
MARÉS DE SOUZA FILHO, 2000, pp. 62-63, grifado.
74
36
Se antes as leis coloniais reconheciam povos diferentes, mesmo que para
subjugar; a criação do Estado brasileiro pressupunha suprimir as diferenças, e a
integração passava a ser o discurso oculto (ou não) das leis. “Na prática, a cordialidade
da integração se transformava na crueldade da discriminação”, afirma Marés. 78
Como se sabe, o movimento que levou à independência do Brasil foi feito por
poucos – e a constituinte lançou-se à obra de transformar em realidade o programa
liberal destes que queriam organizar o país de forma a assegurarem o controle do poder:
A política das Cortes portuguesas, revelando em 1821 a intenção de manter
as restrições à liberdade de comércio e a pretensão de recolonizar o país,
provocou secessão. Proprietários de terra, altos funcionários, uma parcela dos
comerciantes estrangeiros e nacionais ligados ao comércio exportador
procuraram no Imperador a garantia de um movimento pacífico em que
ficasse assegurada a ordem interna, estabelecendo um compromisso com a
tradição. 79
O sistema jurídico contemporâneo estabeleceu também uma dicotomia entre
direito público e privado, sendo que um jamais poderia se confundir com o outro. Tudo
que fosse de uso coletivo seria estatal; e o que não fosse, privado. Os direitos territoriais
dos povos indígenas, que estariam no meio, ficaram em um limbo jurídico. O Estado
moderno e suas relações internacionais não admitiam, mais, a existência de territórios
sem tutela estatal, passa a ser inconcebível a existência de territórios indígenas
independentes: 80
Por esta razão, a cultura constitucional clássica não podia aceitar a
introdução, nas constituições, dos direitos de povos indígenas a um território
e à aplicação, neste território de seu Direito próprio, porque entendia que
seria um Estado dentro do Estado. 81
Os direitos indígenas não foram mencionados na primeira Constituição
brasileira e uma grande legislação indigenista fica só na expectativa, com pontuais
manifestações em alguns documentos do Império. Na prática, manteve-se a mesma
78
Id., Ibd., loc. cit.
COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: momentos decisivos. São Paulo: Brasiliense,
1985, p. 125-126.
80
MARÉS DE SOUZA FILHO, 2000, pp. 64-67.
81
MARÉS DE SOUZA FILHO, 2000, p. 68.
79
37
divisão entre índios “bravos” e “domésticos ou mansos”, com o objetivo de guerrear
com os primeiros e de sedentarizar os segundos sob o “suave jugo das leis”: 82
A primeira Constituição brasileira, a Constituição imperial de 1824, não se
referiu a negros e índios, no pressuposto de que todos seriam livres e
cidadãos, conforme o receituário da nova ordem ocidental. Era apenas
discurso, como se sabe; os negros continuaram escravos e os índios jamais
foram integrados como cidadãos à comunhão nacional. 83
Essa omissão não foi, no entanto, pacífica. Se nossa primeira constituição
houvesse sido democrática e discutida em profundidade, e não outorgada, como foi, era
muito provável que houvesse alguma disposição sobre os índios. O diário da
Constituinte – que depois D. Pedro I decide fechar para outorgar a Carta – acusa
discussão entre os deputados Francisco Jê Acaiaba de Montezuma e José Bonifácio de
Andrada e Silva. Aquele, apesar do nome (que ele mesmo escolheu para homenagear os
índios na Independência), dizia que os índios não eram brasileiros no sentido político,
porque não entraria com os demais na família que constituiu o Império. 84
José Bonifácio de Andrada e Silva chegou a elaborar um documento chamado
“Apontamentos para a civilisação dos Índios bravos do Império do Brazil” para integrar
a Constituição. Os apontamentos foram apresentados à Assembléia Constituinte de 1823
e receberam parecer favorável, mas ficou decidido que seriam remetidos às províncias
para mais informações sobre a melhor maneira de serem executados, medida certamente
protelatória e que nunca foi concluída. Mesmo sendo uma tentativa de construir uma
legislação indigenista para todo o território brasileiro, os apontamentos de Andrada e
Silva não fugiam à linha portuguesa: tratavam da sujeição ao jugo da lei e do trabalho e
de aldeamentos. 85 José Bonifácio escreveu que muitos portugueses ainda consideravam
que o índio só tinha figura humana, sem ser capaz de perfectibilidade. Foi com esse
letrado brasileiro que a questão indígena volta a ser pensada dentro de um projeto
político e legal mais amplo, mas ainda tratava-se de chamar os índios à sociedade civil,
amalgamá-los à população livre e incorporá-los a um povo que se desejava criar. A
justiça de Andrada e Silva, assim, resultaria em um etnocídio generalizado. 86
82
CUNHA, 2002, op. cit., pp. 137-138.
MARÉS de Souza Filho, Carlos Frederico. Da tirania à tolerância: o direito e os índios. In: NOVAES,
Adauto. (Org.). A Outra Margem do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 62.
84
MARÉS DE SOUZA FILHO, 1999, pp. 62-63.
85
CUNHA, 2002, pp. 138-139.
86
Id., Ibd., pp. 134 e 137.
83
38
Apesar da falta de leis que tratassem sobre a questão indígena, o projeto de
Andrada e Silva, mesmo não tendo sido aprovado, foi tomado como discurso oficial do
Império brasileiro. Ele entendia que para construir a nação brasileira era preciso criar a
idéia de um só povo e, para isso, era necessário civilizar os índios por meio dos
aldeamentos e das bandeiras e estimular a miscigenação entre as raças. Nesse
documento, ele também faz uma dura crítica aos brancos que usaram da violência contra
os índios desde o começo da colonização, que os enganaram e roubaram suas terras, que
os escravizaram ou pagaram-lhes muito mal pela mão-de-obra. Andrada e Silva
acreditava no aperfeiçoamento das técnicas da colonização, com maior respeito aos
índios não por questões meramente humanitárias. Para ele, era um atraso econômico
para o país em formação simplesmente guerrear contra os índios; seria melhor, segundo
Bonifácio, que a civilização fosse levada a eles por meio da educação. 87
Os adjetivos negativos para os índios também não foram poupados por
Bonifácio: “povos vagabundos, e dados a continuas guerras, e roubos”, “entregues
naturalmente á preguiça”, “conhecem que se entrarem no seio da Igreja, serão forçados
a deixar suas contínuas bebedices, a polygamia em que vivem, e os divorcios
voluntarios”. Para Bonifácio, o índio não tinha muitas necessidades, porque nada lhe
faltava, e não tinha idéia de propriedade, “nem desejos de distincções, e vaidades
sociaes, que são as molas poderosas, que poem em actividade o homem civilisado”,
“uma raça de homens inconsiderada, preguiçosa, e em grande parte desagradecida e
desaumada para conosco, que reputam seus inimigos” 88 .
Como as leis não vieram após a Constituição imperial, cada província
administrava os índios da forma como bem entendia. De fato, após a abdicação forçada
de D. Pedro I em 1831, a competência legislativa das questões indígenas passa a ser das
Assembléias Legislativas Provinciais, cumulativamente com o Governo Geral,
conforme o ato adicional de 1843. 89
O Regulamento das Missões, de 1845, foi o único documento indigenista geral
do Império. Mais um documento administrativo que político, prolongou o sistema de
aldeamentos, que considerava uma transição para a assimilação completa dos índios.
87
MACHADO, Marina Monteiro. A Trajetória da Destruição: índios e terras no império do Brasil.
Dissertação (Mestrado). 137 f. Programa de Pós- Graduação em História Social da Universidade Federal
Fluminense, 2006, pp. 47-54.
88
ANDRADA E SILVA, José Bonifácio. “Apontamentos para a civilisação dos Índios bravos do Império
do Brazil”, 1823. In: CUNHA, Manuela Carneiro da. (Org.). Legislação Indigenista no Século XIX. Uma
compilação: 1808-1189. São Paulo: EDUSP, 1992. Anexo.
89
CUNHA, 2002, op. cit., pp. 137-138.
39
Escolheu oficialmente, para as aldeias, a administração leiga, com a ajuda religiosa e
educacional dos missionários; mas na prática havia carência de diretores leigos e muitos
missionários acabaram exercendo o cargo de diretores. Os missionários perderam,
apesar disso, a autonomia que tinham os jesuítas, ficando inteiramente a serviço dos
interesses governamentais. 90
Esse regulamento, Decreto 426 de 24 de julho de 1845 – “Contém o
Regulamento ácerca da Missões de catechese, e civilisação dos Indios” –, organizava o
serviço público em relação aos índios em cada aldeia, criava cargos e funções públicas
de competências específicas. Estabeleceu em cada província o cargo de Diretor Geral de
Índios e em cada aldeia cargos de diretor, tesoureiro, cirurgião e missionário. Como da
maioria das vezes, apesar da produção legislativa, este decreto também não foi
aplicado. 91
No século XIX, o foco dos portugueses é a terra e, para isso, iniciam um longo
processo de expropriação da terra indígena. Aparentemente, eram reconhecidos direitos
originários dos índios sobre suas terras e havia a necessidade de tomá-las de forma
legítima, a partir de previsões legais. A Carta Régia de 2/12/1808, de d. João VI,
considera devolutas as terras conquistadas por meio da guerra justa. É a primeira vez
que as terras indígenas conquistadas são consideradas devolutas. Para Carneiro da
Cunha, isso significa dizer que os índios a quem não se declarou guerra justa teriam
direitos anteriores sobre suas terras, que deveriam ser mantidos. Por outro lado, na
prática parecia haver duas opções: a guerra ou o aldeamento. E dentro das aldeias os
direitos territoriais foram estabelecidos sim, mas de modo a concentrar índios em
pequenos espaços de terra sobre os quais não teriam a propriedade, situá-los próximos
de colonos, e transformá-los em trabalhadores assalariados. 92
Carneiro da Cunha afirma que o Brasil independente marca um retrocesso nos
direitos indígenas, porque é negada a soberania e a cidadania dos índios. Apesar disso,
ainda se reconhecem os direitos dos índios sobre as suas terras. Em 1850, o Império
promulga a Lei de Terras (Lei 601, de 18/09/1850), mandando que se reservassem das
terras devolutas as necessárias para a colonização dos indígenas (art. 12, §1º.). 93
Esta Lei não era específica da questão indígena, dispondo sobre as terras
devolutas do Império, conceito que apresenta no seu artigo 3º.:
90
CUNHA, 2002, pp. 139-141.
MARÉS DE SOUZA FILHO, pp. 96-97.
92
CUNHA, 2002, pp. 141-142.
93
CUNHA, 1987, p. 66.
91
40
Art. 3º São terras devolutas:
§ 1º As que não se acharem applicadas a algum uso publico nacional,
provincial, ou municipal.
§ 2º As que não se acharem no dominio particular por qualquer titulo
legitimo, nem forem havidas por sesmarias e outras concessões do Governo
Geral ou Provincial, não incursas em commisso por falta do cumprimento das
condições de medição, confirmação e cultura.
§ 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do
Governo, que, apezar de incursas em commisso, forem revalidadas por esta
Lei.
§ 4º As que não se acharem occupadas por posses, que, apezar de não se
fundarem em titulo legal, forem legitimadas por esta Lei. 94
Para João Mendes de Almeida Júnior, a Lei de Terras preserva o
reconhecimento da propriedade indígena:
Quer da letra, quer do espírito da Lei de 1850, se verifica que essa Lei nem
mesmo considera devolutas as terras possuídas por hordas selvagens estáveis:
essas terras são tão particulares como as possuídas por ocupação legitimável,
isto é, originariamente reservadas de devolução, nos expressos termos do
Alvará de 1º. de abril de 1680, que as reserva até na concessão das
sesmarias. 95
Ou seja, o Alvará de 1680 determinava que os índios eram senhores de suas
terras e a Lei de Terras não contrariou essa classificação.
Mendes é conhecido por ter desenvolvido o conceito de indigenato, que seria
um título congênito aos índios, diferentemente da ocupação, que seria direito adquirido:
[...] a occupação, como título de acquisição, só pode ter por objecto as cousas
que nunca tiveram dono, ou que foram abandonadas por seu antigo dono. A
occupação é uma apprehensio rei nullis ou rei derelictae (...); ora, as terras
de indios, congenitamente apropriadas, não podem ser consideradas nem
como res nullius 96 , nem como res derelictae 97 ; por outra, não se concebe que
os indios tivessem adquirido, por simples occupação, aquillo que lhes é
congenito e primário, de sorte que, relativamente aos indios estabelecidos,
não ha uma simples posse, ha um título immediato de dominio; não ha,
portanto, posse a legitimar, ha dominio a reconhecer e direito originario e
preliminarmente reservado. 98
94
BRASIL, Lei 601, de 18/09/1850, sobre as terras devolutas do Império. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L0601-1850.htm>.
95
MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, João. Os Indígenas do Brazil, seus direitos individuaes e políticos.
São Paulo: Hennies, 1912, pp. 59-60 apud CUNHA, 1987, pp. 66-67.
96
Coisa sem dono.
97
Coisa abandonada.
98
MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, p. 59 apud MONTANARI JÚNIOR, Isaías. Demarcação de Terras
Indígenas na Faixa de Fronteira Sob o Enfoque da Defesa Nacional. 138 f. Dissertação (Mestrado) –
Curso de Direito, UFSC, Florianópolis (SC), 2005, p. 32.
41
Com esse jurista do final do século XIX, começo do XX, ficou claro que os
direitos indígenas não eram adquiridos – eram originários, mesmo que não fosse essa a
intenção da elite com a legislação. Essa linha conceitual perdura até hoje e está presente
na atual Constituição.
O decreto 1.318 de 30 de janeiro de 1854 regulamentou a Lei de Terras.
Determinou que seriam reservadas terras devolutas para a colonização e aldeamento dos
indígenas onde existissem “hordas selvagens”, especificou que essas terras seriam
inalienáveis e de usufruto exclusivo dos índios e destinadas a ser de sua propriedade
quando seu estado de civilização o permitisse. 99
Apesar da aparente regulamentação dos direitos territoriais indígenas, as
próprias leis eram utilizadas em seu desfavor, e iniciou-se um processo de esbulho
baseado nas próprias leis. O Regulamento das Missões permitia a remoção e a reunião
das aldeias (art. 1º., §§2º. e 4º.) e isso foi feito para tomar muitas áreas originariamente
indígenas. O que se fazia era reduzir cada vez mais o tamanho das aldeias ou considerar
todas as áreas ocupadas por indígenas como aldeamentos, e não terras imemoriais – com
o amparo no art. 12 da Lei de Terras e nos arts. 72 a 74 de seu Regulamento de 1854.
As terras dentro dos aldeamentos eram aforadas com base nos §§12º. a 14º. do
Regulamento das Missões. Além disso, desde o Ato Adicional de 1834 era permitido
que as Assembléias Provinciais legislassem e, estando mais próximas do poder local,
extinguiram sumariamente aldeias para se apropriar de suas terras. 100
Mesmo que o Regulamento das Missões e o decreto que regulamentou a Lei de
Terras tenham estabelecido a propriedade dos índios sobre as terras de aldeias extintas,
esse entendimento é rapidamente esquecido nas décadas seguintes. Durante algum
tempo, prevalece o entendimento de que se tratam de terras devolutas (Aviso 160 de 21
de julho de 1856 e Aviso 131 de 7 de dezembro de 1858). Mas a partir de 1875 as
Câmaras Municipais podem vender as terras das aldeias extintas (Decreto 2672 de 20 de
outubro de 1875). E em 1887, as terras das aldeias extintas passam definitivamente ao
domínio das províncias (Lei 3348 de 20 de outubro de 1887). Com a proclamação da
República, a Constituição de 1891 ratifica esse posicionamento, passando aos estados as
terras que eram das províncias. 101
99
CUNHA, 1987, p. 68.
CUNHA, 1987, p. 69.
101
CUNHA, 2002, p. 146.
100
42
A escravidão dos índios, declarada ou não, perdurou até pelo menos 1850,
apesar de ter sido “abolida várias vezes em particular no século XVII e no século XVIII:
ou seja, a abolição foi várias vezes, por sua vez, abolida”. Compravam-se crianças
(Circular de 9 de agosto de 1845) e adultos eram disfarçadamente escravizados, com a
grande exploração por meio do trabalho (Aviso de 2 de setembro de 1845). O trabalho
do índio era mal remunerado, sua produção comprada mais barata e as mercadorias lhes
vendidas mais caras. Além disso, tentava-se estimular uma dependência a certos
produtos, como a instrumentos, roupas e cachaça. O trabalho para particulares jamais é
proibido, desde que não seja forçado. É claro que a diferença entre o trabalho e a
escravidão não passava de formalidade legal e os índios eram disputados inclusive pelo
Estado. Em 1854, por exemplo, permite-se o recrutamento supostamente não
compulsório de índios para trabalharem por três anos nas aldeias, que só seriam pagos
ao final do período (Aviso de 5 de janeiro). Aqui em Santa Catarina, os índios recémcontatados foram distribuídos diretamente para trabalhar com particulares (Aviso 8 de
20 de março de 1855). 102
A proclamação da República, em 1889, mais uma vez não mudou a situação
dos índios. Como em quase todos os movimentos brasileiros de mudanças políticas
significativas, esse não reuniu camada popular expressiva. Os principais responsáveis
pela mudança foram os setores produtivos da sociedade que não dependiam mais de
escravos e também aqueles que foram prejudicados com a abolição; e os militares. Os
setores que utilizavam o trabalho livre já eram maioria e se manifestavam descontentes
com a excessiva centralização da monarquia. E os militares, desde a Guerra do
Paraguai, acreditavam ser a salvação do país, e foram instigados pela classe burguesa
em formação a se rebelar. Mas este ano não significou uma ruptura no processo
histórico brasileiro, as condições de vida da maioria da população permaneceu a
mesma. 103
No início do século XX, João Mendes Júnior já aduzia que: “quer em relação a
direitos individuaes e políticos, quer mesmo nas relações estrictamente administrativas,
os índios, na República, não passaram por alteração alguma”. 104
102
CUNHA, 2002, pp. 146-150.
COSTA, pp. 231-361.
104
MENDES JÚNIOR, João. Os indigenas do Brazil, seus direitos individuaes e políticos. São Paulo: Typ
Hennies Irmãos, 1912 apud BARBOSA, Marco Antônio. Autodeterminação: direito à diferença. São
Paulo: Plêiade, Fapesp, 2001.
103
43
Dessa forma, a primeira Constituição republicana brasileira, de 1891, também
é omissa sobre os povos indígenas. Mas durante a sua elaboração houve divergência. O
Apostolado Positivista do Brasil propôs à Assembléia Constituinte a organização do
Estado brasileiro como uma confederação de estados acrescida de uma confederação
dos índios que viviam no Brasil, cada qual com soberania sobre o seu território. 105
Assim era a proposta dos positivistas sobre a soberania indígena:
Art. 1º. A República dos Estados Unidos do Brazil é constituída pela livre
federação dos povos circunscritos dentro dos limites do extinto Império do
Brazil. Compõe-se de duas sórtes de estados confederados, cujas autonomias
são igualmente reconhecidas e respeitadas segundo as fórmulas convenientes
a cada cazo, a saber:
I. Os Estados Ocidentais Brazileiros sistematicamente confederados e que
provêm da fuzão do elemento europeu com o elemento africano e o
americano aborígine.
II. Os Estados Americanos Brazileiros empiricamente confederados,
constituídos pelas ordas fetichistas esparsas pelo território de toda a
República. A federação deles limita-se à manutenção das relações amistózas
hoje reconhecidas como um dever entre as nações distintas e simpáticas, por
um lado; e, por outro lado, em garantir-lhes a proteção do Governo Federal
contra qualquer violência, que em suas pessoas, quer em seus territórios.
Estes não poderão jámais ser atravessados sem o seu prévio consentimento
pacificamente solicitado e só pacificamente obtido. 106
Para os positivistas, os povos “selvagens” eram nações soberanas e livres,
independentes, a quem os brasileiros deveriam respeito, e cujas terras deveriam ser
demarcadas honestamente. A Constituição não acolheu qualquer ponto sugerido pelo
Apostolado, sequer mencionou os índios em seu texto.107 Ao mesmo tempo, os
positivistas eram evolucionistas, e, apesar de reconhecerem que o lugar dos índios na
nação brasileira advinha de anterioridade histórica, seu futuro seria a incorporação física
e cultural. 108
Os direitos territoriais indígenas permanecem reconhecidos, mesmo com a
omissão constitucional. Apenas as terras devolutas foram passadas aos estados
federados. Até tentou-se disseminar que todas as terras indígenas haviam passado para o
domínio dos estados, numa tentativa permanente de espoliação – mas por determinação
legal anterior não seriam consideradas devolutas as terras imemoriais indígenas e as de
105
MARÉS DE SOUZA FILHO, 1999, p. 57.
LEMOS, Miguel; e MENDES, R. Teixeira. Bazes de uma constituição política ditatorial federativa
para a Republica Brazileira. Rio de Janeiro: Apostolado Pozitivista do Brazil, 1890 apud CUNHA, 1987,
p. 72.
107
CUNHA, 1987, pp. 72-74.
108
GOMES, Mércio Pereira. Os Índios e o Brasil: Ensaio sobre um holocausto e sobre uma nova
possibilidade de convivência. Petrópolis: Vozes, 1988, 122.
106
44
aldeamentos não extintos. E isso foi confirmado no Decreto 736 de 1936, que incumbe
ao Serviço de Proteção ao Índio (SPI) impedir que as terras habitadas por silvícolas
fossem tratadas como devolutas. 109
2.3 Origem da tutela e seus reflexos nos séculos XIX, XX e XXI
Após as leis de liberdade, Lei de 6 de junho de 1755 e Lei de 7 de junho de
1755 – que estabeleceram que os gentios eram livres, isentos de toda escravidão e
podiam dispor de suas pessoas e bens como melhor lhes parecesse; e que a jurisdição
temporal das aldeias seria exercida pelos “principais” (caciques) –, o governo tomou
uma medida que deu origem ao instituto da tutela dos indígenas. Sem saber como
controlar os índios após as leis de liberdade, com medo de que houvesse uma evasão
dos índios libertos e a serviço dos moradores, ou seja, com medo de perder mão-deobra, o governo colocou-os sob o Regimento dos Órfãos. A justificativa de um
governador da época, do Grão Pará: “A estas gentes que não têm conhecimento do bem
que se segue do trabalho, se devem reputar dementes, e por isso, os pus na
administração do Juiz de Órfãos”. Seriam considerados órfãos todos aqueles que não se
submetessem ao trabalho na colônia. 110
“Note-se, portanto, que a tutela surgiu como uma solução para se garantir a
mão-de-obra indígena em um momento de transição entre escravidão e o trabalho
assalariado”, explicam Nádia Farage e Carneiro da Cunha. Apesar disso, a Carta Régia
de 12 de maio de 1798 ainda manteve o estatuto de órfãos para os índios que se
integrassem à sociedade. E o juiz de órfãos foi usado em todo o século XIX para
controlar toda a mão-de-obra potencialmente rebelde. Juridicamente, esses juízes
deveriam zelar pelos contratos de trabalho e sua remuneração, mas eram notórios seus
abusos. A tutela não seria, no entanto, aos grupos indígenas em geral nem associada a
uma suposta infantilidade dos índios, como ocorreu no século XX. Tratava-se de
aumentar o contingente de trabalhadores livres. 111
As autoras acreditam que a origem da confusão da tutela se deu quando os
juízes de órfãos foram encarregados também dos bens dos índios, pelo decreto de 3 de
junho de 1833. Ou seja, além da tutela individual do contrato do trabalho, a partir desse
109
CUNHA, 1987, pp. 75-76.
FARAGE, Nádia;e CUNHA, Manuela Carneiro da. Caráter da tutela do índio: origens e metamorfoses.
In: CUNHA, 1987, pp. 104-108.
111
FARAGE e CUNHA, pp. 110-111.
110
45
decreto os juízes detiveram a tutela coletiva, por proteger também as suas terras. Essa
determinação deveria ser transitória, mas só acabou com o decreto 5.484 de 27 de julho
de 1928. 112
A lei de 27 de outubro de 1831, que revoga a Carta Régia de 1808,
desonerando de servidão todos os índios que ainda se mantivessem escravos, também
aplica a esses índios a tutela orfanológica. Para Marés de Souza Filho, estaria claro que
a legislação do início do século XIX dava duas atribuições distintas aos juízes de
órfãos: 113
1) cuidar da pessoa dos índios libertos do cativeiro gerado pelas guerras,
porque a lei expressamente os colocou sob a tutela orfanológica e 2) dar
jurisdição aos juízes de órfãos para proteger os bens dos índios, aqui sim, de
todos os índios, inclusive dos aldeados e não contatados. 114
Ele explica que essa dupla função confundiu-se de tal forma que foi geral o
entendimento de que todos os índios estariam protegidos, pessoas e bens, pela tutela
orfanológica. Marés exemplifica com uma decisão de 25 de outubro de 1898 do
Superior Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que denegou um habeas corpus
impetrado por Mateus de Souza Lopes em favor do índio menor de idade Antônio
Solimões. O indiozinho havia fugido de estranhos a quem fora confiado por um juiz de
órfãos, para voltar para sua mãe. O Tribunal de Maranhão considerou que a mãe do
índio não poderia gerir sua própria vida, quanto menos a de seu filho, devendo ela
mesma sujeitar-se à jurisdição do juiz de órfãos – já que ignorava completamente a
língua portuguesa, cujo reconhecimento seria um dos requisitos da legislação para a
entrada do índio na vida social –, devendo ele ser devolvido à casa dos estranhos. 115
Acumular essas atribuições jurisdicionais teve efeitos nefastos na época da
discussão do Código Civil, começo do século XX. Essa era uma época de um
evolucionismo ingênuo, em que as sociedades indígenas eram representadas num estado
“infantil” das sociedades complexas, e por isso deveriam ser tutelarmente conduzidas à
civilização. A tutela foi ligada a uma suposta infantilidade dos índios e não à proteção
de seus bens. 116
112
FARAGE e CUNHA, pp. 112-113.
MARÉS DE SOUZA FILHO, Carlos Frederico. Tutela aos índios: proteção ou opressão? In:
SANTILLI, Juliana (Coord.). Os Direitos Indígenas e a Constituição. Porto Alegre: Núcleo de Direitos
Indígenas e Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, pp. 298-299.
114
MARÉS DE SOUZA FILHO, 1993, p. 299.
115
MARÉS DE SOUZA FILHO, 1993, pp. 295-300.
116
FARAGE e CUNHA, pp. 113-114.
113
46
Na segunda metade do século XX, o Código Civil brasileiro incluiu os índios
entre os relativamente capazes a certos atos ou à maneira de exercê-los, remetendo à
legislação especial o regime tutelar, que deveria cessar com a sua completa civilização:
Art. 6. São incapazes, relativamente a certos atos (art. 147, n. 1), ou à
maneira de os exercer:
I. Os maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos (arts. 154 a 156).
II. As mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal.
III. Os pródigos.
IV. Os silvícolas.
Parágrafo único. Os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar,
estabelecido em leis e regulamentos especiais, e que cessará à medida de
sua adaptação. 117
[Parágrafo depois modificado para a seguinte redação:]
Parágrafo único. Os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar, estabelecido
em leis e regulamentos especiais, o qual cessará à medida que se forem
adaptando à civilização do País. 118
Clóvis Beviláqua não havia incluído os índios entre os relativamente incapazes.
Durante a discussão do Código no Senado, no entanto, apresentou-se a seguinte
emenda: “Os Indios que habitam o interior do paiz em tribus selvagens, os quaes, a
medida de sua adaptação ficarão sujeitos ao regimen tutellar estabelecido em leis e
regulamentos especiaes, tendentes a promover a sua incorporação à vida nacional”. 119
Mesmo assim, a emenda se referia aos índios que deixassem seus grupos de origem para
se incorporar à sociedade envolvente – e a esses índios somente. Apesar disso, o parecer
que a aprovou trouxe a justificativa de que a lei de 1831 e o decreto de 1833 já haviam
estabelecido que os índios seriam “em todas as relações de direito, equiparados aos
órfãos”. 120 Na verdade, essas leis haviam se referido apenas aos índios escravizados e
aos bens dos índios aldeados, não a todos os índios. 121 A emenda que tornou os índios
relativamente incapazes com o Código Civil de 1916 foi aprovada, então, infelizmente,
segundo a interpretação errada de que todos os índios do país estariam sujeitos à tutela
orfanológica.
117
BRASIL, Lei 3.071 de 1916, que estabelece o Código Civil. Disponível em:
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=75875>.
118
BRASIL, Lei 3.071 de 1916, que estabelece o Código Civil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L3071.htm>.
119
Diário do Congresso Nacional, 5 de dezembro de 1912, ano XXIII, nº. 131 apud FARAGE e CUNHA,
p. 115.
120
Id., Ibd., Parecer nº. 432 apud FARAGE e CUNHA, p. 116.
121
FARA GE e CUNHA, pp. 115-116.
47
Antes de o Código Civil de 1916 ser sancionado, Clóvis Beviláqua já havia
externado seu posicionamento ao então presidente Nilo Peçanha, em um parecer no qual
afirmava:
[...] As providências, até agora tomadas, talvez por falta de continuidade no
pensamento do Govêrno, talvez por falta de convicção na sua eficácia, têm
sido improfícuas. Subsiste, apenas, a idéia do dec. de 3 de Junho de 1833,
mantida pelo regulamento de 15 de Março de 1842, art. 5º., §12, que,
equiparando os índios selvícolas aos menores, os submete à proteção do juiz
de órfãos. Mas é de esperar que a República, voltando, agora, as vistas para
êsse problema, o resolva, satisfatória e definitivamente. 122
A posição de Beviláqua era de não incluir os silvícolas entre as pessoas com
capacidade restrita. Ele a externou no seu Código Civil de 1916 Comentado, afirmando
que sua idéia era de a situação dos índios ser regulada por leis especiais: “O pensamento
do autor do Projeto, não dedicando qualquer disposição aos índios, era reservar-lhes
preceitos especiais, que melhor atendessem à sua situação de indivíduos estranhos ao
grêmio da civilização”. 123
Marés de Souza Filho concorda com Clóvis Beviláqua quanto ao erro de
atribuir a tutela do Código Civil aos indígenas:
Assiste, como de costume, total razão a este jurista brasileiro: é
extremamente frágil a solução jurídica, no direito moderno, de oferecer aos
índios uma tutela orfanológica, porque a tutela, desde Roma, passando pelas
ordenações do Reino e chegando ao Código Civil brasileiro, é instrumento de
proteção individual, incabível para uma coletividade e, muito menos, para
várias coletividades cultural e etnicamente diferenciadas. Os índios
necessitam de uma proteção que os garanta não só enquanto indivíduos, mas
enquanto povos, na relação não só com os outros cidadãos, mas com o
próprio Estado. 124
Marés explica que corresponde à incapacidade relativa do art. 6º. a Tutela e
Curatela que trata do Direito de Família no Título VI do Livro I da Parte Especial do
Código de 1916, arts. 406 a 485 – que, na opinião do autor, não é aproveitável às
populações indígenas e tampouco faz referência expressa a elas, enquanto o faz dos
outros relativamente incapazes. Para ele, a correta interpretação seria considerar que o
fim da tutela orfanológica acontece com o Código Civil, já que de sua leitura
122
BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado por Clóvis Beviláqua.
Rio de Janeiro: Ed. Paulo de Azevedo Ltda., 1953, p. 156.
123
BEVILÁQUA, p. 156.
124
MARÉS DE SOUZA FILHO, 1993, p. 302.
48
sistemática a tutela que ele mesmo disponibiliza não é suficiente para os índios,
dependendo de legislação especial. 125
Apesar disso, é só com o Decreto 5.484, de 27 de junho de 1928, que se
extingue expressamente a tutela orfanológica, mas não acaba completamente com a
tutela, apenas transferindo-a para o Estado, por meio do Serviço de Proteção ao
Índio 126 :
Art. 6º Os indios de qualquer categoria não inteiramente adaptados ficam sob
a tutela do Estado, que a exercerá segundo o gráo de adaptação de cada um,
por intermedio dos inspectores do Serviço de Proteção aos Indios e
Localização de Trabalhadores Nacionaes, sendo facultado aos ditos
inspectores requerer ou nomear procurador, para requerer em nome dos
mesmos indios, perante as justiças e autoridades, praticando para o referido
fim todos os actos permittidos em direito. 127
O decreto de 1928 cria um regime tutelar de natureza pública, ou seja, introduz
no sistema jurídico brasileiro a concepção de que as relações dos índios com a
sociedade é pública, e não privada. Para Marés, este instituto deveria ter ganhado nome
próprio, mas foi mantido o nome “tutela”. E, no fim das contas, o suposto avanço do
decreto se perdeu na corrupção brasileira, porque a tutela do SPI foi fonte de negociatas
e desmandos. 128
A tutela no Estatuto do Índio será tratada no capítulo 3 deste trabalho.
2.4 A criação e o fim do Serviço de Proteção ao Índio e a FUNAI
Em 1908, pela primeira vez, o Brasil foi publicamente acusado de massacrar
índios. A denúncia foi feita em Viena, no XVI Congresso de Americanistas. No ano
anterior começa no Brasil uma polêmica entre Hermann Von Ihering, diretor do Museu
Paulista, que defendia o extermínio dos índios que resistissem à civilização, alguns
setores da sociedade, em especial acadêmicos e positivistas. A saída de Nilo Peçanha foi
criar, em 1910, o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), pelo Decreto 8.072, de 20 de
junho. Ligado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, o SPI foi confiado ao
general Cândido Rondon. Com a criação do SPI, Carneiro da Cunha considera que o
125
MARÉS DE SOUZA FILHO, 1993, pp. 302-303.
A formação do SPI é exposta no item seguinte.
127
BRASIL, Decreto 5.484, de 27 de junho de 1928. Disponível em:
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=26194>.
128
MARÉS DE SOUZA FILHO, 1993, pp. 304-305.
126
49
reconhecimento dos índios sobre suas terras ganhou um novo amparo legal, deixando de
lado a fórmula do aldeamento, para respeitar as tribos com seus modos de vida. 129
O editorial do jornal “O Paíz”, no dia seguinte ao da criação do SPI, saudou a
decisão governamental e chamou Rondon de “o conquistador pacífico do noroeste
brasileiro”. Mas boa parte da imprensa defendeu os argumentos de Von Ihering. Além
disso, foi destinada uma verba muito pequena ao órgão, ou seja, o próprio governo
demonstrou um certo descrédito à atuação do SPI. 130
O Decreto que criou o SPI determinou, em seu art. 2º., que esse órgão prestaria
“assistencia aos indios do Brazil, quer vivam aldeiados, reunidos em tribus, em estado
nomade ou promiscuamente com civilizados”, para:
§2º. garantir a efectividade da posse dos territorios occupados por indios e,
conjunctamente, do que nelles se contiver, entrando em accôrdo com os
governos locaes, sempre que fôr necessario;
§3º. pôr em pratica os meios mais efficazes para evitar que os civilizados
invadam terras dos indios e reciprocamente;
§4º. fazer respeitar a organização interna das diversas tribus, sua
independencia, seus habitos e instituições, não intervindo para alteral-os,
sinão com brandura e consultando sempre a vontade dos respectivos chefes;
[...] §12º. promover, sempre que for possivel, e pelos meios permittidos em
direito, a restituição dos terrenos, que lhes tenham sido usurpados. 131
A história oficial de criação do SPI é a seguinte:
O Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais
nasceu, como V. Ex. sabe, do êxito dos processos praticados pelo então
Tenente-Coronel Cândido Rondon, para pacificação das tribos selvícolas
encontradas em seu caminho, ao fazer a travessia do Brasil central
estendendo a linha telegráfica de Mato Grosso ao Amazonas [...]; e da
demonstração de que se poderia conseguir com os mesmo efeitos em todas as
regiões do Brasil onde ainda se encontrassem, como infelizmente se
encontram, indígenas selvagens, isto é – brasileiros reduzidos à condição
de brutos, inúteis a si e à coletividade e, o que é mais, entravando, em
mais de um ponto, o aproveitamento da terra e das forças naturais, e
sendo exterminados barbaramente, como feras, por pseudocivilizados sem
consciência e sem alma, a quem o índio involuntariamente prejudicava na
tranqüilidade e na cobiça. 132
Antônio Carlos de Souza Lima desmistifica a história do SPI desde a sua
criação, especialmente pelo conceito que o órgão tinha de índios, como se pode ver no
129
CUNHA, 1987, pp. 78-79.
GAGLIARDI, pp. 237-241.
131
BRASIL, Decreto 8.072, de 20 de junho de 1910. Disponível em:
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=48347>.
132
BRASIL, Ministério da Agricultura, SPILTN, Relatório de Diretoria, 1917, p. 1 apud LIMA, Antônio
Carlos de Souza. Um grande cerco de paz: poder tutelar, indianidade e formação do Estado no Brasil.
Petrópolis (RJ): Vozes, 1995, p. 119-120, grifado.
130
50
último parágrafo. Ele explica que o SPI, que na verdade se chamava Serviço de
Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais, foi formado para
reverter a crise da agricultura pós-abolição da escravatura, desenvolvendo a mão-deobra não estrangeira. A intenção do SPI, durante toda a sua existência, segundo Lima,
era de transformar os índios em pequenos produtores rurais capazes de se autosustentarem. Mesmo tendo supostamente rompido com a noção antiga de que ser
indígena era um estágio transitório, o que seria uma das inovações do SPI, essa idéia
ficou imbricada na prática do Serviço. A Candido Mariano da Silva Rondon, primeiro
diretor do órgão e então tenente-coronel, tido como herói, seria atribuída a invenção da
estratégia de pacificação dos índios. 133 Tal pacificação, no entanto, previa a
homogeneização dos indígenas: “Morte física por guerra ou por pacificação, necessária
redução dos efetivos humanos a quebrar solidariedades e a facilitar outro tipo de morte,
a da alteridade” 134 .
O SPI foi militarizado para atrair e pacificar, conquistar terras sem destruir os
ocupantes indígenas, captando assim mão-de-obra. Isso era feito de acordo com os
interesses nas expansões das fronteiras agrícolas, para que os indígenas se tornassem
“úteis” ao país. Foi o que aconteceu na década de 1940, com a marcha para o oeste. O
escritor ainda elucida que este cenário só foi possível com a formulação da capacidade
civil relativa dos índios, condicionada ao seu grau de civilização. Essa fórmula foi
elaborada por dois dos colaboradores mais próximos de Rondon e transformada em lei
no Código Civil de 1916 e no decreto 5.484 de 1928. Dessa maneira, o SPI e, assim, a
União, teria maior controle sobre as terras indígenas. 135
Apesar dos defeitos deste decreto, Marés acredita que o grande avanço que ele
oferece é introduzir no sistema jurídico brasileiro a concepção de que as relações dos
índios com a sociedade organizada como Estado é de natureza pública, e não privada. 136
O SPI esteve ligado a três Ministérios. Primeiro o da Agricultura, quando foi
fundado, depois passou para o do Trabalho, Indústria e Comércio, em 1930, e para o da
Guerra, em 1934, voltando ao Ministério da Agricultura em 1939, onde ficou até sua
extinção. 137
133
LIMA, Antônio Carlos de Souza. O Governo dos Índios sob a gestão do SPI. In: CUNHA, Manuela
Carneiro da. História dos Índios no Brasil. (Org.). São Paulo: Companhia das Letras, 2002, pp. 156-165.
134
LIMA, 2002, p. 308.
135
LIMA, 2002, pp. 156-165.
136
MARÉS DE SOUZA FILHO, 2000, p. 101.
137
CUNHA, 1987, p. 80.
51
Lima critica a história oficial do SPI, passada por pessoas como Darcy Ribeiro.
Ribeiro acreditava que Rondon criou diretrizes que orientaram a política indigenista por
décadas, fundamentadas num objetivo que não se baseasse em exterminar ou
transformar o indígena, mas fazer dele melhor, dando-lhe aceso a ferramentas e a
orientação adequada. A inovação principal de Rondon, segundo Ribeiro, foi o
estabelecimento do direito à diferença, em lugar da proclamação da igualdade entre
todos. 138
Com uma acidez extrema, Lima aponta que:
Há muita leviandade em levar adiante a necessidade de cultuar heróis e
precursores, tão cara à construção de histórias nacionais, ou na atitude
oposta, pura fixação em destruir estes modos de representá-la [...]. Em
nenhuma das duas posições há lugar para perceber a diferença entre se
imiscuir nos territórios de povos nativos em estado de guerra entoando
cânticos ao Deus dos cristãos; e de se imaginar que a música em geral [...]
acalme os selvagens. É também muito distinto se supor que a melhor música
a ser tocada é o Hino Nacional num gramophone, como o fazia Cândido
Rondon desde os contatos com Parecis e Nambiquaras, antes mesmo da
existência do SPILTN. 139
O antropólogo critica a construção de um poder tutelar que vincula o acesso
dos povos indígenas aos direitos mais básicos, como de reconhecimento das terras que
ocupam, e a direitos diferenciados, a uma suposta incapacidade civil suprida por um
aparelho que os represente politicamente. 140
O Decreto 5.484, de 27 de junho de 1928 dividiu os índios em:
Art. 2º. Para os effeitos da presente lei são classificados nas seguintes
categorias os indios do Brasil:
1º. indios nomades;
2º. indios arranchados ou aldeiados;
3º. indios pertencentes a povoações indigenas;
4º. indios pertencentes a centros agricolas ou que vivem promiscuamente
com civilisados. 141
Essa divisão fixada no decreto faz parte da ideologia do SPI, que dividia os
indígenas entre aqueles em estado de guerra e aqueles amigos, mantendo a divisão
criada desde o período colonial para legitimar a eliminação de povos inteiros. Rondon
propunha o modo de ganhar a guerra por meio da paz e detinha o capital simbólico
138
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, pp. 132-133.
LIMA, 1995,p. 72.
140
Id., Ibd., p. 75.
141
BRASIL, Decreto 5.484, de 27 de junho de 1928. Disponível em:
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=26194>.
139
52
para aplicar tal operação. O SPI lutava pelo monopólio da assistência, ou do exercício
do poder tutelar, para deter o controle sobre as populações indígenas, cujo destino
inevitável deveria ser o trabalho rural e a civilização. E utilizava táticas militares de
pressionamento e de definição de limites (um cerco) para isso. 142
Ainda na opinião de Marés, a partir do decreto de 1928, mesmo não tendo
revogado o Código Civil, não deveria mais se falar em tutela, mas em “capacidade e
nulidade de atos praticados sem a participação dos funcionários responsáveis, o que vale
dizer, sem a participação do Estado”. Para ele, este instituto jurídico novo deveria ter
ganhado um nome próprio no decreto de 1928, o que não foi feito 143 , mantendo a
confusão (propositalmente ou não).
A história oficial do fim do SPI e criação da Fundação Nacional do Índio
(FUNAI), disponível no site da FUNAI, diz que na década de 1950 o SPI entrou num
processo de decadência administrativa e ideológica, enfrentando problemas com
conflitos de interesses com os estados, não conseguindo barrar o avanço sobre as terras
indígenas e com acusações de improbidade na administração do patrimônio indígena.
Sua extinção se deu em 5 de dezembro de 1967, após a descoberta hipotética dessas
irregularidades. Ainda no site, admite-se que o SPI não adotava uma política que
reconhecia os índios como povos diferenciados, tendo como objetivo a assimilação dos
índios. 144 É interessante notar, no entanto, que vangloriou-se, na criação do SPI, o início
de uma nova visão, com a qual os índios seriam respeitados nas suas diferenças. O
objetivo, como demonstramos, era o oposto. Novamente se utiliza o mesmo discurso, de
um suposto respeito aos povos, para afirmar que a FUNAI vai fazer diferente. Ora, não
poderia a FUNAI fazer diferente, se a própria legislação ainda não havia demonstrado
compreender as necessidades indígenas.
A FUNAI, como assevera Stephen Baines, institucionalizou uma forma de
política indigenista almejando uma “integração acelerada”, para que as populações
indígenas não impedissem o processo econômico. Foram formuladas “frentes de
atração” e “frentes avançadas”, mantendo ainda o órgão indigenista a sua tradição
militar, especialmente para a construção de grandes rodovias. Equipes atraíam e
enclausuravam os índios, transferindo-os para onde fosse pertinente, do mesmo modo
como fazia o SPI. Em 1970, o presidente Emílio Garrastazu Médici revelou que um
142
LIMA, pp. 124-126.
MARÉS, 2000, p. 101.
144
FUNAI, site da Fundação Nacional do Índio, Histórico. Disponível em:
<http://www.funai.gov.br/quem/historia/spi.htm>.
143
53
contrato havia sido firmado com a FUNAI que previa a pacificação de 30 grupos
indígenas. A COAMA (Coordenação da Amazônia), da FUNAI, recebia financiamento
de uma aliança entre governo e empresas transnacionais, em colaboração com
instituições bancárias internacionais – que financiavam projetos infra-estruturais com a
intenção de explorarem recursos naturais. Baines ressalta o período de grandes
empreendimentos na Amazônia, o que mudou seu cenário e, conseqüentemente, a vida
de muitos povos indígenas da região. 145
Mais considerações sobre a FUNAI serão feitas no próximo capítulo, quando
tratamos do Estatuto do Índio.
2.5 As primeiras constituições do século XX e os direitos indígenas
A questão da terra indígena só passa a ser matéria constitucional em 1934,
quando, no seu art. 129, a Constituição diz que “Será respeitada a posse de terras de
silvícolas que nelas se achem, permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto,
vedado aliená-las”. Outro ponto importante que foi constitucionalizado: a aprovação da
competência exclusiva da União para legislar sobre questões indígenas, mais
especificamente sobre “a incorporação dos silvícolas à comunhão nacional” (art. 5º.,
XIX, “m”), apesar da oposição do líder da maioria da Constituinte. Uma emenda
importante infelizmente não passou, que determinava: “São reconhecidas as
comunidades de indígenas e a lei declarará os direitos que lhes pertencem”. 146 O
reconhecimento de que as comunidades indígenas também tinham direitos teria dado
uma outra direção para a legislação.
Marés sustenta que a partir de 1934, com o art. 129 da Constituição, não havia
mais dúvidas de que a terra indígena era uma categoria do direito brasileiro, já que a
garantia da posse indígena, e não sua propriedade, determina o conteúdo da terra, sendo
oponível a qualquer ato ou negócio sobre ela, inclusive de propriedade: “O velho
indigenato ganhava, finalmente, ares de direito constitucional”. 147
A Constituição de 1937 mantém, em seu art. 154, a mesma disposição da carta
anterior sobre as terras: “Será respeitada aos silvícolas a posse das terras em que se
achem localizados em caráter permanente, sendo-lhes, porém, vedada a alienação das
145
BAINES, Stephen Grant. “É a FUNAI que sabe”: A Frente de Atração Waimiri-Atroari. Belém:
MPEG, CNPq, SCT, PR, 1990, pp. 90-92.
146
CUNHA, 1987, pp. 84-87.
147
MARÉS DE SOUZA FILHO, 2000, p. 128.
54
mesmas”. 148 A Constituição de 1946 mantém duas indicações da Constituição de 1934.
Em seu artigo 5º., inciso XV, alínea “r”, estabelece a competência federal para legislar
sobre
“incorporação dos silvícolas à comunhão nacional”. E no art. 216: “Será
respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem permanentemente localizados,
com a condição de não a transferirem”. Apenas houve a modificação da parte final deste
artigo, aumentando a restrição de alienação para transferência.
A modificação da Constituição de 1967 veio nos seguintes dois artigos:
Art 4º - Incluem-se entre os bens da União:
[...]
IV - as terras ocupadas pelos silvícolas;
[...]
Art. 186. É assegurada aos silvícolas a posse permanente das terras que
habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos
naturais e de todas as utilidades nelas existentes. 149
Para Manoel Gonçalves Ferreira Filho, essa seria uma medida de proteção
adicional aos índios, para impedir que Estados dispusessem dessas terras, alienando-as a
não indígenas. 150
Apesar disso, o Brasil não seguiu a linha doutrinária internacional. A
Convenção 107 da Organização Internacional do Trabalho, sobre a “Proteção e
Integração das Populações Indígenas e outras Populações Tribais e Semi-Tribais de
Países Independentes”, de 1957, estipulou o seguinte: “O direito de propriedade,
coletivo ou individual, será reconhecido aos membros das populações interessadas sobre
as terras que ocupem tradicionalmente” 151 .
Com a emenda constitucional de 1969, a questão do usufruto e das nulidades é
desenvolvida:
Art. 198. As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos têrmos que
a lei federal determinar, a êles cabendo a sua posse permanente e ficando
reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de
tôdas as utilidades nelas existentes.
148
BRASIL, Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Constituicao/Constitui%C3%A7ao37.htm>.
149
BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, de 1967. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao67.htm>.
150
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à constituição brasileira: emenda constitucional
nº. 1, de 17 de outubro de 1969, 1º. V. São Paulo: Saraiva, p. 59.
151
Organização Internacional do Trabalho, Convenção 107, de 5 de junho de 1957. Disponível em:
<http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/legislacao/legislacao-docs/convencoes-internacionais/conv_intern_02.pdf>.
55
§ 1º. Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de
qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação
de terras habitadas pelos silvícolas.
§ 2º. A nulidade e extinção de que trata o parágrafo anterior não dão aos
ocupantes direito a qualquer ação ou indenização contra a União e a
Fundação Nacional do Índio. 152
José Cretella Júnior aduz sobre as mudanças trazidas pela Constituição de 1967
que:
Rompendo a tradição constitucional de 1934, 1937 e 1946 que colocava,
primeiro, a permanência, depois as conseqüências jurídicas desta, a
Constituição de 1967, art. 186, inverte a situação, assegurando aos silvícolas
a posse permanente das terras que habitam, ou seja, os silvícolas que
habitarem terras durante algum tempo – dias, meses – têm a posse dessas
terras assegurada. Do mesmo modo, a Emenda nº. 1, de 1969, omitiu o
atributo “permanência”, no habitat, ao assegurar aos silvícolas a posse
permanente, ou contínua, das terras habitadas, embora não perenemente. 153
A interpretação de Pontes de Miranda mantinha a vulnerabilidade dos povos
indígenas, já que bastava que fossem considerados integrados para não terem direito às
terras a que se referia a Constituição:
Terras ocupadas, e não terras dos silvícolas. Se, conforme o sistema jurídico
brasileiro, o silvícola é capaz: se se incorporou à comunidade civilizada, ou
se, estando em centro agrícola, se lhe outorgou posse ou posse e propriedade,
conforme lei, o terreno que ele possui não é a terra ocupada de que fala a
Constituição. Mais ainda: a própria Constituição de 1967, no seu art. 198,
assegura aos silvícolas a posse permanente das terras que habitam, com
direito ao usufruto exclusivo, de modo que são seus os frutos e todas as
utilidades nelas existentes. Se lá habitam, têm-na. Em conseqüência, o que se
atribui à União é só o direito de propriedade, enquanto o silvícola não se
integra na comunidade. Se se integra, a posse gera a propriedade, quer seja a
posse que lhe advém do poder fáctico, como ocorreria com qualquer outra
pessoa. 154
Se por um lado a lei constitucional parecia proteger, no fundo sua direção
poderia sempre ser desvirtuada. Com os povos indígenas sempre foi assim, desde
quando a colônia os dividia entre amigos e inimigos, até depois do decreto de 1928,
quando foram divididos entre integrados e não integrados – linha hermenêutica que se
mantêm presente até hoje, como abordaremos no próximo capítulo. Os povos eram – e
são – transferidos de um grupo para o outro, dependendo dos interesses em jogo.
152
BRASIL, Emenda Constitucional nº. 1, de 17 de outubro de 1969. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>.
153
CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 1993, p. 4563.
154
MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1967. Tomo 1. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1970.
56
3 OS DIREITOS INDÍGENAS VIGENTES NA LEGISLAÇÃO
BRASILEIRA
3.1 O Estatuto do Índio ainda está em vigor?
O primeiro artigo da Lei 6.001/1973 é muito esclarecedor do posicionamento
do Estado sobre os povos indígenas, em plena década de 1970, depois de quase 500
anos de injustiças: “Esta Lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das
comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los,
progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional” 155 .
Manuela Carneiro da Cunha resume bem o contexto histórico da elaboração do
Estatuto e da origem da FUNAI:
Os anos 70 são os do “milagre”, dos investimentos em infra-estrutura e em
prospecção mineral – é a época da Transamazônica, da barragem de Tucuruí
e da de Balbina, do Projeto Carajás. Tudo cedia ante a hegemonia do
“progresso”, diante do qual os índios eram empecilhos: forçava-se o contato
com grupos isolados para que os tratores pudessem abrir estradas e
realocavam-se os índios mais de uma vez, primeiro para afastá-los da estrada,
depois para afastá-los do lago da barragem que inundava suas terras. É o caso
paradigmático dos Parakanã, do Pará. Este período, crucial, [...] desembocou
na militarização da questão indígena: de empecilhos, os índios passaram a ser
riscos à segurança nacional. Sua presença nas fronteiras agora era um
potencial perigo. É irônico que índios de Roraima, que haviam sido no século
XVIII usados como “muralhas dos sertões”, garantindo as fronteiras
brasileiras, fossem agora vistos como ameaças a essas mesmas fronteiras. 156
O Estatuto do Índio (EI) resultou em um regime imposto ao índio brasileiro,
que (mais uma vez) não foi consultado. Uma das questões apontadas como decisivas
para a aprovação dessa lei foi uma suposta preocupação do governo com sua imagem
internacional, em função da divulgação na imprensa do exterior de massacres de índios.
A criação da FUNAI e a decretação do EI fazem parte da mesma direção, tentando
mostrar para o mundo uma face positiva do governo. O governo chegou a publicar o EI
com traduções para o inglês e o francês, apesar de não ter se preocupado em traduzir
155
BRASIL, Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio. Disponível em:
< http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L6001.htm>, grifado.
156
CUNHA, Manuela Carneiro da. Introdução a uma história indígena. In: CUNHA, Manuela Carneiro
da. História dos Índios no Brasil. (Org.). São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 17.
57
para as línguas indígenas. Foram mantidos, no entanto, os conceitos legais delineados
na legislação das décadas anteriores. 157
A própria FUNAI admite que, à sua fundação, seu objetivo era o que previa
literalmente o Estatuto do Índio:
Mesmo reconhecendo a diversidade cultural entre as muitas sociedades
indígenas, a Funai tinha o papel de integrá-las, de maneira harmoniosa, à
sociedade nacional. Considerava-se que essas sociedades precisavam
“evoluir” rapidamente, até serem integradas à sociedade nacional, o que
equivale, na prática, a negar a diversidade. 158
A Constituição Federal de 1967, com sua Emenda Constitucional de 1969, fala
de silvícolas, assim como o Código Civil. É o Estatuto do Índio que estabelece o uso de
“índio” como sinônimo explícito de silvícola. Cunha afirma que as definições de “índio
ou silvícola” e de “comunidade indígena ou grupo tribal” são ilógicos e
antropologicamente questionáveis. Para ela, o legislador, relutou em aceitar a estrita
definição antropológica, sobrepondo-lhe caracterizações de senso comum. 159
Os artigos 3º. e 4º. do Estatuto trazem a definição de índios e comunidades
indígenas e índios isolados, em via de integração ou integrados:
Art. 3º. Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas as definições a seguir
discriminadas:
I - Índio ou Silvícola: É todo indivíduo de origem e ascendência précolombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo
étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional;
II - Comunidade Indígena ou Grupo Tribal: É um conjunto de famílias ou
comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em
relação aos outros setores da comunhão nacional, quer em contatos
intermitentes ou permanentes, sem, contudo, estarem neles integrados.
Art 4º. Os índios são considerados:
I – Isolados: Quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se possuem
poucos e vagos informes através de contatos eventuais com elementos da
comunhão nacional;
II - Em vias de integração: Quando, em contato intermitente ou permanente
com grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de sua
vida nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de existência comuns aos
demais setores da comunhão nacional, da qual vão necessitando cada vez
mais para o próprio sustento;
157
OLIVEIRA, João Pacheco. Contexto e Horizonte Ideológico: Reflexões sobre o Estatuto do Índio. In:
SANTOS, Silvio Coelho dos. (Org.). Sociedades Indígenas e o Direito: uma questão de Direitos
Humanos. Florianópolis (SC): Ed. da UFSC, 1985, pp. 17-20.
158
FUNAI, site da Fundação Nacional do Índio, Histórica e política indigenista. Disponível em:
<http://www.funai.gov.br/indios/fr_conteudo.htm>.
159
CUNHA, Manuela Carneiro da. Definição de Índios e Comunidades Indígenas nos Textos Legais. In:
SANTOS, 1985, pp. 31-37.
58
III – Integrados: Quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos
no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e
tradições característicos da sua cultura. 160
Para começar a análise, o art. 3º. faz distinção entre índios e comunidades
indígenas, de tal forma que algumas conclusões ilógicas podem ser atingidas. Em
primeiro lugar, a lei parece diferenciar índios e indígenas, o que parece completamente
absurdo. Neste caso, poderíamos ter uma comunidade de índios que não seria
comunidade indígena. Além de fazer essa divisão irracional, a lei atribui a cada tipo
(índio e comunidade indígena) direitos diferentes:
Índios integrados, pela definição acima (art. 4º., III) são índios “incorporados
à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis”.
Mas esse reconhecimento do pleno exercício dos direitos civis é precisamente
a emancipação (art. 7º. e art. 9º. do EI). Donde índios integrados são
simplesmente índios emancipados. Critério jurídico, portanto. Como
“Comunidade indígena” diz respeito expressamente a grupos não integrados,
segue-se que famílias ou comunidades índias emancipadas não formam, por
definição, uma comunidade indígena. No entanto, pela definição do art. 3º., I,
mesmo na ausência de comunidade indígena, na acepção legal, seus membros
antigos podem permanecer legalmente índios, bastando para isso que
satisfaçam as condições, estas de ordem biológica e sociológica, da definição.
Ou seja, chegamos ao resultado bizarro de que podemos ter grupos de índios
legais formando uma comunidade que não é legalmente indígena. 161
Os problemas conceituais da lei mais apontados são essa divisão entre índios e
comunidades indígenas, os próprios significados atribuídos a cada um, a idéia de
integração da lei e seu efeito emancipatório, e a questão da tutela – todos extremamente
interligados.
Uma nomenclatura que poderia ter sido escolhida em vez de “comunidade
indígena” era “povo indígena”, mas não foi ela utilizada pelo Estatuto do Índio. Como
foi explicitado no capítulo anterior, na formação do Estado brasileiro, foi estabelecido
que só havia um povo dentro desse Estado, esse é um dos requisitos do Direito
Internacional para a formação de um Estado – “um Estado, um povo”. O Direito
Internacional reconhece que, a partir do momento que um Estado é reconhecido na
comunidade internacional, o direito de autodeterminação é o que regula sua relação com
os demais Estados: em outras palavras, o direito de autodeterminação dos povos se
transfere ao Estado no momento da sua constituição. Outra coisa é a autodeterminação
160
BRASIL, Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio. Disponível em:
< http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L6001.htm>.
161
CUNHA, 1985, p. 32.
59
baseada no próprio povo, à sua vontade coletiva, com seu próprio Direito. Neste Direito
estaria sua autodeterminação e também o direito de se submeterem ou não às regras dos
Estados que os envolvem, “embora este direito não seja reconhecido nem pelo Estado
nem pela comunidade de Estados, internacionalmente”. 162
Possibilidade de se autodeterminar significa que os povos indígenas não
precisam ser determinados por outros que não eles próprios. Para Norberto Bobbio, “a
liberdade como autodeterminação é geralmente atribuída, no discurso político, a uma
vontade coletiva, seja essa vontade a do povo, da comunidade, da nação, do grupo
étnico ou da pátria”. Atribui-se a Francisco de Vitória as origens do conceito de
autodeterminação dos povos indígenas. Para ele, como vimos no capítulo anterior, os
europeus não possuíam direito sobre as terras da América. A doutrina de Bobbio
considera que a autodeterminação dos indígenas à época da invasão era o direito de
governarem a si e ao seu território, porque os “bárbaros” seriam os donos do público e
do privado nas Índias. Era com esse argumento que ele discordava do direito à guerra
contra os índios. 163
Antonio Armando Ulian do Lago Albuquerque explica que a autodeterminação
dos povos não pode ser entendida apenas em seu vínculo a nações, despreocupando-se
com a autodeterminação das pessoas: 164
A autodeterminação consiste em um Direito enquanto conjunto de regras,
normas, padrões e leis reconhecidas socialmente que garantem a
determinados povos, segmentos ou grupos sociais o poder de decidir seu
próprio modo de ser, viver e organizar-se política, econômica, social e
culturalmente, sem serem subjugados ou dominados por outros grupos,
segmentos, classes sociais ou povos estranhos à sua formação específica. 165
Ele argumenta, ainda, que essa autodeterminação é negada a muitos grupos por
uma suposta falta de maturidade para governar, o que lhes gerou, por meio das
sociedades hegemônicas que envolvem esses grupos, o instituto da tutela. 166
Ao mesmo tempo, no Brasil está se fortalecendo um movimento para a
extinção da tutela dos povos indígenas – mas esse fim da tutela é perigoso e está ligado
também aos interesses da elite, porque pretende acabar com todo o tipo de assistência
162
MARÉS DE SOUZA FILHO, 2002, p. 78.
ALBUQUERQUE, Antonio Armando Ulian do Lago. Multiculturalismo e o direito à
autodeterminação dos povos indígenas. Florianópolis, 2003. 330 f. Dissertação (Mestrado). UFSC. Centro
de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito, pp. 148-151.
164
ALBUQUERQUE, pp. 152.
165
ALBUQUERQUE, p. 159.
166
ALBUQUERQUE, p. 158.
163
60
aos indígenas, não só com a capacidade civil relativa. É claro que precisa-se de uma
nova nomenclatura, uma nova formulação para a tutela, para que ela de fato tutele as
necessidades desses povos sem privá-los de autonomia. Para tanto, ela precisaria mudar
de nome e de atributos jurídicos, desvinculando-se da idéia de capacidade civil e de
tutela orfanológica.
Em 1979, a Organização dos Estados Americanos autorizou os seguintes
princípios indigenistas, entre eles o de autodeterminação:
a) autodeterminação, como um direito dos povos indígenas de participarem
nas decisões que afetam suas vidas; b) igualdade, cultural e social, em
repúdio ao tratamento colonialista e discriminatório das populações
indígenas; c) direito de participação nos benefícios sociais das nações, em
retribuição pela contribuição histórica e atual dos povos indígenas na
formação da sociedade e da cultura; d) dignidade humana, em
reconhecimento da maturidade e identidade dos povos indígenas, de seus
valores culturais e de sua história; e) cooperação irrestrita com os índios na
recuperação e proteção de suas terras e outras riquezas naturais, obtendo
assistência estatal e inclusão em programas de desenvolvimento
abrangentes. 167
Para Marés, a questão que fica pendente é a de se um povo pode ter direito à
autodeterminação sem desejar constituir-se em Estado:
Do ponto de vista do Direito internacional parece que não. Do ponto de vista
de cada povo, evidente que sim, porque a opção de não constituir-se em
Estado e de viver sob outra organização estatal é uma manifestação de sua
autodeterminação. Mais do que isso, os povos que vivem sem Estado, hoje,
precisam apenas de Estado que os proteja do próprio Estado, das classes
que têm poder no Estado e de outros Estados. 168
No Estatuto do Índio, o termo povo não foi utilizado “porque tem a conotação
de autonomia, autodeterminação, guerra da independência, libertação nacional”. 169 Em
vez disso, o legislador optou por dividir índios de comunidades indígenas, como se
fosse possível um existir sem o outro, e continuou a confusão com os seus conceitos de
integração.
Segundo Cunha, só a comunidade indígena pode decidir quem é e quem não é
seu membro, por isso não faz sentido o Estatuto definir primeiro quem é índio antes de
definir “comunidade indígena”. Uma definição mais satisfatória seria:
167
CUNHA, 1987, p. 125.
MARÉS DE SOUZA FILHO, 2002, pp. 79-80, grifado.
169
MARÉS DE SOUZA FILHO, 2002, p. 154.
168
61
Comunidades indígenas são aquelas que se consideram segmentos distintos
da sociedade nacional em virtude da consciência de sua continuidade
histórica com sociedades pré-colombianas. É índio quem se considera
pertencente a uma dessas comunidades e é por ela reconhecido como
membro.
Nota: Comunidades indígenas existem independentemente de sua
integração, a qual não se confunde com a assimilação. 170
As três condições que o estatuto coloca para que alguém seja considerado índio
(art. 3º., I) são: 1) origem e ascendência pré-colombiana, 2) auto-identificação e
identificação por outros a um certo grupo étnico e 3) este grupo étnico deve ser
culturalmente distinto da sociedade nacional.
Da maneira como o estatuto coloca a origem e ascendência pré-colombiana, dá
a entender que é referente a uma afirmação de ordem genealógica, critério biológico
(“ter o mesmo sangue”) e isso não pode ser provado em qualquer grupo humano,
considerando a longa história de miscigenação. Mais importante que isso, afirma
Cunha, é a consciência da continuidade histórica. Se for compreendido biologicamente,
esse requisito está antropologicamente incorreto, já que a ascendência pura e direta é
impossível. 171
Quanto ao terceiro requisito, de o grupo ter que ser distinto da sociedade
nacional, não pode ser entendido como objetivamente apreciável por um observador de
fora desse grupo, deve ser o contrário – porque a cultura é o que o seu grupo étnico
determina:
A cultura é algo continuamente recriado em todas as sociedades, e
portanto não se poderá achar na cultura de qualquer sociedade uma
fidelidade objetiva a padrões ancestrais. Língua, ritos, crenças, artefatos
materiais são parte de culturas vivas e como tais sujeitas a mudanças
históricas dentro de lógicas que lhes são próprias. Só as línguas mortas têm,
por exemplo, gramática e vocabulários fixados para sempre. Só culturas de
sociedades mortas seriam perenes. Por outro lado, a cultura é um elemento de
distinção, talvez o elemento por excelência de distinção: através dela, uma
sociedade afirma-se diante de outras. Uma minoria étnica faz de sua
cultura – original, recuperada, recriada, pouco importa – o sinal mais
importante de seu confronto com a “maioria étnica”. Apega-se a suas
tradições, eventualmente simplifica-as para melhor realçá-las e estabelecer
assim sua identidade. 172
Ou seja, o estatuto não pode estar se referindo a uma cultura indígena como os
“de fora” imaginam, mas como os indígenas a afirmam. Nesse sentido, a segunda
170
CUNHA, 1985, p. 37, grifado.
CUNHA, 1985, p. 32.
172
CUNHA, 1985, p. 32-33, grifado.
171
62
condição, da auto e hetero-identificação, que está correta, engloba os outros dois
requisitos, que tornam o inciso I do art. 3º. redundante. 173
Esses artigos 3º. e 4º. do estatuto derivam de classificação anteriormente feita
por Darcy Ribeiro, mas o legislador fez alterações consideráveis. O conceito de
integrado da Lei 6.001/1973 é de emancipado, já que, quando integrados, a lei especial
não se aplicaria mais. Darcy Ribeiro, por outro lado, considerava que grupos indígenas
integrados eram aqueles articulados com a esfera econômica e institucional da
sociedade neo-brasileira. E ele enfaticamente distingue essa integração da assimilação
ou da fusão de um grupo na sociedade mais ampla. Literalmente, essa distinção parece
estar preservada na lei, já que os integrados podem ainda conservar usos, costumes e
tradições. Só que a lei considera que os integrados não terão direitos indígenas, e isso
significa que, mesmo que considerem usos, costumes e tradições, não poderão formar
uma comunidade indígena, legalmente considerando, e não terão direitos diferenciados,
como o fundamental direito à terra. 174
No caso dos índios, os conceitos parecem sempre ser confundidos de modo a
desmerecê-los. Sobre essa confusão entre integração e assimilação, Pedro Agostinho
defende que a integração não implica a completa supressão da cultura indígena nem a
perda da qualidade de índio. Na visão de Agostinho, no entanto, a confusão é feita pelo
senso comum, e não parte da própria Lei 6.001/1973. Apesar de o estatuto trazer como
conceito de integração o reconhecimento do pleno exercício dos direitos civis (art. 4º.,
III), reconhece que esses índios ainda podem conservar seus usos, costumes e tradições,
em outras palavras, não exclui a persistência de alteridade étnica: 175
Quer isto dizer que, na Lei nº. 6.001 de 19/12/1973, o conceito de integração
refere-se ao que os antropólogos entendem como tal, e ainda à conseqüência
dos atos jurídicos que levam ao “pleno exercício dos direitos civis”, mas não
invade o campo semântico correspondente ao conceito de assimilação. Com
este, seria incompatível aquela conservação de características culturais (art.
4º., III), e, se a conservação é admitida nos índios classificados como
integrados, significa que, na lei como na ciência, integração se mantém como
conceito distinto da assimilação. 176
Na opinião de Agostinho, o estatuto proíbe a assimilação. É assim que ele lê o
artigo 1º. em conjunto com os incisos V, VI, e IX do art. 2º.
173
CUNHA, 1985, p. 34.
CUNHA, 1985, pp. 35-36.
175
AGOSTINHO, Pedro. Incapacidade Civil Relativa e Tutela do Índio. In: SANTOS, Silvio Coelho.
(Org.). O índio perante o direito. Florianópolis (SC): Ed. UFSC, 1982, pp. 62-63.
176
AGOSTINHO, 1982, pp. 68-69.
174
63
Diz o art. 2º.:
Art. 2° Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos
das respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competência, para
a proteção das comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos:
I - estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre que
possível a sua aplicação;
II - prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não
integrados à comunhão nacional;
III - respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento,
as peculiaridades inerentes à sua condição;
IV - assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de
vida e subsistência;
V - garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat ,
proporcionando-lhes ali recursos para seu desenvolvimento e progresso;
VI - respeitar, no processo de integração do índio à comunhão nacional, a
coesão das comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos
e costumes;
VII - executar, sempre que possível mediante a colaboração dos índios, os
programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas;
VIII - utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades pessoais
do índio, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e a sua
integração no processo de desenvolvimento;
IX - garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da
Constituição, a posse permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes
o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades
naquelas terras existentes;
X - garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos que em
face da legislação lhes couberem. 177
Orlando Sampaio Silva, por sua vez, afirma que o art. 1º. do estatuto se
contradiz: ao mesmo tempo manifesta como propósito a preservação da cultura indígena
e objetiva sua integração à comunhão nacional. Por integração, ele entende o estímulo
ao contato. De fato, era uma linha adotada pela própria FUNAI, com suas frentes de
atração. 178
Mesmo que Agostinho considere que o estatuto não está falando em
assimilação, ele acredita que o conceito de integração da lei deixa prevalecer seu critério
jurídico sobre o sociológico. No sociológico, o índio estará integrado a partir de um
estabelecimento de um sistema de relações sociais entre o subsistema indígena ao qual
pertence e o subsistema nacional, ou seja, o critério sociológico considera que a
integração é uma relação de sistemas entre a sociedade nacional e a sociedade
indígena. Já o critério jurídico que está contido na lei é a capacidade civil: a integração
estaria caracterizada quando o índio exercesse plenamente seus direitos civis. Para
177
BRASIL, Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio. Disponível em:
< http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L6001.htm>.
178
SAMPAIO SILVA, Orlando. O Índio Perante o Direito. In: SANTOS, 1982, p. 40.
64
cruzar a fronteira da integração, a própria lei estabelece que o índio tenha 21 anos,
conhecimento do português, habilitação para atividade útil no sistema nacional e
aculturação que faculte razoável compreensão dos usos e costumes nacionais (art. 9º.);
além disso, o índio deve obter, por requerimento próprio, sentença judicial liberando-o
da tutela e reconhecendo formalmente a sua condição de integrado (art. 9º., § único e
art. 10). 179
Assim, para Agostinho, mais correto seria dizer que:
Integrado é, para o Estatuto do Índio, o grupo indígena e qualquer de seus
membros que, inseridos em sistemas interétnicos e tendo alcançado a etapa
de integração, sem com isso se assimilarem à sociedade nacional, foram por
esta legalmente investidos e reconhecidos na plenitude da capacidade civil e
de seu exercício. 180
Isso é só porque ele entende por integração a mera relação que se estabelece
entre a sociedade indígena e a não-indígena. Ele faz isso utilizando conceitos da
sociologia e da antropologia, mas a própria Lei 6.001/1973 associa integração com
emancipação – e a conseqüente perda de direitos especiais. Acrescente-se a isso o fato
de que a própria FUNAI utilizou o estatuto para estabelecer frentes de atração e
estimular o contato com grupos isolados – e temos que o estatuto, desde o seu primeiro
artigo, foi interpretado pela maioria como instrumento de aniquilação de povos
indígenas. A linha geral do Estatuto seria, então: índios precisam deixar de ser índios
para se incorporarem na sociedade nacional, o que faria, no momento da incorporação,
que perdessem os direitos especiais e a tutela que lhes são conferidos enquanto índios; e
ganhassem a emancipação.
Darcy Ribeiro dividiu as populações indígenas em quatro categorias: isolados,
em contato intermitente, em contato permanente e integrados. Para ele, os integrados
representariam aqueles grupos que “conseguiram sobreviver, chegando a nossos dias
ilhados em meio à população nacional, a cuja vida econômica se vão incorporando
como reserva de mão-de-obra ou como produtores especializados em certos artigos”.
Esses grupos estão certos de que constituem um povo à parte por si e são vistos como
índios pela população circundante. Ribeiro distingue expressamente a assimilação da
integração, diz que a “integração não corresponde à fusão dos grupos indígenas na
sociedade nacional como parte indistinguível dela”. A integração teria a ver com a
179
180
AGOSTINHO, p. 68.
AGOSTINHO, p. 70.
65
crescente participação na vida econômica e nas esferas de comportamento, gerando uma
reconfiguração dos grupos, que seria uma transfiguração cultural, ou seja, o processo
em que culturas que entram em contato se contagiam reciprocamente, culturalmente
falando. Ribeiro considerava, no entanto, que o contato poderia gerar profunda
descaracterização lingüística e cultural – e que a aculturação poderia ser possível,
extinguindo culturas a partir de um longo processo que se inicia com o contato. 181
Roberto Cardoso de Oliveira sugere que o contato interétnico pode ser melhor
entendido focalizando as relações interétnicas enquanto relações de “fricção”. Ele
explica que no Brasil as teorias de aculturação prevaleceram, teorias que consideram
que quando uma cultura entra em contato com outra, uma das duas desaparecerá,
notavelmente a menos complexa. 182 Cardoso de Oliveira, por outro lado, vê o contato
internétnico entre duas populações como um sistema:
As relações entre essas populações significam mais do que uma mera
cooperação, competição e conflito entre sociedades em conjunção. Trata-se –
como tenho assinalado – de uma oposição ou, mesmo, uma contradição entre
os sistemas societários em interação que, entretanto, passam a constituir
subsistemas de um mais inclusivo que se pode chamar de sistema interétnico.
Pretendo que os subsistemas (no caso o tribal e o nacional) tenham entre si e
entre o sistema internétnico inclusivo a mesma correspondência lógica que
têm entre si as classes sociais e a sociedade global brasileira. Do mesmo
modo que, por exemplo, a sociedade nacional é uma sistema social suscetível
de ser analisado através de sua estrutura de classes, a situação de contato,
graças ao sistema de relações que lhe é inerente, pode ser analisada mediante
o que denominei fricção interétnica – o que seria equivalente lógico (mas não
ontológico) do que os sociólogos chamam de luta de classes. 183
Contrariando a tendência internacional da autonomia e da autodeterminação
dos povos, com o Estatuto do Índio, a questão da tutela, cuja origem foi explicada no
capítulo anterior, volta a ser objeto de dúvida e instrumento de opressão. Essa lei, para
Carlos Frederico Marés de Souza Filho, foi um retrocesso e não compreendeu a
profunda extensão de uma tutela de direito público. Por ser uma regulamentação do
regime tutelar previsto no Código Civil (onde os indígenas foram enquadrados como
relativamente incapazes), revoga o decreto de 1928 (que acabava com a tutela
orfanológica). Ao mesmo tempo, o estatuto fez o que nem o Código Civil de 1916 e o
decreto de 1928 fizeram: determinou, no que coubesse, a aplicação dos princípios da
181
RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996, pp. 489-490 e 245-246.
182
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. O índio e o mundo dos brancos. Campinas: Ed. da UNICAMP,
1996, pp. 33 e 42.
183
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. A sociologia do Brasil indígena. Brasília: UnB, 1978, p. 85.
66
tutela de direito comum (art. 7º., §1º.). “Deveria ter determinado a aplicação dos
princípios do direito público”, na opinião do jurista, para quem o capítulo “Da
Assistência ou Tutela”, do estatuto, revela uma possível intenção do regime militar do
retorno à tutela orfanológica. 184
Para Marés, tutela é um termo tecnicamente problemático, porque não há
divergências conceituais a respeito de ser este um instituto do direito de família desde o
direito romano, ou seja, como uma proteção substitutiva do pátrio poder, como meio
jurídico de proteger uma incapacidade individual. “Assim, é muito diferente dizer que o
Estado exerce uma tutela orfanológica como o diz a lei 6.001/1973, do que dizer que
não existe tutela orfanológica, mas o Estado tutela a pessoa e os bens dos índios”, como
fazia o decreto de 1928. No decreto, os índios tinham a faculdade para dispor de seus
bens (art. 3º.), o Estado só prestaria uma assistência nas suas relações com nãoindígenas; e o Estatuto do Índio devolve a administração dos bens e rendas do
patrimônio indígena ao Estado, que está livre para utilizar a renda como lhe parecer
mais oportuno (art. 43). 185
Marés ainda afirma que a interpretação da tutela do Estatuto é ligada ao
conceito de integração em decorrência da ganância pelas terras indígenas:
Contido neste conceito está a idéia de que os índios em algum tempo não
necessitarão mais sequer serem chamados de índios, porque estarão
integrados à sociedade nacional, então as garantias a seus direitos estarão
equiparadas às garantias de todos os outros cidadãos, e suas terras deixarão
de ser suas, para serem devolvidas ao domínio público como terras da
União. 186
Não é à toa que foi tão fácil desvirtuar o Estatuto do Índio. Só com um esforço
hermenêutico interdisciplinar muito grande para interpretá-lo a favor dos povos
indígenas. A partir de tantos problemas conceituais, o estatuto foi mais uma arma do
senso comum e de interesses políticos para atropelar os direitos indígenas. Na seção 3.3
deste capítulo, damos alguns exemplos sobre como esse ponto específico da lei é mal
interpretado por diversos juízes, que – apesar de terem a obrigação de se diferenciarem
do senso comum – realmente acreditam que existe uma fronteira que o indígena cruza
ao aprender o português e utilizar roupas, só para citar os argumentos mais recorrentes
184
MARÉS DE SOUZA FILHO, Carlos Frederico. Tutela aos índios: proteção ou opressão? In:
SANTILLI, Juliana (Coord.). Os Direitos Indígenas e a Constituição. Porto Alegre: Núcleo de Direitos
Indígenas e Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, pp. 306-307.
185
MARÉS DE SOUZA FILHO, 1993, p. 307-308.
186
MARÉS DE SOUZA FILHO, 1993, pp. 306-307.
67
entre os magistrados, o que o torna “integrado” automaticamente e elimina seus direitos
diferenciados.
Para Oliveira, basta focalizar em dois pontos do Estatuto para lembrar da
instituição da tutela: a visão do indígena como transitória, “o índio só é protegido e
reconhecido enquanto em marcha para o ‘não índio’”, objetivando-se uma aculturação
sem traumas (!); e o outro ponto é relativo ao Estatuto só reconhecer a propriedade para
o índio integrado e apenas individualmente, as comunidades não teriam direito à
propriedade, que seria da União. 187
Eduardo Viveiros de Castro critica a FUNAI que, para ele, tem como conceito
de integração justamente o do senso comum, de que falam o português, usam roupas e
estão no mercado de trabalho brasileiro. Ele ainda diz ferinamente:
Se por “integração”, entendermos, porém, o fato de que as terras que lhes
restam estão invadidas ou são objeto de cobiça incontrolável de fazendeiros,
madeireiros e grandes empresas angroindustriais; que suas condições
econômicas são miseráveis; que sua possibilidade de representação política é
nula – bem, aí será preciso reconhecer que de fato estes são “índios
integrados”: são mesmo bem brasileiros. 188
Agostinho explica que a terra indígena não é só uma mercadoria, é um
território, ou seja, uma dimensão espacial sem a qual a viabilidade de uma população
humana socialmente organizada é impensável. O território é fator básico do meio de
produção e de reprodução material e simbólica dessas minorias étnicas e não pode ser
arbitrariamente fragmentado. É essa realidade e unidade territorial que a lei assegura, ao
determinar a inalienabilidade das suas terras e permitir a vigência, nelas, do direito
comunitário dos índios. E ao obrigar o órgão de tutela à defesa dos direitos reais dos
indígenas quanto às terras estipuladas como deles, sem que nessa obrigação influa o
grau de integração (Estatuto do Índio, arts. 34 a 36; 17; 2º., II). 189
A partir dos anos 1960, as Nações Unidas dedicaram mais atenção às minorias.
Em 1977, a Conferência Internacional sobre Discriminação conta as Populações
Indígenas das Américas, realizada em Genebra, elaborou um documento que declarava,
sobre os direitos territoriais: “Nenhum estado pode reivindicar ou possuir, por direito de
descoberta ou outro, os territórios de uma nação ou grupo indígena, exceto quando as
187
OLIVEIRA, pp. 25-26.
CASTRO, Eduardo Viveiros de. Índios, leis e políticas. In: SANTOS, 1982, p. 33.
189
AGOSTINHO, pp. 63-64.
188
68
terras tenham sido legalmente adquiridas”. Em 1982, uma Comissão Jurídica da ONU
declarou que:
A Comissão reafirma que os povos indígenas [...] têm o direito natural e
original de viver livremente em seus próprios territórios. Reiteradas vezes foi
dito que a estreita relação que os povos indígenas mantêm com a terra
deveria ser compreendida como a base fundamental de suas cultuas, sua vida
espiritual, sua integridade enquanto povos e sua sobrevivência econômica. 190
As medidas protecionistas do Estado, por meio da FUNAI, foram bem
definidas na parte referente às terras indígenas: 22 dos 68 artigos do Estatuto estão
diretamente relacionados a isso. João Pacheco de Oliveira lamenta, por outro lado, que a
existência da lei não foi garantia de sua aplicação:
É ponto pacífico entre indigenistas e antropólogos que o Estatuto do Índio
não tem sido aplicado como deveria. Mas considerando o contexto histórico e
a função que assumiu, cabe indagar se isso era efetivamente uma
preocupação central para os que o elaboraram e aprovaram. O pouco que
chegou a ser realizado decorre, sem dúvida, do ânimo de alguns funcionários
que tentaram acelerar as demarcações, elevar o nível técnico dos quadros e
imprimir novas metas aos projetos. 191
Com todos esses problemas poderíamos pensar que o Estatuto do Índio não foi
recepcionado pela Constituição de 1988, mas a verdade é que não houve revogação
expressa e ele continua sendo utilizado por ampla parte dos magistrados, inclusive com
seus conceitos desvirtuados de integração e de emancipação.
Alguns autores se questionam se parte do estatuto não foi recepcionada,
especialmente quanto à questão da integração e da tutela, mas chegam à conclusão de
que esses conceitos do Estatuto do Índio ganharam nova interpretação com a
Constituição de 1988.
Marés de Souza Filho acredita que a Constituição exige a proteção dos bens
indígenas pelo Estado e, em sua opinião, “essa proteção pode ser efetivada pelo
caminho do regime tutelar exposto no Código Civil [de 1916] e regulamentado pelo
Estatuto”. Também foi recepcionada, segundo ele, a norma que dá a administração do
patrimônio indígena à FUNAI – e é realmente o que podemos ver na prática. Sua
ressalva sobre os abusos que esse tipo de tutela possibilita é de que, se eram ilegais,
190
191
CUNHA, 1987, pp. 121-122.
OLIVEIRA, pp. 21-22.
69
agora são inconstitucionais. Apesar disso, o jurista considera que a norma do estatuto
recepcionada é insuficiente:
Em primeiro lugar deve-se retomar a definição de 1928, afastando desde logo
a tutela orfanológica e qualquer menção ou aplicação, mesmo que
subsidiária, da legislação privada,deixando claro que aqui não se trata de
Direito Privado de Família, e, sim, de Direito Público. Em segundo lugar,
deve ser entregue a administração dos bens aos próprios índios, segundo seus
usos, costumes e tradições, mantendo a intervenção do Estado sempre que
houver negócio jurídico com não índios, mas agregando a responsabilidade
objetiva do Estado sempre que, em havendo sua participação, houver prejuízo
ao patrimônio indígena. 192
Para Alvaro Reinaldo de Souza, a tutela especial do Estatuto do Índio, aplicada
pelo Estado por meio da FUNAI, foi exercida como representação, e não como
assistência aos povos indígenas, ou seja, na tentativa permanente de substituir a vontade
do índio. Ele afirma que, ainda por cima, a assistência da FUNAI foi fraudada, porque
não só tomou o lugar dos indígenas nas suas decisões, mas também foi realizada contra
a sua vontade. É dessa forma que o autor conclui que a tutela não garantiu o exercício
dos novos direitos constitucionais dos povos indígenas, “porque praticada pelo órgão
dito tutor, em nome do Estado brasileiro, não como assistência, mas como
representação, substituindo-se à vontade dos índio”. 193
A interpretação de Reinaldo de Souza é de que o tipo de tutela apresentado no
Estatuto do Índio foi derrogado pela Constituição Federal de 1988: “Em resumo, a
tutela especial foi derrogada pelo texto constitucional, mas subsiste a obrigação da
assistência pelo órgão tutor”. 194 Em outras palavras, ele concorda com o autor Marés de
Souza Filho, quando este assevera que a tutela não pode ser pensada simplesmente
como a coloca o Estatuto do Índio, como tutela do direito privado, ou seja, a antiga
tutela orfanológica, estabelecida no Código Civil, mas com a nova linha conceitual
estabelecida pela Constituição de tutela como proteção.
A despeito de tudo que foi dito, é perigoso dizer que a tutela deve ser extinta.
Muitos setores da sociedade, em especial os formados pela elite, podem se aproveitar do
discurso da necessidade de um outro tipo de tutela, como defendem juristas e
antropólogos especialistas no assunto – para dizer que a tutela é uma injustiça, um
192
MARÉS DE SOUZA FILHO, 2000, p. 108.
REINALDO DE SOUZA, Alvaro. Os povos indígenas: minorias étnicas e a eficácia dos direitos
constitucionais no Brasil. Florianópolis, 2002. Tese (Doutorado). UFSC, Centro de Ciências Jurídicas.
Programa de Pós-Graduação em Direito, p. 114.
194
REINALDO DE SOUZA, p. 114.
193
70
absurdo – e conseguir acabar com o tipo de proteção especial que necessitam os povos
indígenas.
O Instituto Sócio Ambiental, em reunião realizada no ano de 1999 para pensar
uma nova política indigenista, concorda que a tutela não deve substituir a vontade dos
indígenas e acredita que melhor palavra para defini-la seria fomento:
Às vésperas do terceiro milênio, soa ridículo que índios sejam considerados
“relativamente capazes” e, sobretudo, que um órgão de estado seja tutor das
215 etnias que habitam o território brasileiro, intermediando (autorizando e
desautorizando) as inúmeras relações de contato em que se encontram
envolvidas. Por outro lado, a condição de tutelados cerceia a sua livre
expressão política, a administração direta dos seus territórios, o seu acesso
aos serviços públicos, ao mercado de trabalho, às linhas oficiais de crédito,
etc. Além de reduzir a capacidade civil dos índios, a tutela é um obstáculo à
autogestão das terras e dos projetos de futuro dos povos indígenas.
A “proteção” da tutela deve ser substituída por outros instrumentos de
apoio o poder público aos povos indígenas. O Estado não deve pretender
substituí-los como sujeitos políticos no exercício direto dos seus direitos e
das suas relações. Um novo estatuto deve regular estas relações e ao
Estado deve caber o papel de viabilizar serviços básicos (educação,
saúde) e fomentar os projetos culturais, econômicos, ambientais
indígenas. O conceito de fomento é muito mais apropriado que o de
tutela para definir o papel atual e futuro que os povos indígenas devem
reivindicar do Estado. 195
O antropólogo Rafael José de Menezes Bastos aponta, com razão, que os índios
é que devem ser ouvidos para melhor encaminhar a questão:
Pergunte-se a qualquer um deles por que não requerem sua emancipação, por
mais conhecedores que sejam dos códigos nacionais brasileiros. A resposta
aqui terá fatalmente a evidenciar que, operacionalmente, sem a tutela (leia-se
assistência), deixam eles de ser índios para o Indigenismo Oficial,
prejudicada, assim, a estratégia fundamental de, sendo brasileiros,
continuarem Xavantes, Parecis, Terenas, etc., etc. O qual tal resposta
estabelece é exatamente a tutela como um instrumento de finalidade dupla
para o índio: continuar índio e ser brasileiro. 196
Conclui-se que se o Estatuto do Índio for interpretado em favor dos povos
indígenas, com a nova linha conceitual trazida pela Constituição 197 (entendendo,
portanto, que integração não é aculturação, mas uma forma de interação de cada grupo
indígena com a sociedade envolvente, interação que não desmerece a cultura indígena
195
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, março de 1999, Programas Regionais para uma Nova Política
Indigenista. Disponível em: <http://www.socioambiental.org/inst/docs/download/rtf/prog_reg.pdf>,
grifado.
196
BASTOS, Rafael José de Menezes. Sobre a noção de tutela dos povos e indivíduos indígenas pela
União. In: SANTOS, 1982, p. 56.
197
Essa linha conceitual será melhor desenvolvida no próximo item.
71
nem a enfraquece), pode ser considerado recepcionado e, portanto, vigente, inclusive
quanto à tutela, que deve ser entendida como proteção dos direitos indígenas, e não
como um instituto do direito privado que visa suprir a incapacidade civil, o que faria da
tutela um meio de controle, opressão e desvalorização.
Assim, a tutela, se utilizada como garantia dos direitos dos índios, não deve ser
extinta – ela apenas precisa mudar de nome e de tática, de modo a ser um instrumento
de proteção e de eficácia dos seus direitos diferenciados. Para isso, o Estado deve deixar
de utilizar a tutela como meio de controle da voz indígena, para que ela seja a segurança
de que a sociedade brasileira irá sempre ouvir o que os mais de duzentos povos dentro
dela têm a dizer.
3.2 As mudanças trazidas pela Constituição Federal de 1988
A Constituição de 1988 inova a matéria dos direitos indígenas com dois artigos
inseridos dentro do seu capítulo VIII, “Dos Índios”:
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer
respeitar todos os seus bens.
§1º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas
em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu
bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus
usos, costumes e tradições.
§2º. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios
e dos lagos nelas existentes.
§3º. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só
podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as
comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da
lavra, na forma da lei.
§4º. As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os
direitos sobre elas, imprescritíveis.
§5º. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, “ad
referendum” do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que
ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após
deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o
retorno imediato logo que cesse o risco.
§6º. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere
este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos
nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o
que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a
indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às
benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.
§7º. Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º.
72
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas
para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o
Ministério Público em todos os atos do processo. 198
Outros artigos também são importantes, como o da competência da Justiça
Federal para processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas (art. 109. XI); a
responsabilidade do Ministério Público Federal de defender judicialmente os direitos
indígenas (art. 129, V); sobre o ensino fundamental, deve ser respeitada a escolha das
comunidades indígenas à utilização de suas línguas maternas e a processos próprios de
aprendizagem (art. 210, §2º.); e sobre o exercício dos direitos culturais, o Estado deve
proteger as manifestações das culturas indígenas (art. 215, §1º.). Mantém-se a
competência da união para legislar sobre as populações indígenas (art. 22, XIV); é
estabelecida a competência exclusiva do Congresso Nacional para autorizar, em terras
indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de
riquezas minerais (art. 49, XVI); e é fixado, mas uma vez, o prazo de cinco anos para a
demarcação de todas as terras indígenas (art. 67), como havia feito o Estatuto do
Índio. 199
A Constituição de 1988 é considerada um marco dos direitos indígenas
brasileiros. Com ela, é supostamente inaugurada uma nova fase desses direitos, uma
nova linha teórica, conceitual e hermenêutica. Para Marés:
A Constituição de 1988 reconhece aos índios o direito de ser índio, de
manter-se como índio, com sua organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições. Além disso, reconhece o direito originário sobre as terras
que tradicionalmente ocupam. Esta concepção é nova, e juridicamente
revolucionária, porque rompe com a repetida visão integracionista. A partir
de 5 de outubro de 1988, os índios, no Brasil, têm o direito de serem
índios. 200
Reinaldo de Souza também considera que a nova Constituição suprimiu o
caráter integracionista da legislação e da política indigenista oficial: “O objetivo de
incorporar os índios cedeu seu lugar ao de lhes garantir respeito por suas formas
culturais próprias, assumindo que a diversidade cultural protagonizada pelas sociedades
indígenas constitui patrimônio cultural brasileiro (art. 216, CF)” 201 . Além disso,
Reinaldo afirma que a tutela foi derrogada no que concerne a seu exercício em juízo,
198
BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>.
199
Id., Ibd.
200
MARÉS DE SOUZA FILHO, 1993, p. 310.
201
REINALDO DE SOUZA, pp. 194-195.
73
uma vez que o Ministério Público passou a ter a função institucional de defender em
juízo os interesses das populações indígenas (art. 129, V, CF) e os próprios, suas
comunidades e organizações também são partes legítimas para ingressar no Judiciário
em defesa de seus direitos (art. 232). Pelo texto constitucional, a FUNAI pode ser
admitida como litisconsorte ou ser chamada aos autos para assistência e sua tutela fica
nos limites da assistência, ou seja, de tutela extrajudicial, com a prerrogativa de instituir
a política indigenista, desde que sem substituir a vontade dos indígenas.
O jurista Pinto Ferreira analisa os direitos dos índios e afirma que eles dizem
respeito a cada índio como membro de uma coletividade, ou seja, têm natureza de
direito comunitário. Isso é o que demonstra o texto constitucional ao atribuir aos índios
e às suas comunidades, assim como às organizações pró-índios, a legitimação ativa para
sua defesa em juízo:
Verifica-se destarte que o legislador constituinte atribuiu capacidade
processual ao índio, às suas comunidades e organizações. Entretanto as
nações indígenas não são pessoas jurídicas e sim comunidades de
organizações de classe. Mas de acordo com a Constituição são partes
legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. 202
Por conseqüência do art. 25 do Estatuto do Índio, a FUNAI também teria
legitimidade para agir em defesa dos índios. Mas a CF de 1988 deu nova rota à matéria,
segundo Pinho, determinando que os índios, suas comunidades e organizações são
partes legítimas para o ingresso em juízo na defesa dos seus direitos e interesses, sempre
com a interveniência do MPF – e que isso significa que a Constituição determinou que
os indígenas não são mais relativamente incapazes:
Portanto os índios não são mais incapazes, visto que o CPC determina que só
é capaz quem tem capacidade de estar em juízo (art. 7º.), e que “os incapazes
serão representados ou assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na
forma da lei” (art. 8º). 203
Para Silvio Coelho dos Santos, era preciso que a Constituição de 1988
garantisse a diversidade étnica e cultural do país e explicitasse a autonomia das minorias
indígenas, o que não foi feito:
202
203
FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição brasileira. São Paulo (SP): Saraiva, 1989, p. 452.
FERREIRA, p. 453.
74
Isso poderia ter sido expresso da seguinte forma: o Brasil é uma República
Federativa multiétnica e plurissocietária, constituída, sob regime
representativo, pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios Nacionais, que reconhecem a autonomia das sociedades indígenas
que imemorialmente estão localizadas em seu território, garantindo-lhes
reconhecimento, solidariedade, proteção e relacionamento político simétrico.
[...] Nos dispositivos referentes à organização territorial do Estado, deveria
ser explicitado que o Estado brasileiro se organiza através dos Estados
federados, dos Territórios, do Distrito Federal e de comunidades indígenas,
resguardando-se a essas últimas autonomia para a gestão de seus respectivos
interesses. 204
A Constituição admite, todavia, no seu art. 216, que a sociedade brasileira foi
formada por diferentes grupos, cujos bens materiais e imateriais são patrimônio cultural.
Poderia ser dito que basta o art. 231 para que seja reconhecido o caráter multiétnico do
país, mas, mesmo que esse artigo tenha sido um avanço, a verdade é que a Constituição
foi tímida para reconhecer o caráter plurinacional do Brasil. Marés diz que os artigos
210, §2º., 215, §1º. e 231 são os “dispositivos que elevam à categoria de direitos a
diferença cultural e lingüística dos povos indígenas”, mas ainda assim não reconhecem
de modo preciso, para esse autor, a diversidade cultural e étnica da nação brasileira.
“Reconhecer a diversidade cultural e étnica de forma integral, sem restrições, seria dar
igual status às diversas culturas diferenciadas e à cultura ‘nacional’ brasileira”. 205
Não foi também expressamente reconhecida a autodeterminação dos povos
indígenas nem foram utilizados esses termos: “povo” e “autodeterminação”, da mesma
forma que no Estatuto do Índio, como discutimos antes, mesmo que uma maior
autonomia tenha sido alcançada constitucionalmente em 1988.
A maior autonomia se percebe, por exemplo, quando a Constituição garante a
defesa em juízo dos direitos coletivos dos povos indígenas. Marés de Souza Filho
assevera que o art. 232 “é uma expressa autorização para o indivíduo índio, em nome
próprio, postular direito coletivo, alheio, da comunidade, sociedade ou povo a que
pertença”. Marés explica que ainda têm sido utilizada a via da ação civil pública, mas a
Constituição alarga as possibilidades de demanda e não seria seu objetivo indicar
restrições e formalidades, já que ela mesma reconhece a organização social das
comunidades indígenas. 206
204
SANTOS, Silvio Coelho. Os povos indígenas e a constituinte. Florianópolis: Ed. da UFSC,
Movimento, 1989, p. 8.
205
MARÉS DE SOUZA FILHO, 2000, p. 158.
206
MARÉS DE SOUZA FILHO, 2000, p. 156.
75
Marés destaca que o direito reconhece, com a Constituição, a capacidade civil
da comunidade indígena, ou seja, a comunidade indígena tem capacidade de ser titular
de direitos, inclusive da propriedade. Ele ensina que, pela primeira vez, a lei reconheceu
que os povos indígenas são “coletivos”. Para Marés, os direitos coletivos dos povos
indígenas podem ser divididos em três categorias ligadas entre si: os direitos territoriais,
os direitos culturais e os direitos de auto-organização. Os direitos territoriais permitem
que se reproduza a cultura; os culturais são a essência do povo; e os de auto-organização
são a garantia do estabelecimento de poderes internos de representação, mantêm a
cultura viva e preservam o território. 207
A opinião de José Afonso da Silva é de que a Constituição de 1988 protege o
interesse dos índios em um limite razoável: “Não alcançou, porém, um nível de
proteção inteiramente satisfatório. Teria sido assim, se houvera adotado o texto do
Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, reconhecidamente mais equilibrado e mais
justo”. 208 No capítulo específico dos índios, esse anteprojeto referia-se a “populações
indígenas” e demonstrava expressamente compreender melhor o conceito de integração,
sem vinculá-lo à aculturação. Isso se percebia com o primeiro artigo desse capítulo, que
reconhecia as “populações indígenas como parte integrante da comunidade nacional”,
mesmo que garantindo a “proteção destas populações e de seus direitos originários” 209 .
A despeito disso, Afonso da Silva assevera que a Constituição deu um largo
passo na questão indígena. Mesmo que tenha recusado o emprego da expressão “nações
indígenas, baseada na falsa premissa e no preconceito de que nação singulariza o
elemento humano do Estado ou se confunde com o próprio Estado”. Essa idéia, para o
jurista, está “há muito superada, quer porque se verificou que existem Estados
multinacionais ou multiétnicos, que dá na mesma, quer porque existe Estado sem nação
(o Vaticano) e até porque pode existir nação sem Estado”, como os palestinos. Ele
ensina:
Por quê? Porque, para além desses fatores, há outro mais forte que é o
sentimento de pertinência nacional que solidifica uma comunidade de destino
político. Por isso, é que os suíços de origem alemã, como os de origem
italiana e francesa, são de nacionalidade suíça pelo sentimento de pertinência
à comunidade nacional da Suíça, sem prejuízo do sentimento de pertinência a
207
MARÉS DE SOUZA FILHO, 2000, pp. 182-185.
AFONSO DA SILVA, José. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2007, p.
853.
209
BRASIL. Anteprojeto Constitucional. Elaborado pela Comissão Provisória instituída pelo Decreto
91.450, de 18 de julho de 1985. Disponível em:
<http://www.senado.gov.br/sf/publicacoes/anais/constituinte/AfonsoArinos.pdf>.
208
76
uma específica comunidade cultural (alemã, italiana e francesa). Por tudo isso
também é que ficou inteiramente superado o incorreto conceito de Estado
como nação politicamente organizada. 210
Ele continua, afirmando que o conceito de nação de Pasquale Mancini pode ser
aplicado às comunidades indígenas. Citando o autor de direito internacional, para quem
nação “é a reunião em sociedades de homens [‘seres humanos’, quer ele dizer], na qual
a unidade de território, de origem, de costumes, de língua e a comunhão de vida criaram
a consciência social”, Afonso da Silva diz que “então se pode falar em nações
indígenas”. 211
Mesmo não sendo um antropólogo de formação, José Afonso da Silva traz os
conceitos antropológicos do que é ser índio, esclarece para todos que “é índio quem se
sente índio” e dá a seguinte lição:
Essa auto-identificação, que se funda no sentimento de pertinência a uma
comunidade indígena, e a manutenção dessa identidade étnica, fundada na
continuidade histórica do passado pré-colombiano que reproduz a mesma
cultura, constituem o critério fundamental para identificação do índio
brasileiro. Essa permanência em si mesma, embora interagindo um grupo
com outros, é que lhe dá a continuidade étnica identificadora. Ora, a
Constituição assume essa concepção, p. ex., no art. 231, §1º., ao ter as terras
ocupadas pelos índios como “necessárias a sua reprodução física e cultural,
segundo seus usos, costumes e tradições”. A identidade étnica perdura
nessa reprodução cultural, que não é estática; não se pode ter cultura
estática. Os índios, como qualquer comunidade étnica, não param no
tempo. A evolução pode ser mais rápida ou mais lenta, mas sempre
haverá mudanças e, assim, a cultura indígena, como qualquer outra, é
constantemente reproduzida, não igual a si mesma. Nenhuma cultura é
isolada. Está sempre em contacto com outras formas culturais. A
reprodução cultural não destrói a identidade cultural da comunidade,
identidade que se mantém em resposta a outros grupos com os quais dita
comunidade interage. Eventuais transformações decorrentes do viver e
do conviver das comunidades não descaracterizam a identidade cultural.
Tampouco a descaracteriza a adoção de instrumentos novos ou de novos
utensílios, porque são mudanças dentro da mesma identidade étnica. 212
Ou seja, a interação dessas comunidades não destrói sua identidade cultural,
mesmo que sua cultura se transforme, porque todas as culturas se transformam. A
ressignificação cultural não implica necessariamente em descaracterização cultural.
João Francisco Kleba Lisboa explica que o art. 231 deu aos povos indígenas o
direito à diferença cultural:
210
AFONSO DA SILVA, p. 854.
AFONSO DA SILVA, pp. 854-855.
212
AFONSO DA SILVA, pp. 855-856, grifado.
211
77
Isso deve ser lido como o reconhecimento do direito constitucional dos índios
à diferença cultural e lingüística, o que marca um novo posicionamento do
Estado em relação às sociedades indígenas. O que fica reconhecido é o
direito destas a permanecerem vivendo de forma diferente da chamada
“sociedade nacional”, de acordo com suas especificidades étnicas e
culturais. 213
Para ele, agora os índios deixam de ser vistos como “atrasados” e “inferiores”,
porque têm agora o direito à diferença: “Rompe-se, assim, com o projeto estatal
brasileiro de integrar os índios à comunhão nacional, que vigorava até então baseado em
uma perspectiva assimilacionista e etnocêntrica”. 214
E esse direito à alteridade só pode ser efetivado por meio dos direitos
territoriais, como sabiamente explica Afonso da Silva: ele afirma que a questão das
terras é o ponto central dos direitos constitucionais dos índios “pois, para eles, ela tem
um valor de sobrevivência física e cultural”.215 Sem suas terras, a cultura dos povos
indígenas não pode ser mantida, porque sua cosmologia é essencialmente ligada à
natureza.
Há muitos que, apesar disso, alertam para a quantidade de terras que os índios
podem reivindicar. Manoel Gonçalves Ferreira Filho preocupa-se com o fato de a
Constituição ter dado atenção excessiva para a questão das terras indígenas, mesmo que,
na sua opinião, as Constituições sucessivamente tenham reduzido as áreas passíveis de
serem indígenas:
Pode parecer injusto que de Constituição para Constituição se reduza a área
reservada ao indígena. Entretanto, tem a Lei Magna de escolher entre a
proteção deste, cuja cultura condena à desaparição – salvo nos parques em
que os antropólogos querem fechá-los como se fossem animais raros – e a
necessidade de expansão econômica – esta mesma imposta pelo crescimento
demográfico – do país; claro está que optará pelos interesses da
comunidade brasileira toda inteira. Mesmo porque o índio pode vir a
integrá-la. 216
Essa argumentação tem tantos problemas que somente alguns serão abordados.
A começar pela sugestão ilusória de que a expansão econômica é um interesse da
comunidade brasileira toda inteira: já estamos cansados de ver como o crescimento
213
LISBOA, João Francisco Kleba. O Direito perante o índio: terras indígenas, ocupação tradicional e
alteridade no ordenamento jurídico brasileiro. Florianópolis. 62 p. Monografia (Bacharel em Direito).
UFSC, 2008, pp 17-18.
214
LISBOA, p. 18.
215
AFONSO DA SILVA, p. 856.
216
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. São Paulo:
Saraiva, 1995, p. 118, grifado.
78
econômico do nosso país nada tem a ver com a distribuição de renda, na qual somos um
dos piores do mundo. De qualquer forma, de que maneira estaria o índio a atravancar
essa expansão? Os povos indígenas somam menos de 1% da população brasileira, estão
em pleno crescimento vegetativo, é verdade, mas nada que vá ameaçar as tão
necessárias terras do latifúndio agrícola. A questão a ser colocada, de verdade, é a
seguinte: por que as terras mais preciosas são as ocupadas por indígenas? Se as terras
indígenas totais somam 12,5% 217 , e se há ainda quantidade inestimável de terra a ser
ocupada para quaisquer fins monopolistas a que a “sociedade brasileira” estima, por que
tanta briga pelas terras dos índios?
Há que se perguntar se não existe, acima de tudo, um etnocentrismo que
impregna todos os setores do poder e da elite brasileiros, ou mesmo uma vontade de
etnocídio, para ansiar sempre pelas terras daqueles que menos as têm. Isso faz lembrar
de uma citação trazida por Ella Shohat e Robert Stam do ex-presidente norte-americano
Andrew Jackson, que, com o mesmo espírito “progressista”, justificou a guerra contra
os índios:
Que bom homem preferiria um país coberto de florestas e alguns milhares de
selvagens à nossa república, repleta de cidades grandes e pequenas, fazendas
prósperas [e] ocupadas por mais de 12 milhões de pessoas felizes, que
aproveitam todas as bênçãos da liberdade, civilização e religião? 218
Os autores Shohat e Stam explicam que um discurso utilizado pelos europeus –
e pelos brasileiros, como podemos ver – para justificar o colonialismo e o racismo virou
senso comum. O colonialismo e o racismo são aliados que utilizam várias técnicas para
estigmatizar a diferença com o propósito de justificar vantagens injustas e abusos de
poder de natureza econômica, política, cultural e psicológica (também pode acontecer o
contrário: estigmatiza-se, muitas vezes, a igualdade – “todos são iguais”, para manter as
desigualdades de todos os tipos). O discurso eurocêntrico é a tentativa de reduzir a
diversidade cultural a apenas uma perspectiva paradigmática, que vê a Europa como a
origem única dos significados. Surgiu como discurso de justificação do colonialismo,
como um discurso naturalizante (que finge que não é discurso) e normaliza relações de
hierarquia geradas pelo colonialismo e pelo imperialismo, como uma epistemologia
217
218
No Capítulo 1, encontram-se mais dados sobre o assunto.
SHOHAT, Ella; STAM, Robert. Crítica da imagem eurocêntrica. São Paulo: Cosacnaify, 2006, p. 129.
79
oculta, colocando o ocidente como centro do mundo e origem da história. 219 Por isso
Ferreira Filho fala que os índios vão desaparecer e vão se integrar e que eles não podem
atrapalhar o desenvolvimento econômico “tão bom para a maioria do país”, quando na
verdade isso é uma justificativa da elite para manter-se como elite.
Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins são partidários do mesmo
pensamento de Ferreira Filho, e parecem estarrecidos que a Constituição tenha
reservado tanta terra (eles mencionam dez por cento) a tão poucos brasileiros (que eles
aduzem ser 250 mil). Para eles, isso também é culpa dos antropólogos, que querem que
os índios sejam “preservados em seu atraso civilizacional”. 220
Parece que a maioria dos juristas constitucionais concorda com essa linha de
Bastos, Gandra Martins e Ferreira Filho. Cretella cita Carlos Maximiliano, para afirmar
que não se poderia dar efeito retroativo sem limite no tempo à proteção possessória em
favor dos índios, pois isso importaria devolver todo o território nacional aos silvícolas
que são, hoje, a continuação na história das tribos aqui vivendo. 221
Ora, moralmente falando, errado foi tomar a terra dos povos que aqui moravam
– o errado não seria pensar em devolvê-lo; não que sequer seja isso que os povos
indígenas hoje querem. Mas é interessante observar como os argumentos são
desvirtuados inclusive na doutrina e como o senso comum toma àqueles mais
renomados constitucionalistas.
Há um doutrinador que discorda de todos esses. José Afonso da Silva cita
Manuela Carneiro da Cunha para esclarecer que o núcleo da questão indígena hoje no
Brasil é justamente a disputa sobre as terras indígenas e suas riquezas. Para ele, por isso
mesmo, a Constituição “buscou cercar de todas as garantias esse direito fundamental
dos índios”.
Em primeiro lugar, é declarado que essas terras são bens da União (art. 20, XI),
o que já era realidade constitucional. Afonso da Silva explica que essa outorga cria
propriedades reservadas, que são inalienáveis e indisponíveis e os direitos sobre elas
imprescritíveis. O jurista ainda ensina que os direitos originários dos indígenas sobre
219
Na Introdução, há também uma argumentação sobre o assunto, especificamente sobre o discurso
etnocêntrico no Brasil.
220
BASTOS, Celso Ribeiro; e MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à Constituição do Brasil.
São Paulo: Saraiva, 2000, p. 1118.
221
CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 1993, p. 4564.
80
essas terras, reconhecidos pela Constituição (art. 231), consagram um conceito que tem
origem no instituto do indigenato 222 . 223
Afonso da Silva reforça o conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios, que se encontra no art. 231, §1º., com quatro condições: 1) habitadas em caráter
permanente; 2) utilizadas para suas atividades produtivas; 3) imprescindíveis à
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar; 4) necessárias a sua
reprodução física e cultural, com uma ressalva apontada pelo constitucionalista:
[...] tudo segundo seus usos, costumes e tradições, de sorte que não se vai
tentar definir o que é habitação permanente, modo de utilização,
atividade produtiva, ou qualquer das condições ou termos que as
compõem, segundo a visão civilizada, a visão do modo de produção
capitalista ou socialista, a visão do bem-estar do nosso gosto, mas
segundo o modo de ser deles, da cultura deles. 224
Ele continua, desenvolvendo os conceitos de posse permanente dos §§1º. e 2º.
do art. 231, diferenciando essa posse das terras ocupadas tradicionalmente pelos índios
daquela regulada pelo Código Civil. A posse das terras indígenas é baseada no
indigenato, no direito de ocupação que já tinham os índios antes da chegada dos
europeus, no seu direito originário, que seria o ius possidendi, como explica o
doutrinador. Afonso da Silva aponta, assim, que a relação entre o indígena e suas terras
não se rege pelas normas do direito civil:
Sua posse extrapola da órbita puramente privada, porque não é e nunca foi
uma simples ocupação da terra para explorá-la, mas base de seu habitat, no
sentido ecológico de interação do conjunto de elementos naturais e culturais
que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida humana. Esse tipo de
relação não pode encontrar agasalho nas limitações individualistas do direito
privado, daí a importância do texto constitucional em exame, porque nele se
consagra a idéia de permanência, essencial à relação do índio com as terras
que habita. 225
Para Marés, a solução jurídica da Constituição de 1988 sobre a questão das
terras buscou esconder um direito ainda mais profundo dos povos:
Esta solução jurídica encontrada tem coerência com o sistema, mas esconde a
realidade de um direito muito mais profundo dos povos, que é o direito ao
território. O território não se pode confundir com o conceito de propriedade
222
Conceito desenvolvido por Mendes Júnior – conforme explicado no Capítulo 2.
AFONSO DA SILVA, p. 856.
224
AFONSO DA SILVA, p. 857.
225
AFONSO DA SILVA, pp. 859-160.
223
81
da terra, tipicamente civilista; o território é jurisdição sobre um espaço
geográfico, a propriedade é um direito individual. 226
Mas é para reconhecer esse direito, que é anterior à própria lei, o direito
originário, que serve a demarcação de terras do art. 231. Afonso da Silva, afirma que
não é da demarcação de terras (art. 231) que decorrem os direitos indígenas, ela não é
título de posse nem de ocupação, apenas está constitucionalmente exigida no interesse
dos índios: “É uma atividade da União, não em prejuízo dos índios, mas para proteger
seus direitos e interesses”. 227
A demarcação de terras indígenas é regulada pelo Decreto 1.775, de 8 de
janeiro de 1996. Raimundo Sergio Barros Leitão elucida que a demarcação de uma terra
indígena é apenas o reconhecimento do Estado da extensão da terra indígena. 228 A
própria lei traz esse entendimento, já que no seu art. 2º. estabelece que: “§10º. Em até
trinta dias após o recebimento do procedimento, o Ministro de Estado da Justiça
decidirá: I - declarando, mediante portaria, os limites da terra indígena e determinando
a sua demarcação” 229 . 230
No site da FUNAI 231 , temos uma explicação sobre as fases da demarcação, que
na verdade é o processo de regularização da situação fundiária da terra indígena. O site
faz referência também à Portaria nº. 14 do Ministério da Justiça, de 9 de janeiro de
1996 232 , que estabelece regras sobre o relatório circunstanciado de identificação e
delimitação das terras indígenas. O início do processo é com a identificação e
delimitação das terras, feitos por um grupo técnico, que estará em contato direto com o
grupo indígena:
Os estudos antropológicos e os complementares de natureza etno-histórica,
sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário,
realizados nesta fase, deverão caracterizar e fundamentar a terra como
tradicionalmente ocupada pelos índios, conforme os preceitos
226
MARÉS, 2000, p. 122.
AFONSO DA SILVA, p. 862.
228
LEITÃO, Raimundo Sergio Barros. Natureza jurídica do ato administrativo de terra indígena – a
declaração em juízo. In: SANTILLI, p. 67.
229
BRASIL, Decreto 1.775, de 8 de janeiro de 1996, que dispõe sobre o procedimento administrativo de
demarcação das terras indígenas. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1775.htm>, grifado.
230
Para saber mais sobre as questões problemáticas sobre a mineração e a construção de hidrelétricas,
entre outros interesses capitalistas, nas terras indígenas, fazemos referência ao Mapa da Injustiça
Ambiental, trabalho desenvolvido por Fiocruz e Fase, disponível em:
<http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/index.php>.
231
FUNAI, site, “Como é feita a demarcação?”. Disponível em:
<http://www.funai.gov.br/indios/terras/conteudo.htm#como>.
232
Disponível em:
<http://www.funai.gov.br/quem/legislacao/pdf/Portaria_FUNAI_n14_de_09_01_1996.pdf>.
227
82
constitucionais, e apresentar elementos visando à concretização das fases
subseqüentes à regularização total da terra. É com base nestes estudos, que
são aprovados pelo Presidente da FUNAI, que a área será declarada de
ocupação tradicional do grupo indígena a que se refere, por ato do Ministro
da Justiça - portaria declaratória publicada no Diário Oficial da União reconhecendo-se, assim, formal e objetivamente, o direito originário indígena
sobre uma determinada extensão do território brasileiro. 233
Após a aprovação pelo Ministério da Justiça, a terra é declarada de ocupação
tradicional do grupo indígena “especificado, indicando a superfície, o perímetro e os
seus limites”. E em seguida é determinada sua demarcação física, quando “se
materializam, em campo, os limites da terra indígena, conforme determinado na portaria
declaratória expedida pelo Ministério da Justiça”. Depois disso, ocorre a homologação,
que é a confirmação dos limites demarcados por meio da expedição de um decreto do
Presidente da República. O fim do processo de regularização se dá com o seu registro
no Cartório de Registro de Imóveis de onde o imóvel está situado e na Secretaria de
Patrimônio da União do Ministério da Fazenda. 234
A delimitação de espaços de terra para uma comunidade indígena pode ser,
entretanto, muito problemática. Muitos povos sempre tiveram, como parte de sua
cosmologia, a prática de mudar de lugar quando fosse necessário para preservar a
natureza e, também, de acordo com a religião. Os Guarani, em especial, como veremos
no capítulo seguinte, tinham uma mobilidade significativa até a chegada dos europeus e,
depois, até a fixação dos não-índios em propriedades privadas. À procura da “Terra Sem
Mal”, eles iam em busca da imortalidade em vida, mas agora estão presos a pequenos
pedaços de chão. 235
Outro problema que encontram, assim como muitos outros povos, é a revisão
dos limites da demarcação, em decorrência do aumento demográfico. Na aldeia de
M’Biguaçu (Biguaçu – Santa Catarina), os Guarani contam que à época da demarcação
não lhes foi esclarecido o tamanho exato da aldeia, que hoje é muito pequena para a
comunidade, impedindo que vivam conforme sua cultura, já que não há, sequer, espaço
para plantação. Na aldeia de Morro dos Cavalos, os Guarani estão à espera da
demarcação física do espaço já delimitado, ou seja, da retirada de não-índios de suas
233
FUNAI, site, “Como é feita a demarcação?”.
Id., Ibd.
235
QUEZADA, Sergio Eduardo Carrera. A terra de Nhanderu: organização sociopolítica e processos de
ocupação territorial dos Mbyá-Guarani em Santa Catarina, Brasil. Florianópolis. 161 f. Dissertação
(Mestrado) Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Social. UFSC, 2007, p. 7.
234
83
terras. Enquanto isso, ficam limitados ao pequeno espaço íngreme de um morro, onde é
impossível plantar e difícil morar.
3.3 O Código Civil, o etnocentrismo da doutrina e da jurisprudência e a
necessidade de um novo Estatuto do Índio
A Constituição traçou uma nova linha teórica para os direitos indígenas, mas
seus conceitos estão sendo utilizados? Já demonstramos na seção anterior a opinião de
alguns constitucionalistas, que, mesmo depois da Constituição, ainda reproduzem a
visão integracionista do Estatuto do Índio. Aqui se coloca uma questão interessante, que
talvez seja respondida de forma mais completa no capítulo seguinte: qual a afirmativa
correta “a lei é o próprio senso comum de uma sociedade” ou “o senso comum de uma
sociedade pode se formar a partir de uma lei”? O que acontece com o Estatuto do Índio
parece ser precisamente isso. Para aqueles que estudam especificamente os direitos
indígenas, inclusive num âmbito internacional, está mais do que superada a idéia de que
os povos indígenas vão desaparecer – e é preciso, portanto, proteger os seus direitos.
Apesar disso, por interesses capitalistas dos poucos que controlam o poder, ainda
permanece um discurso etnocentrista que faz pensar que os valores mais importantes
são os da economia, do progresso, do capitalismo. E, para esses donos do poder, povos
como os indígenas são um empecilho. Isso é assunto para um debate muito mais
profundo, mas aqui se coloca esse conflito para pensarmos sobre a urgência de
promulgar-se um novo estatuto dos povos indígenas. Enquanto isso não acontece, é
preciso deixar muito claro que a visão integracionista do Estatuto do Índio não foi
recepcionada pela Constituição de 1988 e tampouco a sua tutela, do modo como é
apresentada na lei.
Enquanto isso não acontece, ainda vemos uma infinidade de doutrinadores e de
juízes que reproduzem para todos os acadêmicos – especialmente os de direito – do país
a velha visão integracionista e etnocêntrica contrária aos interesses dos povos indígenas.
Aquela visão que já foi abordada diversas vezes neste trabalho, de que os índios querem
terras demais, de que tudo isso é um conluio de antropólogos e indianistas e pessoas que
fingem ser indígenas, de que não vale a pena riscar terras do mapa da economia, enfim,
de que os direitos indígenas não são necessários, de que os índios não precisam de
proteção especial. Ora, pode-se afirmar que é justamente em decorrência desse
84
pensamento etnocentrista que os indígenas precisam de proteção especial. Os incapazes
– de compreendê-los – são esses etnocêntricos, não são os índios os incapazes, afinal.
Essa proteção também não é compreendida por muitos doutrinadores e juízes
brasileiros. O que acontece é um misto de confusão entre Estatuto do Índio e senso
comum, com Código Civil e Constituição. E uma total falta de conhecimento
antropológico, da mínima noção do que é cultura, o que prejudica muito as decisões de
magistrados e as exposições dos doutrinadores.
O Código Civil de 2002 estabeleceu, em seu art. 4º., onde são discriminados os
“incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer”: que “Parágrafo
único. A capacidade dos índios será regulada por legislação especial.” 236 . Por ser tão
recente, é chocante que ainda tenha mantido a velha confusão entre capacidade civil e
tutela dos indígenas. É exatamente por esse motivo teria sido imprescindível derrogar
expressamente a tutela que estabelece o Estatuto do Índio para substituí-la por outra,
que significasse apenas proteção especial, de acordo inclusive com a nova ordem
constitucional. Mas, nada foi feito, e o Código Civil de 2002 perpetuou a dúvida sobre a
capacidade civil indígena.
Agora, também podendo se basear no Código Civil de 2002, doutrinadores e
juízes que não conhecem mais a fundo direitos indígenas reproduzem os conceitos
defasados do Estatuto do Índio.
É isso que realmente fazem, propagando idéias completamente racistas, em
muitos casos, como a do Código Civil Comentado coordenado por Ricardo Fiuza que,
sobre o parágrafo único do art. 4º., parece reproduzir ainda a visão colonialista: “Os
índios, devido a sua educação ser lenta e difícil, são colocados pelo novo Código
Civil sob a proteção de lei especial, que regerá a questão de sua capacidade”. Ora, é a
justificativa do velho controle, apenas com outra roupagem e com um enfoque
completamente racista, digo racista porque quem acredita nesse tipo de coisa realmente
acredita que existem raças diferentes, para as quais a educação pode ser mais lenta ou
mais rápida. O mais tenebroso é que a edição deste livro é de 2006, não do século XVI.
E muitos acadêmicos de direito e operadores do direito mais ingênuos podem ler essas
palavras e achar que elas têm algum fundamento, porque partem de um grupo de juristas
renomados que comentam o Código Civil vigente. 237
236
BRASIL, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, institui o Código Civil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2002/L10406.htm>.
237
FIUZA, Ricardo (Coord.). Novo Código Civil comentado. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 10.
85
E a famosa doutrina de Pontes de Miranda, atualizada por Vilson Rodrigues
Alves, edição de 2000, afirma, mesmo após a Constituição, que: “Os silvícolas [!] estão
sob a proteção do Estado. O direito material regra a sua situação jurídica, assim como
das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los,
progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional”. Depois dessa introdução, que
claramente foi retirada do Estatuto do Índio, todos os demais conceitos só continuam a
reproduzir o estatuto na parte em que ele supostamente foi superado pela Constituição.
O doutrinador continua, sem ressalvas, a trazer os conceitos de isolados, em vias de
integração e integrados, do Estatuto de 1973 e da emancipação, quando “qualquer índio
poderá pedir no Juízo competente a sua liberação desse regime tutelar, investindo-se na
plenitude da capacidade civil”, ou seja, tudo isso é a parte que os teóricos dos direitos
indígenas consideram ultrapassada e não recepcionada pela Constituição de 1988. 238
Carlos
Roberto
Gonçalves,
apesar
de
imbuído
dos
novos
moldes
constitucionais, faz uma consideração equivocada sobre a origem da tutela: ele afirma
que o Decreto 5.484/1928 é o primeiro diploma a regulamentar o regime tutelar dos
índios. Na verdade, esse foi o decreto que acabou com a tutela orfanológica, trazendo
um novo tipo de proteção aos índios que foi esquecido em 1973. A tutela orfanológica
para os índios teve origem em meados do século XVIII, desde quando o governo
pretendia transformá-los em trabalhadores rurais. Somente a esses que começassem a
trabalhar seria aplicado o estatuto de órfãos, para controlar seus contratos de trabalho e
sua remuneração. Mais tarde, em 1833, também foram atribuídos aos juízes de órfãos os
bens dos índios – a confusão começa quando se entende que todos os índios estão sob o
regime tutelar. 239 Gonçalves tenta fazer referência à Constituição, dizendo que esta não
trata mais dos índios como silvícolas, mas continua reproduzindo os conceitos do
Estatuto, em pleno ano de 2007: 240
A tutela dos índios constitui espécie de tutela estatal e origina-se no âmbito
administrativo. O que vive nas comunidades não integradas à civilização já
nasce sob a tutela. É, portanto, independentemente de qualquer medida
judicial, incapaz desde o nascimento, até que preencha os requisitos exigidos
pelo art. 9º. da Lei n. 6.001/73 [esse é o artigo que fala da emancipação]
(idade mínima de 21 anos, conhecimento da língua portuguesa, habilitação
para o exercício de atividade útil à comunidade nacional, razoável
compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional) e seja liberado por
238
MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000, pp. 267-272.
Isso tudo foi explicado no Capítulo 2, quando se desenvolveu a origem da tutela.
240
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 99101.
239
86
ato judicial, diretamente, ou por ato da Funai homologado pelo órgão
judicial. 241
Depois, Gonçalves continua falando de integração nacional e de emancipação,
no sentido dos conceitos do Estatuto do Índio que a Constituição superou. Ele até chega
a falar que a tutela do índio “não integrado à comunhão nacional” tem a finalidade de
protegê-lo, e, quanto à parte da proteção, isso está correto, mas ainda com a velha noção
da integração como assimilação e como perda de direitos indígenas – quando na
verdade todos os indígenas, mesmo em contato com a sociedade não-indígena, têm
direito a essa proteção, como já discutimos neste capítulo.
O Código Civil, ao remeter o assunto da capacidade civil dos indígenas à
legislação especial, em um artigo que fala dos relativamente incapazes, certamente está
afirmando que os indígenas ainda não são plenamente capazes para os atos da vida civil,
o que mantêm a vil mistura entre os conceitos de tutela e de capacidade civil. Ou seja,
diferentemente do que alguns afirmam, o Código Civil de 2002 não trouxe mudanças
significativas quanto ao Código Civil de 1916 sobre o assunto. Em 1916, apenas a lei
dizia explicitamente que os “silvícolas” eram relativamente incapazes (art. 6º., III) e que
“Parágrafo único. Os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar, estabelecido em leis e
regulamentos especiais, o qual cessará à medida que se forem adaptando à civilização
do País.”. Quando hoje o Código Civil faz referência a um Estatuto que diz a mesma
coisa: que os índios não são plenamente capazes para os atos da vida civil – e que é
tomado ao pé da letra por doutrinadores e operadores do direito, chegamos à conclusão
de que o Código Civil de 2002 manteve a capacidade relativa dos índios – até que eles
se “integrem à comunhão nacional”, se “civilizem”, ou seja, deixem de ser índios e de
ter proteção do Estado. Teria inovado, sim, se não tivesse feito qualquer referência aos
indígenas, com o que poderíamos concluir que eles são plenamente capazes para todos
os atos da vida civil.
Essa referência à legislação especial pode ser ainda mais problemática. Os
distintos doutrinadores Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho entendem que,
quando a Lei 6.001/1973 tem um artigo que determina: “Art. 8º São nulos os atos
praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade
241
GONÇALVES, pp. 100-101.
87
indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente” 242 , está
considerando o índio absolutamente incapaz:
Portanto, havendo o Novo Código Civil remetido a matéria para a legislação
especial, parece-nos que o índio passou a figurar, em regra, entre as pessoas
privadas de discernimento para os atos da vida civil (absolutamente
incapazes), o que não reflete adequadamente a sua situação na sociedade
brasileira. 243
Os autores consideram que os índios deveriam ter sido excluídos do rol dos
relativamente incapazes 244 – mas eles ainda confundem tutela com incapacidade civil,
porque dizem que a incapacidade pode ser invocada para proteger os índios, quando na
verdade deveria ser a tutela (entendida enquanto proteção, assistência, e não opressão,
como já falamos).
Nas decisões judiciais também encontramos diversos absurdos. Falta aos juízes
compreender o verdadeiro conceito de integração cunhado por Darcy Ribeiro, que já
apresentamos neste capítulo, e o conceito mais básico de cultura, que não é fixa, estática
e impermeável, mas fluida e ressignificante. Do mesmo modo que nós não deixamos de
ser entendidos como brasileiros quando absorvemos aspectos culturais de outros
países 245 , ou seja, não deixamos de nos sentir brasileiros por isso, e não deixamos de ter
as conseqüências jurídicas de tanto – também os povos indígenas não deixam de sê-lo
por seus membros utilizarem celular, roupas ou falarem português.
Sem estabelecer, aqui, se o problema vem da legislação sozinha ou do próprio
senso comum no qual ela foi baseada, a verdade é que o problema existe: há uma
confusão total na jurisprudência entre os conceitos de cultura, de integração, de
assimilação, de tutela, de capacidade civil em relação aos indígenas, que gera extrema
insegurança aos seus povos, mesmo apesar de uma Constituição Federal que lhes
possibilita outra hermenêutica, muito mais saudável, se houver a compreensão mínima
desses conceitos.
A Constituição Federal estabelece que a competência da Justiça Federal para
julgar a disputa sobre direitos indígenas. Apesar disso, o que vemos na jurisprudência é
242
BRASIL, Estatuto do Índio: Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L6001.htm>.
GAGLIANO, Pablo Stolze; e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte geral.
São Paulo: Saraiva, 2006, p. 99.
244
GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, p. 100.
245
Sem entrar, aqui, na discussão de identidade cultural, que pode não corresponder com a identidade
nacional.
243
88
que tanto na área civil, quanto na penal, muitas vezes é determinada a competência da
justiça estadual com o pretexto de que o indígena está “integrado”.
O Código Penal de 1940, no mesmo enfoque do Código Civil de 1916,
estabelece sobre os inimputáveis:
Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou
da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento. 246
Não é mencionada, no Código Penal, a palavra índio ou silvícola. Mas na sua
Exposição de Motivos, anterior à reforma de 1984, assinada pelo ministro Francisco
Campos e que integrava a lei, estava bem claro que:
No seio da Comissão foi proposto que se falasse de modo genérico, em
perturbação mental; mas a proposta foi rejeitada, argumentando-se em favor
da fórmula vencedora, que esta era mais compreensiva, pois, com a
referência especial ao “desenvolvimento incompleto ou retardado” e
devendo-se entender como tal a própria falta de aquisições éticas (pois o
termo mental é relativo a todas as faculdades psíquicas, congênitas ou
adquiridas, desde a memória à consciência, desde a inteligência à vontade,
desde o raciocínio ao senso moral), dispensava-se a alusão expressa aos
surdos-mudos e aos silvícolas inadaptados. 247
Marés cita Nelson Hungria, que deixa bem claro por que o legislador não citou
os índios:
[...] o art. 22 [art. 26, depois da reforma de 1984] fala em “desenvolvimento
incompleto ou retardado”. Sob este título se agrupam não só os deficitários
congênitos do desenvolvimento psíquico ou oligofrênicos (idiotas, imbecis,
débeis mentais), como os que são por carência de certos sentidos (surdosmudos) e até mesmo os silvícolas inadaptados [...] assim, não há dúvida que
entre os deficientes mentais é de se incluir também o homo sylvester,
inteiramente desprovido das aquisições éticas do civilizado homo medios que
a lei penal declara responsável. 248
Marés continua: “Depois dessa preconceituosa declaração, que não admite a
existência de outros padrões éticos, o jurista consegue ser ainda mais claro, expressando
a vergonha da lei em manifestar a existência de índios no Brasil”, ao que cita:
246
BRASIL, Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, institui o Código Penal. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto-lei/del2848.htm >.
247
BRASIL, Código Penal de 1940, exposição de motivos anterior à reforma de 1984 apud MARÉS DE
SOUZA FILHO, 2000, p. 110.
248
HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1958, p. 336 apud
MARÉS DE SOUZA FILHO, pp. 110-111.
89
[...] dir-se-á que tendo sido declarados, em dispositivos à parte,
irrestritamente irresponsáveis os menos de 18 anos, tornava-se desnecessária
a referência ao desenvolvimento mental incompleto; mas explica-se: a
Comissão revisora entendeu que sob tal rubrica entrariam, por
interpretação extensiva os silvícolas, evitando-se que uma expressa
alusão a estes fizesse supor falsamente, no estrangeiro, que ainda somos
um país infestado de gentios. 249
Ainda, o Estatuto do Índio fixa sobre as normas penais que:
Art. 56. No caso de condenação de índio por infração penal, a pena
deverá ser atenuada e na sua aplicação o Juiz atenderá também ao grau
de integração do silvícola.
Parágrafo único. As penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se
possível, em regime especial de semiliberdade, no local de funcionamento do
órgão federal de assistência aos índios mais próximos da habitação do
condenado.
Art. 57. Será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as
instituições próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus
membros, desde que não revistam caráter cruel ou infamante, proibida em
qualquer caso a pena de morte. 250
Se a legislação penal considera os índios como inimputáveis e a legislação
especial considera que depende do seu grau de integração para que a sua pena seja
atenuada, eis que juízes e tribunais tentam fixar a competência da justiça estadual para
julgar os crimes dos índios já integrados (é nessa linha a Súmula 140 do STJ 251 , cuja
validade é muitíssimo questionada por muitos outros operadores do direito252 ), fazendo
uma interpretação restritiva da Constituição Federal – e ainda reproduzido o conceito
errado de integração, entendendo-se que não são mais índios aqueles que falam
português, utilizam celular, têm título de eleitor, compreendem a lei. Essa possibilidade
de alterar a competência determinada pela própria Constituição é muito perigosa, pois
em muitos casos em que no fundo se discutem lutas por terras indígenas e crimes
decorrentes dessas lutas, ou seja, disputa sobre direitos indígenas; por interesses muitas
vezes específicos de elites locais as decisões tentam depreciar os indígenas e dizer que
no fundo não se tratam de indígenas.
Demonstra-se, com as decisões monocráticas e acórdãos abaixo elencados –
também da esfera criminal – como o conceito de “integração” ainda é utilizado de forma
249
HUNGRIA, p. 337 apud MARÉS DE SOUZA FILHO, p. 111, grifado.
BRASIL, Estatuto do Índio, grifado.
251
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Súmula 140. Disponível em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?processo=140&&b=SUMU&p=true&t=&l=10&i=1>.
252
Veja decisão do próprio STJ, disponível em: <http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/destaques-do-site/decisao-stjcabe-a-justica-federal-julgar-os-crimes-que-envolvam-direitos-indigenas>.
250
90
equivocada, com ajuda do etnocentrismo dos julgadores e de sua falta de conhecimento
antropológico e de conhecimento mais específico sobre direitos indígenas. 253 254
Para começar, uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª. Região que
confunde a tutela com a capacidade processual de todos os índios e de suas
comunidades:
EMENTA: CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL. DANO
MORAL. ATO PRATICADO POR COMUNIDADE INDÍGENA.
ILEGIMITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL E DA FUNAI.
Inviável atribuir à Administração Federal responsabilidade pelas
consequências da agressão praticada por índios no local em que se
realizavam os festejos natalinos da Comunidade de Linha Cachoeirinha, na
madrugada de 26-12-2006. A condição de tutelado atribuída ao indígena
se restringe aos índios e as suas comunidades ainda não integrados à
comunhão nacional (art. 7º, Lei nº 6001/1973), sendo os demais “partes
legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e
interesses”(Constituição Federal, art.232). Atualmente, o que diferencia
a comunidade indígena do restante da nação são as suas tradições, usos e
costumes, estando eles, no mais, integrados. Ilegitimidade passiva da
União Federal e da FUNAI para responder por danos morais reconhecida, eis
que o ato passível de indenização não foi praticado por agentes públicos.
Sucumbência mantida, fixada na esteira dos precedentes da Turma.
Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de
decidir. Apelação improvida. 255
Integrados ou não, os indígenas e suas comunidades têm capacidade
processual, porque assim diz a Constituição Federal em seu art. 232: que todos são
partes legítimas para ingressar em juízo. Que interpretação forçada! A tutela nada tem a
ver com a capacidade processual dos indígenas, sua proteção permanece, e a incidência
do Estatuto do Índio, mesmo que a Constituição tenha lhes reconhecido esse direito de
ingressar em juízo pela sua coletividade.
Esta próxima decisão, do Superior Tribunal de Justiça, serve de base para
várias decisões do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como pudemos ver na
pesquisa. Nela, a relatora confunde capacidade civil com integração e tutela, porque
afirma que indígena em pleno gozo de seus direitos civis – possuindo inclusive título de
253
Importante reforçar que não se está, aqui, fazendo defesa de índios que cometem crimes ou mesmo
querendo trazer à tona qualquer parcialidade a favor desses, mas de como eles são julgados a partir dos
conceitos já apontados – e de como essa confusão de conceitos pode, no fim das contas, prejudicar a parte
indígena em julgamentos no geral (não nestes especificamente).
254
Também quer-se ressaltar que existem diversas decisões contrárias a essas, de juízes e juízas que
compreendem os conceitos apontados, mas a idéia aqui é atacar as decisões que demonstram uma visão
mais leiga do assunto.
255
TRF4, AC 2007.71.04.006854-6, Terceira Turma, Relatora Silvia Maria Gonçalves Goraieb, d.
07/01/2010.
91
eleitor – deve ser considerado integrado e não pode ser julgado conforme o Estatuto do
Índio:
EMENTA: PENAL – HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL
SEGUIDA DE MORTE – PACIENTE QUE É ÍNDIO JÁ INTEGRADO À
SOCIEDADE – POSSUI TÍTULO DE ELEITOR – INAPLICABILIDADE
DO ESTATUTO DO ÍNDIO – IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO
DA PENA NO REGIME DE SEMILIBERDADE – ANÁLISE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM QUE FOI ACENTUADA A
CENSURABILIDADE DA CONDUTA – REGIME INICIALMENTE
FECHADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – ORDEM DENEGADA.
1. O Estatuto do Índio só é aplicável ao indígena que ainda não se
encontra integrado à comunhão e cultura nacional.
2. O indígena que está em pleno gozo de seus direitos civis, inclusive
possuindo título de eleitor, está devidamente integrado à sociedade
brasileira, logo, está sujeito às mesmas leis que são impostas aos demais
cidadãos nascidos no Brasil.
3. O regime de semiliberdade não é aplicável ao indígena integrado à cultura
brasileira.
4. O estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena deve
observar não só o quantitativo da pena, porém a análise de todas as
circunstâncias judiciais, considerada, ainda, eventual reincidência.
5. Se foi feito contra a conduta do réu rigorosa censurabilidade, justificado
está o regime inicialmente fechado, necessário para reprovação do crime e
ressocialização do apenado.
6. Ordem denegada. 256
No acórdão seguinte, o relator afirma que é entendimento do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina que é de sua competência o julgamento de crimes de índios
integrados. Para serem considerados integrados, diz o relator, basta que seja eleitor e
cadastrado na Receita Federal, “portanto, capaz de entender e discernir as relações e
valores do ‘mundo dito civilizado’”. Ou seja, quer dizer que quando o indígena entende
os valores do tal mundo civilizado, seja lá o que por mundo civilizado entenda o relator,
ele deixa de ser indígena? Ainda por cima, tenta o relator fundamentar a competência da
Justiça Estadual no art. 109, XI, que fala expressamente que disputa sobre direitos
indígenas devem ser julgadas por juízes federais. Neste caso, vale dizer que o crime foi
de um índio contra outro índio:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO COMETIDO POR INDÍGENA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 140 DO STJ. INIMPUTABILIDADE
PENAL DO ACUSADO TENDO EM VISTA SUA QUALIDADE DE
ÍNDIO. HIPÓTESE AFASTADA. INDIVÍDUO PLENAMENTE
INTEGRADO
À
SOCIEDADE.
PRELIMINARESREJEITADAS.
256
STJ, HC 88853/MS, Rel. Ministra. JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2007, DJ 11/02/2008, p. 1.
92
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE SE
FUNDOU NO AUTO DE EXAME CADAVÉRICO E NAS PALAVRAS
DO ACUSADO E DAS TESTEMUNHAS. VERSÃO DEFENSIVA
ISOLADA. JURADOS QUE ADOTARAM UMA DAS VERSÕES
EXISTENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DAS DECISÕES DO JÚRI.
CUMPRIMENTO DA PENA EM PENITENCIÁRIA. POSSIBILIDADE.
APELO DESPROVIDO.
É entendimento assente neste Tribunal que a Justiça Estadual é
competente para o julgamento dos crimes cometidos por índios
plenamente integrados à sociedade, como todos os que habitam as reservas
indígenas no Estado de Santa Catarina. Inteligência, aliás, do art. 109, XI
[que diz o contrário!!!!], da CF/88, conforme a Súmula 140 do STJ.
Incabível a alegação de inimputabilidade penal do agente só pela sua
condição de índio, mormente quando comprovado nos autos estar
plenamente integrado à sociedade, como eleitor e contribuinte
cadastrado na Receita Federal, portanto, capaz de entender e discernir
as relações e valores do “mundo dito civilizado”, incluindo, por evidente, a
antijuridicidade do crime de homicídio. Desnecessária, pois, a realização de
exame de insanidade mental pelo “duplo critério bio-psicológico”, se não há
nos autos qualquer suspeita de que o réu apresente qualquer anomalia de
interesse psiquiátrico-forense.
Ante o princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do
Júri, a decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada para
ensejar novo julgamento quando for arbitrária e se afastar por completo da lei
ou das provas contidas nos autos, o que não ocorreu no caso.
O art. 56, parágrafo único, da Lei n. 6.001/73 não impede que o índio
integrado à sociedade, quando condenado pela prática de crime, cumpra a
reprimenda no estabelecimento penal designado, embora recomende que o
faça no lugar mais próximo de sua reserva indígena, na medida do
possível. 257
Do corpo deste acórdão, o relator tenta basear a sua decisão com base na
“integração” do índio, ou seja, quer dizer que o denunciado e a vítima não podem ser
considerados índios, assim como a sua tribo, porque comercializam produtos, têm
acesso a meios de comunicação e participam da vida política e social, havendo inclusive
pessoas da tribo presas:
Cabe ressaltar que o Magistrado da Comarca de Abelardo Luz enfatizou à fl.
134 que os índios da tribo a que o apelante pertence são integrados à
sociedade e comercializam produtos; têm acesso aos meios de
comunicação e participam da vida política e social, havendo, inclusive,
daquela mesma tribo, alguns índios presos por fatos semelhantes.
Importante ressaltar, para a próxima decisão, que o crime foi cometido dentro
da aldeia contra pessoas vindas de fora dela:
257
TJSC, Apelação Criminal n. 2002.026621-9, de Abelardo Luz, Relator: Des. Jaime Ramos. d.
11/03/2003.
93
EMENTA: Pronúncia. Homicídio qualificado tentado praticado por silvícola.
Alegação de incompetência da justiça estadual. Demonstração, nos autos, de
que o réu é pessoa aculturada, com curso primário, e exerce profissão de
motorista. Súmula nº 140, do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar
afastada. Recurso improvido.
“Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o
indígena figure como autor ou vítima” (Súmula nº 140 do STJ). A
Constituição Federal, ao prever a competência da Justiça Federal para
processar e julgar processos em que figurem indígenas, diz respeito, tãosomente, à disputa sobre os direitos indígenas, não abrangendo, nem
tacitamente, a esfera penal, mormente quando o réu, apesar de registrado
como descendente indígena, é pessoa totalmente adaptada à sociedade,
com profissão definida e primeiro grau de escolaridade. 258
E do corpo do acórdão, para tentar justificar a integração do índio, o juiz
aponta que: “[...] há até indicação de que o acusado tinha inclinações políticas”, como se
indígena não pudesse envolver-se com a política sem deixar de ser índio. Como ficam
as lideranças indígenas de todo o país, então?
E continua o juiz, com uma fundamentação agora errada quanto ao artigo 9º. do
Estatuto do Índio:
[...]Quanto à alegada inobservância aos preceitos da Lei nº 6.001/73, o
Estatuto do Índio, melhor sorte não socorre ao recorrente, pois totalmente
integrado à sociedade, nos termos de seu art. 4º, inciso III, e investido de
plena capacidade civil (art. 9º) [este é o art. da emancipação, que só se dá
quando o índio requer em juízo, ou seja, alusão completamente errada
do juiz].
Essa confusão conceitual pode ser muito perigosa para os povos indígenas, pois
pode ser utilizada para desmerecer uma comunidade indígena, afirmando que ela está
“integrada” (ou seja, erroneamente acreditando que estar integrado é estar aculturado),
mesmo que essa afirmação seja feita a partir dos olhos etnocêntricos de alguns
julgadores. Especialmente, quanto às terras indígenas, essa confusão conceitual pode ser
utilizada para garantir o direito à propriedade de uns em detrimento do direito indígena
de outros.
A procuradora-geral da República interina, Deborah Duprat, traz decisões de
ações possessórias que lhe causam perplexidade, baseadas no direito de propriedade
mesmo havendo prova de serem terras indígenas. Uma delas é o Mandado de Segurança
25.463 259 , no qual o Supremo Tribunal Federal à época concedeu a medida em relação à
258
TJSC, Recurso Criminal n. 2003.006604-7, de Ibirama, Relator: Maurílio Moreira Leite, Segunda
Câmara Criminal, Data: 03/06/2003.
259
A decisão pode ser acessada aqui:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28marangatu%29%20NAO%2
0S.PRES.&base=baseMonocraticas>.
94
área indígena Ñande Ru Marangatu, dos Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul, “cuja
demarcação fora homologada pelo Decreto s/n de 28 de março de 2005”. Ela afirma que
“o fundamento da decisão foi a existência de uma ação judicial, anterior ao decreto
presidencial, onde se discute o domínio das terras e a nulidade do processo
administrativo”. Mesmo que não houvesse “na ação em curso na justiça federal, decisão
liminar que impedisse o regular desenvolvimento do procedimento demarcatório, tanto
que esse chegou ao seu termo”. 260 Para, ela, nessa decisão, há certa dose de preconceito
e discriminação.
Duprat menciona a Ação Cível Originária 312 261 , que tramita desde 1983 no
STF, “em que se pretende a nulidade dos títulos incidentes sobre o território tradicional
dos Pataxó Hã-hã-hãe, do sul da Bahia”. A procuradora lamenta que, por todo esse
longo período de tempo, “os índios vêm sendo impedidos de ocupar integralmente o seu
território, sob o pretexto, recorrentemente invocado por juízes e tribunais, de que o
Supremo ainda não definiu os exatos limites de suas terras”. Ela ainda diz que essa
questão “sequer era objeto da ação”.
Ela aponta outras ações, entre elas a de Raposa Serra do Sol, sobre a qual
falamos no Capítulo 1. A procuradora-geral ressalta que não só os índios tiveram que
esperar por mais de vinte anos o decreto de homologação do presidente, o STF afirmou
sua competência para conhecer de ação popular contra a portaria declaratória da
demarcação e demais ações correlatas, e a justiça federal em Roraima continuava a
conceder medidas liminares, em ações possessórias, a favor de não-índios. Ou seja, há
também confusão sobre as competências para julgar originariamente determinadas
ações relativas aos direitos indígenas.
Duprat compreende a aflição dos indígenas:
Todas essas decisões judiciais estão inspiradas, de uma forma ou de outra, no
mito da propriedade privada, reputado direito fundamental, tal qual o é o
direito à identidade. Ambos são ponderados como se princípios fossem, e a
prevalência de um ou outro fica a depender das peculiaridades do caso sob
exame.
[...] Esse quadro de indefinições, de decisões contraditórias no âmbito de um
mesmo tribunal, às vezes de um mesmo julgador, gera, nesses povos,
sentimento de discriminação perfeitamente compreensível. Pior ainda,
260
DUPRAT, Deborah. Decisões que causam perplexidade. Disponível em:
<http://pib.socioambiental.org/pt/c/direitos/o-papel-do-judiciario/decisoes-que-causam-perplexidade>.
261
A decisão pode ser acessada aqui:
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1454490 >.
95
subtrai-lhes a eleição do seu próprio destino: estão condenados a viver num
tempo orientado pelos outros. 262
Diante de tudo exposto, fica clara a falta de interesse e de compreensão de
doutrinadores e de julgadores do cenário jurídico brasileiro sobre os direitos indígenas,
o que faz com que esses povos fiquem em grande vulnerabilidade.
262
DUPRAT, Id., Ibd.
96
4 UMA OUTRA VISÃO SOBRE OS DIREITOS INDÍGENAS
4.1 O pluralismo jurídico, as reivindicações dos povos indígenas para a lei e o
direito comunitário indígena
Neste capítulo vamos demonstrar que uma outra visão para os direitos dos
povos indígenas brasileiros deve levar em conta o pluralismo jurídico, tanto para
legitimá-los como os atores sociais que devem construir seu direito positivado, quanto
para valorizar, respeitar e permitir oficialmente o direito comunitário, que está em
permanente construção dentro de suas terras.
A construção de uma legislação infraconstitucional, especialmente de um novo
estatuto, que satisfaça todos os mais de duzentos povos indígenas do Brasil não é
impossível. Eles estão cada vez mais articulados em comissões estaduais e nacionais e
podem, sim, ser efetivamente consultados. Acreditamos que se esses povos não forem
ouvidos, mais uma vez será desenvolvida uma legislação especial que não atende suas
necessidades, virando novamente um instrumento de opressão.
Até hoje, as leis apresentaram as necessidades dos indígenas ou as
necessidades da elite da sociedade que os envolveu? É fácil saber a resposta. O direito
indígena que se consagrou até a Constituição Federal de 1988, inclusive com ela, é o
direito que parte do Estado – e só dele.
Além disso, é importante perceber que o artigo 231 da Constituição diz: “São
reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e
os direitos originários sobre as terras”. Ou seja, escolheu-se não reconhecer
expressamente os direitos dos índios, não se quis admitir que os povos indígenas têm
seu próprio direito. Poderia ter-se colocado: “são reconhecidos aos índios seus direitos,
sua organização social [...]”. Ao mesmo tempo, o artigo 57 do Estatuto do Índio permite
que seja: “tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as instituições
próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não
revistam caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte” 263 .
Vemos que o “caráter cruel ou infamante?” é o que o não-indígena considera cruel ou
infamante. Ou seja, o direito indígena comunitário é permitido desde que não contrarie
o que os não-indígenas consideram moralmente correto.
263
BRASIL, Estatuto do Índio. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L6001.htm>.
97
Os povos indígenas sempre tiveram seu próprio direito, mas ao mesmo tempo
tinham uma sociedade que os envolvia que legislava sobre eles. Essas leis da sociedade
envolvente raramente reconheciam as necessidades dos indígenas, que nunca cessaram
de lutar por melhores condições e um direito positivo que os beneficiasse. O direito de
dentro da aldeia funcionava na medida em que se baseava principalmente em suas
necessidades, mas o direito de fora da aldeia espelhava as necessidades dos nãoindígenas, especialmente dos donos do poder.
A estrutura jurídica imposta no nosso país tem origens muito antigas.
Consagrou-se com a desagregação do feudalismo até o século XVI, a constituição da
burguesia a partir de então e a ascensão da sua elite ao poder, com a industrialização no
século XVIII, quando os burgueses utilizaram o liberalismo com o qual outrora
derrubaram o feudalismo aristocrático para aplicar, na prática, somente os aspectos da
teoria liberal que lhes interessava. O liberalismo burguês foi (e é) ao mesmo tempo
revolucionário e conservador, enquanto no século XIX luta contra a monarquia
absoluta, e no século XX contra ditaduras e regimes totalitários, em ambos os
momentos é contra as autoridades populares, a democracia e o socialismo, ou seja,
contra as reivindicações populares. 264
Alguns traços essenciais do liberalismo e, consequentemente, do capitalismo
são livre iniciativa empresarial, propriedade privada, economia de mercado (núcleo
econômico); Estado de Direito, soberania popular, supremacia constitucional, separação
dos poderes, representação política, direitos civis e políticos (núcleo político-jurídico); e
liberdade pessoal, tolerância, crença e otimismo na vida, individualismo (núcleo éticofilosófico). A burguesia precisava de “forte autoridade central que protegesse seus bens,
favorecesse seu progresso material e resguardasse sua sobrevivência enquanto classe
dominante”. Wolkmer cita Karl Marx e Friedrich Engels para explicar que a burguesia:
[...] suprime cada vez mais a dispersão dos meios de produção, da
propriedade e da população. Aglomerou as populações, centralizou os meios
de produção, da propriedade e da população. A conseqüência necessária
dessas transformações foi a centralização política. Províncias
independentes, apenas ligadas por débeis laços federativos, possuindo
interesses, leis, governos e tarifas aduaneiras diferentes, foram reunidas
em uma só nação, um só interesse nacional de classe, uma só barreira
alfandegária. 265
264
WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo Jurídico: Fundamentos de uma nova cultura no Direito. São
Paulo: Ed. Alfa Omega, 2001, pp. 37-39.
265
WOLKMER, 2001, p. 40, grifado.
98
Para a burguesia se manter e configurar o Estado moderno ocidental, ela
precisou criar uma organização estatal revestida pelo monopólio da força soberana
(coação física legítima), da centralização, da secularização – com a manifestação de um
direito laicizado – e da burocracia administrativa. Com a expansão do capitalismo,
formou-se, assim, o direito estatal, aquele que parte somente do Estado – “legislado
diretamente por um poder unitário e soberano”. 266
A concepção de que o Estado moderno deve ter o monopólio exclusivo da
produção das normas jurídicas, ou seja, de o Estado ser o único agente legitimado capaz
de criar legalidade para enquadrar as formas de relações sociais corresponde à doutrina
do monismo. Wolkmer destaca que: “A validade dessas normas se dá não pela eficácia e
aceitação espontâneas da comunidade de indivíduos, mas por serem produzidas em
conformidade com os mecanismos processuais oficias”. Ele explica, ainda, que a
burguesia utiliza um discurso de imparcialidade das leis para se beneficiar:
Naturalmente, o moderno Direito Capitalista, enquanto produção normativa
de uma estrutura política unitária, tende a ocultar o comprometimento e os
interesses econômicos da burguesia enriquecida, através de suas
características de generalização, abstração e impessoalidade.
[...] Ao estabelecer uma norma igual e um igual tratamento para uns e
outros, o Direito Positivo Capitalista, em nome da igualdade abstrata de
todos os homens, consagra na realidade as desigualdades concretas. 267
Wolkmer divide o monismo jurídico em quatro fases. Na primeira fase, seu
surgimento se dá junto com o Estado absolutista, o Capitalismo mercantil, o
fortalecimento do poder aristocrático e o declínio da Igreja e do corporativismo
medieval, a partir do século XVI. Prevalece a teoria de Thomas Hobbes, considerado
um dos primeiros que reduziu o direito ao direito positivo. Desde a Revolução Francesa
até as principais codificações do século XIX, nesse contexto histórico, se dá a segunda
fase, quando o monismo se solidifica, deixando de ser um reflexo da vontade exclusiva
dos soberanos absolutistas, para ser o “produto da rearticulação das novas condições
advindas do Capitalismo concorrencial, da crescente produção industrial, da ascensão
social da classe burguesa enriquecida e do liberalismo econômico”, formando-se, assim,
o discurso de que o direito seria expressão do Estado enquanto vontade da ação
soberana. O pensamento jurídico é fortemente influenciado por Rudolf von Jhering e se
volta para o pleno domínio da dogmática positivista. Para Jhering, o direito é um
266
267
WOLKMER, 2001, pp. 43-45.
WOLKMER, 2001, pp. 48-49, citando Jesus Antonio Della Torre Rangel, grifado.
99
sistema de normas imperativas caracterizadas pela coação cujo soberano único é o
Estado, ou seja, fonte única do direito. O direito estatal se iguala ao direito positivo –
para o qual somente o direito positivo seria verdadeiramente direito. Até que, no século
XIX, com a fase monopolista da produção capitalista, de 1920 a 1960, o monismo
atinge uma “legalidade dogmática com rígidas pretensões de cientificidade”, o que
corresponderia à terceira fase. Aqui prevalece a teoria de Hans Kelsen, que descarta o
dualismo Estado-direito, fundindo-os de modo que o direito é o Estado e o Estado é o
direito positivo, ou seja, o Estado só existiria enquanto Estado de Direito. Kelsen é o
expoente máximo do formalismo jurídico no Ocidente. A última fase do monismo, para
Wolkmer, inicia-se a partir de 1960, com as novas necessidades de globalização do
capital monopolista. Nesta fase, para o autor, chega-se ao esgotamento do paradigma de
legalidade que sustentou a modernidade burguês-capitalista por mais de três séculos. 268
Como afirmamos no Capítulo 1, para Wolkmer, a teoria jurídica convencional,
baseada na dogmática jurídica, é pouco eficaz, porque surgiram, ao longo do tempo,
novos direitos alheios à legislação, que não são resultado de uma evolução histórica,
linear e progressiva, em gerações cumulativas – mas um processo permanente de
reivindicação dos atores sociais que não são atendidos. No fundo, não são novos
direitos, porque sempre existiram, apenas não foram reconhecidos. 269
Wolkmer explica como os direitos foram positivados ao longo dos séculos:
com a possibilidade que certos atores sociais tiveram de hegemonizar suas necessidades.
A tradição linear de conquista de direitos realça o valor atribuído às necessidades
essenciais de cada época em um determinado lugar, como, por exemplo, a “priorização
de ‘necessidades’ por liberdade individual, na Europa Ocidental do século XVIII, de
‘necessidades’ por participação política no século XIX, e por maior igualdade
econômica e qualidade de vida no século XX”. O que se considera nessa tradição linear
do surgimento de novos direitos é a “afirmação de necessidades históricas na
relatividade e na pluralidade dos agentes sociais que hegemonizam uma dada formação
societária”. Ou seja, a ordenação clássica das gerações de direitos leva em consideração
as necessidades que as elites conseguiram impor, em cada “fase” histórica. Por isso,
Wolkmer diz que o surgimento de “novos” direitos são exigências contínuas das várias
comunidades, ou seja, nem sempre são inteiramente “novos”, “por vezes, o ‘novo’ é o
268
WOLKMER, 2001, pp. 50-59.
WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma teoria geral dos “novos” direitos.
In: ______; MORATO LEITE, José Rubens (orgs.). Os “novos” direitos no Brasil: natureza e
perspectivas: uma visão básica das novas conflituosidades jurídicas. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 17.
269
100
modo de obter direitos que não passam mais pelas vias tradicionais – legislativa e
judicial –, mas provêm de um processo de lutas específicas e conquistas das identidades
coletivas plurais” 270 .
Pode-se entender, então, que as necessidades de muitos dos hoje chamados
“novos direitos” já existia há muito tempo e de alguma forma foi defendida por alguns
grupos sociais; assim como há outras necessidades que ainda não se transformaram em
direitos na legislação, mas que são direitos mesmo assim. Apenas não tiveram força
para se impor aos grupos hegemônicos, e por isso não entrariam na divisão clássica das
gerações de direitos até a terceira “geração”. Mas já estavam lá, por exemplo, as
exigências dos vários povos indígenas de terem seus direitos respeitados, suas
necessidades supridas, por exemplo, desde muito antes de surgirem os supostos direitos
de primeira “geração”, com a Revolução Norte-Americana e Francesa.
Os povos indígenas também sempre tiveram seus próprios direitos, mesmo que
desde a invasão esses direitos não tenham sido respeitados. Wolkmer ensina que ainda
que se admita a hegemonia do projeto jurídico unitário, particularmente do direito
estatal, não se pode deixar de reconhecer a existência do pluralismo jurídico e de uma
tradição bem mais antiga de formulações jurídicas comunitárias aqui no Brasil.
O paradigma monista nunca satisfez às sociedades como um todo, apenas a
partes delas, com o propósito não declarado de beneficiar a elite burguesa. Isso é o que
o enfraquece cada vez mais, a impossibilidade de responder eficazmente a demandas e
conflitos cada vez mais complexos. Apesar de ainda não satisfazer à sociedade como
um todo, é um paradigma que se mantém muito poderoso:
Isso significa que, embora a dogmática jurídica estatal se revele,
teoricamente, resguardada pelo invólucro da cientificidade, competência,
certeza e segurança, na prática intensifica-se a gradual perda de sua
funcionalidade e de sua eficácia. É por essa razão que se coloca a inevitável
questão da crise desse modelo de legalidade. [...] Entretanto, a despeito do
declínio dessa concepção jurídica no mundo, a variante estatal
normativista resiste a qualquer tentativa de perder sua hegemonia,
persistindo, dogmaticamente, na rígida estrutura lógico-formal de
múltiplas formas institucionalizadas. 271
Esse paradigma jurídico é o modelo que domina oficialmente no nosso país.
Como um meio de manutenção do poder capitalista, o monismo e seu positivismo
jurídico consegue, também no Brasil, beneficiar uma pequena elite. A lei desconsidera
270
271
WOLKMER, 2003,p. 18-19.
WOLKMER, 2001, p. 59, grifado.
101
as diferenças e desigualdades sociais e o Judiciário é direcionado e podado por esse
positivismo.
Na verdade, o que acontece aqui é o capitalismo periférico, “que estabelece a
dependência, submissão e controle das estruturas sócio-econômicas e político culturais
locais e/ou nacionais aos interesses das transnacionais e das economias dos centroshegemônicos”. Para entender as desigualdades do Brasil é preciso, assim, conjugar
esses fatores internos e externos, considerando a dominação mundial e também de
agentes e grupos do Estado. 272
Desde a invasão européia, o direito estatal foi “segregador e discricionário
com relação à população nativa” e esteve ligado à “hegemonia das oligarquias
agroexportadoras ligadas aos interesses externos e adeptas do individualismo liberal, do
elitismo colonizador e da legalidade lógico-formal”. Explica Wolkmer que as
necessidades da elite sempre foram impostas aos povos nativos, desde a colonização,
que ignorou seu direito nativo para impor o direito da metrópole:
Constata-se que em momentos distintos de sua evolução – Colônia, Império e
República – a cultura jurídica nacional foi sempre marcada pela ampla
supremacia do oficialismo estatal sobre as diversas formas de
pluralidade de fontes normativas que já existiam, até mesmo antes do
longo processo de colonização e da incorporação do Direito da
Metrópole.
[...] Desde o início da colonização, além da marginalização e do descaso
pelas práticas costumeiras de um Direito nativo e informal, uma ordem
normativa gradativamente implementa as condições e as necessidades
essenciais do projeto colonizador dominante. 273
Como constatamos no Capítulo 2, de fato as formas de direito que existiam
com os povos nativos foram completamente desconsideradas, inclusive a maior parte
dos europeus considerava que os nativos não tinham nem fé, nem rei, nem lei. Wolkmer
destaca, mesmo assim, que os traços reais de uma tradição de pluralismo jurídico
sempre puderam ser encontradas nas comunidades de índios, mesmo nas reduções
indígenas no Brasil Colonial, constituindo-se nas formas mais remotas de um “direito
insurgente, eficaz, não-estatal”. Ele afirma, enfim, que:
[...] na evolução do ordenamento jurídico nacional coexistiu, desde as
origens de nossa colonização, um dualismo normativo corporificado, de
um lado, pelo Direito do Estado e pelas leis oficiais, produção das elites e
dos setores sociais dominantes, e, de outro, pelo Direito Comunitário não272
273
WOLKMER, 2001, pp. 79-82.
WOLKMER, 2001, p. 84, grifado.
102
estatal, obstaculizado pelo monopólio do poder oficial, mas gerado e
utilizado por grandes parcelas da população, por setores discriminados e
excluídos da vida política. 274
Wolkmer coloca que a passagem de necessidade para reivindicação “é
mediada pela afirmação de um direito”. Ou seja, a consciência das necessidades acabam
levando a reivindicações por direitos 275 , do que podemos entender que direitos devem
ter origem em reais necessidades – sendo o direito muito mais do que leis e produzido
pela própria sociedade. Essas necessidades não devem ser entendidas somente pelo seu
aspecto economicista, dizem respeito também a necessidades culturais, religiosas,
políticas, filosóficas, biológicas. Tais reivindicações não deixam de ser direitos por não
estarem na legislação oficial ou, se estiverem, por não serem efetivamente aplicados. 276
As coletividades estão, portanto, sempre em busca desses “novos” direitos
como, da “afirmação contínua e a materialização de necessidades [...] que emergem
informalmente em toda e qualquer ação social, [...] não estando necessariamente
previstas ou contidas na legislação estatal positiva”. Fazem parte desses “novos”
direitos o “direito das minorias e das diferenças étnicas”, no qual se incluem os direitos
do índio, e o “direito a satisfazer as necessidades culturais”, onde se encontra o direito à
sua diferença cultural. 277 Esses direitos sempre existiram, porque sempre existiu a
necessidade de sua satisfação, e com eles a legislação falhou muitas vezes, vindo a
acertar de modo mais amplo somente com a Constituição de 1988 – que mesmo assim,
foi omissa com relação a muitos pontos e ainda não é completamente eficaz por falta de
legislação infraconstitucional e também por falta de interesse da sociedade nãoindígena.
Para alcançar uma nova ordem político-jurídica mais pluralista deve-se
considerar a autonomia de outros sujeitos coletivos para fazer o direito: “A
imprevisibilidade, a autenticidade e a autonomia que transgride e escapa do ‘instituído’
deve ser redimensionada num pluralismo comunitário-participativo, cuja fonte de direito
é o próprio homem projetado em suas ações coletivas”. 278 Por isso, Wolkmer propõe
primeiro mudar o paradigma que fundamenta a cultura política e jurídica, cujo principal
referencial teórico deve ser o pluralismo jurídico. 279
274
WOLKMER, 2001, pp. 89-90. grifado.
WOLKMER, 2001, pp. 91-92.
276
WOLKMER, 2001, pp. 158-159.
277
WOLKMER, 2001, pp. 166-167.
278
WOLKMER, 2001, pp. 167-168
279
WOLKMER, 2001, p. 171.
275
103
O marco teórico da nova cultura no direito, para Wolkmer, “está internalizado
no fenômeno prático-teórico do pluralismo jurídico comunitário participativo já
existente em nível subjacente”, que se revela em expressões informais ainda não
reconhecidas “pela cultura oficial instituída” e que é uma “resposta à ineficácia e ao
esgotamento da legalidade liberal-individualista e às formas inoperantes de jurisdição
oficial”. 280
É claro que o pluralismo jurídico já teve muitos significados e foi utilizado por
muitos movimentos e teorias, não cabe aqui fazer a sua revisão histórica, apenas atentar
ao fato de que a própria burguesia tentou parecer plural, mesmo construindo um sistema
que só a beneficiou. Aqui tratamos do pluralismo jurídico que realmente diminuiria as
desigualdades.
Wolkmer designa um significado de pluralismo jurídico na atualidade como:
“[...] a multiplicidade de práticas jurídicas existentes num mesmo espaço sócio-político,
interagidas por conflitos ou consensos, podendo ser ou não oficiais e tendo sua razão
de ser nas necessidades existenciais, materiais e culturais”. 281
A base teórica do pluralismo jurídico pode ser utilizada para defender que os
indígenas são os sujeitos coletivos mais legitimados para construir a nova legislação
infraconstitucional, porque os únicos capazes de dizer suas reais necessidades. Outro
ponto importante que o pluralismo jurídico possibilita é o de afirmação da existência de
direitos indígenas dentro das comunidades indígenas, ou seja, cada comunidade, cada
povo, tem seu próprio direito, que deve ser reconhecido pelo Estado brasileiro.
De fato, entre os objetivos do pluralismo jurídico um deles é de reconhecer
que o direito estatal é apenas uma das formas jurídicas que podem existir dentro de uma
sociedade. Outro objetivo é de reconhecer os “novos” atores sociais e a reivindicação de
“novos” direitos. 282
Para tanto, é preciso aceitar uma ética da alteridade que rompa com os
formalismos técnicos e as universalidades “revelando-se a expressão autêntica dos
valores culturais e das condições histórico-materiais do povo sofrido e injustiçado da
periferia latino-americana e brasileira”. Wolkmer ensina que a ética da alteridade não se
prende a regras gerais prontas para serem aplicadas, mas “traduz concepções valorativas
que emergem das próprias lutas, conflitos, interesses e necessidades de sujeitos
280
WOLKMER, 2001, pp. 335-336.
WOLKMER, 2001, p. 219, grifado.
282
WOLKMER, 2001, pp. 222-223.
281
104
individuais e coletivos insurgentes em permanente afirmação”. O reconhecimento dessa
alteridade tem um cunho emancipatório para os povos oprimidos, podendo materializar
seus intentos e transformar as nações dependentes do Capitalismo periférico que
envolve esses povos. 283
Refletir a autonomia desses atores dos novos direitos, onde se inserem os
povos indígenas, implica em aceitar essa alteridade ética:
A inserção da “autonomia”, no nível da juridicidade, defendida pelos
movimentos sociais, permite instituir uma noção de Lei, Direito e Justiça não
mais identificada com o imaginário de “regulamentação estatal”, consagrado
nos códigos positivos, nos documentos legais escritos e na legislação
dogmática, mas numa práxis concreta associada a vários e diversos centros de
produção normativa de natureza espontânea, dinâmica, flexível e consciente.
A “autonomia” não só advém como resposta às imposições repressoras
de uma ordem jurídica injusta, comprometida com o poder e com os
privilégios, como, igualmente, condiz com a eficácia de outra ordenação
instituída pela auto-regulação societária, uma ordenação autônoma, apta
a redefinir democraticamente as regras cotidianas e institucionais de
convivência. 284
Uma boa legislação só será construída com maior autonomia dos povos
indígenas para dizerem o que querem para ela e também de resolverem seus conflitos
segundo suas normas dentro das aldeias.
Nesse sentido, Antonio Armando Ulian do Lago Albuquerque bem discorre
sobre a autodeterminação dos povos indígenas:
Os povos indígenas tornar-se-ão livres se puderem planejar a sua própria
existência de acordo com sua vontade. Nestes planos, incluem-se não
somente a manutenção de sua organização sócio-política, econômica e
cultural, mas a elaboração e reconhecimento de normas não opressoras no
âmbito estatal. Em outras palavras, normas possibilitadoras do pleno
desenvolvimento indígena em consonância com suas próprias visões de
mundo sobre “desenvolvimento” Propiciando aos povos indígenas que não
sejam impedidos de usufruir de seus recursos naturais através de normas; que
não os limitem a possuir uma educação de “branco” para “índio”; que não
induzam a uma cultura jurídica de exclusão social, ao contrário, que abram a
perspectiva para a construção de um pluralismo jurídico indigenista. 285
Vemos que, portanto, a lei nacional não reconhece nem respeita plenamente os
direitos indígenas comunitários; nem supre as necessidades dos povos indígenas
brasileiros.
283
WOLKMER, 2001, pp. 337-338.
WOLKMER, 2001, pp. 337-338.
285
ALBUQUERQUE, pp. 157-158.
284
105
Suas reivindicações são feitas, porém, com cada vez mais lutas e
manifestações. Neste ano, por exemplo, povos indígenas de todas as regiões já se
manifestaram contra o decreto presidencial de reestruturação da FUNAI, aprovado nos
últimos dias de 2009 para tentar evitar alarde 286 , que extingue vários centros
administrativos importantes e em bom funcionamento. A FUNAI passou a idéia, que a
grande mídia reproduziu, de que nada ia mudar com a reestruturação da FUNAI, seria
apenas uma mudança de nomenclatura. Mas a verdade é que muitos núcleos
administrativos dos quais muitas comunidades dependiam e funcionavam bem foram
extintos, como o de Curitiba (PR). Enquanto isso, um novo núcleo administrativo será
criado em Florianópolis (SC). Antes disso, as comunidades do litoral de Santa Catarina
se submetiam à regional de Curitiba. A reestruturação será melhor para essas
comunidades catarinenses que se submetiam à regional distante delas, mas e as
comunidades de Curitiba, que já estavam acostumadas com aquela administração, por
que deveriam ser prejudicadas? Desde essa aprovação, já houve muita manifestação dos
índios, ocupando sedes da FUNAI e exigindo reuniões com membros do Congresso
Nacional e com o Presidente Lula. 287 Muitas manifestações ainda acontecem, também,
para impedir a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu (PA), sobre
a qual falamos no Capítulo 1.
Os povos indígenas também fazem cada vez mais uso da internet para
reivindicar por melhores condições e direitos. Orivaldo Nunes Júnior, indigenista mais
conhecido como Nuno Nunes, relata que:
No Brasil temos várias organizações [indígenas] que utilizam a internet para
divulgar suas causas, por exemplo, a COIAB (Coordenação das Organizações
Indígenas da Amazônia Brasileira), que mantém seu sítio com as informações
da sua região e é uma das mais fortes organizações indígenas das Américas.
O CIR (Conselho Indígena de Roraima) também tem um sítio explicativo de
suas atividades, que foi fundamental no processo de demarcação da Terra
Indígena Raposa/Serra do Sol em final de 2008. 288
Ele conta também o caso da Terra Indígena Morro dos Cavalos, onde os
Guarani fizeram suas reivindicações sobre a sua demarcação na internet:
286
BRASIL, Decreto 7.065, de 28 de dezembro de 2009. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7056.htm>.
287
Mais desse conflito pode ser acompanhado no seguinte blog:
<http://www.merciogomes.blogspot.com/>.
288
NUNES JÚNIOR, Orivaldo. INTERNETNICIDADE: Caminhos dos uso de Novas Tecnologias de
Informação e Comunicação por Povos Indígenas. 2009. 111 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de
Programa de Pós-graduação em Educação, Ufsc, Florianópolis, 2009. p. 45.
106
De posse destes meios que estão à disposição de qualquer pessoa que acesse
seu sítio na internet, desde que saiba os caminhos, imaginemos o que poderia
fazer uma comunidade indígena que atravessava etapas do processo de
demarcação com dificuldades, mas que contava com uma sala de informática
conectada à rede na escola de sua aldeia. Foi neste momento que, na Escola
Indígena Itaty, em Morro dos Cavalos, surgiu o sítio
www.terraguarani.org.br (funcionando de 2005 a 2007).
Este sítio era elaborado durante as aulas de Comunicação e Informática
da turma de jovens da aldeia de Morro dos Cavalos. Ali experienciamos
a elaboração de páginas da web em softwares livres, alimentando-as com
as novidades da Campanha para Demarcação. Com o auxílio dos amigos
ativistas pró softwares livres, conseguimos um servidor gratuito para
armazenar o sítio, ligado à mídia independente. A utilização deste meio foi
farta, e também colocávamos no sítio www.midiaindependente.org as
notícias e novidades da Campanha. Também mantínhamos uma caixa de
e-mails que utilizávamos para divulgar as notícias aos parceiros pródemarcação. Esta experiência passou a ser um grande contribuinte para
a Demarcação da Terra Indígena Guarani de Morro dos Cavalos, que
veio a ocorrer em Abril de 2008, com a publicação da Portaria
Declaratória do Ministério da Justiça. 289
Nuno conta sua experiência de várias reuniões em que participou, onde pôde
conhecer a experiência de comunidades Guarani do Mato Grosso do Sul, que
mantinham rádio e jornal. Ele ressalta, também, que nas reuniões os indígenas sempre
levavam computadores e gravadores e máquinas fotográficas digitais para registrar
informações e posteriormente levar para suas comunidades.
O indigenista relembra que à época da constituinte os indígenas também
utilizavam tecnologias áudio-visuais para registrar as promessas de que suas
reivindicações seriam atendidas:
No mesmo exemplo, historicamente, temos os indígenas que utilizavam as
tecnologias áudio-visuais, em Brasília à época da Constituinte (anos 80), com
gravadores em mãos para registrar as promessas dos políticos (marca
registrada do Cacique Mário Juruna), mais tarde com filmadoras para
registrar também o momento e a face de quem falava, trazendo as notícias
para as comunidades e eternizando-as, não só em sua cultura, mas na cultura
nacional brasileira. 290
Especialmente depois da Constituição de 1988, os povos indígenas sentem-se
mais seguros para impor suas vozes, inclusive para se identificar como indígenas 291 . Os
caciques de Morro dos Cavalos e de Biguaçu ilustram bem esse sentimento com
289
NUNES JÚNIOR, pp. 45-46.
NUNES JÚNIOR, p. 50.
291
No Capítulo 1, trazemos dados do IBGE que comprovam um grande aumento na quantidade de
indígenas no último Censo. Atribui-se a essa aceleração no crescimento uma maior vontade de autodeclaração, além do crescimento vegetativo.
290
107
afirmações como: “se eu tenho direito, não tenho que ter medo” e “está tudo aqui, na
Constituição”. Ou seja, os “novos” direitos indígenas positivados na Constituição só dão
mais segurança aos “novos” sujeitos de direito, os indígenas, de exigir mais direitos, de
impor que suas necessidades sejam transformadas em direito, legitimadas e garantidas
pelo Estado.
Para Stephen Grant Baines, o crescimento muito rápido de organizações
indígenas tem desempenhado um papel fundamental na pressão para a concretização e
consolidação de direitos indígenas. Ele afirma que os novos direitos da Constituição
deixaram o diálogo entre índios e não-índios menos desigual, o que facilita mais ainda
novas reivindicações:
Após a consolidação do movimento indígena ao longo das décadas de 1970,
1980 e 1990, e com os novos direitos reconhecidos para os povos indígenas
na Constituição brasileira de 1988, abriu-se a possibilidade de haver relações
interétnicas menos assimétricas do que no passado. 292
Ele relembra que a própria Constituição de 1988 foi uma conquista dos povos
indígenas:
O crescimento do movimento indígena a partir da década de 1970, a
crescente pressão política por parte das lideranças indígenas a nível nacional
e internacional para assegurar seus direitos, e uma intensa mobilização dos
índios no processo constituinte junto com organizações de apoio, culminaram
em várias modificações na Constituição brasileira de 1988. Estas
modificações trouxeram potencial para mudar as relações entre os povos
indígenas e o Estado. 293
Não podemos esquecer, entretanto, que esse direito reconhecido é meramente o
direito estatal, que ainda é um direito hegemônico, como acima explicado. Por mais que
a cada nova lei, mesmo com mínimas inovações lhes favorecendo, os indígenas, e
também todas as pessoas que os apóiam, tentam interpretar a lei de modo a ampliar os
seus benefícios. Ou seja, mesmo que a lei diga pouco, parece que é feita uma união de
forças entre indígenas e seus apoiadores para interpretá-la como se fosse um novo
marco – a cada pequena alteração favorável, um novo marco. Mas a verdade é que
existe uma força contrária muito poderosa, que na própria legislação já colocou seus
interesses. A Constituição de 1988, considerada um marco – e realmente é um marco,
292
BAINES, Stephen Grant. Identidades indígenas e ativismo político no Brasil: depois da Constituição
de 1988. Série Antropologia, Universidade de Brasília, 2008. Disponível em:
<http://vsites.unb.br/ics/dan/Serie418empdf.pdf>, p. 7.
293
BAINES, Id., Ibd, pp. 8-9.
108
mesmo que tenha dito tão pouco, porque os povos indígenas tinham menos ainda –
deixa de reconhecer os direitos comunitários indígenas, a autonomia dos povos
indígenas, a plurinacionalidade do país; e, ainda por cima, coloca ressalvas de situações
em que a União poderá utilizar recursos que estão dentro das terras indígenas
(parágrafos do art. 231).
É justamente porque a legislação constitucional e infraconstitucional precisa
trazer muitos outros reconhecimentos aos povos indígenas brasileiros, que eles
continuarão reivindicando que suas necessidades virem lei estatal, “novos” direitos,
como diz Wolkmer. Ao mesmo tempo, eles mantêm sua própria forma de direito dentro
das aldeias, e aquele direito estatal protege este direito comunitário.
Se a lei do Estado reconhecesse a autonomia e os direitos comunitários
indígenas, esses povos ficariam ainda mais fortalecidos para lutar por “novos” direitos.
Por isso, também, a Constituição disse tão pouco.
Carlos Frederico Marés de Souza Filho afirma que era necessário admitir a
diversidade de sociedades dentro do Estado brasileiro:
Vejamos, os direitos humanos, enquanto garantias individuais de liberdade
contra a opressão, de vida, de dignidade e integridade pessoais reconhecidas
pelas Constituições, na medida em que estas ganham caráter normativo e
impositivo, são valores que podem ser realizados dentro do sistema jurídico
concebido pelo Estado, tornando-se assim uma universalidade.
Quando pensamos em sociedades inteiras que estão fora dos sistemas
jurídicos nacionais, que se regem por suas próprias leis, temos que
reconhecer que aquela universalidade criada pela Constituição impositiva é
parcial, porque não alcança toda a população, mas somente a que está
integrada, ainda que de forma relativa, ao sistema. 294
Não podemos esquecer o etnocentrismo que ainda guia os legisladores
brasileiros. Além de não quererem conferir tanta autonomia aos povos indígenas,
certamente acharam que estavam incluindo no art. 231 os seus direitos comunitários,
por fazerem referência à organização social. Mas quando vemos a Constituição
boliviana, que tanto destoa da nossa nesse assunto, percebemos o quanto de
etnocentrismo e de hegemonia de poder a nossa Constituição deixa transparecer.
A justiça comunitária dos povos indígenas bolivianos 295 é uma realidade
reconhecida pela Constituição Política da Bolívia: 296
294
MARÉS DE SOUZA FILHO, pp. 194-195.
Não é porque na Bolívia a maior parte da população seja indígena que não podemos utilizar seu
exemplo para os nossos povos indígenas. A idéia aqui é mostrar que a legislação brasileira acerca desse
tema é muito precária e deveria aprender com a boliviana.
295
109
CAPÍTULO CUARTO
JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA
Artículo 190.
I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus
funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades,
y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos
propios.
II. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida,
el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la
presente Constitución.
Artículo 191.
I. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo
particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo
indígena originario campesino.
II. La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes
ámbitos de vigencia personal, material y territorial:
1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo
indígena originario campesino, sea que actúen como actores o
demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados,
recurrentes o recurridos.
2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de
conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional.
3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se
realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo
indígena originario campesino.
Artículo 192.
I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la
jurisdicción indígena originaria campesina.
II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena
originario campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los
órganos competentes del Estado.
III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria
campesina. La Ley de Deslinde Jurisdiccional, determinará los mecanismos
de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria
campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y
todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas.
É verdade que esses direitos indígenas devem respeitar o direito à vida e
demais direitos constitucionais (art. 190, II), mas claramente vemos que a realidade
constitucional boliviana é muito melhor para os povos indígenas que a brasileira, desde
seu artigo primeiro, que diz:
Artículo 1.
Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural,
descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el
296
Um exemplo recente da aplicação da justiça comunitária boliviana aconteceu com o ex-ministro da
Educação Félix Patzi, que foi obrigado a fabricar tijolos por ter sido flagrado dirigindo bêbado.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft1102201009.htm>.
110
pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del
proceso integrador del país. 297
Em seu artigo 11, sobre o sistema de governo, o inciso II determina:
II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas
por la ley:
1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa
ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta
previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a
Ley.
2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto
universal, directo y secreto, conforme a Ley.
3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de
autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de
las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros,
conforme a Ley. 298
Sobre a representação política, o artigo 210 dispõe que:
Artículo 210.
I. La organización y funcionamiento de las organizaciones de las aciones y
pueblos indígena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los
partidos políticos deberán ser democráticos.
II. La elección interna de las dirigentes y los dirigentes y de las candidatas y
los candidatos de las agrupaciones ciudadanas y de los partidos políticos será
regulada y fiscalizada por el Órgano Electoral Plurinacional, que garantizará
la igual participación de hombres y mujeres.
III. Las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos podrán elegir a sus candidatas o candidatos de acuerdo con
sus normas propias de democracia comunitaria. 299
Além disso, a carta política boliviana reconhece a propriedade coletiva dos
povos indígenas sobre as terras que ocupam (art. 394, III), garante que protegerá e
promoverá a organização econômica comunitária dos povos indígenas (art. 307),
determina que a ratificação dos tratados internacionais deve respeitar os direitos dos
povos indígenas (art. 255, II, 4).
O capítulo sétimo da Constituição boliviana, que vai do art. 289 ao 296, trata
somente da autonomia indígena originária campesina e reconhece o modo de fazer
justiça de cada comunidade indígena. O art. 289 determina que:
297
BOLÍVIA, Constituição Política do Estado. Disponível em:
<http://www.vicepresidencia.gob.bo/Portals/0/documentos/NUEVA_CONSTITUCION_POLITICA_DE
L_ESTADO.pdf>.
298
BOLÍVIA, Constituição Política do Estado. Id., Ibd.
299
BOLÍVIA, Constituição Política do Estado. Id., Ibd.
111
Artículo 289.
La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno
como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos
indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura,
historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales
y económicas propias.
No artigo 290, II, é dito que o autogoverno dos indígenas se dará de acordo
com suas normas, instituições, procedimentos, e o artigo 292 determina que cada
autonomia indígena elabore seu Estatuto, de acordo com suas normas e procedimentos.
É verdade que esses artigos estabelecem que deve haver uma harmonia entre essa
autonomia indígena e a Constituição, mas já é muito mais autonomia que nossos povos
indígenas têm aqui no Brasil. É possível, inclusive que os municípios se convertam em
“autonomias indígenas”, mediante referendo (art. 294, II).
Talvez a dificuldade de admitir que os indígenas têm direitos comunitários
venha ainda da idéia etnocentrista de que seu direito não é tão racionalmente construído
quanto o direito positivo brasileiro. Como se a sua forma de regulamentar o mundo não
fosse tão válida quanto a nossa. Está na hora de superar esse etnocentrismo e reconhecer
a complexidade das culturas indígenas. Claude Lévi-Strauss tem uma passagem muito
interessante, na introdução de seu livro “História de Lince”, que exemplifica o que
queremos dizer. Nesse livro, Lévi-Strauss relata diversos mitos de povos indígenas
variados das Américas, e nessa passagem, especificamente, ele compara o pensamento
indígena com o pensamento racional:
Alguns podem achar que o modo de explicar o mundo dos indígenas, a partir
do mito, que é repetido sem muito se renovar há milênios, não é válido já que
existe o pensamento racional, o método e as técnicas científicas deveriam têlo suplantado. Lévi-Strauss mostra que o pensamento científico não está tão
distante assim do mítico, justamente porque ficou tão específico, que pode
ser apreendido somente pelos especialistas. O pensamento mítico volta a ser
o único intercessor entre os especialistas do conhecimento científico e os
não-especialistas. Ou seja, o pensamento racional e científico do Ocidente
acaba tendo como ponto final o mito: os conhecimentos positivos
transbordam de tal forma os poderes da imaginação que esta, incapaz de
compreender o mundo cuja existência lhe é revelada, tem como único recurso
voltar-se para o mito. 300
Ele explica, com alguma mordacidade, que é o próprio pensamento racional
que torna o pensamento mítico indígena atual:
300
LÉVI-STRAUSS, Claude. História de Lince. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 10.
112
Para o homem, volta a existir, portanto, um mundo sobrenatural. Os cálculos
e experiências dos físicos certamente demonstram sua realidade. Mas essas
experiências só adquirem sentido quando transcritas em linguagem
matemática. Aos olhos dos leigos (ou seja, de quase toda a humanidade), esse
mundo sobrenatural apresenta as mesmas propriedades que o dos mitos: tudo
acontece de um modo diferente do que no mundo comum e, freqüentemente,
ao inverso. Para o homem comum - todos nós - esse mundo permanece
inatingível, exceto pelo viés de velhos modos de pensar que o especialista
consente em restaurar para o nosso uso (e às vezes, infelizmente, para seu
próprio). Do modo mais inesperado, é o diálogo com a ciência que torna o
pensamento mítico novamente atual. 301
É preciso, no Brasil, superar a idéia de que a “sociedade brasileira” é melhor e
mais apta a dizer o direito do indígena do que ele mesmo ou que seu direito é tão
superior ao direito comunitário indígena que este não seja merecedor de ser chamado de
direito.
4.2 O direito indígena pelo indígena: um estudo de caso em duas aldeias Guarani
da Grande Florianópolis
4.2.1 Ocupação Guarani na Grande Florianópolis
Há três mil anos, os grupos Guarani, descendentes da família lingüística TupiGuarani, saíram da região amazônica e se espalharam por o que hoje é o sul do Brasil e
o delta do Rio da Prata (leste do Paraguai, nordeste da Argentina e Uruguai). São pelo
menos 2.900 sítios arqueológicos distribuídos por toda esta área, comprovando a sua
ocupação milenar. No Brasil, o território do atual estado de Paraná foi o primeiro a ser
ocupado pelas levas Guarani, enquanto o litoral catarinense foi conquistado tardiamente
(de 1.500 a 900 A.P. – antes do presente).302
No primeiro encontro entre europeus e índios Guarani, em 1504, quando o
francês Binot Palmier de Gonneville chega ao que hoje é conhecido como São
Francisco do Sul 303 , o povo Guarani somava dois milhões de habitantes 304 . Na Grande
Florianópolis, o primeiro contato aconteceu em 1515, quando a expedição do espanhol
301
LÉVI-STRAUSS, p. 12.
NOELLI, Francisco. Distribución geográfica de las evidencias arqueológicas guaraní. In: Revista de
Indias, LXIV, 230, Madrid, 2004, pp. 17-34.
303
PERRONE-MOISÉS, Leyla. Vinte Luas. Viagem de Paulmier de Gonneville ao Brasil: 1503-1505,
São Paulo: Companhia das Letras. 1996. apud QUEZADA, Sergio Eduardo Carrera. A terra de
Nhanderu: organização sociopolítica e processos de ocupação territorial dos Mbyá-Guarani em Santa
Catarina, Brasil. Florianópolis. 161 f. Dissertação (Mestrado). Centro de Filosofia e Ciências Humanas.
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. UFSC, 2007, pp. 35.
304
NOELLI, p. 16.
302
113
Juan Díaz de Solís naufragou e chegou à bacia do rio Massiambu (que fica no que hoje
é o município de Palhoça) 305 .
Existem evidências arqueológicas de que o povo Guarani já habitava a Ilha de
Florianópolis 900 anos atrás. Mas o viajante Hans Staden observou, na década de 1540,
que os Guarani se deslocavam sucessivamente para a região continental, à medida que
as expedições estrangeiras chegavam. Por fim, em 1635 a ilha estava praticamente
despovoada de Guarani, que haviam formado aldeias no continente. 306
De qualquer modo, existem provas de que os Guarani ocupavam boa parte do
Sul do país. Este mapa 307 , de 1616, feito por Willem Blaeu, mostra a região abaixo do
Trópico de Capricórnio:
305
BERTHO, Ângela Maria de Moraes. Os índios Guarani da Serra do Tabuleiro e a Conservação da
Natureza. Tese. Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas, UFSC: Florianópolis. 2005, 223 p.
306
DARELLA, Maria Dorothea Post. Ore Roipota Yvy Porã “Nós Queremos Terra Boa”.
Territorialização Guarani no Litoral de Santa Catarina-Brasil. São Paulo, 2004. 405 f. Tese (Doutorado) –
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais,
pp. 124 e 129-131.
307
Disponível em: <http://www.wdl.org/pt/item/1101/zoom.html> - informação retirada do blog
<http://acordaterra.files.wordpress.com/2010/03/mapa1616guaranicarios.jpg>.
114
Nos séculos seguintes, a interiorização Guarani foi imposta pela ocupação
européia. Na verdade, os Guarani, assim como vários outros povos indígenas,
caracterizam-se pela mobilidade. Isso significa que, de tempos em tempos, as
comunidades indígenas procuram novos espaços, de acordo com a sua religião, mas
também para respeitar a recuperação da natureza. Ou seja, a mobilidade é uma tática de
preservação ambiental diretamente ligada à preservação da própria comunidade. Apesar
disso, dessa vez, não foi a mobilidade que os fez procurar novos espaços, muitas
comunidades simplesmente fugiram dos brancos que chegavam, para o interior do
continente. 308
A mobilidade era uma manifestação cultural forte dos Guarani, mas hoje já não
lhes sobram terras para poder mover-se livremente. É claro que as manifestações
culturais se resignificam, e a mobilidade, de certa forma, sempre continua, estando
presente na procura constante dos Guarani por terras ancestrais, ou mesmo, por terras
onde poderiam manter sua forma de vida. Foi isso que fez com que os Guarani
voltassem e faz com que ainda tentem voltar a esses assentamentos antigos que lhes têm
significado importante, com o objetivo de manter viva sua cultura. 309
Muitos teóricos afirmam, ainda, que a estratégia Guarani mudou, sendo que por
um longo período esses índios preferiram se valer da invisibilidade, para,
progressivamente e especialmente, após a promulgação da Constituição de 1988
escolherem ficar visíveis e acessíveis para lutar por melhores direitos.310
308
QUEZADA, p. 35.
QUEZADA, p. 53.
310
ASSIS, Valéria de. & GARLET, Ivori José. Análise sobre as populações Guarani Contemporâneas:
demografia, espacialidade e questões fundiárias. Revista de Indias, 2004, vol. LXIV, núm. 230. pp. 35-54,
p. 41.
309
115
Há quem diga que os Guarani nunca saíram da Grande Florianópolis, inclusive
pelas provas arqueológicas da rota milenar que atravessa a região vinda do Sul, pelo
litoral. De qualquer modo, a povoação da região da Grande Florianópolis aumentou
efetivamente após a década de 1930, com levas vindas especialmente do Sul. O litoral
catarinense está sofrendo uma “re-guaranização”. 311
De dois milhões para 65 mil Guarani. Esse foi o resultado da invasão
portuguesa. Apesar disso, a população indígena, no geral, aumenta progressivamente
com o passar dos anos, como demonstram as últimas pesquisas do IBGE. 312
Tal aumento esbarra na pouca quantidade de terras que querem reservar aos
índios. Sem o direito à terra tradicional, os povos indígenas não conseguem concretizar
todos os demais direitos culturais, como de alimentação diferenciada, de educação
diferenciada, não conseguem viver conforme seu “modo de ser”, sua cosmologia, ou
seja, sua concepção de mundo.
Com os índios da Grande Florianópolis não é diferente, sendo a terra sua
principal reivindicação. Sem terra, a principal fonte de renda dessas comunidades acaba
sendo a doação, com uma pequena quantia proveniente da venda do artesanato, o que
interfere na auto-estima das aldeias, mas não atrapalha a sua luta.
Em Morro dos Cavalos, durante todo o processo de demarcação, que começou
em 1993, houve muitas manifestações de racismo. A área já foi declarada, ou seja, teve
seus limites reconhecidos pelo Ministério da Justiça pela Portaria 771 de 2008. Apesar
disso, até agora em meados de 2010 ainda não aconteceu a demarcação física para
retirar os não-indígenas do restante da área declarada, e no espaço que os Guarani se
encontram não há como plantar ou mesmo construir mais casas.
A aldeia de M’Biguaçu foi a primeira aldeia Guarani a ser demarcada em Santa
Catarina, em 1993. O cacique, Hyral Moreira, conta, no entanto, que na época a FUNAI
não explicou em detalhes o que seria a demarcação e o seu tamanho efetivo. Hoje, 30
famílias estão em 58 hectares, sem espaço para plantio, com o detalhe de que atrás da
terra indígena existem pedreiras funcionando há muitos anos.
Não se deixando abalar, assim como os demais povos indígenas, os Guarani
cada vez mais se organizam. Em Santa Catarina, foi criada a Comissão Guarani
Nhamongetá, e existem também comissões regionais temáticas e a comissão nacional,
Yvy Rupa. É assim que os índios de Morro dos Cavalos estão reivindicando a aplicação
311
312
QUEZADA, p. 36.
ASSIS & GARLET., pp. 36.
116
de seus direitos com a exigência da demarcação física e os índios de M’Biguaçu lutam
para a ampliação da demarcação. Desse modo é que brigam por uma saúde indígena
melhor, por mais estrutura em suas escolas; para que sejam respeitados e ouvidos em
decisões que vão afetar suas terras, como construções ao seu redor. E lutam por esses
direitos positivados para poder manter sua cultura, e, com isso, o seu direito
comunitário, que sempre existiu, desde muito antes da invasão européia.
4.2.2 Introdução às entrevistas etnográficas
Wolkmer defende que o pluralismo jurídico comunitário-participativo é
interdisciplinar: “Conceber o pluralismo, hoje, enquanto conceito nuclear de uma visão
democrático-popular de juridicidade, é não descartar uma preocupação basicamente
interdisciplinar”. Para ele, isso explica o fenômeno de desregulamentação do direito e
também o de auto-regulamentação. Pensar a efetivação do direito envolve outros ramos
de conhecimento, como a política, a sociologia, a filosofia. 313
A antropologia também é um ramo que pode ser muito importante para o
pluralismo jurídico, especialmente para conhecer melhor os direitos indígenas, com as
suas técnicas etnográficas de entrevista.
A antropóloga Mariza Peirano explica que a antropologia é uma imersão no
universo social e cosmológico do “outro”, e essa imersão é realizada pela pesquisa de
campo. A etnografia é o resultado da pesquisa de campo, que também pode ser chamada
de pesquisa etnográfica, de etnologia ou mesmo de etnografia, e é um procedimento
básico da antropologia. Peirano afirma que a pesquisa etnográfica não se limita a uma
única técnica de coleta de dados, porque cada pesquisa é específica. Quando o
pesquisador se propõe a fazer uma pesquisa guiado pelos pesquisados, que é como se dá
o mergulho no seu universo de interpretações, surgem situações imprevisíveis. Essas
situações dependem da teoria e do senso comum que o pesquisador leva a campo e as
novas conclusões a que chega com a observação daqueles que estuda. É nesse ponto
que, para a autora, se dá o processo de descoberta antropológica:
[...] uma descoberta que é um “diálogo” não entre indivíduos – pesquisador e
nativo – mas, sim, entre a teoria acumulada da disciplina e o confronto com
uma realidade que traz novos desafios para ser entendida e interpretada; um
exercício de “estranhamento” existencial e teórico, que passa por
313
WOLKMER, 2001, pp. 344-345.
117
vivências múltiplas e pelo pressuposto da universalidade da experiência
humana. 314
A pesquisa etnográfica, assim, implica em um confronto de diferenças: “todo o
bom antropólogo aprende e reconhece que é na sensibilidade para o confronto ou o
diálogo entre ‘teorias’ acadêmicas e nativas que está o potencial de riqueza da
antropologia” 315 . Por isso, é condição da pesquisa de campo que cada caso é um caso –
e isso, em vez de servir de argumento para desmerecer a etnografia, é o que realmente a
fortalece, na visão da autora:
Tanto Louis Dumont quanto Lévi-Strauss afirmaram, em diferentes ocasiões,
que as etnografias constituem, mais que os sistemas teóricos que elas
suscitaram, a verdadeira herança da antropologia. No Brasil, em momento de
particular lucidez, foi o que Darcy Ribeiro também confirmou: seus diários
de campo sobreviveriam a todas as teorias que ele propôs, no seu entender,
exatamente para serem refutadas. Desta forma, estes autores replicam Frazer,
quando este notou a perenidade dos dados etnográficos em contraste com o
caráter efêmero das conquistas teóricas. 316
Os dados etnográficos são assim tão duradouros porque as técnicas de
pesquisa de campo antropológica objetivam desvendar o mundo dos pesquisados pelos
seus próprios olhos, o que permite que outros pesquisadores possam posteriormente
reanalisar tais dados.
Miriam Goldenberg, cientista social brasileira, descreve no livro A arte de
pesquisar a mudança de foco das ciências sociais com a pesquisa qualitativa, ao refutar
o Positivismo de Émile Durkheim, que, por sua vez, defendia a adoção do método
científico das ciências naturais pelas ciências sociais. Wilhem Dilthey, que influenciou
Max Weber, primeiro grande expoente dessa mudança de foco, deu início à idéia de que
os fatos sociais não são suscetíveis de quantificação e que as ciências sociais devem se
preocupar com a compreensão de casos particulares e não com a formulação de leis
generalizantes, como fazem as ciências naturais.
Goldenberg também demonstra que a riqueza da pesquisa qualitativa é
justamente a consciência do pesquisador de não ter como se desvincular de seus
conceitos prévios à pesquisa:
314
PEIRANO, Mariza. “A favor da etnografia”. In: A favor da etnografia. Rio de Janeiro: RelumeDumará, 1995. p. 9, grifado.
315
PEIRANO, 1995, p. 10.
316
PEIRANO, 1995, p. 14.
118
Cientistas sociais como Max Weber, Pierre Bourdieu e Howard Becker
acreditam ser fundamental a explicitação de todos os passos da pesquisa para
evitar o bias do pesquisador. Recusam a suposta neutralidade do pesquisador
quantitativista e propõem que o pesquisador tenha consciência da
interferência de seus valores na seleção e no encaminhamento do
problema estudado. A tarefa do pesquisador é reconhecer o bias para
poder prevenir sua interferência nas conclusões. Para os autores citados,
não existe outra forma para excluir o bias nas ciências sociais do que
enfrentar as valorações introduzindo as premissas valorativas de forma
explícita nos resultados da pesquisa. 317
Sendo assim, Goldenberg ensina que se evitam os problemas teóricometodológicos da pesquisa qualitativa não tomando como referência o modelo
positivista das ciências naturais, mas levando-se em conta a especificidade dos objetos
de estudo das Ciências Sociais. Em contraposição aos dados quantitativos, “Os dados
qualitativos consistem em descrições detalhadas de situações com o objetivo de
compreender os indivíduos em seus próprios termos. Estes dados não são
padronizáveis como os dados quantitativos”. 318
É a possibilidade de trazer dados desse tipo que faz com que a acadêmica opte,
na presente pesquisa, por trazer entrevistas etnográficas realizadas com duas
comunidades Guarani, que serão estruturadas como estudo de caso, preenchendo os
seguintes requisitos especificados também por Goldenberg:
O estudo de caso não é uma técnica específica, mas uma análise holística,
a mais completa possível, que considera a unidade social estudada como
um todo, seja um indivíduo, uma família, uma instituição ou uma
comunidade, com o objetivo de compreendê-los em seus próprios termos.
O estudo de caso reúne o maior número de informações detalhadas, por meio
de diferentes técnicas de pesquisa, com o objetivo de apreender a totalidade
de uma situação e descrever a complexidade de um caso concreto.
Através de um mergulho profundo e exaustivo em um objeto delimitado, o
estudo de caso possibilita a penetração na realidade social, não
conseguida pela análise estatística. 319
No clássico livro sobre métodos de entrevista “Learning how to ask: a
sociolinguistic appraisal of the role of the interview in social science research”, o
antropólogo Charles Briggs, atualmente professor da Universidade da Califórnia (EUA),
fala sobre a sua experiência no trabalho de campo de mais de uma década com
mexicanos do norte do Novo México, em uma comunidade denominada Córdova.
Brigss tentou, primeiro, utilizar a entrevista padrão, com roteiro de perguntas pré317
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais. Rio
de Janeiro: Record, 2005, p. 45, grifado.
318
GOLDENBERG, 2005, p. 53, grifado.
319
GOLDENBERG, 2005, pp. 33-34, grifado.
119
elaboradas, mas só obtia respostas vagas, como “quem sabe?”, “é isso”. Ele explica que
seu erro foi tentar impor, nas entrevistas, as suas normas comunicativas, que eram
diferentes das normas dos entrevistados:
[...] o uso de técnicas de entrevista pressupõe um modelo de interação
social. O entrevistador especifica os assuntos a serem cobertos, enquanto o
entrevistado supre as informações. O foco dos participantes é conduzir as
informações necessárias da maneira mais eficiente, explícita, completa e
exata possível. É claro que o repertório discursivo dos consultados pode
não incluir uma categoria análoga e a direção de um evento pode ser
completamente diferente. 320
Ele só conseguiu respostas mais completas depois que se tornou conhecido dos
nativos, estabeleceu-se dentro da comunidade como um aprendiz, compreendeu melhor
o seu processo educacional, ou seja, como transmitiam conhecimento e o que era
necessário para que isso acontecesse; e quando passou a perceber a importância do
processo metacomunicativo para obter informações – isto porque “Os nativos
presumivelmente também cantam, dançam, rezam, ceiam, trabalham e assim por diante
sobre esses assuntos [os dados que os entrevistadores pretendem obter nas
entrevistas].” 321
Na comunidade estudada por Briggs, havia uma hierarquia retórica que só
permitia perguntar aos mais velhos quando se tivesse algum conhecimento anterior, e,
além disso, era necessário repetir uma parte da afirmação dos mais velhos, para fazer
uma pergunta. O antropólogo assevera que as técnicas padrão de entrevista invertem as
normas da conversa por três motivos. Primeiro porque os pesquisadores entram na
sociedade sem saber das normas de comportamento e de discurso; e em vez de adquirir
competência comunicativa por meio da observação, os entrevistadores pulam esse
estágio para fazer perguntas que atendam somente aos seus interesses. Em segundo
lugar, o controle da interação fica nas mãos do entrevistador, que introduz tópicos e que
decide quando mudar de assunto. Por fim, a falta de familiaridade do entrevistador com
situações referenciais e meios aceitos de conduzir a informação torna suas perguntas
inapropriadas para a coesão do discurso do entrevistado e para a situação social. 322 Para
ele, “em vez de aprender os meios em que os nativos adquirem informação, nós
normalmente impomos nossas normas comunicativas aos nossos consultados. Essa
320
BRIGGS, Charles. Learning how to ask. A sociolinguistic appraisal of the role of the interview in
social science research. Cambridge University Press, 1986, p. 46. Tradução própria, grifado.
321
BRIGGS, p. 118.
322
BRIGGS, p. 89.
120
prática gera uma hegemonia comunicativa”.323
Briggs afirma:
A minha tese é de que qualquer tipo de entrevista será prejudicada por
sérios problemas metodológicos se não se sensibilizar para o
relacionamento entre as normas comunicativas que são pressupostas na
entrevista e aquelas que são efetivamente características da população
em estudo. 324
Para que isso seja possível, Briggs divide a metodologia da entrevista em
quatro fases: 1) aprendendo como perguntar, 2) formulando a metodologia adequada, 3)
refletindo sobre o processo de entrevista e 4) analisando as entrevistas.
Na primeira fase, que é das primeiras semanas ou meses de trabalho de campo,
o pesquisador precisa adquirir a compreensão básica das normas comunicativas da
sociedade em questão, aprendendo a língua e observando as relações entre os membros
da comunidade. Na segunda fase, Briggs propõe uma integração sistemática das rotinas
metacomunicativas da comunidade a ser estudada na estrutura metodológica do
trabalho. Ele sugere que, de fato, se faça uma análise prévia dos padrões comunicativos
da sociedade. Esse é o momento em que descobrem-se as pessoas certas para falar sobre
determinados assuntos e como falar com elas. Por isso, diz, é quase sempre necessário
modificar a metodologia no decorrer da pesquisa. Briggs cita Morris Freilich, que
recomenda que os antropólogos façam a pesquisa de campo primeiramente de forma
“passiva”, com o objetivo de reformular os seus planos para realmente descobrir como
podem focar, em um segundo momento, nos seus próprios interesses, de maneira mais
“ativa”. Na terceira fase, é preciso analisar a efetividade das entrevistas, identificando
problemas de comunicação entre entrevistador e entrevistado, para saber se é preciso
uma reformulação nos planos de pesquisa. A quarta fase é, para Briggs, a que mais
apresenta problemas nas ciências sociais, porque se pressupõe muitas vezes ser possível
retirar das entrevistas informações puras e comparáveis. Ele relembra que a entrevista é
um evento comunicativo entre duas ou mais pessoas que têm suas próprias referências
culturais, sociais e lingüísticas. Por isso, Briggs destaca que “a estrutura comunicativa
de toda a entrevista afeta o significado de cada afirmação [do entrevistado]”. 325 Para
começar, o entrevistado precisa aceitar a forma de interação. E nenhuma afirmação que
o entrevistado fizer pode ser tirada do contexto da própria entrevista e de como ela
323
BRIGGS, p. 121.
BRIGGS, p. 94, grifado.
325
BRIGGS, pp. 102-103.
324
121
estava acontecendo no momento da afirmação. 326
Ou seja, veja-se que para apreender como vive uma sociedade diferente da
nossa, é necessário ter muita paciência e interesse. Consideramos que os direitos
indígenas serão melhor apreendidos com o cuidado das técnicas antropológicas e a os
dados consistente que sua metodologia e teoria permitem. Com a ajuda da antropologia,
as reivindicações dos povos para a legislação estatal e os seus diferentes direitos
comunitários podem ser melhor captados.
Este trabalho pretende, portanto, com as entrevistas que realizou, apenas
mostrar a relevância de ouvir os povos indígenas com cuidado. É claro que aqui sequer
se realizou a pesquisa etnográfica que seria necessária para esgotar o assunto nas duas
comunidades, que exigiria muito mais tempo e muito mais entrevistas. Quer-se, no
entanto, demonstrar a relevante atitude de escutar para a construção de um pluralismo
jurídico indígena no Brasil.
Sendo assim, foi realizada desde janeiro de 2010 uma pesquisa etnográfica nas
aldeias citadas, com os recursos de entrevistas de profundidade (com uso de gravador) e
observação. Entretanto, desde abril de 2009, a acadêmica mantém contato com as
aldeias, em especial com a de Morro dos Cavalos.
A pesquisadora não conseguiu seguir exatamente todos os passos de Briggs,
porque não aprendeu a falar guarani, apesar de conhecer algumas palavras, e deveria ter
feito mais observação. Mas considera que conseguiu fez uma boa escolha com a técnica
de entrevista escolhida: de “história de vida”, que é aquela que consiste em uma
narrativa auto-biográfica do entrevistado. Basicamente, o entrevistador pede para que o
entrevistado conte sua história de vida, com poucas intervenções ou perguntas.
O sociólogo alemão Fritz Schütze conceitua a entrevista narrativa como uma
“entrevista aberta profunda” que “tem a intenção de reconstruir acontecimentos sociais
a partir da perspectiva dos informantes”. 327 A metodologia da entrevista autobiográfica,
para Schütze, parte da hipótese de que a narração das experiências pessoais como
história de vida sem prévia preparação possibilita uma aproximação máxima ao que
realmente foi experimentado. 328
326
BRIGGS, pp. 94-103.
MEINCKE, Sonia Maria Könzgen. A construção da paternidade na família do pai adolescente:
contribuição para o cuidado de enfermagem. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem, UFSC, Florianópolis (SC), 2007. p. 81. Disponível em:
<http://www.ssrevista.uel.br/n1v2.pdf#page=135>.
328
APPEL, Michael (2005). La entrevista autobiográfica narrativa: Fundamentos teóricos y la praxis del
análisis mostrada a partir del estudio de caso sobre el cambio cultural de los Otomíes en México. Forum:
327
122
Maria Angela Silveira Paulilo reúne conceitos de vários autores sobre a técnica
de história de vida:
Para BOSI (1994), o que interessa quando trabalhamos com história de vida é
a narrativa da vida de cada um, da maneira como ele a reconstrói e do modo
como ele pretende seja sua, a vida assim narrada.
[...] HAGUETTE (1987) considera que a história de vida, mais do que
qualquer outra técnica, exceto talvez a observação participante, é aquela
capaz de dar sentido à noção de processo. Este “processo em movimento”
requer uma compreensão íntima da vida de outros, o que permite que os
temas abordados sejam estudados do ponto de vista de quem os vivencia,
com suas suposições, seus mundos, suas pressões e constrangimentos.
[...] CAMARGO (1984) complementa que o uso da história de vida
possibilita apreender a cultura “do lado de dentro”; constituindo-se em
instrumento valioso, uma vez que se coloca justamente no ponto de
intersecção das relações entre o que é exterior ao indivíduo e aquilo que ele
traz dentro de si.
[...] O mesmo pensa CIPRIANI (1988) quando considera o “livre fluir do
discurso”, condição indispensável para que vivências pessoais despontem
profundamente entranhadas no social, o processo de “escavação do
microcosmo” deixa entrever o “macrocosmo”, o universal mostra-se
invariavelmente presente no singular.
[...] BECKER (1994) acrescenta que a história de vida aproxima-se mais do
terra a terra, a história valorizada é a história própria da pessoa, nela são os
narradores que dão forma e conteúdo às narrativas à medida que interpretam
suas próprias experiências e o mundo no qual são elas vividas.
[...] A história de vida é, geralmente, extraída de uma ou mais entrevistas
denominadas entrevistas prolongadas, nas quais a interação entre pesquisador
e pesquisado se dá de forma contínua, situação assim descrita por
THIOLLENT (1982): “o entrevistador se mantém em uma ‘situação
flutuante’ que permite estimular o entrevistado a explorar o seu universo
329
cultural, sem questionamento forçado” (THIOLLENT, 1982:86).
Com as oito entrevistas que realizou, a acadêmica analisou os dados segundo
seis linhas diferentes, que já foram planejadas antes do início das entrevistas, compondo
o instrumento de coleta de dados. As linhas são: 1) sentimento de in-betweenness
(explicado logo abaixo); 2) sentimentos de discriminação e de marginalização; 3)
percepções sobre a legislação do Estado; 4) reivindicações para essa legislação,
necessidades; 5) articulação entre as aldeias; e 6) leis existentes dentro da aldeia, direito
comunitário.
Na aldeia de M’Biguaçu, o cacique é Hyral Moreira, liderança indígena ativa
em toda a região Sul do país. Ele é presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena,
Qualitative Social Research, 6(2). Disponível em: <http://www.qualitativeresearch.net/index.php/fqs/article/view/465/995>.
329
PAULILO, Maria Angela Silveira. Serviço Social em Revista. Publicação do Departamento de Serviço
Social, Centro de Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual de Londrina. – Vol. 1, n. 1 (Jul./Dez.
1998).
123
que representa cinco estados: RJ, SP, PR, SC e RS; membro da Comissão Catarinense
Guarani Nhamongetá e acadêmico de direito da Univali.
Como o cacique estuda direito, acrescentou-se no instrumento de coleta de
dados, quanto a esse entrevistado em especial, a influência do estudo acadêmico nas
suas atitudes como cacique e como liderança indígena. Nesse caso, adicionou-se o
seguinte item: 7) importância do estudo de direito para a visão de direitos indígenas.
As entrevistas foram semi-estruturadas quanto ao registro dos dados, ou seja, à
anotação e à análise dos dados, que também fazem parte do conceito de “coleta de
dados”; e não-estruturadas, não-direcionadas, quanto à entrevista em si, que foi
realizada com a técnica de história de vida. Em uma entrevista semi-estruturada o
pesquisador tem uma lista de questões ou tópicos a serem pesquisados, normalmente
denominado de guia da entrevista, mas o entrevistado tem uma grande liberdade de
resposta. Além disso, questões podem ser retiradas e colocadas, de maneira flexível,
mas acredita-se em dados melhores para a pesquisa a partir da história narrada por cada
um, que possibilita uma exposição mais livre e real das representações e interpretações
do entrevistado.
Para terminar esta introdução, explica-se o conceito de “in-betweenness”, que é
a tendência a sentir-se em trânsito entre dois ou mais lugares, entre duas ou mais
culturas 330 . Principalmente por estarem tão próximos há tanto tempo da sociedade nãonativa opressora, os índios Guarani sabem muito de como é se sentir culturalmente
deslocados.
4.2.3 Resultado das entrevistas etnográficas
Os itens do instrumento da coleta de dados têm conceitos que se conectam,
portanto as linhas de dados serão analisadas em conjunto. Também serão ressaltados
aspectos mais importantes das entrevistas individualmente.
O sentimento de in-betweenness ficou bem claro, especialmente para os mais
jovens, entre vinte e quarenta anos. Todos os Guarani entrevistados viveram por algum
tempo fora da aldeia e depois voltaram. No mundo “dos brancos”, sofreram muito com
a discriminação do etnocentrismo e esse foi o principal fator que os fez voltar para a
aldeia. Em alguns casos, especialmente em Morro dos Cavalos, a impressão é de que
330
Para saber mais sobre esse conceito: HALL, Stuart. Da Diáspora: identidades e Mediações Culturais.
SOVIK, Liv (Org.). Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006.
124
ainda não podem viver completamente do jeito que gostariam, porque não têm espaço
para plantar, nem para construir novas casas e, assim, viver conforme seus costumes,
dependendo ainda de doações para se manter. Ou seja, não sentem-se completamente
felizes nem fora, nem dentro da aldeia – ficam neste entremeio, tentando se encontrar. A
não ser nos casos em que a aldeia os satisfaz, especialmente em M’Biguaçu, ou pela
expectativa de que a aldeia vai melhorar, como em Morro dos Cavalos.
Percebe-se que esse sentimento de trânsito se deu especialmente na juventude
dos entrevistados. Alguns deles foram morar com outras famílias ainda pequenos, e não
se adaptaram, procurando suas famílias Guarani alguns anos depois. Outros foram
procurar emprego fora da aldeia e acabaram ficando, também não se adaptando. Mas
conforme foram ficando mais velhos, criaram a o sentimento de “volta à origem” e
investiram na busca e no fortalecimento da sua cultura Guarani. Atualmente, pode-se
dizer que dentro das comunidades o mais importante é viver conforme o modo de ser
Guarani e isso é realçado em todas as áreas, que acabam se entrecruzando: a educação, a
religião, a alimentação, os rituais de cura. Seu Alcindo Moreira, um dos entrevistados,
pajé da aldeia de M’Biguaçu, conta que a cada quinze dias reúne as crianças dentro da
opy (casa típica Guarani de reza), e que esta é a principal escola dos pequenos e o
principal ambiente cultural dos adultos. Ele diz que está ainda forte, aos 100 anos,
porque sempre vai à opy. Hyral Moreira, outro entrevistado da mesma aldeia, fica feliz
porque seus filhos nunca precisarão sair da aldeia, como ele saiu, mesmo que considere
ter aprendido muitas coisas que lhe foram importantes. Eunice Antunes, entrevistada da
aldeia de Morro dos Cavalos, foi para Curitiba (PR) em busca de emprego, lá se casou,
mas não aguentou o preconceito da família do ex-marido e da própria sociedade.
Quando voltou, já para uma aldeia Guarani próxima de Morro dos Cavalos, porém,
sentiu-se discriminada na própria aldeia, por não ser mais “tão Guarani”, especialmente
por professores não-indígenas que trabalhavam na escola.
O sentimento de marginalização e de discriminação foram apontados com
exemplos principalmente de situações da infância e da adolescência fora da aldeia e
geralmente na escola não-indígena. A impressão geral, no entanto, é de que todos
aprenderam a lidar com esse sentimento e não dão mais tanta importância a ele, porque
se sentem muito felizes sendo Guarani e também porque aprenderam a se defender
desse tipo de visão limitada. Hyral afirma que não se rebaixa ao nível das pessoas que
demonstram algum tipo de preconceito e culpa principalmente os governantes do país,
diz que a população em geral não conhece a questão indígena. No período de visitação à
125
aldeia, uma matéria preconceituosa foi publicada na revista Veja 331 , com uma visão
etnocentrista a respeito da aldeia de Morro dos Cavalos, caracterizando-os como “Made
in Paraguay”. Rapidamente as duas comunidades se reuniram e decidiram que iam
entrar com uma ação judicial. Antes disso, de qualquer modo, mandaram um e-mail de
resposta à revista. No geral, parece que se sentem muito protegidos dentro da suas
comunidades, como se nada lhes atingisse lá dentro.
Mesmo assim, em Morro dos Cavalos, também neste período, o cacique
anterior, Augustinho Moreira, mudou-se para outra aldeia com medo das ameaças de
não-indígenas que haviam cortado madeira ilegalmente da terra indígena. A Polícia
Federal prendeu essas pessoas e devolveu a madeira para a comunidade, mas aqueles
não cessaram de ameaçá-la, e, com medo, seu cacique fugiu. Em Palhoça, já houve
muitas manifestações contrárias à comunidade Guarani, tentando impedir a demarcação
sob os argumentos de que eles não são índios, que são “importados do Paraguai” 332 , e
outras caracterizações que já apontamos aqui neste trabalho, como o fato de utilizarem
roupas, etc. A Constituição de 1988 lhes dá muita força, como já supomos neste
capítulo, porque a cada atitude discriminatória contrária, eles reagem procurando o
Ministério Público Federal para entrar com a ação competente. Esse é um dos bons
reflexos da legislação na vida das comunidades e uma demonstração de como
reivindicam.
Um dos problemas com a legislação oficial, no caso com sua efetivação, é com
a demarcação de terras. Ambas comunidades têm problemas com isso, como já falamos.
Em Morro dos Cavalos a demarcação física ainda não aconteceu, ou seja, ainda não
foram retirados os não-indígenas das suas terras. Isso impede seu acesso ao mar, a um
rio e a boa parte de suas terras onde é possível plantar. Em M’Biguaçu, o espaço é
extremamente exíguo e a plantação tem que ser bem pequena.
Hyral é o que tem a percepção mais vasta da legislação estatal, certamente
porque faz faculdade de direito. Hyral afirma que os arts. 231 e 232 da constituição são
331
Disponível em: <http://veja.abril.com.br/050510/farra-antropologia-oportunista-p-154.shtml>. Esta
matéria gerou muita polêmica, porque o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro e o ex-presidente da
FUNAI Mércio Gomes afirmaram que suas entrevistas foram inventadas. Claramente também inventaram
a parte relativa à comunidade de Morro dos Cavalos, com o subtítulo “Made in Paraguay”, porque o índio
que entrevistaram não mora na aldeia há muitos anos e, também, afirmam que os Guarani de lá foram
importados e só falam em espanhol, o que também é uma mentira.
332
A revista Veja já havia publicado, em 2007, matéria intitulada “Made in Paraguai”, onde também tenta
desqualificar a comunidade Morro dos Cavalos. Existe um senhor que reivindica as terras da comunidade
como se suas fossem, ele tentou mobilizar a cidade e os meios de comunicação contra os Guarani.
Disponível em: <http://veja.abril.com.br/140307/p_056.shtml .
126
tão gerais que podem ser interpretado contra os indígenas, a constituição tinha que ser
mais específica. Critica a falta de conhecimento de direitos indígenas da maioria de
magistrados e de advogados. Fala que o problema é na aplicabilidade da lei, diz que
podem ser criadas várias leis específicas que não terão eficácia pela falta de interesse
dos operadores do direito. Considera que o Estatuto do Índio não foi recepcionado pela
Constituição, diz que contraria a Constituição e não tem aplicabilidade nenhuma. Para
ele, a Lei 6.001/1973 é preconceituosa. Ele diz que nunca viu ninguém deixar de ter sua
cultura por fazer parte de outra sociedade (fazendo referência à questão da integração
como assimilação). Hyral faz uma afirmação ácida: “a sociedade brasileira que não
conseguiu assimilar a população indígena”. Ele não consegue acreditar na mentalidade
da população e dos próprios governantes, que ele diz que é uma mentalidade do
Império. Lamenta da falta de valorização dos povos indígenas, que considera ser a etnia
que têm menos visibilidade no país. Ele brinca que quando se formar na faculdade de
direito vai “incomodar” muita gente e satiriza que não haveria quantidade de dinheiro
para pagar todos os danos que as populações indígenas já sofreram e ainda sofrem no
Brasil: “o dano é irreparável”, afirma. Hyral acha que os verdadeiros culpados estão no
governo, porque têm o poder para mudar a realidade indígena, apenas não querem. “O
governo teria até como mudar a visão da sociedade”. Ainda por cima, diz, o governo
joga a culpa nos próprios índios, colocando-os como se fossem um obstáculo. Ao
mesmo tempo, Hyral critica as pessoas que comentam sobre a questão e não têm o
menor conhecimento do assunto, como jornalistas que fazem afirmações etnocentristas:
“eu comento sobre as coisas que eu sei, sobre as que eu não sei eu nem comento”.
Hyral tem 33 anos e nasceu em Morro dos Cavalos. Morou até os 13 anos lá e
depois foi para M’Biguaçu. É liderança indígena desde os 16 anos, quando se tornou
vice-cacique e é cacique desde os 22. Morou fora da aldeia, o que achou bom para
conhecer a realidade do mundo externo, para conseguir ajudar o seu povo. Ele está
fazendo faculdade de direito para ajudar a sua comunidade e quer estudar mais
especificamente a capacidade civil indígena, que o Código Civil de 2002 não resolveu.
Foi morar fora da aldeia com cerca de dois anos, com padrinhos, com quem
ficou até os nove anos. Fez o ensino fundamental durante esse período também em uma
escola de fora da aldeia. Ele considera a experiência boa, foi bom para a sua formação,
aprendeu muita coisa. Acompanhava o padrinho, que era mestre de obras, e aprendeu
com ele também a ser pedreiro, inclusive algumas casas da aldeia foi ele quem fez.
Ainda mantém contato com os padrinhos. Foi ruim deixar de ter contato com sua
127
cultura, mas quando ele voltou, sua readaptação o deixou fortalecido. Também diz que
fora da aldeia é difícil saber em quem confiar e sofreu com o preconceito. Hoje ele diz
que aprendeu a lidar melhor com o preconceito, diz que não vai se rebaixar ao nível de
uma pessoa preconceituosa. Ele diz que ninguém vai mudar o que ele é e ele não tem
por que negar a sua origem. Um dos pontos ruins de ter morado fora da aldeia, ele
considera, é de ter perdido tempo longe da cultura. Por outro lado, ele diz que o filho
dele jamais vai ter que passar por isso hoje. Ele fala das dificuldades que têm com a
FUNAI, diz que estão processando o órgão. Explica, no entanto, que entraram com a
ação contra a instituição, que não deixa de haver boas pessoas lá dentro. Diz que nunca
tiveram ajuda da FUNAI, mesmo com a demarcação, que foi de uma terra muito
pequena. Hyral afirma que a comunidade não se submete a decisões de fora dela.
O fato de estar estudando direito facilita as reivindicações. E sobre o direito de
dentro da aldeia, ensina que cada comunidade tem suas regras específicas. Fala que
mesmo que existisse o direito, antes de 1988, esse direito de dentro da aldeia não era
permitido. Hyral conta que M’Biguaçu tem um Conselho de seis membros que, junto
com ele, aprova regras e decisões. O Conselho também leva informações para o cacique
sobre as questões administrativas, se é necessário ajudar alguma família, por exemplo.
Hyral diz que o cacique ficou mais com a questão administrativa, após a criação do
Conselho. As regras mais importantes da aldeia são referentes à própria organização da
comunidade. As famílias que não trabalham fora precisam ajudar a própria comunidade,
com trabalhos feitos dentro da aldeia, por exemplo. Também é decidida a permissão de
novas famílias virem morar na aldeia ou de alguém ser excluído da comunidade.
Seu Alcindo, com 100 anos, é chamado de biblioteca viva, ele já percorreu
todo o estado de Santa Catarina e é muito admirado nas duas comunidades. Apesar de
não me relatar sua vida, o que ele disse que faria em outra oportunidade, e espero tê-la,
nossa conversa me ajudou a elucidar as linhas do meu instrumento de coleta de dados.
Seu Alcindo não sente-se em trânsito entre duas culturas, ele sente-se firmemente
envolvido pela cultura indígena, que ele ajuda a preservar dentro da sua comunidade e
que parece ser o elemento mais importante de sua vida. Ele se mostra muito chateado
com a falta de disciplina de muitas outras comunidades, que deixam a “cultura do
branco” entrar, como o vanerão e a pinga, ele diz. Para ele, isso é ruim para a cultura
indígena. Ainda mais se essas comunidades deixarem de ensinar a cultura indígena, a
religião. Ele explica que de quinze em quinze dias todas as crianças vão para a opy (casa
religiosa) ouvi-lo falar sobre ser Guarani. Isso ajuda também os outros Guarani, que,
128
assim, se mantêm saudáveis. Mas nas outras comunidades, critica Seu Alcindo, não se
faz mais isso, não se usa a opy, não se ensina as crianças. Em M’Biguaçu, é regra que a
primeira escola é a opy. E ninguém pode tomar pinga ou ficar dançando vanerão, ele
reitera. Outra regra é que quem sai da aldeia, que desdenha a aldeia, como ele diz, não
pode nunca mais voltar. Ele conta que até ajuda as outras aldeias, quando lhe pedem
ajuda com a saúde de alguém, por exemplo. A pessoa vai até a opy de M’Biguaçu e seu
Alcindo ajuda a curá-la. Ele diz que é tão forte e está tão bem porque está sempre na
opy. Seu Alcindo demonstra ter muito orgulho de ser Guarani e parece se sentir superior
ao “branco”. Para ele, o “branco” não é verdadeiro. Muita gente de outras aldeias
também não são, ele diz. Parece que sua força e sua segurança provêm de como ele
ajuda a preservar sua cultura, do reconhecimento da sua dedicação.
O professor de Guarani Adão Antunes, de Morro dos Cavalos, diz que escola
indígena não funcionou enquanto não havia professores indígenas e currículo
diferenciado. Suas reivindicações são mais quanto à educação indígena. O que falta para
a escola: diferenciar o calendário, querem poder implementar outro tipo de escola, com
mais aulas fora da sala de aula (para contar histórias na opy, por exemplo). Querem
também criar mais séries.
Sobre a comunidade, lamenta que não conseguem plantar nada, não têm como
fazer lavoura. Quem trabalha come com a família, com os vizinhos, divide com quem
precisa. A FUNAI dá uma cesta básica por mês para cada um. Outra dificuldade é casa
de moradia, cada casa tem duas, três famílias morando. A FUNAI, diz, é um órgão que,
em vez de ajudar, atrapalha – tudo tem que passar pela FUNAI, ela assume o
compromisso, e não faz. “É um órgão que já tinha que estar extinto. Tão aí pra ganhar
nas costas do índio, e não fazem nada”, reclama.
Eunice Antunes é professora Guarani em Morro dos Cavalos (SC). Nasceu na
Aldeia de Limeira (Entre Rios – SC). Estudou fora da aldeia, onde foi bem recebida no
começo. Mas conforme foi crescendo, começou a sentir preconceito por ser indígena.
Depois estudou na aldeia até a quinta série. Foi para Curitiba (PR) trabalhar como
empregada doméstica com 14 anos, onde chegou a se casar com um não-indígena. Com
a família do marido também sentiu muito preconceito por ser Guarani e resolveu voltar
para a aldeia. Mas ao chegar na aldeia de Massiambu (Palhoça – SC), diz que sentiu
preconceito por não ser tão Guarani, dos brancos que estavam dentro da aldeia, na
escola, e da Secretaria de Educação. Por isso, foi morar em 2004 em M’Biguaçu. No
129
ano passado, foi para Morro dos Cavalos (SC). Faz curso de magistério para investir na
sua profissão.
Sente uma revolta com a lei dentro da aldeia, acha que as mulheres estão
ficando pra trás. Diz que muitas vezes as mulheres trazem problemas e não são tão
levadas a sério dentro da comunidade. “Acham que a mulher é sempre menos do que o
homem”, ela afirma. Ela tem vontade de fazer um movimento de mulheres dentro da
comunidade, mas muitas ainda têm muito receio. Ela quer saber por que as mulheres
têm menos direitos dentro da aldeia. A atitude dela, de se impor, ela afirma, já fez com
que tivesse que sair de uma aldeia, porque o cacique não aceitava que ela, como mulher,
se impusesse, e mandou-a com sua família embora. “É mania de poder dos homens”,
diz.
Ela conta de um caso que aconteceu com o marido dela, decorrente de um
desentendimento com o cacique de uma aldeia, em que o cacique aplicou-lhe o castigo
de trabalhar em uma plantação por três dias. Nessa aldeia, Eunice sentia que o cacique
trazia muito as leis de fora para a comunidade, confrontando a lei estatal com a
indígena.
Ela explica que a lei Guarani é baseada na religião, respeito pela natureza, pelo
outro, pelas crianças, pela água. São determinados vários rituais, desde quando são
crianças. A professora diferencia a lei indígena da lei indigenista. O cacique batalha
pela comunidade lá fora com as leis indigenistas, para proteger a lei indígena aqui
dentro. Muita gente que conhece a lei indigenista, ela diz, quer parar de seguir a lei
indígena. “Acho que não pode colocar as leis indigenistas dentro da comunidade, isso é
ruim para as leis indígenas”. Ela conta, também, que o pajé é o professor, o conselheiro,
o agrônomo, o médico, tudo gira em torno dele, muitas regras são mitológicas e partem
dele. “Não há preço que pague a pureza do ensinamento da lei interna”. Ela acha que é
possível usar as duas leis, uma respeitando a outra, mas “a lei indígena é bem mais fácil
de seguir”. Ela conta que em uma reunião do magistério, falando sobre a educação
indígena diferenciada, um mais velho criticou: “Toda nossa história oral, nossa memória
perdeu para isso aqui”, apontando para uma caneta. Para ele, a educação indígena
estaria piorando com os recursos dos brancos.
Geraldo Moreira tem 34 anos e nasceu em Morro dos Cavalos. Mora há vinte
anos em M’Biguaçu e é vice-cacique e professor. Hoje faz Pedagogia à Distância na
Univali. Sua família já chegou a morar fora da aldeia, com medo dos confrontos da
demarcação em Morro dos Cavalos. Depois disso, foram para M’Biguaçu. Moraram
130
quatro anos fora da aldeia, mas sofreram muito com o preconceito. Na aldeia só falta
espaço, diz que “daqui a vinte anos não sei o que vai acontecer”. Ele reclama que: “de
1.500 ha que tem ao redor, nos deram somente 60ha”. Apesar disso, explica que estão
reivindicando a ampliação. Sobre o direito comunitário, Geraldo elucida que as normas
são feitas pelas lideranças e que cada aldeia tem as suas regras.
Adriana Moreira nasceu na Aldeia de Cacique Doble (Cacique Doble – RS) e
lá ficou por 22 anos. Estudou até a terceira série, com dez anos começou a trabalhar na
roça e também fazia faxina em casas de fora da aldeia. Chegou a morar dois anos na
casa de um casal para quem trabalhava de empregada doméstica. Está desde 2003 em
M’Biguaçu, onde mora o pai e boa parte da família. Diz que na sua infância não tinha
como ir à escola, que só havia fora da aldeia. Fica feliz que hoje as aldeias têm mais
escolas indígenas. Destaca que existe a regra do mutirão, quando todas as famílias
ajudam a fazer alguma atividade dentro da aldeia, como limpar. Adora a aldeia de
M’Biguaçu, diz que a vida é muito boa lá.
Márcio Moreira, de 22 anos, mora em Morro dos Cavalos. Ele também teve a
experiência de ir morar com outra família e de querer voltar para a aldeia, diz não ter
conseguido se adaptar e quis voltar para sua família biológica. Participa de alguns
Conselhos de fora da aldeia, para defender os interesses da comunidade. Dentro da
aldeia, é o responsável pelo coral das crianças. Está se articulando com jovens de outras
aldeias, até de outros estados, para formar um grupo jovem Guarani. Sobre o direito
comunitário, explica que quem que mora dentro da aldeia tem que ajudar todos os
outros. Se a família que não tiver ajudando deixar de ajudar três vezes, segundo ele, tem
que conversar com a família. “A gente pergunta por que essa família não tá ajudando
dentro da comunidade. Tem que ajudar a limpar, a construir. Teve uma família
misturado com não-indígena que a gente mandou embora, porque não quiseram
respeitar a regra”, diz. Dentro da comunidade não pode andar de noite. Isso quem fala
são os mais velhos, os rezadores. Ele explica que é “porque a gente não vê de noite os
seres que a gente não vê. Então é perigoso, pode ter alguma coisa no caminho e a gente
não sabe. Então tem que ficar dentro de casa”. Márcio também fala que quando um
menino gosta de uma menina, primeiro tem que comunicar a família dela e depois o
cacique. Principalmente tem que pedir autorização da família, o cacique só aconselha.
Outro ponto importante que ele aborda é que cada aldeia tem suas regras e sua forma de
resolver os problemas.
131
CONCLUSÃO
As entrevistas realizadas pretenderam mostrar a relevância de ouvir os povos
indígenas com cuidado. Obviamente o assunto não foi esgotado, considera-se que
muitas outras entrevistas teriam que ser feitas para compreender completamente todas
as linhas pesquisadas dentro das aldeias; mas o objetivo era demonstrar a relevante
atitude de escutar para a construção de um pluralismo jurídico indígena no Brasil. Só
com a disposição de ouvir os povos indígenas uma melhor legislação será construída
para eles e, nesse sentido, por eles. Apenas com o interesse de aprender sobre seu direito
comunitário, esse direito pode ser legitimado e reconhecido. Com as entrevistas, mesmo
assim, pode-se concluir que o direito comunitário indígena de fato existe.
Vimos que a antropologia é muito importante para apreender como vive uma
sociedade diferente da nossa. O cuidado das técnicas antropológicas e os dados
consistentes de sua metodologia e teoria permitem trazer as reivindicações dos povos
para a legislação estatal e descobrir os seus diferentes direitos comunitários.
Concluímos também que é preciso, para isso, superar a idéia de que a “sociedade
brasileira” é melhor e mais apta a dizer o direito do indígena do que ele mesmo ou que
seu direito é tão superior ao direito comunitário indígena que este não seja merecedor de
ser chamado de direito.
Este trabalho trouxe o pluralismo jurídico apresentado por Antonio Carlos
Wolkmer para questionar, também, toda a produção jurídica na área de direitos
indígenas já realizada desde a invasão européia. Foram abordadas as principais leis
produzidas pela Metrópole e depois pelo Império e pela República. Com isso,
demonstramos como os interesses não-indígenas foram sobrepostos às necessidades dos
povos indígenas desde o começo. De acordo com os interesses da Metrópole, da
Colônia, do Império e da República, leis foram feitas e desfeitas, os índios ora foram
considerados escravos, ora não foram; ora amigos, ora inimigos, porque a sociedade
envolvente queria tomar suas terras ou o seu trabalho; ora capazes, ora incapazes,
conforme o governo quis controlar também sua autonomia.
Também demonstramos que a tutela que o Estado deveria exercer, com o
sentido de proteção, foi propositalmente e etnocentricamente confundida com a
capacidade civil, e que ainda hoje esse erro é mantido nas interpretações da doutrina e
da jurisprudência, a partir da total falta de interesse em aprender mais sobre o assunto.
132
O etnocentrismo também faz com que esses falsos intérpretes demonstrem que nada
sabem sobre cultura, quando dizem que índios deixam de pertencer à cultura indígena
quando usam roupas, falam português, têm participação ativa política, usam celular.
Além disso, vimos que esse discurso que não relativiza culturas é utilizado para tentar
descaracterizar grupos indígenas e tomar suas terras para a produção capitalista da elite.
Enfim, concluímos que os índios brasileiros estão hoje ainda em péssimas
condições em decorrência de quinhentos anos de produção legislativa rara, rasa e
desfavorável; de construção hermenêutica e doutrinária fraca e etnocentrista; e da
impregnação do monismo jurídico, que impede a sociedade de perceber quem são os
sujeitos coletivos mais qualificados para construir seu próprio direito: os povos
indígenas.
133
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AFONSO DA SILVA, José. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros,
2007.
AGOSTINHO, Pedro. Incapacidade Civil Relativa e Tutela do Índio. In: SANTOS, Silvio
Coelho. (Org.). O índio perante o direito. Florianópolis (SC): Ed. UFSC, 1982.
ALBUQUERQUE, Antonio Armando Ulian do Lago. Multiculturalismo e o direito à
autodeterminação dos povos indígenas. Florianópolis, 2003. 330 f. Dissertação (Mestrado).
UFSC. Centro de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito.
ANDRADA E SILVA, José Bonifácio. “Apontamentos para a civilisação dos Índios bravos do
Império do Brazil”, 1823. In: CUNHA, Manuela Carneiro da. (Org.). Legislação Indigenista
no Século XIX. Uma compilação: 1808-1189. São Paulo: EDUSP, 1992. Anexo.
APARICIO, Adriana Biller. Direitos Territoriais Indígenas: Diálogo entre o Direito e a
Antropologia – O Caso da Terra Guarani “Morro dos Cavalos”. 134 f. Dissertação (Mestrado).
Curso de Direito, UFSC, Florianópolis (SC), 2008.
APPEL, Michael (2005). La entrevista autobiográfica narrativa: Fundamentos teóricos y la
praxis del análisis mostrada a partir del estudio de caso sobre el cambio cultural de los Otomíes
en México. Forum: Qualitative Social Research, 6(2). Disponível em: <http://www.qualitativeresearch.net/index.php/fqs/article/view/465/995>.
ASSIS, Valéria de. & GARLET, Ivori José. Análise sobre as populações Guarani
Contemporâneas: demografia, espacialidade e questões fundiárias. Revista de Indias, 2004,
vol. LXIV, núm. 230.
BAINES, Stephen Grant. “É a FUNAI que sabe”: A Frente de Atração Waimiri-Atroari.
Belém: MPEG, CNPq, SCT, PR, 1990.
BASTOS, Celso Ribeiro; e MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à Constituição do
Brasil. São Paulo: Saraiva, 2000.
BASTOS, Rafael José de Menezes. Sobre a noção de tutela dos povos e indivíduos indígenas
pela União. In: SANTOS, Silvio Coelho. (Org.). O índio perante o direito. Florianópolis (SC):
Ed. UFSC, 1982.
BERTHO, Ângela Maria de Moraes. Os índios Guarani da Serra do Tabuleiro e a
Conservação da Natureza. Tese. Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas, UFSC:
Florianópolis. 2005.
BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado por Clóvis
Beviláqua. Rio de Janeiro: Ed. Paulo de Azevedo Ltda., 1953.
BLAEU, William. Mapa de 1616. Região abaixo do Trópico de Capricórnio. Disponível em:
<http://www.wdl.org/pt/item/1101/zoom.html>.
BRASIL. Lei 601, de 18/09/1850, sobre as terras devolutas do Império. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L0601-1850.htm>.
134
________. Decreto 8.072, de 20 de junho de 1910. Disponível em:
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=48347>.
________. Lei 3.071 de 1916, que estabelece o Código Civil. Disponível em:
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=75875>.
________. Decreto 5.484, de 27 de junho de 1928. Disponível em:
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=26194>.
________. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937.
Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Constituicao/Constitui%C3%A7ao37.htm>.
________. Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Institui o Código Penal. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto-lei/del2848.htm >.
________. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1967. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao67.htm>.
________. Emenda Constitucional nº. 1, de 17 de outubro de 1969. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc0169.htm>.
________. Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973. Dispõe sobre o Estatuto do Índio.
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L6001.htm>.
________. Anteprojeto Constitucional. Elaborado pela Comissão Provisória instituída pelo
Decreto 91.450, de 18 de julho de 1985. Disponível em:
<http://www.senado.gov.br/sf/publicacoes/anais/constituinte/AfonsoArinos.pdf>.
________. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>.
________. Decreto 1.775, de 8 de janeiro de 1996. Dispõe sobre o procedimento
administrativo de demarcação das terras indígenas. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1775.htm>.
________. Portaria nº. 14 do Ministério da Justiça, de 9 de janeiro de 1996. Estabelece
regras sobre o relatório circunstanciado de identificação e delimitação das terras indígenas.
Disponível
em:<http://www.funai.gov.br/quem/legislacao/pdf/Portaria_FUNAI_n14_de_09_01_1996.pdf>.
________. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2002/L10406.htm>.
________. Decreto 7.065, de 28 de dezembro de 2009. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7056.htm>.
BRIGGS, Charles. Learning how to ask. A sociolinguistic appraisal of the role of the interview
in social science research. Cambridge University Press, 1986.
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. O índio e o mundo dos brancos. Campinas: Ed. da
UNICAMP, 1996.
________. A sociologia do Brasil indígena. Brasília: UnB, 1978.
135
CASTRO, Eduardo Viveiros de. Índios, leis e políticas. In: SANTOS, Silvio Coelho. (Org.). O
índio perante o direito. Florianópolis (SC): Ed. UFSC, 1982.
COLAÇO, Thais Luzia. O direito guarani pré-colonial e as missões jesuíticas: a questão da
incapacidade indígena e da tutela religiosa. Florianópolis. 468f. Tese (Doutorado). Centro de
Ciências Jurídicas. UFSC, 1998.
COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: momentos decisivos. São Paulo:
Brasiliense, 1985.
CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 1993, p. 4563.
CUNHA, Manuela Carneiro da. Introdução a uma história indígena. In: CUNHA, Manuela
Carneiro da. História dos Índios no Brasil. (Org.). São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
________. Política Indigenista no Século XIX. In: CUNHA, Manuela Carneiro da. História dos
Índios no Brasil. (Org.). São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
________. Terra Indígena: história da doutrina e da legislação. In: CUNHA, Manuela Carneiro
da. (Org). Os Direitos do Índio: ensaios e documentos. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1987.
________. Definição de Índios e Comunidades Indígenas nos Textos Legais. In: SANTOS,
Silvio Coelho dos. (Org.). Sociedades Indígenas e o Direito: uma questão de Direitos
Humanos. Florianópolis (SC): Ed. da UFSC, 1985.
DA MATTA, Roberto. Digressão: a fábula das três raças ou o problema do racismo à brasileira.
Relativizando: uma introdução à antropologia social. Petrópolis: Ed. Vozes, 1983.
DARELLA, Maria Dorothea Post. Ore Roipota Yvy Porã “Nós Queremos Terra Boa”.
Territorialização Guarani no Litoral de Santa Catarina-Brasil. 405 f. Tese (Doutorado).
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Programa de Estudos Pós-Graduados em
Ciências Sociais. São Paulo, 2004.
DUPRAT, Deborah. Decisões que causam perplexidade. Artigo no site do Instituto
Socioambiental. Disponível em: <http://pib.socioambiental.org/pt/c/direitos/o-papel-dojudiciario/decisoes-que-causam-perplexidade>.
FARAGE, Nádia; e CUNHA, Manuela Carneiro da. Caráter da tutela do índio: origens e
metamorfoses. In: CUNHA, Manuela Carneiro da. (Org). Os Direitos do Índio: ensaios e
documentos. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1987.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. São
Paulo: Saraiva, 1995.
________. Comentários à constituição brasileira: emenda constitucional nº. 1, de 17 de
outubro de 1969, 1º. V. São Paulo: Saraiva.
FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição brasileira. São Paulo (SP): Saraiva, 1989.
FIUZA, Ricardo (Coord.). Novo Código Civil comentado. São Paulo: Saraiva, 2006.
FUNAI. Site da Fundação Nacional do Índio. Histórico. Disponível em:
<http://www.funai.gov.br/quem/historia/spi.htm>.
136
________. Site da Fundação Nacional do Índio. Histórica e política indigenista. Disponível
em: <http://www.funai.gov.br/indios/fr_conteudo.htm>.
________. Site da Fundação Nacional do Índio. Tabela com a situação das terras indígenas.
Disponível em: <http://www.funai.gov.br/indios/terras/conteudo.htm#atual>.
________. Site da Fundação Nacional do Índio. “Como é feita a demarcação?”. Disponível
em: <http://www.funai.gov.br/indios/terras/conteudo.htm#como>.
GAGLIANO, Pablo Stolze; e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil:
parte geral. São Paulo: Saraiva, 2006.
GAGLIARDI, José Mauro. O Indígena e a República. São Paulo: Ed. Hucitec, Ed USP e Sec.
Estado da Cultura de SP, 1989.
GEERTZ, Clifford. Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989.
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências
sociais. Rio de Janeiro: Record, 2005.
GOMES, Mércio Pereira. Os Índios e o Brasil: Ensaio sobre um holocausto e sobre uma nova
possibilidade de convivência. Petrópolis: Vozes, 1988.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2007.
GUIDON, Niéde. As ocupações pré-históricas do Brasil. In: CUNHA, Manuela Carneiro da.
(Org.). História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1958.
IBGE. Síntese dos indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população
brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sintes
eindicsociais2009/indic_sociais2009.pdf >.
________. Tendências demográficas: uma análise dos indígenas com base nos resultados da
amostra dos censos demográficos 1991 e 2000. Rio de Janeiro: IBGE, 2005. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/tendencia_demografica/indigenas/indigena
s.pdf>.
________. Censo Agropecuário de 2006. Comentários. Rio de Janeiro: IBGE, 2009.
Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/brasil_2006/comen
tarios.pdf>.
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Programas Regionais para uma Nova Política
Indigenista. Março de 1999. Disponível em:
<http://www.socioambiental.org/inst/docs/download/rtf/prog_reg.pdf>.
LEITÃO, Raimundo Sergio Barros. Natureza jurídica do ato administrativo de terra indígena – a
declaração em juízo. In: SANTILLI, Juliana (Coord.). Os Direitos Indígenas e a Constituição.
Porto Alegre: Núcleo de Direitos Indígenas e Sergio Antonio Fabris Editor, 1993.
137
LEMOS, Miguel; e MENDES, R. Teixeira. Bazes de uma constituição política ditatorial
federativa para a Republica Brazileira. Rio de Janeiro: Apostolado Pozitivista do Brazil,
1890.
LÉVI-STRAUSS, Claude. História de Lince. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
LIMA, Antônio Carlos de Souza. O Governo dos Índios sob a gestão do SPI. In: CUNHA,
Manuela Carneiro da. História dos Índios no Brasil. (Org.). São Paulo: Companhia das Letras,
2002.
LISBOA, João Francisco Kleba. O Direito perante o índio: terras indígenas, ocupação
tradicional e alteridade no ordenamento jurídico brasileiro. Florianópolis. 62 p. Monografia
(Bacharel em Direito). UFSC, 2008.
LOWIE, Robert. Religiones Primitivas. Madrid: Alianza, 1983 (1925).
MACHADO, Marina Monteiro. A Trajetória da Destruição: índios e terras no império do
Brasil. Dissertação (Mestrado). 137 f. Programa de Pós- Graduação em História Social da
Universidade Federal Fluminense, 2006.
MARÉS DE SOUZA FILHO, Carlos Frederico. O renascer dos povos indígenas para o
direito. Curitiba: Juruá, 2000.
________. Da tirania à tolerância: o direito e os índios. In: NOVAES, Adauto. (Org.). A Outra
Margem do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
________. Tutela aos índios: proteção ou opressão? In: SANTILLI, Juliana (Coord.). Os
Direitos Indígenas e a Constituição. Porto Alegre: Núcleo de Direitos Indígenas e Sergio
Antonio Fabris Editor, 1993.
Matéria de Juliana Arini e Mariana Sanches. Uma guerra equivocada. Revista Época. Ed. 523,
26 de maio de 2008. Disponível em:
<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG83883-6009-523,00UMA+GUERRA+EQUIVOCADA.html>.
Matéria de Ronaldo Soares. Um golpe de insensatez. Revista Veja. Ed. 2062, 28 de maio de
2008. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/280508/p_064.shtml>.
Matéria não assinada. Amazônia: a soberania está ameaçada. Muita terra para pouco índio.
Revista ISTOÉ. Ed. 2012, 28 de maio de 2008. Disponível em:
<http://www.istoe.com.br/reportagens/4261_AMAZONIA+A+SOBERANIA+ESTA+EM+XE
QUE>.
MEINCKE, Sonia Maria Könzgen. A construção da paternidade na família do pai
adolescente: contribuição para o cuidado de enfermagem. Tese (Doutorado). Programa de PósGraduação em Enfermagem, UFSC, Florianópolis (SC), 2007.
MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, João. Os Indígenas do Brazil, seus direitos individuaes e
políticos. São Paulo: Hennies, 1912.
MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000.
________. Comentários à Constituição de 1967. Tomo 1. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1970.
138
MONTANARI JÚNIOR, Isaías. Demarcação de Terras Indígenas na Faixa de Fronteira
Sob o Enfoque da Defesa Nacional. 138 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Direito, UFSC,
Florianópolis (SC), 2005.
NOELLI, Francisco. Distribución geográfica de las evidencias arqueológicas guaraní. In:
Revista de Indias, LXIV, 230, Madrid, 2004.
NÖTZOLD, Ana Lúcia Vulfe; BRIGHENTI, Clóvis Antônio. Demografia e direito indígena:
uma leitura a partir do contexto catarinense. Revista de Ciências Humanas, Florianópolis,
EDUFSC, Volume 43, Número 1, p. 145-163, Abril de 2009.
NUNES JÚNIOR, Orivaldo. INTERNETNICIDADE: Caminhos dos uso de Novas
Tecnologias de Informação e Comunicação por Povos Indígenas. Florianópolis. 111 f.
Dissertação (Mestrado). Curso de Programa de Pós-graduação em Educação. UFSC, 2009.
OLIVEIRA, João Pacheco. Contexto e Horizonte Ideológico: Reflexões sobre o Estatuto do
Índio. In: SANTOS, Silvio Coelho dos. (Org.). Sociedades Indígenas e o Direito: uma questão
de Direitos Humanos. Florianópolis (SC): Ed. da UFSC, 1985.
OIT. Convenção 107, de 5 de junho de 1957. Disponível em:
<http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/legislacao/legislacao-docs/convencoesinternacionais/conv_intern_02.pdf>.
PAULILO, Maria Angela Silveira. Serviço Social em Revista. Publicação do Departamento de
Serviço Social, Centro de Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual de Londrina. –
Vol. 1, n. 1 (Jul./Dez. 1998).
PEIRANO, Mariza. “A favor da etnografia”. In: A favor da etnografia. Rio de Janeiro:
Relume-Dumará, 1995.
PERRONE-MOISÉS, Beatriz. Índios livres e índios escravos: os princípios da legislação
indigenista do período colonial (séculos XVI a XVIII). In: CUNHA, Manuela Carneiro da.
História dos Índios no Brasil. (Org.). São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
PIRES, Sérgio Luiz Fernandes. O aspecto jurídico da conquista da América pelos espanhóis e a
inconformidade de Bartolomé de Las Casas. In: WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralidade
jurídica na América luso-hispânica. In: WOLKMER, Antonio Carlos. (Org.) Direito e Justiça
na América Indígena: da conquista à colonização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.
QUEZADA, Sergio Eduardo Carrera. A terra de Nhanderu: organização sociopolítica e
processos de ocupação territorial dos Mbyá-Guarani em Santa Catarina, Brasil. Florianópolis.
161 f. Dissertação (Mestrado) Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Programa de PósGraduação em Antropologia Social. UFSC, 2007.
RANGEL, Jesus Antonio de La Torre. Direitos dos povos indígenas: da Nova Espanha até a
Modernidade. In: WOLKMER, Antonio Carlos. (Org.) Direito e Justiça na América Indígena:
da conquista à colonização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.
REINALDO DE SOUZA, Alvaro. Os povos indígenas: minorias étnicas e a eficácia dos
direitos constitucionais no Brasil. Florianópolis, 2002. Tese (Doutorado). UFSC, Centro de
Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito.
RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil
moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
139
________. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
SAMPAIO SILVA, Orlando. O Índio Perante o Direito. In: SANTOS, Silvio Coelho. (Org.). O
índio perante o direito. Florianópolis (SC): Ed. UFSC, 1982.
SANTOS, Silvio Coelho. Os povos indígenas e a constituinte. Florianópolis: Ed. da UFSC,
Movimento, 1989.
SHOHAT, Ella; STAM, Robert. Crítica da imagem eurocêntrica. São Paulo: Cosacnaify,
2006.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Súmula 140. Disponível em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?processo=140&&b=SUMU&p=true&t=&l=10&
i=1>.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HC 88853/MS. Rel. Ministra. JANE SILVA
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em
18/12/2007, DJ 11/02/2008.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Acórdão nos autos da Petição 3388/2005. Relator Min.
Carlos Ayres Britto. “Condição” XVII da decisão. Brasília (DF), 19 de março de 2009.
Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=raposa%20serra%20do
%20sol&base=baseAcordaos>.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. Sentença nos autos n°. 027.06.0024956. Comarca de Ibirama. Juiz Jeferson Isidoro Mafra. Ibirama (SC), 12 de novembro de 2009.
Disponível em:
<http://ibirama.tj.sc.gov.br/cpopg/pcpoQuestConvPDFframeset.jsp?cdProcesso=0R00013R200
00&cdDoc=183673&cdCategDoc=&cdModeloDoc=&OrigemDoc=3&PG=pg&cdForo=27&pd
f=true>.
________. Apelação Criminal n. 2002.026621-9. De Abelardo Luz, Relator: Des. Jaime
Ramos. d. 11/03/2003.
________. Recurso Criminal n. 2003.006604-7. De Ibirama, Relator: Maurílio Moreira Leite,
Segunda Câmara Criminal, Data: 03/06/2003.
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª. REGIÃO. AC 2007.71.04.006854-6. Terceira
Turma, Relatora Silvia Maria Gonçalves Goraieb, d. 07/01/2010.
VIEIRA, Otávio Dutra. Colonização portuguesa, catequese jesuítica e Direito Indígena. In:
WOLKMER, Antonio Carlos. (Org.) Direito e Justiça na América Indígena: da conquista à
colonização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Jornal O Estado de São Paulo. Suplementos – Aliás,
20/04/2008. Entrevista concedida a Flávio Pinheiro e Laura Greenhalgh. Disponível em:
<http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,nao-podemos-infligir-uma-segunda-derrotaa-eles,159735,0.htm>.
WOLKMER, Antonio Carlos. História do Direito no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
________. Introdução aos fundamentos de uma teoria geral dos “novos” direitos. In: ______;
MORATO LEITE, José Rubens (orgs.). Os “novos” direitos no Brasil: natureza e
perspectivas: uma visão básica das novas conflituosidades jurídicas. São Paulo: Saraiva, 2003.
140
________. Pluralismo Jurídico: Fundamentos de uma nova cultura no Direito. São Paulo: Ed.
Alfa Omega, 2001.
WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralidade jurídica na América luso-hispânica. In: WOLKMER,
Antonio Carlos. (Org.) Direito e Justiça na América Indígena: da conquista à colonização.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.
141