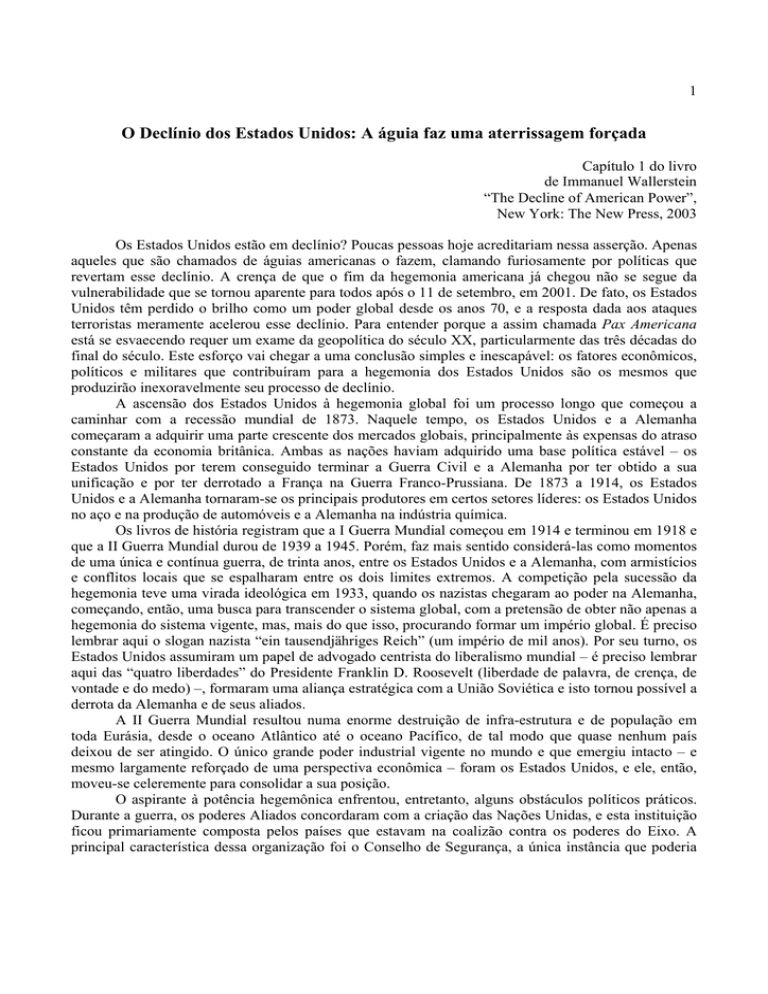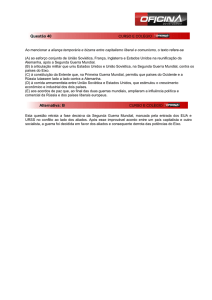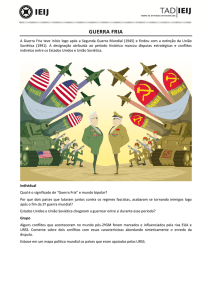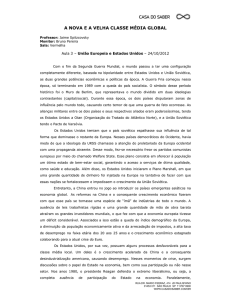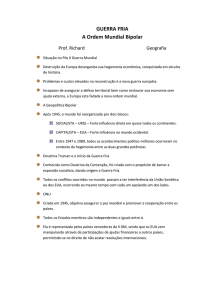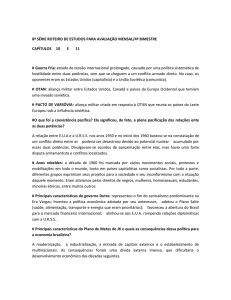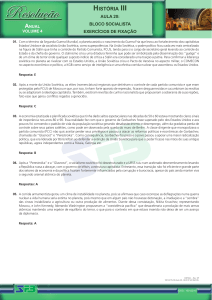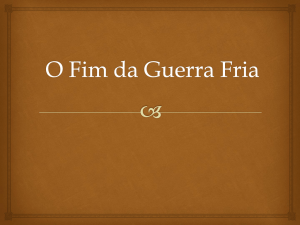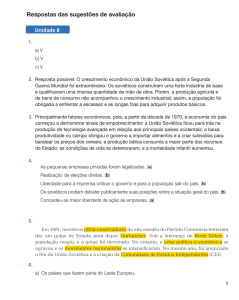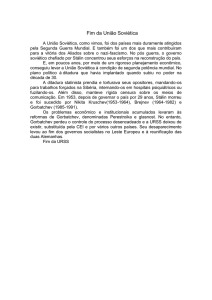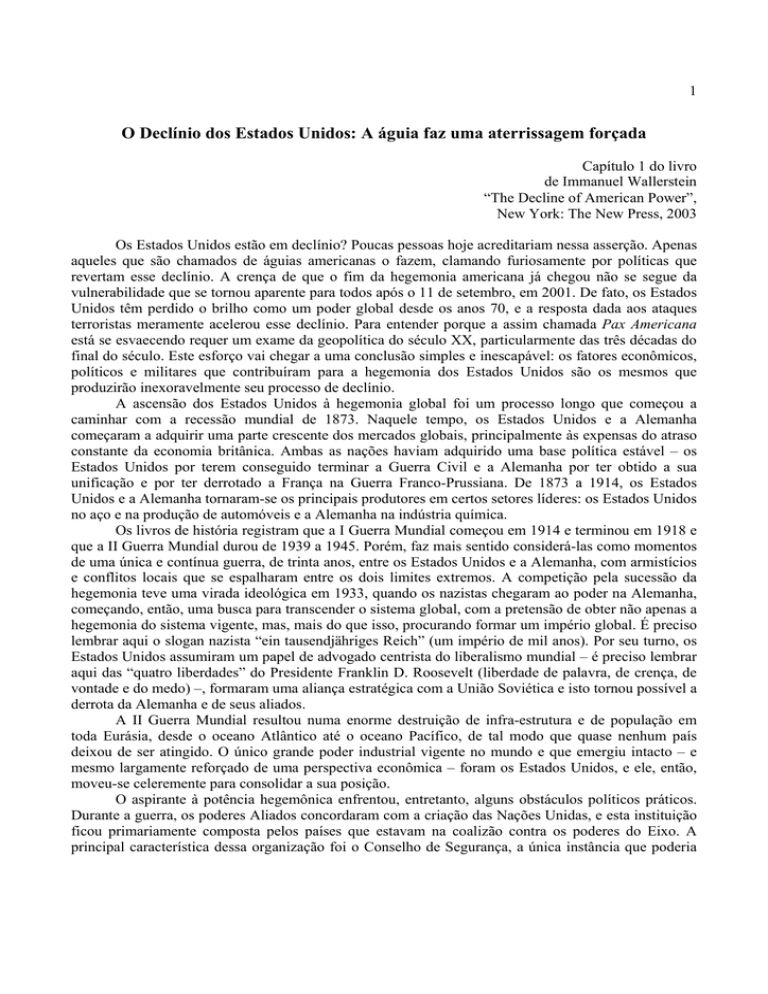
1
O Declínio dos Estados Unidos: A águia faz uma aterrissagem forçada
Capítulo 1 do livro
de Immanuel Wallerstein
“The Decline of American Power”,
New York: The New Press, 2003
Os Estados Unidos estão em declínio? Poucas pessoas hoje acreditariam nessa asserção. Apenas
aqueles que são chamados de águias americanas o fazem, clamando furiosamente por políticas que
revertam esse declínio. A crença de que o fim da hegemonia americana já chegou não se segue da
vulnerabilidade que se tornou aparente para todos após o 11 de setembro, em 2001. De fato, os Estados
Unidos têm perdido o brilho como um poder global desde os anos 70, e a resposta dada aos ataques
terroristas meramente acelerou esse declínio. Para entender porque a assim chamada Pax Americana
está se esvaecendo requer um exame da geopolítica do século XX, particularmente das três décadas do
final do século. Este esforço vai chegar a uma conclusão simples e inescapável: os fatores econômicos,
políticos e militares que contribuíram para a hegemonia dos Estados Unidos são os mesmos que
produzirão inexoravelmente seu processo de declínio.
A ascensão dos Estados Unidos à hegemonia global foi um processo longo que começou a
caminhar com a recessão mundial de 1873. Naquele tempo, os Estados Unidos e a Alemanha
começaram a adquirir uma parte crescente dos mercados globais, principalmente às expensas do atraso
constante da economia britânica. Ambas as nações haviam adquirido uma base política estável – os
Estados Unidos por terem conseguido terminar a Guerra Civil e a Alemanha por ter obtido a sua
unificação e por ter derrotado a França na Guerra Franco-Prussiana. De 1873 a 1914, os Estados
Unidos e a Alemanha tornaram-se os principais produtores em certos setores líderes: os Estados Unidos
no aço e na produção de automóveis e a Alemanha na indústria química.
Os livros de história registram que a I Guerra Mundial começou em 1914 e terminou em 1918 e
que a II Guerra Mundial durou de 1939 a 1945. Porém, faz mais sentido considerá-las como momentos
de uma única e contínua guerra, de trinta anos, entre os Estados Unidos e a Alemanha, com armistícios
e conflitos locais que se espalharam entre os dois limites extremos. A competição pela sucessão da
hegemonia teve uma virada ideológica em 1933, quando os nazistas chegaram ao poder na Alemanha,
começando, então, uma busca para transcender o sistema global, com a pretensão de obter não apenas a
hegemonia do sistema vigente, mas, mais do que isso, procurando formar um império global. É preciso
lembrar aqui o slogan nazista “ein tausendjähriges Reich” (um império de mil anos). Por seu turno, os
Estados Unidos assumiram um papel de advogado centrista do liberalismo mundial – é preciso lembrar
aqui das “quatro liberdades” do Presidente Franklin D. Roosevelt (liberdade de palavra, de crença, de
vontade e do medo) –, formaram uma aliança estratégica com a União Soviética e isto tornou possível a
derrota da Alemanha e de seus aliados.
A II Guerra Mundial resultou numa enorme destruição de infra-estrutura e de população em
toda Eurásia, desde o oceano Atlântico até o oceano Pacífico, de tal modo que quase nenhum país
deixou de ser atingido. O único grande poder industrial vigente no mundo e que emergiu intacto – e
mesmo largamente reforçado de uma perspectiva econômica – foram os Estados Unidos, e ele, então,
moveu-se celeremente para consolidar a sua posição.
O aspirante à potência hegemônica enfrentou, entretanto, alguns obstáculos políticos práticos.
Durante a guerra, os poderes Aliados concordaram com a criação das Nações Unidas, e esta instituição
ficou primariamente composta pelos países que estavam na coalizão contra os poderes do Eixo. A
principal característica dessa organização foi o Conselho de Segurança, a única instância que poderia
2
autorizar o uso da força. A Carta das Nações Unidas concedeu o direito de veto no Conselho de
Segurança a cinco países, incluindo os Estados Unidos e a União Soviética, o que fez dele um órgão
sem poder na prática. Assim, não foi a fundação das Nações Unidas em abril de 1945 que determinou
os constrangimentos geopolíticos da segunda metade do século XX, mas, isto sim, os acordos de Ialta
entre Roosevelt, o grande primeiro ministro britânico Winston Churchill, e o líder soviético, Joseph
Stalin, dois meses antes.
Os acordos formais de Ialta foram menos importantes do que os acordos informais, não escritos,
aos quais só se podem ter acesso pela observação do comportamento dos Estados Unidos e da União
Soviética nos anos que se seguiram. Quando a guerra terminou na Europa, em 8 de maio de 1945, as
tropas soviéticas e as tropas ocidentais estavam estacionadas em certos lugares específicos –
essencialmente ao longo da linha norte-sul no centro da Europa, do rio Elba, os quais formam uma
linha divisória historicamente tradicional da Alemanha. A menos de alguns poucos ajustamentos, eles
ficaram lá. No momento mesmo de sua realização, Ialta significou um acordo válido para ambas as
partes segundo o qual elas poderiam ficar onde estavam e que nenhuma delas empregaria a força para
empurrar a outra para trás. Este acordo tácito se aplicou também à Ásia, como ficou evidente pela
ocupação do Japão pelos Estados Unidos e pela divisão da Coréia. Politicamente, portanto, Ialta foi um
acordo para estabelecer um status quo em que a União Soviética controlava um terço do mundo e os
Estados Unidos ficavam com o resto.
Washington também enfrentou desafios militares sérios. A União Soviética tinha a maior força
terrestre do mundo, enquanto que o governo dos Estados Unidos esteve sempre sobre pressão
doméstica para reduzir o seu exército, particularmente para acabar com o alistamento militar. Os
Estados Unidos, em conseqüência, decidiram assegurar o seu poder militar não por meio de forças
terrestres, mas por meio do monopólio das armas nucleares (e pela capacidade de sua força aérea de
lançá-las). Este monopólio logo desapareceu: em 1949, a União Soviética já havia igualmente
desenvolvido as suas armas nucleares. Desde então, os Estados Unidos tiveram de se contentar em
procurar impedir a aquisição de armas nucleares (assim como de armas químicas e biológicas) pelo
outros poderes mundiais, num esforço que, da perspectiva do século XXI, parece não ter sido muito
bem sucedido.
Até 1991, os Estados Unidos e a União Soviética coexistiram por meio do “balanço do terror”
da Guerra Fria. Este status quo foi testado somente três vezes: no bloqueio de Berlim em 1948-49, na
Guerra da Coréia, de 1950 a 1953, e na crise cubana dos mísseis em 1962. O resultado em cada um dos
casos acabou sendo a restauração do status quo. Ademais, é preciso notar que toda vez que a União
Soviética enfrentou uma crise política em seus regimes satélites – na Alemanha Oriental em 1953, na
Hungria em 1956, na Tchecoslováquia em 1968, na Polônia em 1981 – os Estados Unidos se
empenharam pouco mais do que em meros exercícios de propaganda, permitindo à União Soviética
agir amplamente de conforme os seus objetivos.
Naturalmente, essa passividade não se estendeu à arena econômica. Os Estados Unidos
aproveitaram a atmosfera da Guerra Fria para lançar um massivo esforço de reconstrução, primeiro na
Europa Ocidental e depois no Japão, assim como na Coréia do Sul e em Formosa. A razão era óbvia:
qual a vantagem em ter uma ampla superioridade na produção se o resto do mundo não pudesse
contribuir para a demanda efetiva? Ademais, a reconstrução econômica ajudava a criar obrigações de
clientela por parte das nações que recebiam ajuda dos Estados Unidos; este compromisso alimentou
ademais o desejo desses países de formar alianças estratégicas e, mesmo mais do que isso, de se
submeterem à política dos Estados Unidos.
Finalmente, não se pode subestimar o componente ideológico e cultural da hegemonia
americana. O período imediatamente após 1945 deve ter sido o ponto alto histórico da popularidade da
ideologia comunista. Facilmente é esquecido hoje o grande número de votos que os partidos
3
comunistas obtiveram nas eleições livres em países como Bélgica, França, Itália, Tchecoslováquia e
Finlândia, sem mencionar o apoio que os partidos comunistas obtiveram na Ásia – no Vietnã, Índia e
Japão – assim como por toda a América Latina. E isto deixa de fora áreas como a China, Grécia e Irã,
em que as eleições livres não ocorreram ou foram constrangidas, mas nas quais os partidos comunistas
gozaram de amplo apoio. Em resposta, os Estados Unidos encetaram uma ofensiva ideológica
anticomunista massiva. Em retrospecto, essa iniciativa aparece como amplamente bem sucedida:
Washington brandiu a bandeira de líder do “mundo livre” pelo menos de um modo tão efetivo quanto a
União Soviética brandiu a sua bandeira de líder do campo “progressista” e “antiimperialista”.
O sucesso dos Estados Unidos como potência hegemônica no período do pós-guerra criou as
condições para a sua demissão como nação hegemônica. Este processo pode ser apreendido por quatro
símbolos: a guerra do Vietnã, as revoluções de 1968, a queda do Muro de Berlim em 1989, e os ataques
terroristas em setembro de 2001. Cada símbolo construiu-se sobre o anterior, culminando numa
situação em que os Estados Unidos correntemente se encontram – ou seja, uma situação de um
superpoder solitário ao qual falta poder real, um líder mundial que ninguém segue e poucos respeitam,
e uma nação empurrada para cá e para lá em meio a uma crise caótica global que não pode controlar.
O que foi a Guerra do Vietnã? Primeiro de tudo e de modo enfático, ela foi um esforço do povo
vietnamita para por um fim ao mando colonial e para estabelecer o seu próprio Estado. Os vietnamitas
lutaram contra a França, o Japão e os americanos, e, no final, venceram – obtiveram uma grande
vitória, afinal. De um ponto de vista geopolítico, porém, a guerra representou a rejeição do status quo
de Ialta pelas populações do Terceiro Mundo. O Vietnã se tornou um símbolo tão poderoso porque
Washington foi tolo o suficiente para investir toda a sua força militar nessa luta pouco gloriosa e, ao
final, os Estados Unidos ainda assim perderam. É verdade, os Estados Unidos não utilizaram armas
nucleares (uma decisão que certos grupos míopes da direita reprovaram longamente), mas tal uso teria
despedaçado os acordos de Ialta e poderia ter produzido um holocausto nuclear – um resultado que os
Estados Unidos simplesmente não poderiam arriscar.
O Vietnã, porém, não foi meramente uma derrota militar ou um deslustre para o brilho
americano. A guerra foi um grande sopro na capacidade americana de permanecer na condição de
maior poder econômico no mundo. O conflito foi extremamente dispendioso e foi capaz de produzir
uma queda expressiva nas reservas de ouro dos Estados Unidos, as quais tinham estado em nível pleno
desde 1945. Ademais, os Estados Unidos incorreram nesses custos justamente quando a Europa
Ocidental e o Japão experimentavam uma ascensão econômica importante. Essas condições terminaram
com a proeminência dos Estados Unidos na economia global. Desde o fim dos anos 60, os membros
dessa tríade tornaram-se aproximadamente igual do ponto de vista econômico, cada um deles
desempenhando melhor do que os outros durante certos períodos, mas nenhum deles se movendo muito
à frente dos outros. Quando explodiram as revoluções de 1968 por todo o mundo, o apoio aos
vietnamitas se tornou um componente retórico de grande expressão. “Um, dois, muitos Vietnã” e “Ho
ho, Ho Chi Minh” eram cantados em muitas ruas, e não menos nas ruas dos próprios Estados Unidos.
Os partidários de 1968 não apenas condenaram os Estados Unidos, mas eles condenaram também Ialta,
usando ou adaptando a linguagem da revolução cultural chinesa, o que dividiu o mundo em dois
campos – o das duas superpotências e o do resto do mundo.
A denúncia das coalizões soviéticas levou logicamente à denúncia daquelas forças nacionais
fortemente aliadas à União Soviética, ou seja, em muitos casos, os partidos comunistas tradicionais. Os
revolucionários de 1968, porém, insurgiram-se também contra outras forças da velha esquerda – os
movimentos nacionais de liberação no Terceiro Mundo, os movimentos social-democráticos na Europa
Ocidental, os democratas do New Deal nos Estados Unidos – acusando-os todos eles de se aliarem
àquilo que os revolucionários chamaram de “Imperialismo Americano”.
4
O ataque à aliança dos soviéticos com Washington, ademais do ataque à velha esquerda,
enfraqueceu ainda mais a legitimidade dos acordos de Ialta, sobre os quais os Estados Unidos
moldaram a ordem mundial. Além disso, ele minou a posição do liberalismo centrista enquanto
legítima e única ideologia global. As conseqüências políticas diretas das revoluções de 1968 foram
mínimas, mas as suas repercussões geopolíticas e intelectuais foram enormes e irrevocáveis. O
liberalismo centrista caiu do trono que ocupara desde as revoluções européias de 1848, o que lhe
permitia cooptar tanto os conservadores quanto os radicais para a sua posição. Essas ideologias
retornaram à cena, criando, uma vez mais, uma ampla gama de escolha. Os conservadores tornaram-se
de novo conservadores e os radicais, radicais. O liberalismo centrista não desapareceu, mas ele ficou
diminuído em seu tamanho. Nesse processo, a posição ideológica dos Estados Unidos – antifascista,
anticomunista, anticolonialista – tornou-se fraca e pouco convincente em dimensão crescente para as
populações do mundo.
O começo da estagnação econômica dos anos 70 teve duas importantes conseqüências para o
poder dos Estados Unidos. Primeiro, a estagnação resultou no colapso do “desenvolvimentismo” –
noção segundo a qual cada nação poderia alcançar o desenvolvimento econômico se o Estado tomasse
as ações apropriadas para tal – o qual era o mote ideológico principal dos movimentos da velha
esquerda no poder. Um após outro, esses regimes enfrentaram desordens internas, padrões declinantes
de bem-estar, crescente dependência de dívidas com as instituições financeiras internacionais e erosão
da credibilidade. O que parecia ser, nos anos 60, uma bem sucedida manobra dos Estados Unidos para
levar o Terceiro Mundo pelo caminho da descolonização – um caminho em que se minimizava
erupções e se maximizava a transferência suave de poder para regimes que eram desenvolvimentistas e,
ademais, escassamente revolucionários – deu origem a uma ordem em desintegração que está
espalhando descontentes e despertando os temperamentos radicais. Quando os Estados Unidos tentaram
intervir, sempre falharam. Em 1983, o presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan enviou tropas
para o Líbano para restaurar a ordem. As tropas foram forçadas a cair fora. Ele compensou o fracasso,
invadindo Granada, um país sem tropas. O presidente George H. W. Bush invadiu o Panamá, outro país
sem tropas. Ele interveio depois na Somália para restaurar a ordem, mas os Estados Unidos foram
forçados também a cair fora, de um modo ignominioso. Desde então, o governo dos Estados Unidos
pouco pode fazer para reverter essa tendência de declínio de sua hegemonia, de tal modo que
simplesmente passou a ignorá-la – essa orientação política prevaleceu desde a saída do Vietnã até o 11
de setembro de 2001.
Nesse meio tempo, os verdadeiros conservadores começaram a assumir o controle das
instituições chaves do Estado e dos órgãos internacionais. A ofensiva neoliberal nos anos 1980 foi
marcada pelos regimes Thatcher e Reagan e pela emergência do Fundo Monetário Internacional (FMI)
como um ator chave na cena mundial. Se (por mais de um século) as forças conservadoras tiveram de
se retratar como liberais mais competentes, agora os liberais centristas foram compelidos a argumentar
que eles eram conservadores mais efetivos. Os programas conservadores eram claros. Domesticamente,
os conservadores procuravam encetar políticas que reduziam os custos do trabalho, minimizavam os
constrangimentos ambientais para os empreendimentos capitalistas, cortavam os benefícios sociais.
Diante de um sucesso apenas modesto, os conservadores moveram-se vigorosamente para a arena
internacional. Os encontros do Fórum Econômico Mundial, em Davos, forneciam um lugar de reunião
para a elite e a mídia. O FMI fornecia um clube para os ministros das finanças e para os representantes
de bancos centrais. Os Estados Unidos se empenharam na criação da Organização Mundial do
Comércio para forçar a liberação dos fluxos do livre-comércio através das fronteiras do mundo.
Sem que os Estados Unidos fossem capazes de perceber, a União Soviética estava entrando em
colapso. Sim, Ronald Reagan chamava ainda a União Soviética de “império do mal” e empregava uma
retórica bombástica para pedir a destruição do muro de Berlim, sem que os Estados Unidos estivessem
5
de fato lutando por isso e sem poder assumir a responsabilidade pela queda da União Soviética. Na
verdade, a União Soviética e seus aliados na zona imperial do leste europeu colapsaram por causa da
desilusão popular com a velha esquerda e por causa dos esforços do líder soviético Mikhail Gorbatchev
para salvar o seu regime liquidando Ialta e instituindo uma liberalização interna (a perestroika com a
adição da glasnost). Gorbatchev foi bem sucedido na liquidação de Ialta, mas não conseguiu salvar a
União Soviética (embora, ele tenha chegado próximo, como é dito).
Os Estados Unidos ficaram espantados e confusos em razão do súbito colapso, incertos sobre
como iriam enfrentar as conseqüências. O colapso do comunismo de fato significou o colapso do
liberalismo porque ele removeu a única justificação ideológica por de trás da hegemonia americana,
uma justificação tacitamente apoiada pelo opositor ideológico ostensivo do liberalismo. Essa perda de
legitimidade levou diretamente à invasão do Kuwait pelo Iraque, coisa que o líder iraquiano Saddam
Hussein nunca teria feito se os arranjos de Ialta tivessem permanecido em vigor. Em retrospecto, os
esforços dos Estados Unidos na Guerra do Golfo conseguiram um armistício em que, basicamente,
estabeleceu-se o mesmo ponto de partida. Pode um poder hegemônico satisfazer-se com um empate
numa guerra com um poder regional de qualidade média? Saddam demonstrou que é possível entrar em
luta contra os Estados Unidos sem ser derrotado. Ainda mais do que a derrota no Vietnã, o desafio
agressivo de Saddam queimou nas vísceras da direita americana, em particular daqueles direitistas
conhecidos como falcões, o que explica o fervor do atual desejo de invadir o Iraque para destruir o seu
regime.
Entre a Guerra do Golfo e o 11 de setembro de 2001, as duas maiores arenas de conflito foram
os Bálcãs e o Oriente Médio. Os Estados Unidos tiveram um papel diplomático importante nas duas
regiões. Olhando para trás, como seriam diferentes os resultados alcançados se os Estados Unidos
tivessem assumido uma posição completamente isolacionista? Nos Bálcãs, um estado multinacional
economicamente bem sucedido, a Iugoslávia, foi quebrado, essencialmente em suas partes
constituintes. Durante 10 anos, muitos dos estados resultantes engajaram-se num processo de partições
étnicas, experimentando violência brutal, difundidas violações dos direitos humanos e guerra sem
reservas. A intervenção externa – na qual os Estados Unidos tiveram um papel proeminente – trouxe
um armistício e acabou com a violência flagrante, mas essa intervenção de modo algum reverteu as
partições, as quais agora foram consolidadas e de algum modo legitimadas. Esses conflitos teriam
acabado de modo diferente sem o envolvimento dos Estados Unidos? A violência poderia ter durado
mais tempo, mas os resultados básicos não teriam sido provavelmente muito diferentes. O quadro é
mesmo mais desapontador no Oriente Médio, onde, dado tudo que vem ocorrendo, o engajamento dos
Estados Unidos foi mais profundo e os fracassos se tornaram mais espetaculares. Nos Bálcãs e no
Oriente Médio, os Estados Unidos falharam de forma semelhante no exercício de sua influência
hegemônica, não por desejo ou esforço de boa vontade, mas por desejo de poder real.
Então, ocorreu o 11 de setembro – o choque e a reação. Sob o fogo dos legisladores americanos,
a Agência de Inteligência Central (CIA) passou a informar que alertara a administração Bush no que se
refere a uma possível ameaça. Apesar, entretanto, da concentração de esforços da CIA sobre a Al
Qaeda e de sua alta especialização como agência de inteligência, ela não foi capaz de prever (e, em
conseqüência, impedir) a execução dos ataques terroristas. Pelo menos, foi isto o que o diretor da CIA,
George Tenet andou dizendo. O testemunho dificilmente confortou o governo dos Estados Unidos ou o
povo americano. Seja lá o que a história venha decidir, os ataques de 11 de setembro de 2001
representaram um grande desafio para o poder americano. As pessoas responsáveis por ele não eram
representantes de um grande poder militar. Eles eram membros de uma força não estatal, com alto grau
de determinação e uma base poderosa num estado fraco. Em resumo, militarmente, eles não eram nada.
E, apesar disso, foram bem sucedidos num ataque brutal no solo americano.
6
George W. Bush chegou ao poder com uma posição muito crítica quanto ao modo pelo qual a
administração Clinton manejava os problemas do mundo. Bush e os seus conselheiros não admitiam –
mas estavam sem dúvida cientes – de que a rota seguida por Clinton não diferia do caminho seguido
por todos os presidentes americanos desde Gerald Ford e passando por Ronald Reagan e George H. W.
Bush. Esse também era o caminho seguido pela atual administração Bush antes do 11 de setembro.
Basta observar como Bush conduziu as negociações relativas à queda do avião americano na China, em
Abril de 2001, para ver que a prática seguiu a regra da prudência.
Depois dos ataques terroristas, Bush mudou de curso, declarou guerra ao terrorismo, assegurou
ao povo americano que “o resultado é certo” e informou ao mundo que “ou você está conosco ou está
contra nós”. Frustrados em seus propósitos mesmo nas mais conservadoras administrações americanas,
os falcões finalmente conseguiram dominar a política dos Estados Unidos. A sua posição é clara: como
os Estados Unidos detém um poder militar abrangente e superior, mesmo se um sem número de líderes
estrangeiros considerarem imprudente permitir que Washington use os seus músculos militares, estes
mesmos líderes não poderiam e não fariam nada se os Estados Unidos simplesmente impusessem sua
vontade ao resto do mundo. Os falcões acreditam que os Estados Unidos deveriam agir como um poder
imperial por duas razões: primeiro, porque os Estados Unidos podem se dar bem desse modo; e,
segundo, porque se Washington não exercer a sua força, os Estados Unidos se tornarão crescentemente
marginalizados.
Atualmente, essa posição guerreira tem três expressões concretas: a invasão militar do
Afeganistão, o apoio de fato aos israelenses para liquidar a Autoridade Palestina e a invasão do Iraque.
Um ano após os ataques terroristas de Setembro de 2001, talvez seja ainda muito cedo para avaliar os
resultados dessa estratégia. Até o momento, essas ações derrubaram o governo do Taleban no
Afeganistão (sem desmantelar completamente a Al Qaeda ou capturar o seu líder maior); provocaram
uma enorme destruição na Palestina (sem conseguir tornar o líder palestino Yasir Arafat “irrelevante”,
tal como fora classificado pelo primeiro ministro de Israel, Ariel Sharon); suscitaram uma enorme
oposição dos aliados dos Estados Unidos na Europa, no Oriente Médio aos planos de invadir o Iraque.
Na leitura que os falcões fazem dos eventos recentes, eles enfatizam que a oposição às ações
dos Estados Unidos, apesar de séria, permaneceu amplamente no plano verbal. Nem a Europa
Ocidental, nem a Rússia ou a China, ou ainda a Arábia Saudita, parecem querer quebrar de um modo
sério os vínculos como os Estados Unidos. Em outras palavras, os falcões acreditam que Washington
de fato saiu-se bem até agora. Os falcões supõem que um resultado similar irá ocorrer quando os
militares dos Estados Unidos invadirem realmente o Iraque, assim como quando ele vier a exercer a sua
autoridade em qualquer outro lugar do mundo, seja no Irã, Coréia do Norte, Colômbia ou talvez na
Indonésia. Ironicamente, a leitura dos falcões tem se tornada amplamente a da esquerda internacional, a
qual têm vociferado contra as políticas dos Estados Unidos – principalmente porque têm medo de que
as chances de sucesso dos Estados Unidos sejam altas.
As avaliações dos falcões, entretanto, estão erradas e apenas contribuirão para o declínio dos
Estados Unidos, transformando uma descida gradual numa queda muito mais rápida e mais turbulenta.
De modo mais específico, o modo falconídeo de abordar as questões falharam por razões militares,
econômicas e ideológicas.
Indubitavelmente, a jogada militar permanece a mais poderosa dos Estados Unidos; de fato, esta
é a sua única alternativa forte no jogo internacional. Atualmente, os Estados Unidos possui o mais
formidável aparato militar do mundo. Ademais, acreditando nos anúncios de novas e incomparáveis
tecnologias, a superioridade militar dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo afigura-se hoje
consideravelmente maior do que fora há uma década atrás. Ora, isto significa que os Estados Unidos
possam invadir o Iraque, conquistá-lo rapidamente, para instalar ali um regime estável e amigo? É
improvável. Levando em conta as três últimas guerras sérias travadas pelos militares americanos desde
7
1945 (Coréia, Vietnã e Guerra do Golfo), uma delas terminou em derrota e as duas outras em empate –
o que não vem a ser um registro glorioso.
O exército de Saddam Hussein não é igual às forças do Taleban, pois o seu comando militar
interno é bem mais coerente. Uma invasão dos Estados Unidos requereria necessariamente uma força
terrestre, a qual teria de lutar para chegar a Bagdá e, nesse caminho, sofreria provavelmente muitas
baixas. Essa força teria necessidade de contar com bases de apoio, mas a Arábia Saudita já deixou claro
que não gostaria de oferecê-las. Será que o Kuwait ou a Turquia vai ajudar? Talvez, se Washington
oferecer muito dinheiro. Entretanto, Saddam talvez lance mão de todas as armas disponíveis e, nesse
ínterim, o governo dos Estados Unidos terá de se preocupar para saber quão destrutivas serão tais
armas. Os Estados Unidos podem torcer os braços de todos os regimes da região, mas o sentimento
popular enxergará claramente em cada intervenção um viés profundamente antiárabe por parte dos
Estados Unidos. Poderá haver vitória nesse conflito? O estado maior do exército britânico
aparentemente já informou ao primeiro ministro Tony Blair que não acredita nisso.
Sempre haverá, ademais, o problema da “segunda frente”. Após a Guerra do Golfo, as forças
armadas dos Estados Unidos procuraram se preparar para a possibilidade de enfrentar duas guerras
regionais simultaneamente. Depois de um certo tempo, o Pentágono abandonou silenciosamente a idéia
devido ao custo e a falta de condições práticas. Quem estará certo que algum inimigo potencial dos
Estados Unidos não atacaria enquanto os Estados Unidos estiverem ocupados no Iraque? Considere-se,
também, a questão da tolerância popular nos Estados Unidos para a falta de vitórias. Os americanos
oscilam entre um fervor patriótico que fornece apoio a todos os presidentes durante as guerras e um
sentimento isolacionista profundo. Desde 1945, o patriotismo tem chegado ao seu limite sempre que
sobe muito o custo das mortes. Por que a reação seria diferente hoje? E mesmo se os falcões (os quais
são quase todos civis) ficarem impassível diante da opinião pública, os generais do exército americano,
queimados pelos resultados da Guerra do Vietnã, não teriam tal atitude.
Porém, o que podemos dizer sobre a frente econômica? Em 1980, um sem número de analistas
americanos tornaram-se histéricos a respeito do milagre econômico japonês. Eles ficaram mais calmos
nos anos 90 face às dificuldades financeiras do Japão, as quais foram muito enfatizadas na imprensa
americana. Depois de exagerar na avaliação sobre como o Japão estava avançando na década dos anos
80, as autoridades dos Estados Unidos agora parecem complacentes, acreditando confiantemente que o
Japão ficou para trás. Atualmente, Washington parece mais inclinado a dar lições aos executores
japoneses de política econômica, observando os seus possíveis erros.
Toda essa atitude triunfante dificilmente parece ter bons fundamentos. Considere-se a seguinte
reportagem do jornal New York Times, de 20 de abril de 2002: “um laboratório japonês construiu o
computador mais rápido do mundo, uma máquina tão poderosa que tem um poder de processamento
equivalente àquele proporcionado pela combinação dos 20 computadores americanos mais rápidos, um
poder muito maior do que aquele obtido pelo computador campeão anterior, uma máquina da IBM. O
resultado alcançado... evidencia que a corrida tecnológica, a qual muitos engenheiros americanos
pensam estarem vencendo facilmente, está longe de ter terminado”. A matéria nota ainda que se
observa “um contraste científico e tecnológico nas prioridades” escolhidas pelos dois países. A
máquina japonesa foi construída para analisar as mudanças climáticas, mas as máquinas americanas são
utilizadas para desenvolver projetos de armas. Esse contraste encerra em si mesmo um velho saber
contido na história dos poderes hegemônicos. O poder dominante se concentra (para o seu próprio
prejuízo) na construção da base militar; o candidato a sucessor se concentra na economia. Este último
tipo de esforço sempre proporciona retribuição adequada e o faz de forma polida. Isto ocorreu no
passado com os Estados Unidos. Por que o Japão, talvez em aliança com a China, não receberia
também uma retribuição adequada por seus esforços econômicos?
8
Finalmente, há a esfera ideológica. Nesse justo momento, a economia dos Estados Unidos
parece relativamente fraca, mais ainda se forem considerados os gastos militares exorbitantes
associados às estratégias dos falcões. Ademais, Washington permanece politicamente isolado;
virtualmente ninguém (exceto Israel) pensa que a posição dos falcões faz sentido ou que deve ser
estimulada. Algumas nações estão com medo ou não tem o desejo de perfilar diretamente ao lado dos
Estados Unidos; quando elas se omitem e se retiram da cena isto prejudica os Estados Unidos. Apesar
disso, a resposta dos Estados Unidos não vai muito além de um abraço arrogante na cintura. A
arrogância, ela própria, têm conseqüências negativas. O emprego de truques deixa menos truques para
a próxima jogada e a aquiescência assim conquistada alimenta um crescente ressentimento. Durante os
últimos duzentos anos, os Estados Unidos conquistaram um considerável volume de crédito ideológico.
Mas, atualmente, os Estados Unidos estão gastando esses créditos mais rapidamente do que gastaram
os seus excedentes de ouro nos anos 60.
Os Estados Unidos estão em face de duas possibilidades nos próximos dez anos: seguir o
caminho traçado pelos falcões, com as suas conseqüências negativas para todos, mas especialmente
para si próprios, ou concluir que esse peso negativo é muito alto. Simon Tisdall do The Guardian
argumentou recentemente que, mesmo desprezando a opinião pública internacional, “os Estados
Unidos não são capazes de obter sucesso numa guerra contra o Iraque sem incorrer em enormes
custos, não somente em termos de seus interesses econômicos e em termos da oferta de energia. A
perspectiva do Senhor Bush se reduz a falar grosso, parecendo pouco efetivo”. Se os Estados Unidos
invadirem ainda assim o Iraque e se tiverem de cair fora, ao falar, ele parecerá ainda menos efetivo.
As opções do presidente Bush parecem extremamente limitadas e há pouca dúvida de que os
Estados Unidos continuarão a declinar como uma força decisiva no mundo na próxima década. A
verdadeira questão não é saber se a hegemonia dos Estados Unidos está se consumindo, mas se os
Estados Unidos serão capazes de delinear uma estratégia suave de declínio, com o mínimo dano para o
mundo e para si mesmo.