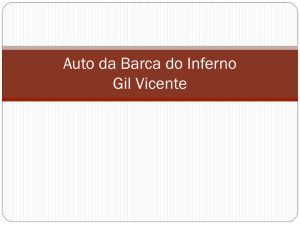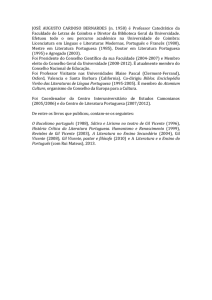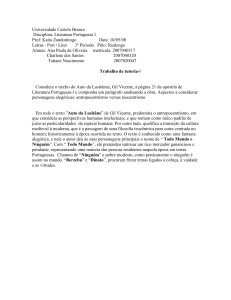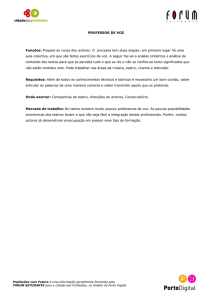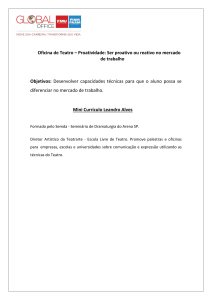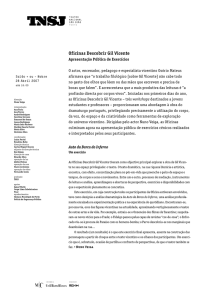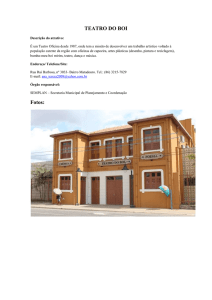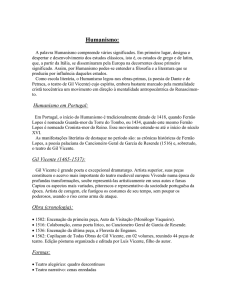Beiras
A Farsa de Inês Pereira (1523)
A Farsa do Juiz da Beira (1525)
Tragicomédia Pastoril da Serra
da Estrela (1527)
de Gil Vicente
direcção Nuno Carinhas
música António Sérgio
desenho de luz Rui Simão
interpretação
Alberto Magassela, Alexandra Gabriel,
Ana Ferreira, Fernando Moreira,
João Castro, Jorge Mota, Lígia Roque,
Mário Santos, Marta Freitas, Nuno Veiga,
Paulo Freixinho, Pedro Frias
Ficha Técnica
direcção técnica Carlos Miguel Chaves,
Rui Simão (adjunto)
direcção de cena Ricardo Silva,
Pedro Manana
luz João Coelho de Almeida,
Abílio Vinhas, Nuno Gonçalves,
Joaquim Madaíl
som Joel Azevedo
vídeo Fernando Costa
maquinaria Filipe Silva (chefe),
Joaquim Marques, Adélio Pêra,
Paulo Ferreira, Jorge Silva
adereços e guarda-roupa
Elisabete Leão (coordenação);
Guilherme Monteiro, Dora Pereira,
Nuno Ferreira (aderecistas);
Celeste Marinho (mestra-costureira);
Nazaré Fernandes, Fátima Roriz,
Virgínia Pereira (costureiras);
Isabel Pereira (aderecista
de guarda-roupa)
apoios
preparação vocal e elocução João Henriques
aconselhamento linguístico João Veloso
assistência de direcção João Castro
Nota: alguns dos figurinos usados neste
espectáculo provêm de produções anteriores
do TNSJ.
produção TNSJ
Teatro Nacional São João
17-28 Outubro 2007
ter a sáb 21:30 dom 16:00
classificação etária M/12 anos
duração aproximada [2:00] com intervalo
apoios à divulgação
agradecimentos
Câmara Municipal do Porto
Polícia de Segurança Pública
edição Centro de Edições do TNSJ
coordenação Pedro Sobrado
design gráfico João Faria, João Guedes
fotografia João Tuna
impressão Aprova AG
Teatro Nacional São João
Praça da Batalha
4000-102 Porto
T 22 340 19 00 F 22 208 83 03
Teatro Carlos Alberto
Rua das Oliveiras, 43
4050-449 Porto
T 22 340 19 00 F 22 339 50 69
Em memória de Carlos Assis, amigo e co-autor
de tantos espectáculos e acontecimentos pessoais. Que
de lá onde estiver nos mande a sua franca gargalhada!
À Ana e ao João Pedro, seus filhos. Nuno Carinhas
www.tnsj.pt
[email protected]
Não é permitido filmar, gravar ou
fotografar durante o espectáculo.
O uso de telemóveis, pagers ou relógios
com sinal sonoro é incómodo, tanto para
os actores como para os espectadores.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — —
“Movimento e nova invenção”
“O grãozinho de mostarda”
Osório Mateus*
António José Saraiva*
Entre 1502 e 1536, Gil Vicente faz na corte de Portugal o melhor e o mais
avançado teatro da Europa cristã do seu tempo. Para um mundo novo,
transforma de raiz um modelo que o tempo produzira.
O autor (talvez ourives de primeiro ofício) terá trabalhado no teatro dos
32 aos 66 anos de vida. No princípio do período manuelino, o trabalho de Gil
Vicente foi instigado, apoiado e pago pela rainha Lianor, irmã de Manuel I e
viúva de João II. Morto o rei Manuel em 1521, sucede-lhe o filho João III, que,
como o pai e a tia, manda fazer teatro no paço. O primeiro terço do século XVI
é o tempo de apogeu da corte de Portugal como centro de um movimento de
expansão que abrange a África, a Índia e o Brasil. Lisboa torna-se um lugar
de luxo e arte que só tem rival na corte do Papa. O teatro recorta-se como
prática limitada e como mercadoria. Uns ordenam e outros representam.
Num sistema novo de divisão do trabalho artístico, emergem ofícios em busca
de legitimação: autores e actores. Compradores encomendam produtos com
prazos e medidas, paga-se a quem faz e o teatro tenta equilibrar oferta e
procura de arte.
No teatro de Gil Vicente, auto é nome comum que designa cerca de
cinquenta produções teatrais: moralidades, farsas, comédias. Cada auto é a
apresentação de um programa para acção de corpos. Existe como monumento
especioso em festas religiosas e seculares. Sabe dos autos anteriores, da corte
onde se faz, do mundo. Mas não é só memória acumulada. É movimento e nova
invenção.
O trabalho de Gil Vicente implica imaginar um projecto de auto, escolher
e montar materiais, escrever e ensinar versos novos, achar um modo para
vestir os actores, escolher ou fabricar o aparato, conhecer o espaço em que se
vai trabalhar, com entradas, saídas e mais formas. É preciso também fazer ou
escolher as músicas.
O conjunto dos autos forma uma série homogénea de acções textuais de
corpos vivos: autor, actores e mais quem vê. O autor é fundador e proponente.
Os actores são corpos que mexem no espaço e produzem sequências de imagens
e sons. Gil Vicente é autor e actor. Desde o primeiro auto, dá-se a ver e a ouvir,
expondo o próprio corpo feito texto. Não se sabe quem são os outros actores.
Aliás, de todo este trabalho de teatro ficou pouca memória. Nenhum pintor,
ao que parece, representou um momento a fazer-se. Quase ninguém contou
por escrito como foi. Diogo do Couto, Garcia e André de Resende, o cardeal
Aleandro falaram da sua realidade, mas pouco contaram. De qualquer modo,
por muita memória que tivesse ficado, o que se poderia sempre dizer dos autos
de Gil Vicente é que houve muitos e não há nenhum. São acções perdidas
porque o trabalho de teatro não fica todo na memória digital. Quase tudo o
que hoje se sabe do teatro de Gil Vicente vem da Compilaçam de todalas obras,
impressa em 1562 e organizada pelos filhos Luís e Paula, e de alguns folhetos
anteriores, impressos em vida e à vista do autor […]. •
[…] Esta teoria do progresso no teatro encontra desde
logo uma dificuldade: porque é que, em comparação com
Gil Vicente, todos os seus sucessores portugueses nos
parecem insignificantes? Porque é que, quatrocentos anos
passados, depois da experiência clássica, da experiência
espanhola, da experiência italiana, da experiência arcádica,
da experiência romântica, da experiência neo-romântica,
da experiência simbolista, da experiência neo-realista,
da experiência do teatro dito do “absurdo”, Gil Vicente
continua a ser, não só relativamente à sua época, mas em
absoluto, a grande personalidade do teatro português, a
única pela qual merecemos figurar numa história mundial
do teatro? Onde está o progresso de Gil Vicente a Júlio
Dantas, que no entanto conhecia bem o ofício teatral? Que
é que tinha o velho autor dos autos que o faz estar vivo,
apesar de não conhecer a regra das três unidades, nem
o realismo “crítico”, nem a teoria da distanciação, nem
qualquer outro dos melhoramentos introduzidos no palco
desde 1536, data da sua última peça?
Se ele está vivo no meio das múmias que assinalam
a história do teatro português, isso deve-se certamente
ao facto de que ele era Gil Vicente, e não qualquer outra
pessoa. Deve-se ao que ele possui de irredutivelmente
pessoal, privativo, singular, inimitável, intransmissível por
paternidade física ou espiritual. Uma teoria do progresso em
arte, que tende inevitavelmente a estabelecer uma sucessão
de esquemas impessoais, segundo coordenadas ou moldes
que ignoram por natureza a singularidade individual, deixa,
afinal, escapar pelo intervalo das malhas o “grãozinho de
mostarda”, o segredo da presença viva de um autor. Esta
evidência de senso comum é a objecção mais imediata e
mais óbvia que pode opor-se a qualquer teoria do progresso
em arte. […] •
* Excerto de “Gil Vicente”. In De Teatro e Outras Escritas. [Lisboa]: Quimera, D.L., 2002. p. 267, 268.
* Excerto de “Prólogo para a 3.ª Edição: Sobre a Teoria do Progresso em Arte”.
In Gil Vicente e o Fim do Teatro Medieval. Amadora: Bertrand,
imp. 1981. p. 10, 11.
— — — — — — — — — — — — — — — — — —
“Continuamos a paródia
minimalista, agora
no espaço-paisagem
do palco aberto”
Entrevista com Nuno Carinhas.
Por Pedro Sobrado.
Beiras começou por ser uma leitura encenada, realizada no passado
mês de Março. Na altura, definiu esse trabalho como o esquisso para
a concretização de um espectáculo. Que aspectos deste desenho
mereceram agora maior definição de contorno? Ou, de outro ponto de
vista, que traços foram rasurados?
Nada foi rasurado. Um esquisso é um desenho rápido feito à mão
levantada, um registo sintético. A leitura encenada sugeria muito para
além da simples leitura. Já tinha voz e corpo e ritmos e sentidos. Os
contornos conservam os mesmos valores. Uma trupe de actores “levanta”
as narrativas de três peças de Gil Vicente à vista dos espectadores. O gosto
pela linguagem, rica e dinâmica, continua a ser a mola desta partilha.
Em todo o caso, verifica-se a afinação ou apuramento de alguns
aspectos: o jogo de sonoridades e percussões, por exemplo, ou a
questão da linguagem e o uso da pronúncia beirã…
Houve o tempo de lapidar aquilo que já era nossa preocupação. O
trabalho do professor João Veloso é o nosso amparo no que diz respeito
ao uso da pronúncia. Um quebra-cabeças para os actores, mas que os
mantém atentos todos os dias no exercício da linguagem. A depuração
instrumental e coral é mais incisiva, podemos dizer que é uma extensão
sintáctica – os pontos e vírgulas irónicos no meio da argumentação.
Criado originalmente para uma estreita faixa de palco [O Saque,
de Joe Orton, enc. Ricardo Pais, encontrava-se em cena], Beiras
conquista agora a sua totalidade. Que consequências teve esta
“expansão territorial” no conceito cénico, plástico ou cenográfico?
Não saberia, em tão curto espaço de tempo, “torcer” a proposta apontada.
O mapa estava traçado. Desta vez, que o espaço nos pertence por inteiro –
passámos do T0 para o loft –, há a inclusão de outros elementos cénicos que
servem de padrão a cada auto: lenço de namorados na Inês Pereira, cortinas
vermelhas no Juiz da Beira e animais na Serra da Estrela. Continuamos a
paródia minimalista, agora no espaço-paisagem do palco aberto.
Outro aspecto decisivo diz respeito à participação de seis novos
actores nesta remontagem. Que ângulos das personagens ou dos
autos vicentinos foi possível perspectivar e experimentar com a
mudança de elenco?
O elenco rejuvenesceu sem que o conjunto tenha perdido peso. Cada qual
se integrou sem problemas. Todos tiveram que dar de si. As personagens
sofreram uma apropriação personalizada, sem cópias. Como o jogo era
aberto, aberto ficou, com novidades assinaláveis. As dificuldades iniciais
da primeira versão já estavam resolvidas, o que permitiu acrescentar
novas propostas. Fui assistindo a muitas ultrapassagens por parte de
todos. Em relação ao texto, o trabalho do João Henriques proporcionou
grandes saltos de sentido.
— — — — — — — — — — — —
Quando encenou A Ilusão Cómica [de Pierre Corneille, TNSJ, 1999],
disse que queria um guarda-roupa “heteróclito” e “misturado”. Em
Beiras, o minimalismo a que se refere parece compensado não só por
um registo burlesco, mas também por esse carácter “heteróclito” de
adereços e elementos de guarda-roupa que se associam a um sóbrio
figurino de base…
Do “heteróclito” é feito o teatro quando viajamos no tempo. Em ambos
os casos, a que se pode juntar O Grande Teatro do Mundo [de Calderón de
la Barca, TNSJ, 1996], trata-se da minha mania ambulatória de chegar
aos teatros e aproveitar-lhes os depósitos. Nestes três exemplos existe a
premissa do teatro dentro do teatro. Mas cada vez mais o meu gosto de
teatro assenta sobre a representação: vozes e corpos dos intérpretes.
Conforme sinalizam os objectos que o João Castro traz consigo para
a boca de cena quando enuncia as didascálias iniciais, começamos
pela casa e pela esfera doméstica, passamos ao tribunal e ao domínio
público, e terminamos na exterioridade da natureza, com a Serra
da Estrela figurada em pessoa e metonimicamente ilustrada por
seis bancos altos… Podemos definir Beiras como um movimento de
progressiva abertura, ou extroversão?
Extroversão é o termo certo. Círculos concêntricos que abrem o espaço e
o jogo cénico. Quando chegamos, subindo e subindo, ao alto da Serra da
Estrela, o que de lá avistamos é o mundo inteiro. Aqui no auto ficamos
presos ao chão dos pastores e dos seus amores, por entre animais, como
numa “cascata” rasa.
Beiras parece incidir sobre uma tripla geografia: a geografia
física das Beiras, com um abundante manancial de referências
toponímicas; uma geografia linguística ou dialectal; e uma geografia
humana – na qual está integrado o tópico dos amores e dos desejos.
Pode explicitar como foi cartografando esta tríplice geografia?
Venho de trabalhar num pequeno espectáculo, também um esboço, que
se chama Geografias e Tratados. Todos os espectáculos andam à volta
dessa tríplice geografia. O seu reconhecimento enquanto base elementar
depende do grau de carnação toponímica: ser, ter, estar. O importante
para quem vê é pertencer. Este é um objecto que convoca a pertença e
a partilha, sem se arvorar em património: “Não tragais jogo de ver […]
porqu’isso não sei que é”. [Pêro Marques, em A Farsa do Juiz da Beira]
“Uma companhia ambulante toma de assalto um palco, abre as
arcas e vai tirando a seu bel-prazer aquilo que melhor serve as
personagens de um tríptico beirão de Gil Vicente.” Foi deste modo
que Beiras foi promocionalmente apresentado. Apesar de os três
autos apresentarem ligações entre si – a personagem de Pêro
Marques, o tema regional, a teatralidade paródica –, revelou-se útil
criar esta ficção para os agregar de um modo mais cabal?
Uma poética comum que agregasse as três ficções. Neste caso, o estímulo
foi a fonética, mas o retrato é meta-social. O que Portugal é hoje e como
era. E poucas vezes o nosso teatro terá estado tanto ao serviço da nossa
identidade, usos e costumes, como em Gil Vicente.
O teatro vicentino é, de facto, valorizado como representação
sociológica, reportando a um espaço e um tempo nacionais
identificáveis, mas até que ponto não se revolta contra a realidade
que retrata? A propósito de Gil Vicente, Cardoso Bernardes fala
de “um processo contínuo de sobreposição do palco em relação ao
mundo”…
O Vicente é corrosivo. Quando digo “retrato” estou a pensar mais em
pintura do que em fotografia. Como exemplos, aponto Júlio Pomar e
Paula Rego. Quando olhamos os retratos dos últimos presidentes, Soares
e Sampaio, retratos feitos para figurarem na corte, ou os retábulos
das histórias postas em papel ou em tela por Paula Rego, podemos
estabelecer uma “ponte forçada” com o olhar crítico de Gil Vicente.
Quando a Inquisição se implantou, muitas passagens dos seus autos
foram eliminadas. O seu teatro nunca foi realista e a sua riqueza vem da
policromia e das distorções das formas reconhecíveis.
A música funciona também como um factor de ligação entre as
peças. O final do Juiz da Beira parece mesmo anunciar ou chamar os
pastores-cantores da Tragicomédia Pastoril da Serra da Estrela. Em
que medida as canções e sonoridades desenvolvidas com o António
Sérgio e o elenco vos colocaram no limiar de um “musical vicentino”?
Falar hoje, e nesta cidade, em musicais é jogo arriscado pelas
identificações de género que suscita. Mas os autos de Gil Vicente são
pequenos musicais. As canções estão lá a par do ritmo das frases e dos
sons que das palavras nascem. “Quem canta seu mal espanta.” As canções
servem propósitos dramatúrgicos.
O jogo da duplicidade da representação e o palco como um espaço
especular tornaram-se-lhe caros com experiências de encenação
como O Grande Teatro do Mundo, A Ilusão Cómica e mesmo Anfitrião
ou Júpiter e Alcmena [de António José da Silva, TNSJ, 2004].
Alguns estratagemas de encenação – a enunciação de didascálias
e, principalmente, a presença em palco de todos os actores, mesmo
quando não estão em “situação”, reagindo às reviravoltas da acção –
remetem-nos de novo para o artifício do “teatro dentro do teatro”…
Gostaria que falasse desta opção (obsessão?).
Os actores vão “a terreiro” defender o direito e o avesso dos espectáculos.
Pouco se passa em bastidores desde que começa a função. Aqui, o grupo
dos “funcionários” – os que fazem funcionar a acção – está sempre
presente, pronto a encarnar novas personagens, como se qualquer um
pudesse tomar conta de todas elas. Isso confere aos intérpretes uma
autoridade que não é ex-machina. São eles que mandam na ordem do
seu mundo. Assim ficamos mais perto do exercício do seu “mister”. A
“obsessão” é expor uma ordem de coisas por inteiro. A ficção substitui-se
à realidade e à ordem do mundo. O palco é o lugar da representação dos
mundos ficcionais e os actores, os seus agentes vivos, a carne e o osso
desse tempo partilhado. O palco é uma estação de partidas e chegadas,
onde se cruzam viajantes que transportam, cada um, a sua história.
Ainda “no tempo em que sabíamos tudo uns dos outros”.
Ao ver esses “funcionários” a acompanhar em cena o curso da acção,
ora rindo e festejando, ora mostrando espanto ou desconfiança,
acabei por os tomar como projecção desse público tardo-medieval de
que Gil Vicente conhecia tão bem os gostos e as expectativas…
Durante os ensaios não há público. No entanto, eles sustentam-se bem
uns aos outros. Começo a achar que existe teatro capaz de se sustentar
“por dentro”. Eles, os actores, postos em espectadores da acção, dão
a resposta sustentável do trabalho dos colegas, o que acarreta esse
outro elemento essencial para todos, o afecto. Cada ensaio é uma
representação sem fraquezas ou amolecimentos próprios das repetições
de uma sala de ensaios. E as novidades aparecem todos os dias e são
imediatamente celebradas.
Beiras é agora um espectáculo acabado, ou o inacabamento faz parte
do seu código genético?
Em vez de “inacabado”, prefiro “em evolução”, um organismo vivo capaz
de auto-regeneração. Passa por aqui o desejo consciente de liberdade
responsável. Se bem que o exercício do teatro como modo de vida já seja
um exercício de liberdade. Mas talvez não seja mau lembrar, e tornar
clara a partilha. •
As Beiras, ou uma imaginação geográfica
José Alberto Ferreira*
Uma releitura do teatro vicentino alicerçada
em dominantes espaciais – mesmo quando
não exaustivas e ainda quando razoavelmente
suportada noutros factores – parece relevar
do modo como o “espacial”, como pretendia
Frederic Jameson, hoje inequivocamente
domina as nossas categorias culturais. Esta,
que talvez possa chamar-se uma leitura
“ecossistémica” do teatro vicentino, apresenta
virtualidades consideráveis, desde logo ao
permitir equacionar as relações existentes
entre os vários modos da representação
territorial, os registos e materiais de que se
serve e as significações de que se reveste,
entre uma geografia do poder e o(s) poder(es)
da geografia. De umas e outras procuro dar
sintética conta nas linhas que se seguem.
O espaço da trilogia
Vejamos, desde já, a trilogia. Reunindo
as farsas Inês Pereira e Juiz da Beira e a
Tragicomédia Pastoril da Serra da Estrela,
representadas respectivamente em 1523,
em Tomar; em 1526 (provavelmente não em
1525, como diz a didascália), em Almeirim;
em 1527, em Coimbra. As farsas tiveram edição
independente em vida do autor, atestando o
êxito do díptico. Inês e Juiz parecem articularse através da figura de Pêro Marques, lavrador
rústico abastado na primeira, juiz igualmente
rústico na segunda. Nas duas farsas, a Beira
cristaliza-se nessa figura, isto é, no modo
como ela espelha a distinta mundivisão de Pêro
Marques face às regras de Lisboa e da corte.
É com efeito a oposição corte/campo que
dá forma a esta semiótica do espaço onde se
opõem os que sabem os modos amorosos e a
retórica cortesã aos que, vindos de fora, se
não conformam com as regras de dentro: não
sabem fazer uso dos utensílios de sentar, nem
das regras amorosas; nem, no que ao rústico
juiz respeita, das regras formais da Justiça.
Pêro Marques vem da Beira (Viseu) pôr à prova
as faculdades de bom juiz, exibindo perante
a corte um teatro da justiça de base paródica
e sem-sentido que confirma aquela oposição
primacial.
Mas os sinais que chegam do campo
não são unívocos: Pêro Marques é lavrador
rústico abastado, quer dizer, emblema daquele
Portugal produtivo e pouco dado à fantasia,
que se representa em oposição à corte. E se em
Inês Pereira essa oposição, mesmo submetida
à perspectiva do risível pelo desfecho em
figura de marido cuco, suporta a ambivalente
valorização da terra e da produtividade,
no Juiz da Beira ela inscreve-se no modo
sincrético de produção de sentido que domina
a farsa, como afirma Cardoso Bernardes:
Com a oposição entre o espaço original
do vilão e o espaço em que se efectuam
os julgamentos, pretende-se avivar os
contornos de um dissídio radical entre a
moral do Paço e a moral consuetudinária
do povo, geograficamente
emblematizado na região da Beira. E
não pode escamotear-se o significado da
Beira enquanto sinédoque do Portugal
agrário que resiste à degeneração do
Portugal mercantilizado.¹
A radical carnavalização das sentenças em
Pêro Marques, se por um lado aprofunda
os mecanismos do riso, adensa por outro
a responsabilidade crítica da personagem,
centradas as sentenças “em aspectos bem
palpáveis do real”.² O que poderia dizer-se
como uma reabilitação do campo.
É desse ponto de vista que deve igualmente
ler-se a Tragicomédia Pastoril da Serra da
Estrela. Votada à celebração do nascimento
da princesa Maria (filha de D. João III e de
D. Catarina), nascida a 15 de Outubro de
1527, esta peça áulica retoma estratégias
das natividades e presépios recorrentes
em Gil Vicente (desde a Visitação com
que inaugura a sua actividade teatral,
em 1502). Uma alegórica Serra da Estrela
vem, em figura de pastora, “feita serrana
da Beira”, apresentar os termos da festa: a
celebração do nascimento, as circunstâncias
e a ambivalência da situação (celebra-se o
nascimento de uma menina, esperava-se ou
desejava-se um menino). Serra da Estrela é
já figura beirã que desce à corte em Coimbra.
Da corte vem por seu lado Gonçalo, um pastor
da serra. Deverão ir juntos depois de concluir
uns amores “que nam querem concrudir”.
Seis pastores trarão a cena os desencontros
amorosos de que são sujeitos e vítimas.
Cantam, dançam e debatem de amores,
até que um Ermitão dará a todos arranjo e
sentença. Sob o signo do sem-sentido, este
Ermitão, que assim resolve os amores pastoris,
busca para si “vida religiosa” de “prazer” e
“folgar”. Resolvidos os amores, é tempo de
rumar à corte, com a Serra da Estrela à cabeça.
É também tempo de elogiar as oferendas da
região: Seia, Gouveia, Manteigas e Covilhã,
retomando a representação positiva das
Beiras, oferecem queijos, bezerras e cordeiras,
castanhas, leite e panos finos. Dois foliões,
vindos do Sardoal, encerram com danças de
terreiro e cantigas. No final, todos se saem
para ir ver a rainha e se acaba a festa, a corte
apenas dita e o campo tão só em oferendas
enunciado.
Também aqui se não trata de concretizar
uma leitura unívoca. A Tragicomédia Pastoril
da Serra da Estrela também permite inverter
literalmente esta leitura, carreando nova
terminologia impregnada de amplitude
semântica. Rodrigo, pastor apaixonado por
Felipa e não correspondido, já que a pastora
almejaria desposar um cortesão, traça uma
fenomenologia dos amores que repercute a
semiótica do espaço:
Rodrigo Se casasses com pação
que grande graça será
e minha consolação.
Que te chame de ratinha
tinhosa cada mea hora
inda que a alma me chora
folgarei por vida minha
pois enjeitas quem t’adora.
E te diga: tir-te lá
que me cheiras a Cartaxo.
Pois te desprezas do baixo
o alto t’abaxará. [itálico meu]
Ao par corte/campo cabe juntar assim
o par alto/baixo, uma formulação cuja
verticalidade acrescenta às coordenadas
espaciais uma inequívoca dimensão avaliativa
(pelo peso cultural que a verticalidade tem
na cultura ocidental). Que o mesmo é dizer
que a corte recobre o espaço de afirmação
de valores tomados por positivos, elevados,
nobres e justos, em oposição ao vil mundo do
baixo e, por extensão, do campo. O que, como
já vimos, não é a única direcção de leitura a
considerar.
Geografia do poder, poder(es) da geografia
Chegados aqui, importaria ponderar
ainda outros aspectos da representação do
espaço beirão nos textos da trilogia (modos
discursivos, caracterização de personagens,
formas e materiais da representação, até
mesmo a distribuição genológica a que se
submete). Uns e outros não deixariam de
apontar quer a força geográfica da corte
como centro (não é também de e para lá
que Gil Vicente pensa o seu teatro?), quer a
permeabilidade ao debate quinhentista sobre
as relações entre o Portugal velho e o novo, o
destino atlântico e comercial e a degradação
dos recursos produtivos agrícolas. Em
sintonia com a criação europeia, Gil Vicente
soube encontrar nos modelos literários
de que dispunha, como a farsa e a sottie, a
elasticidade necessária à ambivalência da
questão, caldeada pelo riso, pela sátira e
pela oscilação de polaridades que promove,
entre o alto e o baixo, o cortesão e o rústico, a
corte e o campo. Afinal, entre uma impositiva
geografia do poder e o poder (podíamos dizer
descentralizado) da geografia. •
* Universidade de Évora
1José Augusto Cardoso Bernardes – “O Juiz da Beira
e os Sentidos da Sátira Vicentina”. In Revisões de Gil
Vicente. Coimbra: Angelus Novus, 2003. p. 107.
2José Augusto Cardoso Bernardes – Op. cit. p. 110.