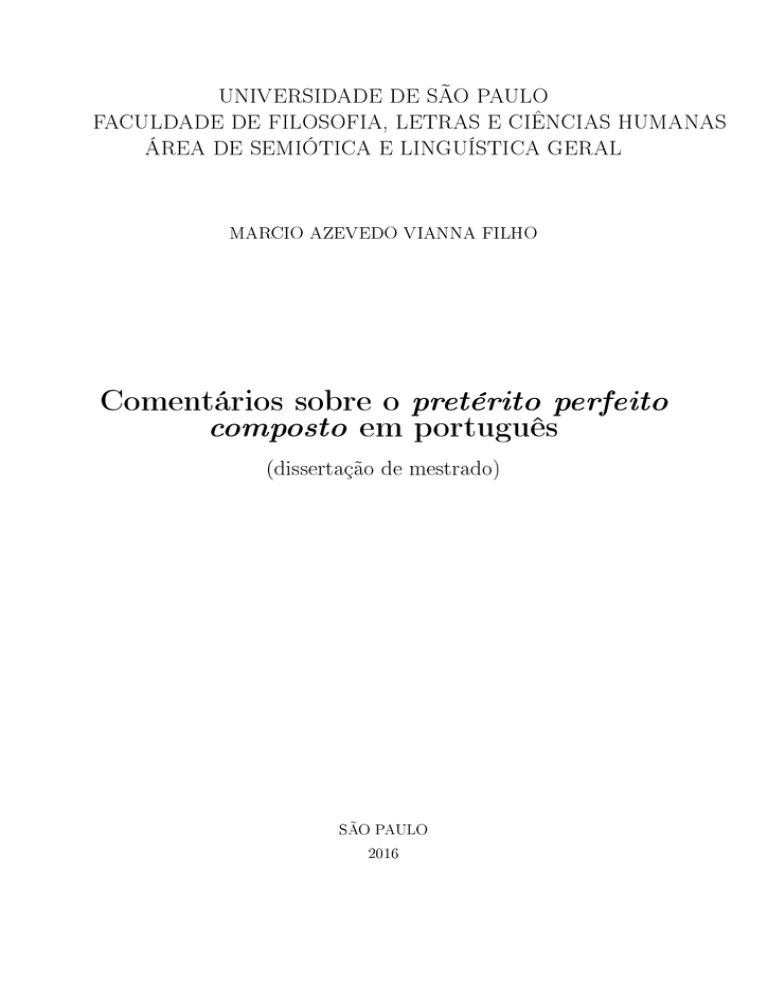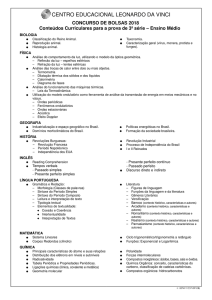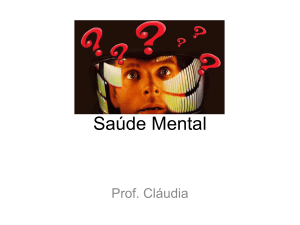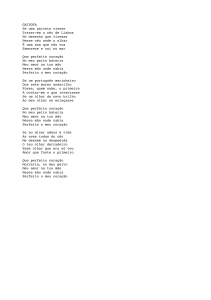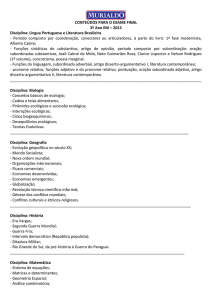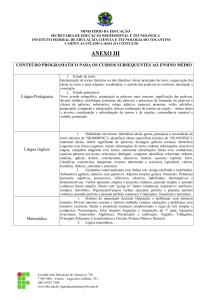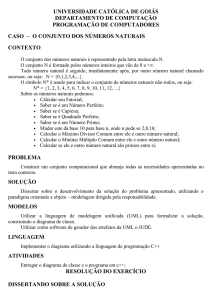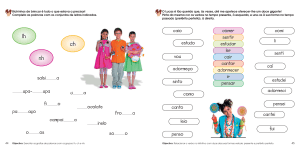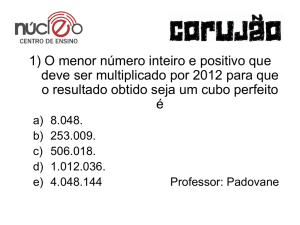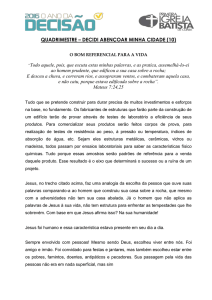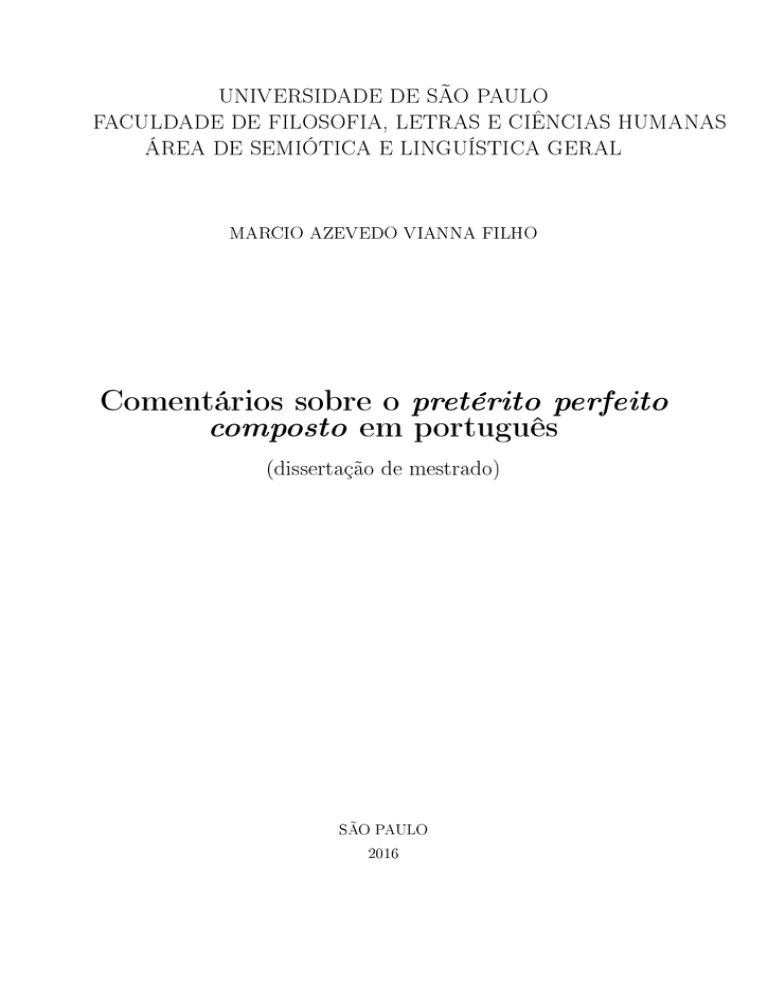
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
ÁREA DE SEMIÓTICA E LINGUÍSTICA GERAL
MARCIO AZEVEDO VIANNA FILHO
Comentários sobre o pretérito perfeito
composto em português
(dissertação de mestrado)
SÃO PAULO
2016
MARCIO AZEVEDO VIANNA FILHO
Comentários sobre o pretérito perfeito
composto em português
Dissertação apresentada à Faculdade de
Filosoa, Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo para obtenção do
título de
Mestre em Semiótica e Linguística Geral
Área de Concentração: Semântica formal
Orientador: Prof. Dr. Marcelo Barra Ferreira
SÃO PAULO
2016
Agradecimentos
Agradeço em primeiro lugar ao meu orientador, Prof. Dr. Marcelo B. Ferreira, sem cujo
especial empenho, este trabalho não teria podido, nem começar, nem terminar; por terme aguentado e por ter estado sempre disposto a conversar.
Agradeço ao Prof. Dr. Marcos Lopes pelos conselhos, pelo estímulo, pelo encorajamento
e pelas conversas.
Agradeço à Profª Drª Ana Lúcia Müller por ter-me chamado às reuniões com os seus
alunos.
Agradeço à minha ex-chefe, Profª Drª Marina de Mello e Souza, que sempre deu importância às minhas atividades relativas ao mestrado.
Agradeço à Profª Drª Stella Esther Orthweiler Tagnin por ter permitido reaproximar-me
da FFLCH.
Agradeço à Luíza Jatobá, que sempre me encoraja a tentar novamente, mesmo quando
as probabilidades de êxito pareçam as mais remotas.
Agradeço aos meus pais, os únicos com quem tenho podido contar sempre.
Agradeço aos meus sobrinhos, Pedro e Thiago, por garantirem sempre alguma alegria na
minha vida.
Agradeço ao Victor Biagioni, pela companhia e pela conversa.
1
Resumo
O pretérito perfeito composto (também conhecido como passado composto) português
tem uma interpretação que diverge de praticamente todos os tempos análogos nas línguas
românicas e germânicas. A caracterização desse tempo, bem como a determinação da sua
relação com os tempos cognatos das outras línguas é uma questão ainda em aberto. Na
sua investigação, cruzam-se temáticas atinentes às áreas temáticas de aspecto, accionalidade, temporalidade, modalidade.
Este trabalho procura dar contornos mais nítidos às características desse tempo verbal e
apontar para possíveis alternativas de explicar o seu funcionamento.
Palavras chave:
semântica; verbo; tempo; aspecto; perfeito; passado composto; pretérito
perfeito composto; português
3
Abstract
The meaning of pretérito perfeito composto, the Portuguese verb form analogous to the
English present perfect, is markedly distinct from the corresponding tenses in Romance
and Germanic languages. Its description and the nature of its relationship to the corresponding tenses in other languages is still a question open to debate. The enquiry into this
verb form is at the crossroads of the areas of aspect, actionality, tense, modality.
This dissertation is aimed at trying to pinning down the characteristic features of this
verb form more precisely, and pointing at possible explanatory hypotheses about its
functioning.
Keywords:
Semantics, verb, tense, aspect, perfect, Portuguese
5
Nota terminológica
Em todo este trabalho, será utilizado o termo perfeito (e o substantivo correspondente,
perfectude ) para signicar o contraste indicado entre os subexemplos de (1) abaixo. Os
tempos perfeitos costumam ser expressos, e certamente o são em português e inglês,
construções perifrásticas e se caracterizam por alguma repercussão presente de eventos
passados ou pela extensão se um evento que se inicia no passado e se estende até o
presente. Quando a forma não é perfeita, evitar-se-á a designação imperfeito, preferindose não-perfeito.
(1)
a.
I've lost my umbrella. PERFECT +
b.
I lost my umbrella. PERFECT -
c.
I lose my umbrella. PERFECT -
Este uso será consistente, com a única exceção dos nomes dos tempos verbais segundo
a gramática tradicional das diversas línguas. Assim, o contraste entre os tempos verbais
pretérito perfeito do indicativo e pretérito imperfeito do indicativo não é um contraste de
perfectude, pois ambos os tempos são não-perfeitos. Neste caso, dir-se-á que o p.p.i é um
tempo perfectivo ; e que o p.i.i. é um tempo imperfectivo, e que o contraste entre eles é de
perfectividade (não de perfectude).
7
Sumário
Resumo
3
Abstract
5
Nota terminológica
7
1 Introdução
11
1.1
O perfeito translinguisticamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
O caso do português . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
1.2.1
14
1.3
Caracterização do perfeito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Os tipos de perfeito do inglês (Comrie, 1976)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Caracterização empírica do
11
15
pretérito perfeito composto
21
2.1
22
2.2
Tempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1
Cursividade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
2.1.2
Duração do evento ou estado
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
2.1.3
Efeitos de sobrevivência e repetibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Aspecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
2.2.1
32
2.2.2
Geral
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fatores que contribuem para a interpretação do
pretérito perfeito composto
quanto à distinção iterativo/contínuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Alguns textos fundamentais sobre o perfeito português
36
41
3.1
O artigo de Ilari (2001b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
3.2
Os artigos de Schmitt, C. (2001) e Giorgi, A. e F. Pianesi (1997)
47
. . . . . . . . .
4 À guisa de conclusão:
O pretérito perfeito composto em português: perspectivas para investigação
futura
57
4.1
Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
4.2
A iteratividade espontânea do p.p.c.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
(Bertinetto and Lenci, 2010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Repetibilidade
60
4.2.1
4.2.2
Inespecicabilidade da reiteração
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Referências bibliográcas
61
9
Capítulo 1
Introdução
1.1
O perfeito translinguisticamente
O perfeito é uma categorização gramatical de tempo encontrada em grande número de
línguas do mundo, aparentadas ou não, com ou sem história de contato linguístico (Com-
1
rie, 1976). Sua caracterização, que enfeixa traços tanto de tempo como de aspecto,
tem
ocupado linguistas e outros estudiosos da linguagem literalmente há séculos. Em todas as
línguas românicas e germânicas,
2
o perfeito é marcado de forma bastante uniforme pela
perífrase verbo auxiliar + particípio passado, que se supõe resultante da gramaticalização
de uma perífrase resultativa que já existia restritamente no latim clássico, e cujo uso se
generalizou no latim vulgar. O verbo auxiliar da perífrase pode ser (a) exclusivamente
o verbo HABEO (e seus cognatos nas diversas línguas, com a notável exceção do portu-
3
guês, que usa o TENEO, seu sinônimo histórico ): inglês, português, espanhol; (b) um
dos dois verbos HABEO ou SUM, dependendo do signicado lexical do verbo principal,
sua diátese, ou da convencionalidade: francês, holandês, alemão, italiano; (c) somente o
verbo SUM: gaélico escocês, galês, um dialeto do italiano, várias línguas eslavas incluindo
o búlgaro, inglês das Ilhas Shetland e tâmil.(McFadden, 2007)
Seu signicado, contudo, varia de língua para língua em torno de noções interrelacionadas que podem ser caracterizadas inicialmente como:
1 Tempo: tempo externo; dêitico; relaciona tempo da fala com o tempo de referência no quadro reichenbachiano. Aspecto: tempo interno ou intrínseco; estrutura temporal interna do evento; não dêitico;
relaciona o tempo de referência e o tempo do evento no quadro reichenbachiano.
2 Por todo este trabalho, ao mencionar genericamente agrupamentos de línguas, estarei referindo-me
às línguas mais conhecidas e descritas, via de regra, línguas nacionais ou, quando muito, regionais que
têm sido consideradas na literatura linguística sobre tempo. Isso é necessário para que não se esteja
a enumerar línguas a toda hora, mas com isso não se quer dar a entender que as armações sejam
exaustivas.
3 O galego certamente apresenta um perfeito com o auxiliar ter com características semelhantes às do
português (Chamorro, 2012). Há ainda indicações, por vezes contraditórias, de que o siciliano (Giorgi
and Pianesi (1997) e [[manual de linguística românica]]) também se aproxima dessas duas.)
11
1. retrospecção: um evento é observado de um instante que lhe é posterior;
2. repercussão: o evento ainda repercute nesse instante e enuncia-se (ou pressupõe-se)
tanto o evento originário como sua repercussão nesse instante.
Como era de se esperar, o perfeito não se apresenta em cada uma dessas línguas com
detalhes nocionais e distribucionais totalmente coincidentes. Além disso, a distinção já se
neutralizou em muitas línguas (francês, em que o passé simple caiu em desuso na língua
falada) ou foi perturbada por fatores externos (alemão padrão, em que é pouco usada a
forma perfeita com verbos modais, oualemão meridional, em que a forma não perfeita é
usada somente por hipercorreção, ou ainda o espanhol do Rio da Prata, que usa cada vez
menos a forma perfeita). As línguas românicas e germânicas, às quais este trabalho se
aterá, variam sobretudo quanto ao item 2 acima, isto é, quanto ao signicado preciso de
repercussão e quanto ao peso relativo dado ao evento originário face à sua repercussão.
Na literatura, é frequente a ideia, explícita ou subentendida, de que as línguas se podem
organizar ao longo de uma escala linear de acordo com este peso relativo. O inglês estaria
próximo do extremo que dá mais peso à repercussão, enquanto o francês, por exemplo,
estaria mais próximo do extremo que dá mais peso ao evento originário. É também muito
frequente associar-se a posição de uma língua nessa escala com o estágio em que esta
língua se encontra num trajeto de gramaticalização como o claramente atestado para o
francês, em que a noção de repercussão se foi relaxando ao longo do tempo, a ponto
de (quase) assumir o signicado do passado simples (de Swart, 2007), que já não inclui
qualquer exigência de repercussão. Essa via de gramaticalização foi chamada (cf. Squartini
and Bertinetto (2000)) de deriva aorística. O exame mais detido dos dados dessas diversas
línguas torna contudo duvidosa, tanto a caracterização unidimensional da manifestação
do perfeito, quanto sua identicação com o estágio num processo diacrônico único de
deriva aorística.
O que tem intrigado e atraído os estudiosos sobre o perfeito é:
diculdade de classicação entre as categorias tradicionais da expressão do tempo,
isto é: tempo, aspecto e, possivelmente, modo.
polissemia da forma perfeita intralinguisticamente (pefeito de resultado, perfeito de
experiência, ..., cf. Comrie, 1976)
forte contraste, tanto na interpretação quanto nas restrições sintáticas e discursivas,
entre a perífrase com verbo auxiliar no presente do indicativo, em que a perfectude
está mais caracterizada, em comparação com a perífrase com qualquer outra forma
do verbo auxiliar (formas nominais, modo subjuntivo, tempo passado ou futuro,
12
quando quer que existam), em que as características de perfeito estão mais enfraquecidas (ou são inexistentes)
necessidade de recorrer à pragmática para a descrição de um signicado gramatical
marcado morfossintaticamente.
1.2
O caso do português
O português também apresenta, em uso corrente, uma forma em tudo semelhante à das demais línguas românicas e germânicas. Contudo, enquanto as demais parecem apresentar-se
num gradiente de fases de adiantamento na deriva aorística, o português apresenta para
a perífrase de perfeito uma interpretação bastante divergente das demais línguas, a ponto
de que não é claro de imediato se há ou não parentesco entre os signicados; ou se em
português o perfeito é de fato uma categoria gramatical.
4
Assim como no inglês, também no português, o possível signicado de perfectude só
ocorre claramente quando o auxiliar está no presente do indicativo, resultando na forma
chamada pela gramática tradicional de passado composto ou perfeito composto. Convém,
portanto, contrastar estas formas entre as línguas antes das demais (futuro perfeito;
passado composto do subjuntivo...). O perfeito no português, em contraste com as outras
línguas românicas e germânicas, caracteriza-se inicialmente por: (a) ser obrigatoriamente
durativo; (b) o evento estende-se (iterativa ou continuamente) até o presente; (c) se o
evento não satiszer a condição 1, a expressão resultante não será agramatical, mas a
iteratividade será obrigatoriamente induzida sem a necessidade de qualquer marcação
morfossintática. Estes três pontos serão discutidos mais extensamente neste relatório,
mas o exemplo (1) abaixo servirá por ora como ilustração:
(1)
a.
He has reached the summit.
b.
Ele tem alcançado o cume (*no ano passado).
Os exemplos (1a) e (1b) são sentenças sintaticamente paralelas respectivamente em inglês e em português. Enquanto (1a) se refere a um acontecimento pontual e único, (1b)
refere-se a uma situação não-pontual e iterativa. Não-pontual porque (1b) descreve uma
sequência de ocorrências de alcançar o cume e tal sequência é uma eventualidade nãopontual (item (a) acima). O passado composto em português, diferentemente do present
4 Como se vê, não é claro inicialmente se há razões para defender a existência do perfeito no português
como categoria gramatical. Provisoriamente, contudo, vai-se usar a designação de perfeito para se indicar
as formas verbais análogas às perfeitas do inglês. Assim, ao estudar o perfeito em português, estaremos
tratando das formas designadas como passado (ou perfeito) composto, (pretérito) mais que perfeito
composto e futuro perfeito (ou anterior).
13
perfect, exige duratividade. Alcançar o cume, porém, é um predicado pontual. Esta incongruência, entretanto, não torna a sentença agramatical. Ocorre uma acomodação em que
uma eventualidade não-pontual é criada pela iteração da eventualidade pontual alcançar
o cume (item (c) acima). Por m, o item (b) pode ser ilustrado pela incompatibilidade de
(1b) com um adjunto de localização temporal que não inclua o momento presente, como
em no ano passado.
1.2.1
Caracterização do perfeito
No sistema de Reichenbach (1947) de três tempos, o (presente) perfeito caracteriza-se
como ER,S. Isto é: tempo da fala (S) idêntico ao de referência (R) e tempo do evento
(E) anterior aos dois primeiros. Tal representação contrasta com a representação do passado simples: E,RS. Isto é: tempos do evento (E) e de referência (R) coincidentes e
antepostos ao tempo da fala (S). A novidade deste sistema está exatamente na introdução do tempo de referência, e o ganho em poder explicativo, em comparação com o
aparato teórico anterior (só dois tempos), está exatamente na possibilidade de dissociar
o tempo de referência do tempo do evento, já que nos casos em que os dois coincidem, o
sistema volta para todos os efeitos a ser um sistema de dois tempos. De fato, o aparato
Reichenbachiano parece ser feito sob medida para acomodar o contraste entre presente
perfeito e passado simples, pois caracteriza tal distinção exata e unicamente pela diferença
de tempo de referência. Podem-se valorizar os méritos e a adequação de alguns pontos
desse esquema explicativo. Por exemplo, os auxiliares das construções perfeitas estão no
tempo correspondente ao tempo de referência, não ao tempo do evento, o que justicaria
5
a ideia de que, nos tempos perfeitos,
o ponto de referência se encontra adiantado em
relação ao tempo do evento. A ideia de que ao tempo do auxiliar se devesse efetivamente
atribuir um valor semântico ca mais clara se se toma em consideração a construção que
se supõe estar no percurso de gramaticalização dos tempos morfológicos perfeitos atuais:
6
i) He has the house painted. > ii) He has painted the house. Na forma mais antiga, vê-se
claramente que a frase diz respeito a um estado presente (que, acessoriamente, foi originado de um evento no passado, nomeadamente paint the house; em ii), por outro lado,
parece que o evento ganha saliência, ainda que o estado, que vigora no presente, continue
a ser um elemento essencial para a caracterização do tempo perfeito, podendo-se dizer até
5 Este trabalho tratará praticamente só do
presente perfeito
(análogo ao passado composto). Os tempos
perfeitos passados e futuros não se apresentam tão bem caracterizados como o presente porque são
homônimos de tempos relativos (passado perfeito passado do passado; futuro perfeito futuro anterior).
6 A construção mais antiga (i) só funciona com verbos télicos com complemento paciente ou tema.
A construção moderna (ii), evidentemente, não está sujeita a essa restrição. Supõe-se que tenha havido
generalização da construção original
14
que é o elemento distintivo do perfeito por excelência.
7
A representação de Reichenbach
tem, portanto, a virtude de dar saliência teórica ao presente, reconhecendo a possibilidade
de atribuir signicado ao tempo do auxiliar das perífrases de perfeito. Tal saliência do
componente presente no interior do perfeito também se harmoniza com a peremptória
proibição de localizar temporalmente o evento originário no perfeito do inglês.
Uma outra virtude da teoria está em apontar para um tratamento composicional do
(presente) perfeito, sugerindo que o perfeito teria algo em comum com o presente, nomeadamente, o tempo, que na sua teoria está traduzido na relação existente entre tempo
de enunciação (S) e tempo de referência (R); mas também teria algo que o distingue do
presente, nomeadamente, o aspecto, que na sua teoria está representado na relação entre
tempo de referência (R) e tempo do evento (E). Segundo esta perspectiva, haveria um
aspecto perfeito que se combinaria com os tempos passado, presente e futuro[[não havia mais?]]. O signicado temporal resultante seria a composição dessas duas categorias
autônomas. Há teorias do perfeito que não esposam esse princípio composicional, adotando uma descrição separada para o presente perfeito, outra para o passado perfeito,
etc. Pode-se imaginar que uma teoria assim estaria motivada pelo fato de que a translação temporal modica as feições do perfeito, ainda que seja por conuir com a forma
morfológica de um outro tempo verbal. Aparentemente, uma teoria não composicional
poderia ter mais sucesso em descrever de forma unicada a totalidade dos valores de uma
forma morfológica, ao passo que uma teoria composicional teria que admitir a homonímia
entre um signicado com componente de perfeito e outro signicado sem esse componente
(por ex.: passado perfeito vs. passado do passado, respectivamente). De qualquer forma,
a composicionalidade é um desiderato da Semântica Formal desde sua constituição e as
teorias mais modernas com que tive contato procuram não só segregar a contribuição aspectual da contribuição temporal, como também interpretam a perífrase característica do
perfeito de maneira composicional, atribuindo um signicado ao auxiliar e um signicado
8
ao particípio passado que, compostos, resultam no signicado da locução verbal.
1.3
Os tipos de perfeito do inglês (Comrie, 1976)
Nem todas as línguas que apresentam o perfeito dispõem de todos os tipos aqui arrolados.
Há também as línguas que apresentam formas especícas para os diferentes tipos. O inglês
apresenta todos os tipos abaixo, expressos a princípio pela mesma perífrase verbal, o que
conduz frequentemente a ambiguidades. A desambiguação pode se dar pelo contexto, pelo
7 As referências ao perfeito em geral aparecerão muitas vezes como que particularizadas ao presente
perfeito (passado composto). Isto porque, tanto no inglês como no português, é só no presente (do
indicativo) que o perfeito aparece mais plenamente caracterizado.
8 Para uma tipologia sucinta de diversas teorias do perfeito, ver Binnick (1991).
15
conteúdo lexical do verbo principal, ou por adjuntos ou partículas adverbiais, muitas bem
estereotipadas (just, ever...) no entorno do verbo.
Perfeito de resultado
No perfeito de resultado, faz-se referência a um estado presente resultante de
um evento passado. (Comrie, 1976)
(2)
He's lost his umbrella.
A princípio, esta sentença, como ocorre com certa frequência em inglês, poderia referir-se
a outros tipos de perfeito. Na leitura de perfeito de resultado, contudo, a sentença só
será adequada se enunciada enquanto o guarda-chuva continua perdido. O guarda-chuva
estar perdido é um estado consequente do evento de perdê-lo. Note-se que a localização
temporal do evento que deu origem ao resultado presente não é denida precisamente
(nem co-textualmente), mas inferida pragmaticamente: a perda do guarda-chuva não
pode ter ocorrido tanto tempo atrás, a ponto de que as consequências de sua perda já não
tenham relevância presente. Com base no preço dos guarda-chuvas, a frequência local de
chuvas, etc. há um período máximo a partir do qual, supor-se-ia que a consequência dessa
perda teria sido cancelada, por exemplo, pela compra de um novo guarda-chuva. Estão
pragmaticamente excluídas situações em que a perda tivesse ocorrido há cinco anos, por
exemplo. O período seria maior se se tratasse de um guarda-chuva de estimação especíco
e insubstituível, caso em que a consequência relevante seria antes a dor da perda do que
a impossibilidade de se abrigar da chuva. É uma particularidade do perfeito do inglês que
a localização temporal do evento (passado) original não pode ser explicitada.
(3)
*He's lost his umbrella last week.
Esta característica faz pensar na centralidade e proeminência da referência ao estado
resultante, face ao evento originário, que caracteriza o perfeito. A relação causal entre
evento originário e estado presente não precisa estar contida na semântica lexical do
verbo principal da perífrase. De fato, este tipo de perfeito é possível com todas as classes
accionais, ao passo que os estados consequentes só estão tipicamente codicados lexicalmente para achievements e certos accomplishments. Os pontos, por exemplo, sabidamente
não têm estados resultantes associados, mas a frase seguinte pode perfeitamente ser um
exemplo de perfeito de resultado (a iteratividade induzida não enfraquece o argumento):
(4)
He has sneezed a lot.
16
Como exemplo, os estados consequentes possíveis são: ele está com o nariz vermelho; os
outros espectadores do cinema em que ele estava encontram-se irritados; não é possível
adiar mais a limpeza do ar condicionado; ele faltou hoje ao trabalho, etc.
Perfeito de experiência
9
O perfeito de experiência
indica que uma situação dada ocorreu pelo menos
uma vez durante um certo tempo do passado que se estende até o presente.
(Comrie, 1976)
O inglês não tem forma especíca que diferencie este perfeito do perfeito de resultado.
10
Contudo, este perfeito ca claramente caracterizado quando a perífrase vem acom-
panhada dos advérbios (partículas) ever ou never. O intervalo de tempo em que se verica
a ocorrência ou não de certo evento termina obrigatoriamente no presente. Seu limite esquerdo pode ser expresso por meio de um adjunto introduzido por since ou sua tradução
canônica portuguesa desde.
(5)
a.
Have you played tennis since last year's tournament?
b.
Você jogou tênis desde o campeonato do ano passado?
c.
Você tem jogado tênis desde o campeonato do ano passado?
(5c) é uma tradução literal de (5a). Enquanto (5a) é um exemplo de perfeito de experiência, (5c) é um perfeito de situação persistente (ver item (7) abaixo). O perfeito
(semântico) de experiência obtém-se em português com o perfeito do indicativo: (5b),
que é, portanto, uma tradução mais adequada de (5a).
Aparentemente, ever tem o efeito de fazer com que o intervalo seja aberto à esquerda
(embora pragmaticamente limitado). Em (6), o período em que se verica se houve ou
não uma situação de skydiving é pragmaticamente limitado à esquerda pelo nascimento
do interlocutor ou pela idade em que praticar skydiving começa a ser uma possibilidade.
(6)
Have you ever skydived?
Mas assim como no perfeito de resultado, não é possível xar precisamente o evento, por
assim dizer, o acontecimento que provoca a mudança de never para ever:
(7)
Sure I have. I've skydived (*as soon as I turned 18)/(*at the age of 40).
9 Comrie: outros termos encontrados na literatura são
perfeito existencial perfeito indenido
e
.
10 Comrie aponta como exceção: He's been to Cuba. (existencial) vs. He's gone to Cuba. (resultado).
17
Perfeito de situação persistente
Este uso se refere a uma situação iniciada no passado e que persiste no presente. (Comrie, 1976)
É uma característica peculiar mas provavelmente não exclusiva do inglês, pois
muitas outras línguas usam o presente neste contexto, como mostram algumas comparações baseadas nos exemplos de Comrie (1976):
(8)
a.
I've waited for three days.
b.
*I'm waiting for three days.
11
12
c.
I've been waiting for three days.
d.
J'attends depuis trois jours.
e.
Ich warte schon drei Tage.
f.
Eu estou esperando há três dias.
g.
Eu esperei três dias.
A escolha dos tempos verbais acima também inclui uma nuance de signicado. Em (8a),
??
a espera pode ter terminado no momento presente ou pode prosseguir em direção ao
futuro; em (8c) a espera obrigatoriamente continua para o futuro.
indica que a espera
pode ou não continuar para o futuro, Mas se a espera tiver chegado ao m no momento
presente, então o tempo deverá ser o pret. perf. do ind. (8g).
Perfeito de passado recente
Em várias línguas, a simples proximidade temporal entre o evento passado e o momento
presente já é suciente para que o evento seja apresentado no tempo perfeito. Embora
no perfeito inglês, como se viu acima, haja uma proibição forte contra a explicitação da
localização temporal do evento passado, são consensualmente aceitáveis sinônimos próxi-
11 Nas seções seguintes, a questão dos perfeitos de situação persistente será retomada. Comrie comenta
que este tipo de perfeito é uma peculiaridade do inglês, mas como se verá, é também o
único
tipo
de perfeito que existe em português. As condições em que ele ocorre em português, contudo, são bem
particulares. Assim, a tradução portuguesa da sentença (8a) (perfeito) é (8f ) ou (8g), que não estão no
perfeito.
12 Uma busca rápida na internet produziu resultados que me parecem interessantes. O verbo
não é favorável à busca porque
for
to wait
é a preposição regida pelo verbo. Mas se buscarmos I'm doing
this for years. e I've been doing this for years. obteremos respectivamente os seguintes números de
ocorrências: 60,2 milhões : 3,050 milhões, que apontam na direção contrária ao que se dizia acima. Mas se
limitarmos a busca a sites do domínio uk, os resultados serão respectivamente: 0,000 : 0,55 milhões; para
o domínio au: 0,000 : 0,254 milhões; para o domínio ca: 0,000 : 0,371 milhões. Parece haver suciente
evidência, portanto, para concluir que há forte aversão à alternativa com presente progressivo, a ponto
pidgin
de caracterizá-la como agramatical em inglês. Os números da busca ilimitada quanto a domínio reetem
um uso do
de base inglesa que é a língua predominante na Internet.
18
mos do advérbio recently. E um marcador bastante característico deste tipo de perfeito é
just.
(9)
(10)
I have recently learned that the match is to be postponed.
(Comrie)
Bill has just arrived.
O intervalo de tempo intercorrente entre o evento e o presente que autoriza ou veda o uso
do perfeito é variável de língua para língua. Dita à tarde, a frase I've been to the doctor
this morning já implica um intervalo de amplitude tal, que divide as opiniões quanto a
sua gramaticalidade entre falantes de inglês. Em espanhol peninsular He ido al médico
esta mañana é pacicamente adequado. Comrie (1976) comenta que é possivelmente esta
a via pela qual o presente perfeito de diversas línguas acabam por ganhar terreno ao
passado simples: a distância admissível entre o presente e o evento passado vai cando
cada vez maior até o ponto em que a proximidade do presente já não tem mais qualquer importância na aplicação do presente perfeito. Quando se atinge esse ponto, como
no francês falado, já se pode, com propriedade, chamar o tempo perifrástico de passado composto ou pretérito perfeito composto, como respectivamente na terminologia
gramatical brasileira e portuguesa.
19
20
Capítulo 2
Caracterização empírica do
pretérito perfeito composto
Diferentemente do que ocorre em inglês, tem havido ainda grande desacordo quanto ao
comportamento distribucional e ao signicado do pretérito perfeito composto (p.p.c.) em
português. Isto é: não há acordo sobre quais são os fatos de língua que cumprem ser analisados e explicados e, a cada novo estudo, é como se se tratasse de uma nova variedade
do português, que apresentasse características próprias do tempo verbal expresso pela
perífrase ter+particípio passado invariável.
Se, por um lado, é certo que o p.p.c., como tudo o mais na língua, estará sujeito
a variações de toda ordem, é necessário que o desenvolvimento da pesquisa sobre essa
forma alcance alguma clareza sobre um núcleo comum de manifestações de fenômenos
discursivos, interpretativos, distribucionais etc. associados a esta forma verbal. Em outras
palavras, e como já claramente manifestou Ilari (2001b), o avanço do tema na área de
semântica formal, depende, em certa medida, de maior desenvolvimento de conhecimento
de cunho descritivo sobre o p.p.c.
Longe de suprir esta falta, mas como passo singelo nesse sentido, esta seção buscará
caracterizar descritivamente alguns fenômenos nos quais o p.p.c. está envolvido, assinalando sempre que possível o acordo ou desacordo com sua caracterização em estudos
anteriores.
Contudo, convém desde já deixar expresso, especialmente para leitores que não tenham alguma variedade do português como língua materna, que não parece haver consciência entre os falantes da comunidade linguística de qualquer discrepância grosseira,
salvo fenômenos puntuais, no uso e na interpretação desta forma verbal, quer em variedades brasileiras, quer na comparação transnacional entre variedades do português. Minha
21
1
convicção
é, portanto, de que a teorização sobre o p.p.c. pode na sua maior parte ser
desenvolvida em grandes linhas para a totalidade das variedades do português, sem nem
mesmo considerar a tradicional distinção português do Brasil/português de Portugal.
2.1
Tempo
2.1.1
Cursividade
Neste estudo, adotar-se-á a posição de que o p.p.c. em português é sempre cursivo,
2
isto
é, localiza temporalmente uma eventualidade num intervalo cuja extremidade esquerda
é um ponto no passado e cuja extremidade direita é o momento da enunciação. Esta é a
caracterização mais básica que poderia receber o p.p.c. português quanto ao seus aspectos
temporais (em contraste com os aspectuais, modais, etc.). A ela referem-se gramáticas
prescritivas e estudiosos da linguagem de antes da constituição da linguística como disciplina cientíca (p.ex. Barbosa (1822); Viana (1903); Boléo (1937) e, mais recentemente,
Ilari (2001b); Schmitt (2001), Medeiros (2015), Oliveira and Leal (2012), Hofherr et al.
(2010), Giorgi and Pianesi (1997), Brugger (1997), por exemplo.
Considerando que este ponto é mais ou menos consensual, seria difícil enumerar todas as obras que o defendem, sendo mais produtivo e factível apontar as poucas vozes
dissonantes identicadas.
Karina Molsing, nos trabalhos de 2006, 2007 e 2010, apresenta os exemplos (1) e (2)
abaixo, aqui ligeiramente modicados para se adequarem a esta exposição. Os exemplos de
(1) têm leitura iterativa e o exemplo (2) é apresentado como exemplo de leitura contínua
(durativa na terminologia da autora e da maior parte da tradição).
(1)
(2)
a.
Eu tenho corrido aqui (ultimamente)/(mas não vou mais).
b.
Eu tenho chegado tarde (ultimamente)/(mas não vou mais).
c.
Eu tenho percebido que está mais magro (ultimamente).
d.
Eu tenho pintado um quadro (ultimamente).
[atividade]
[culminaçao]
3
[culminação ]
[processo culminado]
Eu tenho sido feliz (ultimamente).
[estado]
1 O autor tem português como língua materna e sempre morou e estudou em São Paulo, Brasil, tendo
cursivo
tido contacto familiar com o português falado na região do Porto e Aveiro, Portugal.
2 Vai-se adotar a designação
para indicar a característica de que o evento se estende até o
U-perfect universal
momento de referência. No caso do p.p.c., este momento é idêntico ao da enunciação e coincidente com
perfect
o agora. A literatura costuma designar essa característica de um perfeito como
ou
. Esta designação, contudo, mistura a caracterização nocional (estender-se até o momento de
referência) com a maneira de teorizar sobre a noção (quanticação universal), e por isso será evitada.
3 Perceber poderia ser também um estado, mas o contexto dos exemplos sugerem que a autora se
refere à leitura de culminação neste caso.
22
Estamos de acordo com as intuições da autora quanto ao fato de que as sentenças em (1)
e (2) podem ser empregadas adequadamente em situações em que a eventualidade tenha
cessado (ligeiramente) antes do momento de enunciação. Discordamos, contudo, de que
tais exemplos formem uma categoria semântica distinta da de exemplos como (3), em que
a eventualidade (neste caso, a iteração de chegar tarde ) se estende explicitamente até o
momento da enunciação.
(3)
Tenho chegado tarde desde que entrei na faculdade até hoje.
Esta seção se propunha à caracterização pré-teórica do p.p.c., apresentando fenômenos
pelos quais esse tempo verbal se manifesta. O parágrafo anterior, porém, expõe uma
discordância de Molsing, não quanto a seus julgamentos dos exemplos, mas quanto à
sua explicação deles. Esta intrusão teórica nesta seção é, contudo, justicável, por não
se relacionar a nenhuma minúcia da explicação do fenômeno, mas sim à delimitação das
facetas do signicado verbal de que este estudo não se ocupará.
Assim, a possibilidade de que a eventualidade não se estenda até o momento da
enunciação será tratada como uma questão alheia à semântica propriamente dita do p.p.c.,
dizendo respeito à escolha do p.p.c. para a descrição de um dado estado de coisas. Referese, portanto, ao uso do p.p.c. numa situação enunciativa especíca e ao pareamento de
sentenças com situações do mundo referencial, e não ao signicado invariável que se pode
atribuir ao p.p.c. independentemente do seu contexto de uso. Essa operação se assemelha
à da vericação de valores de verdade, sendo uma operação pragmática, psicológica e
cognitiva que excede o âmbito da semântica teórica. O assunto é pedregoso e comportaria
maior desenvolvimento. Para os ns desta seção, contudo, que visa somente a delimitar de
quais fenômenos linguísticos cumpre à semântica e, em especial, a este trabalho, tratar,
talvez seja esclarecedora uma analogia com o domínio da semântica lexical:
(4)
A: Onde está a bola?
B: Que bola?
A: A bola azul.
Em (4), se a bola de que fala A for uma bola de pintas amarelas sobre um fundo azul
dominante, ou se for uma bola com gomos azuis e pretos, ou se além disso tiver um
emblema de um clube de futebol, nem por isso B estará em diculdades para identicá-la
se a vir. E, se por acaso identicar a bola errada supondo-se que B esteja agindo de
forma conversacionalmente cooperativa, no sentido de Grice , não reclamará com A
por descrever a bola de forma enganosa, atribuindo o adjetivo azul a uma bola que não
o era. Neste exemplo, está claro desde já que não seria possível postular que azul fosse
ambíguo entre os innitos signicados que azul poderia ter, a ponto de recobrir todas as
23
interpretações selecionadas nas innitas situações referenciais e enunciativas em que pode
ser usado. Postular a vagueza do signicado de azul também não seria útil porque se
trataria de uma vagueza de carácter trivial: não há expressão na língua que não seja vaga
em alguma medida, mas capitular a tal vagueza tão principial como ponto de partida
para a teorização é equivalente a negar à semântica teórica qualquer papel na explicação
do signicado linguístico. Já ignorar tal vagueza, como opção metodológica, permite, por
exemplo, apreciar o carácter de tautologia da sentença: Se a bola é azul então a bola não
é preta., que reconhece que a língua dene duas categorias na categorização cor que
são mutuamente excludentes: a propriedade ser-azul e a propriedade ser-preto.
A possibilidade de a sentença no p.p.c. poder ser seguida por uma adversativa como
em (1a) e (1b) é interpretada por Molsing como uma conrmação de sua hipótese de
que a persistência da eventualidade até o momento da enunciação seja tão-somente uma
implicatura, e não uma parte da asserção do p.p.c., pois é característica das implicaturas
a possibilidade de cancelamento, enquanto a tentativa de cancelar uma parte da asserção
conduziria a uma contradição. Entretanto, é preciso ter em conta que há contradições que
também são julgadas adequadas pelos falantes de uma língua. Novamente, uma analogia
com o domínio nominal será esclarecedora:
(5)
[A professora informa à diretora da escola sobre a visita de uma classe de alunos
ao museu:]
a.
[A classe é formada por cerca de 35 alunos.]
Foram todos, só não foram o André e a Mariana.
b. # [A classe é formada por 5 alunos.]
Foram todos, só não foram o André e a Mariana.
Em (5a), todos pode ser usado pragmaticamente para descrever a situação em que quase
todos foram, especialmente se seguido de expressão que torna mais precisa a quanticação
(só não foram...). Conforme a situação se vá afastando de todos, contudo, a sentença
será julgada cada vez menos aceitável, como em (5b), que só seria admissível se a intenção
fosse humorística ou irônica.
Ademais, a aceitabilidade dos exemplos (1a) e (1b) é reduzida com pequenas substituições. Em primeiro lugar, a substituição de mas não vou mais pelo verbo da oração
precedente mas não corro/chego mais. Com estas substituições, os exemplos soam já
mais estranhos. A razão é possivelmente o fato de que não vou mais é tanto forma futura
anômala quanto a presente, uma vez que não se diz *não vou ir mais. Mesmo a última
substituição, porém, não elimina a possibilidade de uma leitura de presente-futuro, que
não traria informações sobre a cursividade ou não do p.p.c. Um adjunto de tempo eliminaria a polissemia do presente do indicativo em relação a presente e futuro, por
24
exemplo atualmente. Esta última substituição torna os exemplos ainda menos admissíveis. A sequência de modicações dos exemplos (1a) e (1b) será resumida em (6) abaixo,
onde o número de interrogações representará a crescente estranheza da sentença.
(6)
a.
?Eu tenho corrido aqui mas não vou mais.
[de (1a)]
b. ??Eu tenho corrido aqui mas não corro mais.
c.???Eu tenho corrido aqui mas atualmente não corro mais.
Molsing, como herança de Iatridou et al. (2001) e Pancheva (2003), refere-se à cursividade como inclusão do ponto de referência (que, no p.p.c. e no present perfect, coincide
com o ponto de enunciação). Entretanto, essa formulação que envolve pontos ou momen-
tos de tempo pode conduzir a diculdades teóricas. Essas diculdades são exemplos das
diculdades apontadas por Klein (1994), ao armar que a modelagem do tempo pelos
números reais introduz estrutura excessiva no conceito de tempo tal como reetido na
língua.
De fato, a língua não conceptualiza a diferença entre os intervalos de tempo
[a, b]
[a, b[, isto é, o intervalo de a a b respectivamente fechado e aberto à direita, onde
[a, b[ = [a, b] − {b}. Do ponto de vista matemático, o comprimento (duração) do intervalo
e
permanece inalterado depois da subtração do ponto extremo direito, mas não faz sentido,
linguisticamente, dizer que uma eventualidade tenha a mesma duração que outra que
se iniciou simultaneamente e se estendeu para além dela. Assim, estender-se ou não até
o momento de referência implica respectivamente não haver ou haver um intervalo de
tempo (por curto que seja) imediatamente antes do agora em que a eventualidade ou
parte dela não exista. Basta que esse intervalo receba qualquer tipo de saliência discursiva
para que as sentenças já soem menos aceitáveis.
(7)
a.
?Eu tenho corrido aqui mas desde ontem não corro mais.
b.
?Eu tenho corrido aqui mas há dois dias não corro mais.
c.
?Eu tenho corrido aqui mas há uma semana não corro mais.
A posição adotada neste trabalho, portanto, será de ignorar para efeitos da teorização semântica o efeito apontado por Molsing nos exemplos (1) e (2), atribuindo-os a
folga pragmática (pragmatic slack) presente nas situações de uso. O grau de folga pragmática pode ser marcado por recursos codicados linguisticamente. O uso do advérbio
ultimamente, nos contextos apontados por Molsing, pode ser considerado um exemplo
dessa marcação, semelhante a em ponto na indicação da hora do dia.
Também Juliana Bertucci Barbosa, nos trabalhos de 2003 e 2008, trabalhos escritos
com base num quadro teórico bastante diverso do adotado no presente trabalho, arma
que:
25
(. . . ) expressar um evento que tem início no passado e se estende/continua até
o presente é simplesmente uma possibilidade que o Pretérito Perfeito Composto deixa aberta, não necessariamente o emprego dessa forma composta
expressa um evento que se estende até o momento presente. (Barbosa (2008),
pág. 95)
Seus argumentos em defesa desta armação têm origens variadas, mas parecem apoiarse mais importantemente sobre o fato de que outros tempos morfológicos portugueses
podem ter o mesmo valor de se estender até o presente. Estes argumentos, contudo,
parecem só reforçar o fato de que o p.p.c. não tem a prerrogativa, dentre os tempos
verbais, de indicar eventualidades iniciadas no passado que se estendem até o presente.
Não é claro como a existência de outros tempos verbais com características semelhantes
poderiam contribuir para negar ao p.p.c. este valor, que estamos chamando de cursividade.
O exemplo que parece condensar mais cabalmente as convicções de Barbosa (2008) quanto
às características temporais do p.p.c. é:
(8)
Tenho escrito a carta.
[Barbosa (2008), pág. 92]
Sobre o exemplo (8), Barbosa arma:
Ao contrário do que postulam Fiorin (1994) e Cano (1998), não necessariamente o evento expresso pelo PPC marca um valor inacabado. [. . . ] o
evento escrever não está obrigatoriamente em curso no momento em que
o falante enuncia a frase (o falante não está necessariamente escrevendo a
carta quando o falante produz essa frase), embora a carta esteja inconclusa.
(Barbosa (2008), pág. 92)
Contudo, o requisito de estender-se até o presente imposto pelo p.p.c. não se aplica
às ocorrências singulares de escrever que se iteram, mas aplica-se sim ao evento plural
único formado pelas iterações de momentos de escrita da carta. Armar que este evento
plural está em curso não depende de que uma das iterações de escrever esteja ocorrendo
no momento da enunciação. Ao contrário: é justo o fato de a carta estar inconclusa
que garante que o evento plural das iterações ainda não se encerrou (pois só se encerrará
quando a carta estiver completa) e, portanto, está em curso no presente, isto é, estende-se
até o presente, contra o que a autora procurava argumentar.
4
Barbosa (2008) cita ainda Comrie (1985) para apoiar sua convicção de que não faz
parte do signicado do p.p.c. a obrigatoriedade de que a eventualidade nele expressa se
estenda até o presente:
4 Estas questões serão retomadas e devem se tornar mais claras na seção 2.1.3, pág. 30, mais adiante.
26
Thus the sentence Ele tem estudado muito ultimamente indicates that he
started studying in the not too distant past, established a habit of studying,
and that this habit has continued up to the present moment although
it may be that the habit has now come to an end, just before the present
moment. Thus the time reference of the Portuguese perfect is past; we need
to identify a point in time in the not too distant past (the verb form does not
further specify which point in time), and a point in time innitesimally prior
to the present moment; the time reference of the Portuguese perfect then
covers the whole span from one of these time points to the other. (Comrie
(1985), pág. 100101)
Como já defendido anterioremente, a falta de um ponto matemático ou geométrico,
equivalente ao passado innitesimal mencionado por Comrie, não descaracteriza a cursividade do p.p.c. Os mesmos argumentos apresentados na discussão de Molsing mais
acima nesta mesma seção (vide pág. 25), aplicam-se, a meu ver, igualmente às observações de Comrie. É de se notar, ainda, que, no mesmo trecho reproduzido acima, Comrie
diz textualmente que this habit has continued up to the present moment, o que parece
sugerir que, tampouco para ele, o fato de o hábito se ter encerrado num instante innitesimalmente passado pode ser tomado como indicação de que a eventualidade deixou de
se estender até o presente.
Quanto aos testes para esta caracterização temporal do p.p.c., parecem ser bastante
triviais, tais como a admissibilidade de adjuntos de localização temporal: Não são admitidos adjuntos de localização temporal que estejam em contradição com a caracterização
temporal do p.p.c., isto é, que posicionem a eventualidade num intervalo que não seja no
passado ou não tenha a extremidade direita no agora.
(9)
a.
* O João tem escrito cartas até a semana que vem.
b.
* O João tem escrito cartas até a semana passada.
c.
* O João tem escrito cartas a partir de agora/hoje/amanhã.
(9a) e (9b) ilustram a violação da condição de que a fronteira direita do evento coincida
com o agora (cursividade ); (9c) ilustra a violação da condição de que a fronteira esquerda
do evento deve estar no passado (estrito). Todas as sentenças de (9) são fortemente
aversivas aos falantes de português do Brasil.
Autores portugueses (Mateus et al., 2003; Oliveira and Leal, 2012, por exemplo) relatam o uso do p.p.c. com referência a um tempo diferente do agora. Em (10a), (10b) e
(10c), o p.p.c. se refere a um tempo futuro; em (10d), refere-se a um momento de referência iterativo. Se observamos, por um lado, que há pouca variedade nos exemplos desses
autores, não nos cabe, por outro lado, conrmar ou não a produtividade, frequência de
27
uso e vitalidade desse uso do p.p.c. em português de Portugal. Não é claro, tampouco, em
que medida a partícula já anteposta ao sujeito é parte obrigatória da construção (uma
vez que todos os exemplos de (19) a contêm). É, porém, bastante segura a armação de
que esse uso é agramatical em português do Brasil contemporâneo, a despeito do fato de
o p.p.c., o presente-futuro e o presente habitual serem de uso corrente nessa variedade de
português.
(10)
a.
5
* Quando a Maria chegar, já o João tem almoçado.
[Oliveira and Leal (2012)]
b.
* Quando a Ana regressar de Groningen, já tu tens acabado a tese.
[Laca (2010)]
c.
6
* Quando a Ana chegar a casa da Maria, já o Rui a tem visitado.
[Mateus et al. (2003)]
d.
* Sempre que a Ana chega a casa da Maria, já o Rui a tem visitado.
[Mateus et al. (2003)]
2.1.2
Duração do evento ou estado
Do fato de a eventualidade expressa no p.p.c. estender-se até o agora, contudo, não decorre que o p.p.c. expresse uma eventualidade que só ocorre nas proximidades do agora.
Em outras palavras, o p.p.c. não traz restrições quanto ao comprimento do intervalo (sua
duração) durante o qual se desenrola iterativamente ou continuamente a eventualidade expressa pelo verbo. Esta caracterização está em desacordo com o defendido para
o português de Natal (RN) em Hofherr et al. (2010) e em acordo com o defendido para
o português de Portugal em Oliveira and Leal (2012). Estas últimas autoras observam
ainda que o p.p.c. não traz, por si só, qualquer asserção sobre a duração desse intervalo,
que, à falta de um adjunto apropriado, terá sua extremidade esquerda indeterminada.
Tanto a liberdade da amplitude admitida para o intervalo da eventualidade quanto a ne-
5 Este tipo de p.p.c. não será mais considerado no resto deste trabalho. Antes de abandonar o assunto,
porém, convém deixar aqui registrado que os autores portugueses que citam tais exemplos armam que
os exemplos em (10) perdem sua leitura iterativa, assim como ocorre com a perífrase de perfeito quando
perfectude
o auxiliar está em qualquer outra forma que não o presente do indicativo. É de se perguntar se o que é
perdido não vai além da iteratividade, englobando qualquer traço de
ter+part.pass.inv.
. A conrmar-se a descrição
dos mencionados autores, é como se a presença ou ausência de perfectude no signicado da perífrase
se vinculasse diretamente com o agora, independentemente da sua manifestação
morfológica. De fato, a leitura em português de Portugal de exemplos como (19) parece ser, com base
no que se pode depreender de comentários encontrados nos textos, não uma das leituras de perfeitos
pretérito
perfeito
não-cursivos disponíveis em inglês (de resultado, de passado recente, de experiência), mas uma leitura
de simples anterioridade, isto é, uma leitura de
pret.+perf., também em português do Brasil.
(não de
), como a que se observa no
6 Laca (2010) aponta este exemplo como inaceitável. Oliveira and Leal (2012) o reproduz para defender
que é perfeitamente aceitável em português de Portugal.
28
cessidade de adjuntos para a xação de sua fronteira esquerda valem tais e quais para o
português do Brasil e são exemplicados pela sentença (11) abaixo, que se pode combinar
com qualquer um dos adjuntos entre parênteses ou com nenhum deles.
(11)
(X∅/XNos últimos anos/XNas últimas semanas/XNos últimos minutos,)
o mar tem chegado até ao paredão.
[Oliveira and Leal (2012)]
Embora o comprimento do intervalo por que se estende a eventualidade não esteja sujeito
a restrições impostas diretamente pelo p.p.c. em si, há restrições que se originam da incompatibilidade entre, por um lado, a conformação temporal própria das eventualidade
expressas no p.p.c. e, de outro, dados relativos à dinâmica das eventualidades e sua interconexão, pertencentes ao conhecimento de mundo tal como compartilhado pelos falantes
da língua.
(12)
a. # A Rosa tem feito viagens internacionais há um dia.
b. # A seleção natural tem aprimorado o genoma humano na última semana.
A sentença (12a) é inadequada, não por uma restrição atribuível ao p.p.c. em si, mas pelo
conito entre, por um lado, a exigência (neste caso, aspectual, vide seção 2.2 abaixo) do
p.p.c. de sucientes iterações para que tais iterações se congurem como um hábito e, por
outro lado, o dado de conhecimento compartilhado de que (ao menos se partindo de uma
cidade como São Paulo) qualquer viagem internacional já tomará mais do que um dia.
O exemplo (12b) reforça o mesmo ponto, mas numa escala temporal mais ampla. Neste
caso, estão em jogo, de um lado, a mesma restrição do p.p.c., relativa à necessidade de
conguração de uma habitualidade e, de outro, dados de conhecimento compartilhado
entre falantes sobre a dinâmica da evolução das espécies.
Em consonância com o propósito desta seção, de caracterizar empiricamente o p.p.c.
em comparação com outras caracterizações anteriores, convém ainda enfatizar que as
sentenças apresentadas por Hofherr et al. (2010) como inaceitáveis para o português
nordestino são perfeitamente adequadas para o português de São Paulo e, acreditamos,
para qualquer português que se pudesse intitular padrão do Brasil, tal como o reetido
nas redes nacionais de televisão, por exemplo:
(13)
a.
b.
c.
XEu tenho feito as camas desde as oito da manhã
XEla tem perguntado por você toda a manhã.
XMaria tem tossido muito desde ontem.
[todas as sentenças estão marcadas # em Hofherr et al. (2010)]
29
2.1.3
Efeitos de sobrevivência e repetibilidade
Em inglês, é muito conhecido o exemplo (14), atribuído a Chomsky (1970), que ilustra a
impossibilidade do uso de present perfect quando o sujeito da oração não está mais vivo.
Tais efeitos recebem a designação de lifetime eects, que será traduzida como efeitos de
sobrevivência.
(14)
a. # Einstein has visited Princeton.
b.
Princeton has been visited by Einstein.
Em contraste com (14a), é aceitável a sentença (14b), supostamente descritiva do mesmo
estado de coisas. A readequação da sentença (14a) por meio da demoção do agente para
um constituinte não topicalizado poderia sugerir que somente o participante topicalizado
desencadeia o efeito de sobrevivência, isto é, que bastaria que o participante topicalizado estivesse vivo para que a sentença fosse adequada no present perfect. Entretanto, o
processo exemplicado em (14) não pode ser generalizado.
(15)
[As sentenças abaixo, ditas depois do encerramento da exposição.]
a. # He hasn't seen the Abaporu at the Tarsila do Amaral exhibition.
b. # Have you visited the exhibition?
[McCawley (1971)]
Embora, nos exemplos (15), o ente não sobrevivente (a exposição) compareça respectivamente como adjunto (15a) e objeto direto (15b), ainda assim as sentenças são inade-
7
quadas em razão do efeito de sobrevivência.
Estas observações sugerem, portanto, que
o requisito imposto pelo present perfect de sobrevivência dos participantes da eventualidade no agora necessitaria ser substituído por um requisito mais geral que o abarcasse,
tornando-o redundante. Tal requisito é chamado de repetibilidade e se consubstancia na
necessidade de a eventualidade poder ser repetida no agora. A não sobrevivência de
um participante é evidentemente um caso especial de não-repetibilidade. Entretanto, a
satisfação deste requisito de repetibilidade pode não estar estritamente relacionado com
a sobrevivência dos participantes da eventualidade.
(16)
a. #[Antônio foi encarcerado ontem para cumprir uma pena de anos.]
O Antônio tem-me visitado.
7 A possibilidade de readequação de uma sentença no
present perfect
perfeito de experiência
ao menos em parte, ao fato de o exemplo (14) corresponder a um
curriculum vitae
vide
por meio da passivização se deve,
em inglês (
seçao 1.3). Esse tipo de perfeito, inexistente em português, tem um efeito semelhante ao de se acrescentar
um novo item ao
do agente. No caso em questão, é como se Einstein passasse a ter
# Einstein is rather short.
a propriedade ter-visitado-Princeton. Contudo, tanto em inglês como em português, é inadequado
enunciar características de pessoas já falecidas no tempo presente:
30
b. #[O batizado foi ontem.]
Temos pensado tanto num nome de menina. . .
8
As sentenças de (16) permanecem inadequadas mesmo que todos os participantes estejam
vivos no agora. A inadequação advém, em (16a), do fato de Antônio não poder mais
fazer, no agora, as visitas que vinha até então fazendo, e, em (16b), da impossibilidade
de se continuar a cogitar sobre alternativas de nomes, depois de o nome já ter sido xado
denitivamente.
Assim como o present perfect,também o p.p.c. impõe o requisito da repetibilidade,
como se pode vericar pelo exemplo (16). Todavia, a existência do requisito de repetibilidade parece menos surpreendente em português do que em inglês, já que, como visto
na seção 2.1, o p.p.c., desde o princípio em contraste com o present perfect já se
restringe à expressão situações que persistem até o agora (correspondente à leitura de
perfeito de situação persistente do inglês, vide 1.3). Diante disto, é de se perguntar se o
requisito de repetibilidade não seria redundante para p.p.c., em face da restrição de persistência da eventualidade até o agora. A discussão desta questão não tem lugar neste
capítulo sobre a caracterização empírica do p.p.c. Para já, bastará salientar a diferença
existente entre os dois requisitos por meio de um exemplo:
(17)
Tem havido congestionamentos na Rodovia do Imigrantes nos últimos meses.
[iterativo]
Em (17), considere-se que há, por um lado, os múltiplos eventos dos congestionamentos individuais, cada um com sua duração própria, e, de outro lado, a sequência dos
congestionamentos que se estende pelos últimos meses. O requisito de persistência da
eventualidade até o agora, próprio do p.p.c., recai sobre a sequência dos congestionamentos; o requisito de repetibilidade recai sobre os congestionamentos individuais. De
fato, (17) seria perfeitamente adequada se dita num momento em que não há congestionamento, mas isto não signicaria a violação do requisito de persistência da sequência
de congestionamento até o agora. De fato, a eventualidade estado-iteração da sequência
dos congestionamentos tem uma conformação que admite lacunas. O agora pode simplesmente coincidir com uma dessas lacunas sem que isso signique obrigatoriamente o
término da sequência (que estamos chamando informalmente de estado-iteração). Quanto
à repetibilidade, imagine-se que um túnel ruiu e terá de ser reconstruído numa obra que
8 Aos leitores de língua materna portuguesa a quem as sentenças (16) pareçam adequadas, talvez
vinha-me visitando. b) X Vínhamos pensando tanto em nomes de menina...
o cotejo com as seguintes sentenças os faça concordar com o juízo de inadequação: a)
X
O Antônio
O fato de a impossibilidade
de repetiçao ter começado a vigorar recentemente (ontem) pode confundir os julgamentos mas, assim
como na argumentação em defesa da cursividade do p.p.c. (seção 2.1.1), atribuímos este efeito a folga
pragmática.
31
levará meses. Neste caso, a estrada será bloqueada e nenhum veículo circulará mais por
ela, tornando os congestionamentos irrepetíveis no agora. Nesta situação, a enunciação
da sentença (17) passará a ser inadequada de pronto pela impossibilidade da repetição
de congestionamentos.
Evidentemente, também a sequência de cogestionamentos terá deixado de estender-se
até o agora. Em suma, para o p.p.c., a falta da repetibilidade (dos eventos reiterados)
no agora acarreta a falta da persistência (da iteração) até o agora. A questão será
reexaminada no capítulo 4, mas a manutenção das duas restrições separadas é conveniente
para a comparabilidade entre as línguas.
2.2
2.2.1
Aspecto
Geral
Esta seção se refere à caracterização do p.p.c. quanto ao aspecto, concebido de forma larga,
como a organização temporal interna da eventualidade (Comrie, 1976). Esta concepção
não é compatível com a concepção de aspecto das teorias neo-reichenbachianas. Naquelas
teorias neo-reichenbachianas que consideram momentos no tempo, o aspecto é denido
como a relação de precedência ou sucessão temporal entre o momento de referência e o
momento do evento. Pode-se dizer que, nesse tipo de teoria, há uma redução do aspecto
a relações temporais, e esta noção de aspectualidade tem muito pouco em comum com a
concepção larga de aspectualidade adotada nesta seção. Nas teorias neo-reichenbachianas
que consideram intervalos de tempo, o aspecto é denido, para além das relações de
precedência, também por meio de relações de continência entre o intervalo de referência
e o intervalo da eventualidade. Este último tipo de teoria já capta alguns elementos da
concepção nocional de aspectualidade que serve de base a esta seção, mas esses elementos
são ainda insucientes para a caracterização do p.p.c. por não contemplarem a maneira
da duração: se contínua ou iterativa.
9
Em primeiro lugar, como se depreende da caracterização temporal do p.p.c. da seção anterior, é preciso dizer que por essa forma verbal não se expressam eventualidades
pontuais (a menos que iteradas). Essa restrição decorre diretamente da caracterização
temporal do p.p.c. (vide seção 2.1 acima), pois a fronteira esquerda do tempo da eventualidade deve estar no passado estrito e a fronteira direita deve coincidir com o agora
(isto é, o presente estrito). Disto resulta que não se pode exemplicar a agramaticalidade de eventualidades caracterizadas aspectualmente como pontuais no p.p.c. que já
9 Convém enfatizar mais uma vez que a terminologia aqui adotada diverge da adotada em boa parte
contínuo
não-pontual
da literatura em português sobre o tema. O termo durativo tradicionalmente costuma ser usado para
signicar
(Ilari, 2001b, por exemplo). Aqui, durativo é simplesmente
32
.
não estejam em violação dos requisitos temporais. O exemplo (18) abaixo ilustra não só a
impossibilidade de eventualidades pontuais (uma ocorrência única), como uma restrição
do p.p.c. mais geral do que essa, qual seja: a impossibilidade de eventualidades repetidas
um número denido qualquer de vezes. [[voltaremos à questão mais adiante]]
(18)
Ele tem tido diculdades (*uma única vez)/(*200 vezes).
As eventualidades, portanto, extensas (não pontuais) expressas pelo p.p.c. podem ser
contínuas, como nos exemplos (19), ou iterativas, como nos exemplos (20). A manifestação
da maneira de duração está relacionada com a classe accional do verbo (Ilari (2001b),
Hofherr et al. (2010), etc.), mas a classe accional não determina totalmente essa maneira
de duração.
(19)
a.
O João tem sido feliz na Europa.
[estado, contínuo]
b.
A paciente tem-se empenhado muito na última meia hora, mas pelo visto
teremos mesmo que recorrer a uma cesariana.
(20)
a.
A Maria tem chegado em primeiro lugar.
b.
O João tem ido à escola de ônibus.
c.
O menino tem espirrado desde ontem.
[processo, contínuo]
[culminação, iterativo]
[processo culminado, iterativo]
[ponto, iterativo]
Por denição, as eventualidades télicas não admitem leitura contínua no p.p.c., suscitando, portanto, sempre interpretações iterativas.
10
As eventualidades atélicas admitem
a leitura contínua, mas podem ter leitura iterativa também. Em resumo, as eventualidades télicas (culminações e processos culminados, respectivamente exemplos (20a) e (20b))
têm leitura exclusivamente iterativa no p.p.c. Em contraste, a atelicidade de um predicado atélico (estados e processos, respectivamente exemplos (19a) e (19b)), por si só, não
exclui nem leituras iterativas, nem contínuas.
(21)
a.
O Pedrinho tem estado triste (na saída da escola).
b.
A Helena tem corrido (à noite).
[estado, iterativo]
[processo, iterativo]
(21) exemplica a leitura iterativa das classes atélicas no p.p.c. Os adjuntos deixam clara a
iteratividade, mas não são necessários para a obtenção da leitura iterativa. As versões das
sentenças sem os adjuntos são bem formadas e pragmaticamente adequadas, ainda que a
10 Dados um predicado verbal lexical
P
de classe accional primária (excluídas, portanto, as classes
P (e0 ) é
00
verdadeiro, diz-se que P é télico se existe uma eventualidade e , tal que e é um subevento de e e P (e )
0
é falso. Ora, a leitura contínua se caracteriza pela ausência de interrupções da eventualidade e . Assim,
00
00
não poderia existir um subevento e tal que P (e ) fosse falso, contrariamente ao que exige a denição
derivadas, tais como progressivos, frequentativos e habituais) e uma eventualidade
00
00
e0 ,
tal que
0
de predicado télico. A conclusão é que não há leitura contínua possível do p.p.c. para predicados télicos
(não-derivados).
33
omissão do adjunto pareça afetar os dois exemplos de forma diferente. Fora de contexto,
como sentenças isoladas, (21b) soa estranha sem o adjunto e (21a) ca perfeitamente
normal. Quanto à iteratividade da leitura, (21b) permanece preferivelmente iterativa mas
(21a), talvez com variações de informante para informante, passa a ser vaga quanto à
distinção iterativo/contínuo.
No interesse de deixar claros os fatos da língua considerados neste trabalho, convém
neste ponto enfatizar que não julgamos como exemplo de leitura contínua a sentença
frequentemente citada (22a). Para efeitos deste trabalho, (22a) será considerada, quando
muito, uma sentença vaga quanto à distinção iterativo/contínuo, mas a interpretação mais
imediata, talvez com variações entre falantes individuais, é uma leitura oscilante, em que
João está enfermiço, ora mais, ora menos doente. A interpretação de (22a) contrasta com
a de (22b), em inglês, que, com um adjunto obrigatório, tem leitura contínua.
11
Sendo
assim, a tradução mais adequada de (22b) para o português é (22c) e não (22a). Uma
sentença como (22d), formulada com o tempo morfologicamente análogo ao de (22c), é
uma sentença agramatical em inglês, embora muito encontrada entre falantes de inglês
como língua segunda (vide seção (7) e nota de rodapé 12, Cap. 1).
(22)
a.
O João tem estado doente desde a semana passada.
b.
John has been sick since last week.
[contínua]
c.
O João está doente desde a semana passada.
[contínua]
d.
[iterativa ou oscilante]
* John is sick since last week.
Em resumo, para efeitos deste trabalho, a sentença (22b) será considerada um exemplo
de leitura contínua do present perfect ; a sentença (22a) não é um exemplo de leitura
inequivocamente contínua do p.p.c., embora frequentemente citada como tal (Molsing
(2010); Oliveira and Leal (2012); Medeiros (2015), inter alios ).
Determinar quais são os ingredientes linguísticos e situacionais que levam a uma ou a
outra leitura, nos casos em que ambas são admitidas (eventualidades atélicas), é uma das
principais questões teóricas em torno do p.p.c. Ilari (2001b) alude a uma disputa teórica
histórica entre Boléo (1937) e Viana (1903) sobre a natureza do p.p.c., se contínua ou
iterativa (vide 3.1, pág. 41). Aqui a atenção está voltada para os fatores que determinam
ou favorecem uma ou a outra leitura.
11 A rigor, Dowty propôs que orações como (22b) são ambíguas entre uma leitura cursiva e uma leitura
menos uma ocasião em que John esteve doente.
não-cursiva. A leitura não-cursiva poderia ser parafraseada como:
Dentro da última semana, houve pelo
Todavia, as leituras não-cursivas do inglês não estão
sendo consideradas para ns de contraste, pois essas leituras são inexistentes em português (cf. 2.1,
pág. 22). Segundo Dowty, somente as sentenças como (22b) com o adjunto de tempo preposto ao sujeito
são inambiguamente cursivas. Estas observações de Dowty, embora não gozem de unanimidade, são
largamente aceitas por grande número de autores.
34
A seguir, algumas observações empíricas (embora não estatisticamente validadas) sobre a seleção da leitura iterativa ou contínua.
Inicialmente, cabe apontar explicitamente que os julgamentos relativos às duas alternativas de interpretação do p.p.c. estão sujeitos a grande instabilidade. Tanto há desacordo entre informantes em relação à leitura de determinadas ocorrências do p.p.c., quanto
há hesitação individual dos falantes na classicação das ocorrências entre iterativas ou
contínuas. À primeira vista, é intrigante observar tal utuação entre duas categorias semânticas costumeiramente tratadas como mutuamente excludentes. Propomos que essa
aparente falha na obtenção de juízos claros sobre a distinção iterativo/contínuo seja valorizada como informativa do funcionamento da língua, levantando a seguinte hipótese: o
p.p.c. com verbos atélicos não é somente vago no sentido de que seu signicado não
é totalmente especicado gramaticalmente, mas o p.p.c. pode também ser interpretado
vagamente, numa leitura que é, portanto, indeterminada entre iterativa e contínua . Tal
indeterminação não precisa ser resolvida (pragmaticamente) de imediato na interpretação
das sentenças que contêm um verbo atélico no p.p.c.
As leituras iterativas e contínuas são favorecidas ou desfavorecidas, tanto por fatores
gramaticais quanto pragmáticos. Dentre os fatores gramaticais, encontra-se a já citada
distinção de classe aspectual télico/atélico, uma vez que, a depender dessa categorização
gramatical, o predicado terá interpretação obrigatoriamente iterativa (télicos) ou não (atélicos). Dentre os predicados atélicos, a obtenção de leitura iterativa ou contínua é, por sua
vez, novamente favorecida ou desfavorecida por fatores gramaticais e pragmáticos: dentre
os fatores gramaticais estão, por exemplo, a seleção da cópula entre ser/estar(/car) em
predicados nominais:
(23)
a.
Ele tem sido feliz.
b.
Ele tem estado feliz.
A cópula com ser, (23a), tende a expressar propriedades mais permanentes do sujeito;
as cópulas com estar (23b), tendem a expressar estados mais passageiros. Em consonância com esses signicados, (23a) tende a ter leitura contínua e (23b), leitura iterativa.
Contudo, esta distinção gramatical é somente um dos fatores que contribuem para a interpretação do p.p.c. A atuação de outros fatores, poderia contrariar a inuência da classe
da cópula.
(24)
a.
b.
12
Ele tem sido feliz nos seus sucessivos casamentos.
? Ele tem estado feliz desde que
lhe administraram os sedativos.
12 Não estamos considerando
seus comentários à imprensa.
ser feliz
como
ser bem sucedido numa decisão
35
, como em:
Ele foi feliz nos
Em (24a), a interpretação se torna decididamente iterativa pela explicitação da sucessão
de estados de felicidade por meio de um adjunto de tempo. Em (24b), como já comentado
para (22a), embora o adjunto propicie uma leitura contínua, tende-se a supor que haja
alguma oscilação no estado de felicidade. Para a diculdade de obtenção de uma leitura
decisivamente contínua neste caso, devem estar contribuindo: a cópula estar (em vez de
ser); o fato de que feliz é graduável e não categórico. Pode-se estar mais ou menos feliz;
ao passo que não se pode estar em maior ou menor medida em casa ou, ainda, mais ou
menos grávida. Este é um efeito que se deve observar de forma generalizada em cópulas
estar, que deve relacionar-se à competição com o presente do indicativo (p.i.).
2.2.2
Fatores que contribuem para a interpretação do
perfeito composto
pretérito
quanto à distinção iterativo/contínuo
Dentre os fatores que podem contribuir para uma ou outra leitura, podemos citar (nem
todas serão desenvolvidas):
Seleção do verbo de ligação ser/estar(/car) em sentenças de predicado nominal
Adjuntos de tempo e modo
Inferências baseadas na distinção processo/estado
Inferências baseadas na dinâmica dos eventos e estados envolvidos no discurso
Inferências baseadas no imbricamento na argumentação
Gradabilidade do predicado lexical
Seleção do verbo de ligação ser/estar(/car) em sentenças de predicado
nominal
A sintaxe de certas línguas dentre elas o português e o inglês, mas não, por exemplo,
o japonês exige a mediação de um verbo de ligação em todas as orações nominais.
A seleção de um certo verbo de ligação, em detrimento de todos os demais de que a
língua disponha, contribui, via de regra, signicados diversos à interpretação da oração,
por exemplo, nas categorias de pluracionalidade, evidencialidade, aspecto, modalidade,
tempo, etc., além de outras sinalizações pragmáticas.
É razoável supor, por outro lado, que as línguas que porventura apresentam tal requisito sintático forçosamente disponham também de recursos que permitam que a satisfação
desse requisito, puramente sintático, não tenha reexos semânticos sobre a interpretação
da oração que contrariem a conveniência comunicativa. Em outras palavras, as línguas
que exigem verbos de ligação devem dispor de verbos de ligação não-marcados seman-
36
ticamente, isto é, com conteúdo semântico relativamente reduzido (senão nulo), apenas
13
para a satisfação do requisito sintático.
(25)
a.
Ele continua triste.
b.
Ele anda triste.
c.
Ele acaba triste (depois de cada tentativa.)
d.
Ele está/é triste.
O exemplo (25) contém sentenças que só diferem entre si pela seleção do verbo de ligação,
aqui entendido, de forma larga, como o verbo que exerce a função de medear sintaticamente a predicação do sujeito pelo adjetivo do predicado. (25a), (25b) e (25c) ilustram
verbos de ligação marcados, que contribuem, grosso modo, o signcado, respectivamente,
de: pressuposição de ocorrência do mesmo estado de coisas anteriormente; habitualidade
e resultado. (25d) ilustra o uso dos verbos de ligação da maior vagueza possível de que
dispõe o português para esta situação (não-marcados). Como triste admite tanto leitura
em nível de indivíduo quando em nível de estágio, a seleção de ser ou estar terá reexo
na interpretação, que será em nível de estágio com estar e em nível de indivíduo com ser.
O arrazoado do parágrafo anterior permite a seguinte conclusão, que será nalmente
relevante para o assunto desta seção, qual seja, a interpretação do p.p.c.: o grau mínimo
de conteúdo semântico que pode ser aportado à interpretação da oração por um verbo de
ligação é variável de língua para língua. Em inglês, o verbo de ligação não-marcado por
excelência é o verbo to be ; já em português, todas as orações nominais terão, a princípio,
de selecionar entre ser e estar (ou, eventualmente, car ). Tal seleção de verbos pode
efetivamente marcar ou não uma distinção semântica. Essa distinção semântica é
semelhante à consagrada distinção entre predicação em nível de indivíduo e predicação
em nível de estágio (Carlson, 1977). Em outras palavras, nos casos em que a seleção
entre ser e estar tem relevância interpretativa, a ser corresponderá uma signicação de
predicação em nível de indivíduo e a estar corresponderá uma signicação de predicação
em nível de estágio. Nestes casos, ainda, não haverá, em português, como construir a
13 Em russo, a cópula não é pronunciada em sentenças ativas no tempo presente; e em turco, a cópula
não é pronunciada para a 3ª pessoa do singular em sentenças ativas no tempo presente. A possibilidade
default
da supressão da raiz do verbo de ligação da forma fonológica, quando sua exão corresponderia a valores
(presente, passiva e 3ª.sing, neste caso) é indício de que a raiz carece de signicado, sendo
default
somente um suporte morfológico para os morfemas-desinência, naqueles casos em que os seus valores não
são os
.
37
14
sentença de forma vaga quanto à distinção indivíduo/estágio,
ao passo que tal vagueza
15
ainda seria possível em inglês.
(26)
a.
O João é feliz. (O João é uma pessoa feliz.)
b.
O João está feliz.
[nível de indivíduo]
[nível de estágio]
(O João está circunstancialmente feliz, sendo ele uma pessoa
caracteristicamente feliz ou não.)
16
Inferências baseadas na distinção processo/estado
Embora essas duas classes tenham em comum a constituição temporal homogênea (atelicidade), os verbos de processo parecem favorecer a interpretação contínua do p.p.c.,
se comparados a verbos de estado. É difícil produzir pares mínimos de sentenças que
só diram quanto à classe accional do verbo. Uma vez que, em português, o contraste
processo/estado é, via de regra, determinado pela raiz do verbo e não por processos
morfológicos, o contraste processo/estado será obtido normalmente com dois verbos diferentes, cujos signicados diferirão certamente em muito mais do que na distinção processo/estado. O exemplo (27) a seguir é uma tentativa de produzir duas sentenças que
não diram em muito mais do que a classe accional do verbo.
(27)
17
[Dito por volta das 10:00.]
a.
Desde o acidente hoje cedo, o guarda tem estado no cruzamento.
b.
Desde o acidente hoje cedo, o guarda, a duras penas, tem estado delibera[≈ processo]
damente no cruzamento.
c.
[estado]
Desde o acidente hoje cedo, o [[velho e trôpego]] guarda, a duras penas,
tem-se mantido deliberadamente no cruzamento.
[processo]
14 Salvo, é claro, por meio de reformulações mais abrangentes da oração: substituição por oração de
predicado verbal; substituição por um verbo de ligação vago para a distinção indivíduo/estágio, mas,
continuar
ser
neste caso, mais marcado do que ser/estar para outra dimensão de signicado. Um exemplo deste último
estar
tipo de reformulação é a passagem de (25d) para (25a). O verbo
é mais vago do que
ou
quanto à distinção indivíduo/estágio, embora evidentemente mais marcado aspectualmente.
15 As línguas germânicas, por outro lado, não dispõem de verbos de ligação para indicar localização
espacial que sejam vagos quanto à posição (p.ex. neerlandês: zitten, staan, liggen, hangen).
16 Em inglês, embora a categorização indivíduo/estágio não seja marcada pelo verbo de ligação, há
outras formas de marcar. A frase
John is happy
John is a happy person.
, normalmente, tem só o signicado em nível de estágio,
sendo que a sentença correspondente em nível de indivíduo poderia ser
17 As diversas indicações contextuais e o acúmulo de adjuntos são necessários para controlar a interfe-
rência dos outros fatores que inuenciam a interpretação quanto à distinção iterativo/contínuo e que são
tratados nas seções ref ref e ref. De qualquer forma, parece ser uma característica do p.p.c. que a solução
da vagueza quanto à continuidade na interpretação do p.p.c. necessita de contextos relativamente ricos e
out-of-the-blue
da conjunção de vários fatores. Ou, dito de outra forma, o p.p.c. tende a manter uma interpretação vaga
em todas as sentenças mais simples e em contextos pobres (como nas situações
38
).
De fato, a noção apontada tradicionalmente como decisiva na distinção entre processos e
estados é que os processos exigem um auxo de energia para a sua manutenção, enquanto
os estados se perpetuam por si sós, até que um aporte de energia ponha m àquele estado,
dando origem a um ou mais novos estados (mas minimamente ao estado resultativo
trivial de a-mudança-de-estado-ocorreu ). O acréscimo do adjunto a duras penas no
exemplo (27) acima equivale a acrescentar um componente de agentividade à sentença
estativa (27). A agentividade pressupõe certo auxo de energia, que, por sua vez, favorece
a mudança de classe accional de estado para processo, tornando a sentença (27) mais ou
menos equivalente a (27c), a qual já é pacicamente uma sentença de processo.
Embora sejam percepções sutis, a hipótese de que a leitura contínua está favorecida
em em relação a pode car mais nítida se se considera a compatibilidade com adjuntos
que indicam repetição, como em (27) abaixo.
(28)
[Dito por volta das 10:00.]
a.
Desde o acidente hoje cedo, o guarda tem estado no cruzamento.
b.
Desde o acidente hoje cedo, o guarda, a duras penas, tem estado no cruza[≈ processo]
mento.
c.
[estado]
Desde o acidente hoje cedo, o guarda, a duras penas, tem-se aguentado no
cruzamento.
[processo]
39
40
Capítulo 3
Alguns textos fundamentais sobre o
perfeito português
Nesta seção, à guisa de comentar os três textos, procuro na verdade salientar os pontos
que são importantes para a análise, descrição e sistematização da peculiar manifestação
do perfeito em português. Embora o texto esteja escrito em terceira pessoa, o exposto
reete com frequência minha interpretação do artigo original, o que inclui por vezes a
tradução do seu conteúdo numa terminologia que lhe é estranha ou que se estabeleceu
posteriormente à data em que foi escrito.
Na busca bibliográca não foram identicados outros textos acessíveis especicamente
sobre o passado composto que trouxessem subsídios importantes para esta dissertação.
Na vastíssima literatura sobre o perfeito das línguas da Europa em geral, o português
já foi reconhecido como um caso exótico, que justica, via de regra, não mais do que
uma ressalva. O livro de Giorgi and Pianesi (1997), comentado nesta seção, constitui uma
exceção, pois se esforça por enfrentar a diculdade do caso português. Infelizmente, contudo, de posse de dados imprecisos de língua, não alcança resultados convincentes para
essa língua.
3.1
O artigo de Ilari (2001b)
Ilari, Rodolfo. 2001. Notas sobre o passado composto em português. Revista Letras
[UFPR] 55: 12952.
Neste artigo, o autor arma que o passado composto já foi objeto de estudo de gramáticos,
mas que se constitui num vasto campo ainda a ser explorado. Embora haja muitos dados
41
ainda a levantar, tratará de delinear o mínimo necessário para reconstituir formalmente
1
as intuições disponíveis.
Segundo o autor, o passado composto é caracterizado pelos 7 itens abaixo:
1. O passado composto português exprime iteração;
2. exprime iteração independentemente de estar presente na oração um advérbio indicando freqüência;
3. assume eventualmente um valor de continuidade;
4. diz respeito a um período que começa no passado mas não se conclui no
passado;
5. a distinção de um valor durativo e um valor iterativo tem a ver com
características aspectuais do predicado, sendo relevante a Aktionsart do
verbo;
6. o passado composto é inadequado não só para descrever fatos que
ocorreram uma única vez, mas ainda para descrever a repetição, se se
quer ao mesmo tempo explicitar quantas vezes o fato se repetiu;
7. a interpretação e a gramaticalidade de orações no passado composto
são afetadas pela quanticação dos sintagmas nominais presentes na sentença, e pela ocorrência de adjuntos.
O autor nota que, assim como as interações de escopo que ocorrem entre o predicado
e os DPs quanticados no sujeito, interações e ambiguidades semelhantes se encontram
entre esses DPs e operadores temporais, tais como o present perfect (v. exemplos (1)
2
abaixo) . O PTQ (Proper Treatment of Quantication) de Montague dispõe dos meios
para representar a ambiguidade entre as leituras (1a) e (1b) por meio de relações de
escopo, como se pode ver pela fórmula simplicada incluída na linha seguinte às duas
leituras de (1), em que ora a quanticação sobre intervalos de tempo tem escopo sobre a
quanticação sobre indivíduos (exemplo (1a)), ora o contrário (exemplo (1b)).
(1)
a.
Todos os generais já foram soldados-rasos.
1 Em consonância com a terminologia gramatical ocial brasileira, o autor chama o tempo verba
ter + part.pass
pretérito perfeito composto
present perfect
present perfect
expresso pela perífrase
de passado composto. Nesta seção, que revisa o seu artigo,
manter-se-á esta mesma designação, mas no resto do trabalho, este tempo verbal será chamado de
2 Montague tratava do
(p.p.c.), como tem sido mais difundido na literatura linguística.
, mas Ilari apresenta os exemplos traduzidos para o p.p.i. Os
exemplos de Montague não são passíveis de tradução pelo passado composto português, o tempo morfologicamente análogo ao
Porém, não há prejuízo para a argumentação porque, de qualquer
forma, os tempos, tanto no original como na tradução, se traduzem por uma quanticação existencial so-
present perfect
past simple
bre intervalos de tempo. No fragmento de gramática formulado por Montague para o inglês, os operadores
de passado correspondem sempre ao
, não ao
42
.
b.
Já houve um momento em que todos os generais eram soldados rasos.
∃t∀x[general'(x) → soldado-raso'(x, t)]3
c.
Para todo general, já houve um momento em que ele era soldado raso.
∀x[general'(x) → ∃t[soldado-raso'(x, t)]]
O resultado é que a interpretação dessas sentenças põe em relação: a) um único intervalo
de tempo
t0
com a coletividade de todos os generais (exemplo (1a)); ou então, b) põe em
relação um intervalo de tempo ti para cada indivíduoi , formando assim pares constituídos
de 1 general e 1 intervalo de tempo. Estas relações se obtêm devido à conformação do
exemplo (1), que se caracteriza essencialmente por:
há um único intervalo de tempo que torna o predicado
ser-soldado-raso'
verdadeiro para cada indivíduo, isto é, não há general que tenha sido soldado-
ser-soldado-raso
raso em duas ocasiões diferentes ou, dito ainda de outra forma, não há iteração
possível do predicado
para um dado general
Por essa razão, a sentença não poderia ser expressa no p.p.c., embora sua tradução inglesa
seja tipicamente expressa pelo present perfect.
A situação se torna bem mais complexa se:
ser-promovido'
há mais de um intervalo de tempo que torna o predicado verdadeiro para
ser-promovido'
um indivíduo, por exemplo,
predicado
, em que há iteração possível do
para cada indivíduo
Este exemplo, por admitir a iteração do predicado, poderia ser expresso no p.p.c., um
tempo que exige a repetição:
(2)
4
a.
Alguns generais têm sido repreendidos.
b.
Houve momentos que se repetiram de tempos em tempos no passado, em que
um certo subgrupo determinado de mais de um general foi repreendido em
conjunto (o subgrupo foi repreendido várias vezes ao longo do tempo, portanto).
c.
Houve momentos que se repetiram de tempos em tempos no passado, em que
um subgrupo de composição variada de mais de um general foi repreendido
em conjunto.
d.
Houve momentos que se repetiram de tempos em tempos, em que um ou mais
generais foram repreendidos.
3 Estas fórmulas são evidentemente simplicações que só enfatizam as relações de escopo em questão.
4 Nesta seção, o passado composto será tratado como mormente iterativo, em consonância com o artigo
de Ilari. No restante deste trabalho, contudo, será considerada tanto a possibilidade da interpretação
iterativa quanto da interpretação contínua do passado composto.
43
Porém, a interpretação obrigatoriamente iterativa do passado composto português
traria problemas para o sistema de Montague, pois, além das ambiguidades já existentes
no inglês, surgiriam novas ambiguidades relacionadas distributividade do predicado.
O autor expõe um uso do passado composto que não está contemplado pelo PTQ:
(3)
Muitas pessoas têm morrido no Rio [desde que começaram os tiroteios entre tracantes].
Em (3), não há um grupo xo de pessoas dentre as quais muitas morrem no Rio. O autor
explica o exemplo, sugerindo que o grupo de pessoas só existe através do tempo. Neste
caso, a quanticação contida no sujeito de (3) estabelece antes uma taxa de mortes por
unidade de tempo e dá uma medida da frequência das ocorrências, não da quantidade de
vítimas.
O autor propõe então uma maneira de estender o aparato de Montague, usando semântica de eventos de Davidson e propondo informalmente a adição de um quanticador
existencial, por assim dizer, plural.
O autor ainda singulariza outros fenômenos próprios do passado composto, por vezes não encontrados no inglês e outras línguas: 1) incompatibilidade com predicados
individual-level (Carlson, 1977); 2) impossibilidade de coocorrência com adjuntos de
tempo que xam o número de vezes ou uma data precisa (que, de qualquer forma estaria excluído por violar a necessária iteratividade do perfeito composto).
(4)
*Esse aluno tem recebido três advertências.
(5)
O carteiro tem tocado duas vezes.
À agramaticalidade de (4), contrasta-se (5), que apresenta uma possibilidade de leitura.
Esse contraste leva o autor à importante conclusão de que é preciso haver pelo menos duas
posições para a inserção de adjuntos que indicam número de vezes (e também duração).
A proibição que torna (4) inaceitável está presente também em (5). Em (4), o adjunto
procura caracterizar o evento plural, contando o número de repetições de seu evento
atômico; em (5), em contraste, o adjunto caracteriza o evento elementar de que a iteração
é composta, ele mesmo, composto de duas repetições.
Além da iteratividade obrigatória, que é uma particularidade do português em relação
às outras línguas românicas e germânicas, há também a obrigatoriedade de que o evento
se inicie no passado e se estenda até o presente, eventualmente ultrapassando-o. Esta
restrição corresponde à que distingue leituras de continuidade
5
(Portner, 2011), também
chamadas de universais, ou de situação persistente (Comrie, 1976). Em outras línguas do
5 Ing.:
continuative
44
grupo aqui considerado, as leituras do perfeito que obedecem a esta restrição são somente
um dos tipos de perfeito possíveis.
O inglês apresenta tanto leituras com continuidade como leituras sem continuidade.
A possibilidade de leituras tão distintas de uma única forma é bastante intrigante e
há pesquisadores que defendem que, ainda que a polissemia do perfeito inglês possa ser
explicada por fatores pragmáticos, a distinção com/sem continuidade, por ser tão radical,
deveria ser mantida no âmbito da semântica (Portner, 2011). A observação de que o
perfeito português corresponde somente a uma parte, bem denida, das leituras possíveis
nas outras línguas sugere cuidados nas comparações entre as línguas: as comparações
do perfeito português com leituras sem continuidade de outras línguas, como, por vezes,
encontradas no artigo de Ilari, têm utilidade muito relativa. Cotejam-se duas línguas para
esclarecer uma ligrana de signicado, quando os exemplos já não são comparáveis desde
o princípio, por discrepâncias muito mais grosseiras que residem, muitas vezes, nesta
distinção com/sem continuidade.
Quanto à possibilidade de leituras durativas (mais precisamente, contínuas ) do passado composto, o pesquisador é bastante reticente. Aos exemplos (6) abaixo, que admite
que possam expressar continuidade, contrapõe os exemplos (7), com pequenas modicações no vocabulário e postos no contexto apropriado, em que a leitura contínua já não é a
mais saliente, o que o faz duvidar de que a interpretação contínua possa ser determinada
inteiramente pelo passado composto.
(6)
(7)
a.
O doente tem cado em seu quarto.
b.
O alarme tem cado ligado.
c.
A porta central da basílica tem cado fechada.
a.
O menino tem cado em seu quarto (quando quer que a sua presença seja útil
para a rotina familiar).
b.
A televisão tem cado ligada (sempre que a última pessoa se deita).
c.
A janela tem cado aberta (cada vez que as pessoas saem de casa para o
trabalho).
Para Ilari, a interpretação durativa das sentenças de state e activity é no máximo
uma tendência, que resulta bloqueada por fatores que conhecemos mal. Dentre esses
fatores, o autor enumera:
a existência de momentos de vericação pragmaticamente signicativos;
ser referido a um tempo de presente que já não é activity ou state;
o uso de sintagmas nominais em nível de stage, kind, etc. (no sentido de
Carlson);
45
a quanticação dos sintagmas nominais que acompanham o próprio verbo.
O autor volta-se, então, para disputa histórica acerca do passado composto, havida
entre o gramático Paiva Boléo (Boléo, 1937), que defendia que o passado composto era
durativo, e Gonçalves Viana (Viana, 1903), que defendia que esse tempo verbal era iterativo (passé répétitif ). Estando convencido de que a iteratividade e a duratividade são
somente dois aspectos que caracterizam os mesmos fenômenos, o autor procura discutir
as diculdades teóricas para obter a transposição de uma das perspectivas à outra. Adotando a hipótese de que o passado composto seja primitivamente durativo (e iterativo só
por consequência), o autor observa que a suposição de que o tempo verbal possa disparar
a iterativização conforme a Aktionsart do predicado a que se aplica não tem nada de
estipulativa. De fato, toda vez que um predicado pontual esbarra num adjunto durativo,
ou se combina com uma forma durativa (presente, imperfeito, etc.) a repetição é disparada. Aparentemente sem sabê-lo, ao fazer estas considerações, o autor está constatando
os fenômenos que foram generalizados sob a designação de coerção aspectual (Moens,
1987; de Swart, 1998), que estuda exatamente esse tipo de mutação de Aktionsart de predicados, estabelecendo quais as mutações possíveis e suas condições de ocorrência. Nesta
dissertação, apoiando-me nesses estudos, tendo a adotar esta perspectiva (a de Paiva Bo-
6
léo), segundo a qual o passado composto se caracteriza simplesmente pela duratividade,
sem a necessidade de ressalvas, pois a coerção para iteratividade se dará por meio de
mecanismos gerais, operantes também em vários outros fenômenos da língua. O autor
aponta, contudo, que o seguinte exemplo (8) apresentaria diculdades para a perspectiva
da duratividade primitiva:
(8)
O diretor da divisão de águas tem sido um funcionário de carreira.
De fato, se a lei determinasse que o diretor da divisão de águas devesse ser um funcionário
de carreira, então tratar-se-ia de um predicado individual-level e o passado composto
já não seria admissível por esta razão. Assim sendo, a sentença (8) pressupõe que o
diretor da divisão não deve obrigatoriamente ser um funcionário de carreira. Afora esta
hipótese, a sentença passa a ser gramatical. Na explicação delineada acima, segundo a
qual a iteratividade seria induzida sobre uma duratividade primitiva, aparentemente não
há como explicar por que, segundo a intuição dos falantes, essa sentença só tem leitura
iterativa. Como enfatizado pelo autor, o conhecimento sobre as condições que selecionam
a leitura durativa ou a iterativa ainda é incipiente.
6 Nesta seção de revisão de literatura, mantém-se a terminologia adotada pelo autor. Para o restante
dade
progressividade habitualidade
do trabalho, provavelmente será mais conveniente estabelecer que
duratividade
,
, que não vêm ao caso no momento).
46
iteratividade
engloba tanto
(que o autor denomina duratividade ou duratividade absoluta) quanto
continui(além de
Voltando-se, então, para a hipótese contrária, em que o passado composto é caracterizado como iterativo (Viana, 1903), Ilari vê problemas na conexão direta entre o evento
complexo, que se encontra na denotação de uma sentença no passado composto, e os seus
eventos elementares, isto é, os eventos que se compõem para formar a iteração. O autor
ilustra este ponto com o exemplo (9) a seguir:
(9)
José tem tido problemas de saúde.
Com efeito, a sentença (9) denota, em última instância, que há instantes do passado, distribuídos segundo certas limitações, nos quais a proposição José ter problemas de saúde é
verdadeira. Considere-se a negação de (9), isto é, José não tem tido problemas de saúde.
Segundo a hipótese de iteratividade não-mediada, a negação só terá duas maneiras de
incidir: a) no nível da proposição, resultando em algo como José tem tido momentos de
boa saúde.; b) no nível global da sentença, resultando em algo como Não existem instantes em que a preposição José ter problemas de saúde seja verdadeira. Entretanto, o
signicado da negação de (9) não é nem a) nem b). Falta, assim, um ponto intermediário,
entre o nível da proposição e o nível global da sentença onde a negação possa incidir.
O que se nega é que tenha havido problemas de saúde distribuídos temporalmente de
forma tal a formarem um evento plural único, que provisoriamente, poderíamos chamar
de estado-iteração. Embora o autor não tire esta conclusão, o que está faltando a esta
análise do perfeito como essencialmente iterativo é um elemento de duratividade correspondente a esse evento plural que denominamos provisoriamente de estado-iteração.
Na minha opinião, este arrazoado favorece a interpretação do perfeito português como
fundamentalmente durativo, já que esta duratividade não pode jamais faltar à sua interpretação, enquanto a iteratividade pode, marginalmente, estar ausente.
3.2
Os artigos de Schmitt, C. (2001) e Giorgi, A. e
F. Pianesi (1997)
Schmitt, C. (2001). Cross-linguistic variation and the present perfect: the case of
portuguese. Natural language & linguistic theory 19(2), 403453.
Giorgi, A. and F. Pianesi (1997). Tense and aspect: from semantics to morphosyntax. Oxford studies in comparative syntax. New York: Oxford University Press.
O artigo de Cristina Schmitt é, provavelmente, o mais importante estudo sobre o
pretérito perfeito composto do português que usa o instrumental gerativo e a semântica
47
formal. Igualmente, o livro de Giorgi and Pianesi (1997), com o qual Schmitt dialoga, está
entre os estudos que são obrigatoriamente considerados em publicações sobre o perfeito
de modo geral, e sobre as manifestações do perfeito em outras línguas e nas línguas
românicas em especial. O artigo de Schmitt é dedicado a revisar o tratamento dado por
Giorgi e Pianesi ao português.
Giorgi and Pianesi (1997) parte da observação de que o estudo do perfeito se deu
desigualmente em relação ao inglês em comparação com outras línguas. De fato, o perfeito
inglês, sobretudo o presente perfeito inglês, onde se considera que as características de
perfectude estão mais nitidamente manifestadas, costuma ser tomado como o perfeito por
excelência.
7
A taxativa proibição da coocorrência com adjuntos de localização temporal
do evento originário encontrada no inglês, fenômeno conhecido pelo nome de paradoxo do
8
perfeito, não existe em alemão, francês, italiano, islandês ou neerlandês . Uma proibição
semelhante é encontrada em dinamarquês, norueguês e sueco. Convém acrescentar aqui
que tal proibição, embora o português já desde o princípio não se alinhe facilmente com
as demais, ocorre também em português, como exemplicado em (10).
(10)
a.
(i)
*O João tem jogado tênis (no ano passado/durante todo o ano passado).
(ii) *John has regularly played tennis last year.
(iii) *John has played tennis throughout last year.
(iv) *John has been playing tennis last year.
b.
c.
(i)
O João tem jogado tênis (neste ano/durante todo este ano).
(ii)
John has regularly played tennis this year.
(iii)
John has played tennis throughout this year.
(iv)
John has been playing tennis this year.
(i)
O João jogou tênis no ano passado/durante o ano passado/neste ano/durante
todo este ano.
(ii)
John has played tennis (*last year/*this year/?this morning).
De fato, se fosse só pelo português isto é, para perfeitos de situação persistente ,
dicilmente a proibição da localização temporal passada do evento originário teria sido
descrita como paradoxo, porque é evidente a incompatibilidade entre a exigência de que
a eventualidade se estenda até o presente (imposta pelo perfeito) e um adjunto de tempo
7 A construção mais antiga (i) só funciona com verbos télicos com complemento paciente ou tema.
A construção moderna (ii), evidentemente, não está sujeita a essa restrição. Supõe-se que tenha havido
generalização da construção original.
8 Rero-me às variedades padrão de cada uma dessas línguas, que, contudo, apresentam variantes
diversas que diferem quanto ao uso do perfeito. O neerlandês parece ocupar uma posição intermediária
entre o inglês e as demais línguas citadas, pois admite adjuntos de localização temporal, mas não a
toen
xação da localização temporal como simultaneidade com outro evento por meio de orações introduzidas
com
?
(quando, puntual) ( ). Em islandês, quando o adjunto ocorre, a perífrase de perfeito assume
tonalidades epistêmicas (Giorgi and Pianesi, 1997).
48
que localize essa mesma eventualidade no passado. O desao teórico do paradoxo do
perfeito só começa a existir nas línguas em que o perfeito também pode expressar eventualidades encerradas no passado (mas, neste caso, obrigatoriamente com repercussões que
se estendem até o presente). Se a eventualidade se encerrou no passado, não há incompatibilidade semântica com adjuntos com referência temporal passada. O inglês, contudo, (e
as línguas escandinavas continentais, segundo Giorgi and Pianesi (1997)) vedam adjuntos
mesmo nestes casos. Afora esse grupo de línguas, a proibição dos adjuntos de localização
passada da eventualidade originária é permitida sempre que esse adjunto não produza
uma contradição, isto é, sempre que o perfeito não seja persistente, como o mostra o
seguinte exemplo (11):
(11)
a.
Ayer
he sabido que estoy embarazada. (espanhol, Veiga (2011))
ontem hei sabido que estou grávida.
Ontem soube que estou grávida.
b.
Er ist
letztes Jahr
9
gestorben. (alemão, web)
ele é/está último ano-acc morrido
Ele morreu no ano passado.
O livro de G&P tem, como se pode notar pelo título, Tense and Aspect: from seman-
tics to morphosyntax, uma inspiração declaradamente sintática. A tarefa a que se propõe
é de grande complexidade, porque não só é preciso unicar fenômenos translinguísticos
até então disparatados no âmbito da semântica, como é preciso fazê-lo emparelhandoos, a cada passo e para as diversas línguas, segundo um conceito de composicionalidade
bastante estrito, com sua contraparte morfossintática e dentro da teoria minimalista. A
impressão é nítida de que o pressuposto pétreo da composicionalidade estrita, isto é,
de que para cada diferença entre línguas, esta diferença estará reetida na constituição
morfológica, acaba por causar malefícios à análise semântica. A obra concentra-se nas diferenças relativas ao paradoxo do perfeito (existente em inglês e inexistente em italiano)
e suas outras facetas, como a possibilidade de uso dos tempos perfeitos em narrativas.
Não inclui a discussão sobre o contraste entre leituras com ou sem continuidade do perfeito.
10
Esse último contraste é essencial para a compreensão do perfeito em português.
Os resultados obtidos são importantes e convincentes para explicar a relação entre, por
9 A tradução portuguesa traz algumas questões interessantes: (a) o p.p.i. parece propiciar a
temporum,
ayer
consecutio
diferentemente do perfecto compuesto espanhol; (b) parece que o uso do p.p.i. exclui uma
nuance de signicado, presente no espanhol, em que
localiza não um evento isolado no passado, mas
quei sabendo
Ontem soube que estava grávida. Ontem quei sabendo que estou grávida.
o início de um estado persistente até o presente de ciência sobre a gravidez. Esta nuance se recupera em
português com a perífrase
. Assim, a tradução mais idiomática em português acaba por
apresentar mais dessemelhanças com o original espanhol do que as diferenças entre as línguas quanto ao
perfeito fariam supor:
ou
10 As leituras com/sem continuidade correspondem respectivamente ao caso em que o evento se estende
até o presente e ao caso em que o evento já está concluído no presente (cf. discussão do artigo de Ilari
(2001b) acima).
49
exemplo, o inglês e o italiano, mas pouco conseguem ao tentar abranger o português.
Com efeito, de posse de dados bastante imprecisos para o português, G&P postulam uma
solução que preserva a teoria que desenvolveram, mas que é nitidamente estipulatória ao
contemplar o português: o p.p.c. português não é formado com o verbo auxiliar ter de
todos os demais tempos compostos nessa língua, mas supostamente com o verbo princi-
pal ter. Um verbo principal contribui com a relação entre o tempo da fala e o tempo de
referência, que é o mesmo valor postulado pelos autores para o particípio passado (sem o
auxiliar). Portanto, os resultados dessa obra não são satisfatórios para o português, embora possam ser bastante convincentes para as outras línguas envolvidas. Seus resultados
também podem ter importância como aplicação do minimalismo no estudo da morfologia
verbal de tempo. A exposição subjetiva feita acima visa somente a esboçar um panorama
da obra e relativizar sua importância para o caso especíco do português e, por conseguinte, para este trabalho. Não há como fazer justiça à obra de G&P nestes comentários
sumários. Contudo, há que se considerar que será sempre bastante vulnerável qualquer
explicação do perfeito com ambições translinguísticas que não contemple adequadamente
o português.
Schmitt (2001) tem por objetivo principal refutar a solução ad hoc dada por G&P
para o português e propor uma solução alternativa. Usando dados do português, inglês
e espanhol a autora defende, contrariamente a G&P, que as propriedades semânticas de
um tempo morfológico numa língua particular não podem ser correlacionados diretamente
com a presença ou ausência de morfologia manifesta, mas sim com os traços semânticos
de que os morfemas de tempo sejam portadores. As questões que dão a linha-mestra do
artigo são: a) O que obriga à leitura iterativa do presente perfeito em português
11
?; b) Por
que razão as leituras iterativas são obrigatórias para o presente perfeito, mas não para
os demais tempos perfeitos do português (formas nominais, pretérito mais-que-perfeito,
tempos do subjuntivo, etc.)?
A autora propõe que a maior parte das particularidades do presente perfeito (= p.p.c.)
em português podem ser explicadas, considerando-se as restrições de seleção de classe accional
12
impostas pelo tempo do auxiliar, isto é, o presente do indicativo. G&P adotam
?
a visão já mais ou menos consagrada em teoria gerativa de que os tempos verbais são
cabeças sintáticas. Como tais, subcategorizam elementos verbais [+V].
propôs para o
francês, que não só operadores aspectuais, mas também os tempos passé simple e impar-
fait impõem restrições de seleção, respectivamente de eventualidades não-homogêneas e
11 A autora não contempla a possibilidade de o perfeito em português ter uma leitura contínua, além
Aktionsart.
da iterativa.
12
50
homogêneas.
13
Quando tais restrições não são satisfeitas, há coerção para a classe accio-
nal requerida. Schmitt aplica essa mesma ideia ao presente, postulando que esse tempo
verbal, tanto em inglês quanto em português, selecionam estados, em contraste com todas
as demais línguas consideradas, em que o presente exige somente que o predicado a que
14
se aplica seja homogêneo.
São bem conhecidos os exemplos que o demonstram, como
(12) abaixo, que mostra que o presente é inaceitável com eventualidades que não sejam
estados em português e inglês:
(12)
a.
*Chove.
(português)
b.
*It rains.
c.
Llueve.
d.
Il pleut.
e.
Piove.
f.
Es regnet.
g.
Det regner.
(dinamarquês)
h.
Het regent.
(neerlandês)
(inglês)
(espanhol)
(francês)
(italiano)
(alemão)
Segundo a autora, a diferença entre o português e o inglês é o resultado da aplicação
do perfeito: em inglês, o resultado é homogêneo, enquanto em português o resultado é
não-homogêneo.
A autora resume as hipóteses problemáticas adotadas G&P para o tratamento do
perfeito em português:
(i) the auxiliary form of ter is blocked in the Present Tense by the simple Past
Perfective; (ii) pres + ter + past participle is a complex with two main verbs,
unlike past + ter + past participle; (iii) the main verb ter selects for stagelevel predicates; and (iv) there is a hidden Generic operator in the participial
clause
13 A propriedade da
um intervalo de tempo
Pedro leu um livro
um livro,
estados atividades
homogeneidade
I0
é também conhecida como
propriedade do subintervalo
em que ocorre uma eventualidade descrita pelo predicado
eventualidade é homogênea se, para qualquer subintervalo
I 00
de
P (I),
. Dado
diz-se que tal
I 0 , P (I 00 ) é verdadeiro. Assim, a sentença
ler um livro
estativas
achievements accomplishments
não está associada a uma eventualidade homogênea porque nos subintervalos de
não existe uma eventualidade de
para denição das eventualidades
e
ler
. A propriedade da homogeneidade é um critério
. No sistema quadripartido de Vendler, são homogêneos os
; e são não-homogêneos os
14 Ao que parece, a autora postula, em companhia de
?,
e
.
que as cabeças temporais para manter a
comparabilidade com o artigo de Giorgi and Pianesi (1997). G&P organizam a morfologia temporal das
orações nitas numa árvore com duas cabeças temporais T1 e T2, sendo que é T2 que é responsável pela
codicação da perfectude. O que os motiva a isto é possivelmente o carácter ambíguo, entre tempo e
aspecto, que se costuma associar ao perfeito. G&P, contudo, não negam que possam ocorrer operadores
aspectuais sob essas cabeças temporais para corresponderem à dimensão aspectual do signicado do
perfeito.
51
Todas essas propostas têm um carácter ad hoc bastante claro. Supor qualquer uma
dessas soluções, causa problemas em outras áreas da língua. Por exemplo, quanto à hipótese de que pres + ter + particípio passado seja um complexo de dois verbos principais,
é preciso ponderar que tais complexos são inauditos na língua, e que, nesta perífrase, ter,
supostamente um verbo pleno, não teria nenhum dos signicados conhecidos do verbo ter
como verbo pleno em qualquer outra construção da língua. Mesmo assim, Schmitt elenca
laboriosamente vários argumentos e demonstra cabalmente que essas estipulações não se
sustentam.
A autora passa, então, a elaborar uma proposta alternativa, baseada na hipótese
levantada anteriormente por de Swart (1998), de que os operadores de tempo, assim como
tradicionalmente admitido para os aspectuais, são capazes de impor restrições de seleção
sobre as eventualidades a que serão aplicados. Schmitt observa que o tempo presente
do português e do inglês apresentam uma semelhança, que distingue essas duas línguas
das demais em questão: o presente do português e do inglês aceita somente estados; o
das demais línguas aceita estados e atividades. Isto signica que em português e inglês,
qualquer eventualidade expressa no presente que não seja estado, sofrerá coerção aspectual
e se tornará um estado se possível. A coerção para estado será a iterativização. Nas
demais línguas, sempre que uma eventualidade expressa no presente for não-homogênea
(isto é, sempre que for eventiva), sofrerá coerção aspectual, ou para estado, ou para
atividade. A coerção para estado é a iterativização; a coerção para atividade corresponde
a desconsiderar a culminação dessa eventualidade. Este último tipo de coerção cará mais
claro depois dos exemplos abaixo.
(13)
(14)
(15)
(16)
a.
La caja contiene muchos papeles.
b.
A caixa contém muitos papéis.
c.
The box contains many papers.
a.
Pedro canta (en este momento).
(e)
b.
O Pedro canta (*neste momento).
(p)
c.
Peter sings (*right now).
(i)
a.
Pedro canta una aria (en este momento).
(e)
b.
O Pedro canta uma ária (#neste momento).
(p)
c.
Peter sings an aria (#right now).
(i)
a.
Pedro come una manzana (en este momento).
(e)
b.
O Pedro come uma maçã (#neste momento).
(p)
c.
Peter eats an apple (#right now).
52
(espanhol)
(português)
(inglês)
(i)
Nos exemplos (13), (14), (15) e (16) acima, o inglês comporta-se sempre de forma idêntica ao português. O exemplo (13) mostra que, para verbos de estado, todas as línguas
admitem o presente e não há qualquer coerção aspectual obrigatória. (14) mostra que,
para verbos de atividade, não há leitura semelfactiva possível para inglês e português. Os
predicados dessas sentenças em português e inglês podem ser interpretadas como predicados individual-level, resultando numa leitura aproximadamente equivalente a O Pedro é
cantor. Para estas duas línguas, há ainda a possibilidade de uma coerção aspectual para
um estado por meio da iteração. Contudo, esta leitura, que pode ser tanto individual-level
quanto stage-level, precisaria normalmente de um advérbio para ser provocada: O Pedro
canta (com frequência).
15
O espanhol apresenta todas as alternativas de leitura do portu-
guês, e mais a leitura semelfactiva, já que o presente do espanhol admite atividades. Em
(15), compara-se o mesmo verbo (de atividade) complementado por um DP indenido
singular, o que resulta num predicado (antes de se aplicar o tempo) de accomplishment.
O presente de nenhuma das línguas em questão admite accomplishments. Em português e
em inglês, será possível a leitura individual-level (O Pedro é capaz de cantar uma ária.)
e será possível a coerção para estado por iterativização, resultando em algo como, por
exemplo, O Pedro canta uma ária com frequência. O espanhol apresenta todas as alternativas de leitura do português, e mais uma leitura semelfactiva, possibilitada pela coerção
do accomplishment cantar uma ária para atividade, por meio de um operador de coerção
PROC que toma accomplishments e remete à sua fase preparatória, isto é, à fase que
antecede sua culminação (seu telos ). Essa fase preparatória é caracterizada como uma
atividade. Tal coerção é possível no espanhol (e vedada no português e no inglês) porque
o presente do espanhol é compatível com atividades (enquanto o presente do português e
do inglês é compatível exclusivamente com estados ). O exemplo (16), por m, ilustra os
mesmíssimos fenômenos que (15), mas com um verbo de accomplishment, ao passo que
no exemplo (15) se tratava de um verbo de atividade que, por causa do complemento,
formava um predicado de accomplishment.
G&P tinham dividido as línguas em dois grupos segundo a pobreza morfológica do
verbo: de um lado, as línguas A, formadas pelo inglês e as línguas escandinavas continentais, que se caracterizam por praticamente não se exionarem quanto a pessoa e número
(salvo o -s do presente no inglês); de outro lado, as línguas B, formadas pelas românicas, o
islandês, o alemão e o neerlandês, que apresentam desinências verbais de número e pessoa.
G&P explicavam que esses dois grupos de línguas coincidiam exatamente com as línguas
que apresentavam (linguas A) ou não (línguas B) o paradoxo do perfeito. Schmitt divide
15 Não é necessário considerar esta iterativização como um exemplo de coerção se o adjunto de frequência for traduzido como um operador aspectual. O termo coerção é usado para designar as mudanças
aspectuais desencadeadas por incompatibilidades categoriais não marcadas morfologicamente. Esta observação vale também para os demais exemplos.
53
essas línguas segundo o critério das restrições de seleção do tempo presente, que, como
dito acima, separa o inglês e o português das demais. Aparentemente, o agrupamento
proposto por Schmitt não agrupa línguas com comportamento semelhante quanto ao perfeito. Embora a autora não tenha mencionado, contudo, é interessante lembrar aqui que,
como se propôs mais atrás (v. exemplo (10) e a discussão em torno dele), que também
o português, em que pesem todas as diferenças, tem em comum com o inglês o fato de
apresentar: a) o paradoxo do perfeito; b) leituras de continuidade (em que a ação descrita
pelo verbo se estende até o presente), embora esta seja a única leitura em português, mas
não a única em inglês.
De certa forma, portanto, Schmitt observa uma analogia entre o português e o inglês
que não a ajuda em nada na explicação de por que o português tem somente leituras
16
iterativas
e o inglês não. A autora atribui a iteratividade do p.p.c. em português a uma
coerção aspectual disparada para satisfazer a exigência de estados imposta pelo verbo
auxiliar no presente. A coerção (iterativização) não ocorre se o elemento subcategorizado
pelo auxiliar for um estado e ocorre em todos os outros casos. Uma vez que o presente
perfeito é obrigatoriamente iterativo em português, mas não em inglês, então a autora
conclui que o particípio passado em inglês é um estado e em português é tudo menos
um estado. Ora, apresentada desta forma, a solução é também totalmente ad hoc, já que
o signicado do particípio passado precisa ser estabelecido de forma independente e não
para a rearmação de um credo de composicionalidade estrita. O particípio passado participa de várias outras construções na língua, dentre as quais, o particípio absoluto, orações
reduzidas de particípio, em função adjetiva (predicativa ou atributiva) e a perífrase de voz
passiva. O signicado do particípio só pode ser estabelecido em conjunto, considerandose todas estas construções, sob risco de se criar uma versão de particípio passado para
cada construção que se pretende analisar e, nesta caso, em ultima instância, solapa-se a
composicionalidade que se pretendia preservar. O texto não aponta para outras fontes de
referência nem apresenta quaisquer evidências independentes da diferença de signicado
do particípio passado entre o português e o inglês, mas registra algumas diferenças de sua
manifestação morfossintática: em português, há particípios que concordam em número e
gênero e há o particípio invariável, enquanto em inglês só existe o invariável;
17
há indícios
de que, em português, o particípio seja alçado a uma posição mais alta do que em inglês,
já que se pode intercalar geralmente depois do particípio e antes de um adjunto, mas não
em inglês; o inglês não apresenta construções com particípio passado absoluto.
18
Assim,
16 Como já observado acima, a autora não contempla a possibilidade de leituras contínuas em português,
admitidas marginalmente por Ilari.
17 A força deste achado é evidentemente relativa, já que todos os adjetivos em inglês são invariáveis.
18 A autora não fornece referências para esta informação, mas encontram-se exemplos dessas constru-
ções absolutas
online
Her arms folded across her chest, Professor Hill warned the class about the penal-
. Mesmo que não sejam comuns, já a possibilidade da construção não favorece o
argumento da autora:
54
a explicação para diferença de iteratividade entre o presente perfeito português e inglês
dada por Schmitt é no máximo uma hipótese em aberto que transfere a diferença patente
entre os signicados do presente perfeito das duas línguas para uma diferença cogitada
19
entre os signicados dos particípios passados correspondentes.
Mais precisamente, para obter a iteração no p.p.c., a autora postula que o particípio em
português introduz uma fronteira (boundary) na eventualidade subjacente, o que resulta
numa eventualidade bounded.
20
Por causa da discrepância entre o carácter bounded do
particípio e a exigência do presente por estados, ocorre a coerção da eventualidade bounded
para estado por meio da iterativização.
Se a semelhança observada no presente entre o português e o inglês não contribui
muito para a explicação da diferença translinguística de iteratividade no presente perfeito,
essa semelhança poderia explicar melhor por que intralinguisticamente a iteratividade só
ocorre quando o verbo auxiliar está no presente, mas não em qualquer outro tempo.
?
A explicação seria: somente o presente exige estados em português; o imperfeito tem
restrições menos severas. De fato,
conclui para o imparfait francês que este tempo
seleciona eventos homogêneos (dos quais os estados são uma subclasse). Se o mesmo
valer para o português, contudo, o passado mais-que-perfeito ainda terá que ser iterativo
para todos os predicados não-homogêneos, contra os fatos. Schmitt propõe, então, que há
uma diferença entre o passado mais-que-perfeito (passado perfeito) e o p.p.c. (presente
perfeito) em português: enquanto o último é obrigatoriamente dêitico, por estar ancorado
no tempo presente, o primeiro é sempre anafórico, tirando sua âncora temporal de uma
outra oração. Assim sendo, o tempo imperfeito em que se encontra o auxiliar da perífrase
do mais-que-perfeito seria usado só para efeito de consecutio temporum, e não teria valor
temporal próprio, sendo incapaz, por esta razão, de impor qualquer restrição de seleção.
Esta explicação não parece correta, como o procuram mostrar os exemplos (17) a seguir:
(17)
a.
Quando cheguei, o Antônio estava quieto.
b.
(i)
*Quando cheguei, o Antônio tocava violão.
(ii)
c.
(i)
Quando cheguei, o Antônio estava tocando violão.
*Quando cheguei, o Antônio construía um castelo de areia.
ties of plagiarism. Our business partnership sealed with a contract, we made a toast to the success of
the new company.
bounded
ou
19 Contudo, a aparência de estipulação pode ser devida somente a um problema na exposição. Não me
parece arbitrário que o particípio passado produza eventualidades
, mas não me é claro por que
em inglês seria diferente. A questão terá de ser elucidada por pesquisa posterior.
20 Não é fácil traduzir esta expressão em português. Não se trata do mesmo sentido encontrado em
bounded variable
bound variable
télico
Ele está sempre começando.
(às vezes,
que
telos
). A ideia é que há pelo menos uma fronteira temporal. Acredito
também não seria uma boa tradução porque o
é o alvo da ação, e uma eventualidade
incoativa também sofre iterativização quando a duratividade é exigida por outros elementos do discurso:
Uma possível tradução seria temporalmente delimitado.
55
(ii)
Quando cheguei, o Antônio estava construindo um castelo de areia.
Os exemplos (17a), (17b-i) e (17c-i) estão nos mesmos tempos verbais, mas as classes
accionais dos predicados são respectivamente: estado, atividade e accomplishment. Nestes
exemplos,
21
o imperfeito apresenta restrições de seleção rigorosamente paralelas às do
presente, admitindo somente predicados de estado. O signicado pretendido com (17b-i)
e (17c-i), é expresso em português do Brasil falado como (17b-ii) e (17c-ii).
Os principais problemas da proposta de Schmitt são, portanto: a) a impossibilidade
da leitura durativa do p.p.c. de que fala Ilari (2001b) para estados e atividades; b) não
explica por que não há coerção à iteratividade quando o verbo auxiliar está no presente
do subjuntivo (v. exemplo (18) abaixo); c) explicação composicional problemática, que
atribui uma restrição de seleção ao auxiliar (independentemente motivada) e ao mesmo
tempo que os particípios passados são sempre bounded (o que, até exame mais minucioso
da questão, é uma estipulação arbitrária), independentemente da classe accional original
do predicado.
(18)
a.
Talvez a caixa contenha muitos papéis.
b.
Talvez o Pedro *cante/Xesteja cantando neste instante.
c.
Talvez o Pedro *cante/Xesteja cantando uma ária neste instante.
d.
Talvez o Pedro *coma/Xesteja comendo uma maçã neste instante.
O exemplo (18) repete as sentenças dos exemplos (13), (14), (15) e (16) com o auxiliar no
presente do subjuntivo. Como se vê, as restrições de seleção quanto à classe accional são
idênticas ao caso em que o auxiliar está no presente do indicativo. Convém enfatizar que,
para que o exemplo faça sentido, a leitura relevante deve ser de presente instantâneo, não
de futuro imediato, caso em que os quatro subexemplos seriam gramaticais.
21 Estes exemplos foram criados provisoriamente para mostrar os meus julgamentos como falante de
língua-mãe portuguesa, que espero que estejam de acordo com os dos leitores. O assunto seguramente
terá sido tratado extensivamente na literatura.
56
Capítulo 4
À guisa de conclusão:
o pretérito perfeito composto em
português e perspectivas para
investigação futura
4.1
Introdução
Como deve ter cado claro de toda exposição até este ponto, há um longo caminho a
transpor na xação de uma fenomênica relativa ao p.p.c., a qual, para o inglês, já se vem
sedimentando desde os princípios da semântica teórica. Esperamos que o que se expôs
até aqui tenha podido contribuir para a caracterização de alguns padrões distribucionais
que se vêm mostrando arredios à apreensão empírica. Se não, ao menos que as intuições
tenham sido expostas de forma sucientemente clara a ponto de favorecer sua falsicação por outros pesquisadores. E que, especialmente o cap. 2, tenha colaborado para o
discernimento de quais divergências são devidas, por um lado, à particular explicação
de fenômenos nos quais o p.p.c. está envolvido, e, de outro lado, quais divergências são
devidas à identicação mesma dos fenômenos que cumpre explicar.
Infelizmente, não haverá tempo para que as expectativas acumuladas nos capítulos
anteriores sejam plenamente satisfeitas neste capítulo.
Embora várias pistas promissoras para esquemas explicativos de algumas questõeschave em torno do p.p.c. tenham sido divisadas ao longo deste projeto de mestrado,
contando por vezes com estimulantes conrmações vindas de autores célebres na área,
dicilmente alguma terá atingido um grau de elaboração suciente para que pudesse ser
exposta no presente capítulo.
57
Ainda assim guardadas evidentemente as proporções , num espírito semelhante
ao tão modesto quanto inuente artigo de Ilari (2001b), procuraremos apontar a seguir
algumas direções para investigação futura em torno de questões centrais suscitadas pelo
p.p.c. português.
4.2
A iteratividade espontânea do p.p.c.
Há uma leitura que o pretérito perfeito composto português pode apresentar para toda
e qualquer classe accional do predicado: a iterativa. Adicionalmente, para predicados
atélicos, mas raramente sem o auxílio de elementos coadjuvantes (vide 2.2), obtém-se
também uma leitura contínua.
Como visto no capítulo 2, a interpretação iterativa do p.p.c. apresenta duas características inequívocas: I) o número de iterações não pode ser denido nem mesmo de
forma vaga, vide seção 2.2, exemplo (18); II) é obrigatório que a eventualidade que se
vem repetindo desde o passado possa ocorrer também no presente, vide seção 2.1.3. À
primeira característica, chamaremos, com Bertinetto and Lenci (2010), de inespecicabi-
lidade da reiteração ; à segunda, repetibilidade. Essas duas características são ilustradas
respectivamente pelos exemplos (1a) e (1b).
(1)
a.
* Ele tem assistido aos jogos do campeonato três vezes.
b. # O José tem visitado o World Trade Center toda vez que vai a Nova Iorque.
Inespecicabilidade da reiteração
4.2.1
(Bertinetto and Lenci, 2010)
A inaceitabilidade da sentença (1a) não se prende às restrições temporais do p.p.c. A
sentença é agramatical independentemente de o campeonato estar em curso ou não. A
mesma inaceitabilidade é encontrada nas sentenças (2a) e (2b) abaixo.
(2)
a.
* Por três anos seguidos, ele ia à praia três vezes.
b.
* Ele é uma pessoa que vai à praia três vezes.
1
Oliveira and Leal (2012) se opõem à armação atribuída a Laca (2010), segundo a qual, o
p.p.c. vedaria não só a especicação da quantidade exata de reiterações, como também a
1 Ilari (2001b) cita os casos de (2a) e (2b) como durativos. Este é uma indicação de que o sentido
imperfectivo
dessa expressão no texto de Ilari (assim como, ao que parece, em muito da literatura funcionalista) padece
contínuo
de certa ambiguidade. Na descrição das sentenças de (2), durativo parece signicar
contraste iterativo/durativo, porém, durativo parece antes signicar
. No
(considerado um tipo de
imperfectividade). É por esta razão que evitamos a termo durativo completamente, substituindo-o por
imperfectivo e contínuo conforme o caso em questão.
58
especicação de uma quantidade vaga de reiterações. Oliveira and Leal (2012) apresentam
a sentença (3) como comprovação de que as especicações vagas do número de reiterações
são aceitáveis em português de Portugal:
(3)
Tenho atravessado a ponte sobre o Tejo (muitas vezes/algumas/várias vezes).
Neste caso, contudo, parece tratar-se apenas de um desacordo terminológico entre as
pesquisadoras, pois o exemplo (3) não parece invalidar a armação de Laca (2010).
Embora os adjuntos entre parênteses em (3) tenham as feições de especicadores do
número de reiterações, não é esta a sua interpretação na sentença (3). Quando esses
adjuntos aparecem em contextos chamados de imperfectividade gnômica (Bertinetto
and Lenci, 2010) dos quais o p.p.c. é um exemplo , são reinterpretados como adjuntos de frequência, passando a signicar uma comparação com uma frequência-padrão
contextualmente relevante.
Assim, a sentença (3) receberia uma interpretação aproximada como em (4) abaixo:
(4)
Tenho atravessado a ponte sobre o Tejo (frequentemente/vez ou outra/com certa
frequência).
O contraste ca mais claro se se coteja (3) onde os adjuntos são reinterpretados como
adjuntos de frequência com (5), no pretérito perfeito simples o qual não congura
um contexto de imperfectividade gnômica,
2
permitindo que os adjuntos tenham a sua
interpretação corriqueira de xação de um número (vago) de repetições.
(5)
Atravessei a ponte sobre o Tejo (muitas vezes/algumas/várias vezes).
Perceba-se que, se um interlocutor pedir maior precisão ao enunciador de
(3): Mas
muitas vezes . . . Quantas anal?! O outro terá de responder-lhe com uma razão: Duas
vezes por semana. E não com um número absoluto: Cinco vezes.
Em conclusão, portanto, parece ser mais conveniente formular a restrição da inespe-
cicabilidade da reiteração da seguinte forma: o p.p.c. não aceita qualquer especicação
do número de repetições da eventualidade, seja tal especicação vaga, precisa, determinada ou indeterminada. Aqueles adjuntos que, isoladamente, tivessem esse efeito são, em
orações no p.p.c., reinterpretados para adjuntos de frequência.
A condição da inespecicabilidade da reiteração é uma restrição semântica do p.p.c.,
isto é, pode assumir feições morfossintáticas diversas, desdobrando-se igualmente tanto
em restrições sobre a quanticação encontrada em adjuntos quanto sobre a que se encontra
nos SNs relativos aos participantes na eventualidade, tal como no exemplo (6) abaixo.
2 A diferença entre os dois tipos de repetitividade deve ser retomada mais adiante.
59
(6)
* Ele tem batizado os seus três lhos tão logo completam um mês de idade.
Oliveira and Leal (2012) estuda com certa profundidade as restrições impostas pelo p.p.c.
sobre seus complementos, como a observada em (6).
4.2.2
Repetibilidade
O p.p.c. em português e o present perfect em inglês (além de muitos outros contextos
linguísticos nessas e em outras línguas) têm essas duas propriedades em comum. As duas
línguas, contudo, apresentam uma diferença sutil, mas crucial, quanto à repetibilidade
exigida.
(7)
a.
b.
He's been tall all his life.
* Ele tem sido alto (a vida toda).
O contraste ilustrado por (7) costuma ser descrito como uma (in)compatibilidade do
p.p.c. e do present perfect com predicados em nível de indivíduo. O inglês os admite
3
(Portner, 2011) no present perfect, enquanto o português os veda (Ilari, 2001b) no p.p.c.
Aqui convém reformular o contraste em termos da repetibilidade.
Nos exemplos (7), o requisito da repetibilidade está satisfeito tanto para o inglês
quanto para o português, contanto que o sujeito da oração esteja vivo, pois, sendo a
alta estatura uma característica sua individual, será temporalmente coextensiva com o
seu período de vida. Assim sendo, é seguramente repetível no presente a eventualidade
ser-alto. Se é assim, contudo, por que a sentença (7b) é inaceitável em português? Aqui
propomos que o requisito de repetibilidade não é exatamente o mesmo para o inglês e para
o português: em inglês, a certeza da repetibilidade satisfaz o requisito de que o evento se
possa repetir no presente; em português, a exigência de possibilidade de repetição deve ser
entendida de forma estrita, e o requisito só terá sido satisfeito nos casos de possibilidade
mas não certeza de repetição. Esta maneira de formular a questão é tão pouco explicativa
quanto a versão em termos de compatibilidade ou restrição de seleção do p.p.c., mas a
questão será retomada adiante com consequências importantes para a efetiva explicação
desse comportamento do p.p.c. português. (ref )
A discussão precedente trata do p.p.c. (e do present perfect ) quanto às suas características modais, já que o requisito de repetibilidade é um requisito formulado em termos não
de efetiva repetição, mas de uma possível repetição (modelada como a efetiva repetição
3 As restrições em ambas as línguas estão sujeitas a várias condições adicionais: em inglês, é necessário
o apoio de adjuntos que os fazem tomar a feição de predicados a nível de estágio; em português, há
predicados em nível de indivíduo admissíveis no p.p.c., chamados por autores portugueses de faseáveis.
Contudo, a ilustração dada pelo exemplo é suciente para os ns da argumentação presente.
60
em pelo menos um dos innitos mundos de um subconjunto dos mundos alternativos ao
real).
61
62
Referências bibliográcas
Barbosa, J. B. (2003). Uma proposta de caracterização do pretérito perfeito simples e
composto.
Barbosa, J. B. (2008). Tenho feito/z a tese: uma proposta de caracterização do pretérito
perfeito no Português. Ph. D. thesis, UNESP, Araraquara.
Barbosa, J. S. (1822). Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza. Lisboa: Academia
Real das Sciencias.
Bertinetto, P. M. and A. Lenci (2010). Iterativity vs. habituality (and gnomic imperfectivity). Quaderni del laboratorio di linguistica 9 (1), 146.
Binnick, R. I. (1991). Time and the verb: a guide to tense and aspect. New York: Oxford
University Press.
Boléo, M. d. P. (1937). O perfeito e o pretérito em português: em confronto com as outras
línguas românicas: estudo de carácter sintático-estilístico. Universidade de Coimbra.
Brugger, G. (1997). Event time properties. University of Pennsylvania Working Papers
in Linguistics 4 (2), 4.
Cano, W. (1998). O emprego do perfeito composto na linguagem jornalística. Araraquara:
UNESP.
Carlson, G. N. (1977). Reference to kinds in English. Ph. D. thesis, University of Massachusetts, Amherst.
Castilho, A. T. d. (1968). Introducão ao estudo do aspecto verbal na língua portuguêsa.
Coleøcão de teses - Faculdade de Filosofía, Ciencias e Letras de Marília. Marília: Faculdade de Filosoa, Ciencias e Letras.
Chamorro, M. d. P. (2012).
Pluractionality and Aspectual Structure in the Galician
Spanish Tener-Perfect. Ph. D. thesis, The Ohio State University.
63
Chomsky, N. (1970).
Deep Structure, Surface Structure, and Semantic Interpreta-
tion.(1969) s. Chomsky, Studies on Semantlcs .
Aspect : an introduction to the study of verbal aspect and related
Comrie, B. (1976).
problems. Cambridge , New York: Cambridge University Press.
Comrie, B. (1985). Tense, Volume 17. Cambridge University Press.
de Swart, H. (1998).
Aspect shift and coercion.
Natural Language & Linguistic The-
ory 16 (2), 347385.
de Swart, H. (2007).
A cross-linguistic discourse analysis of the Perfect.
Journal of
Pragmatics 39 (12), 22732307.
Fiorin, J. (1994). As astúcias da enunciação: as categorias de pessoa, espaço e tempo.
Ph. D. thesis, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Giorgi, A. and F. Pianesi (1997).
Tense and aspect: from semantics to morphosyntax.
Oxford studies in comparative syntax. New York: Oxford University Press.
Hofherr, P. C., B. Laca, and S. de Carvalho (2010).
When perfect means plural: the
present perfect in Northeastern Brazilian Portuguese. Layers of Aspect , 67100.
Iatridou, S., E. Anagnostopoulou, and R. Izvorski (2001). Observations about the form
and meaning of the perfect. Current Studies in Linguistics Series 36, 189238.
Ilari, R. (2001a). A expressão do tempo em português (2. ed ed.). Coleção Repensando a
lngua portuguesa. São Paulo: Contexto.
Ilari, R. (2001b).
Notas sobre o passado composto em português.
Revista Letras
[UFPR] 55, 129152.
Inoue, K. (1979). An analysis of the English present perfect. Linguistics 17 (7-8), 561590.
Katz, E. G. (1992). Stativity, genericity, and temporal reference. Ph. D. thesis, University
of Rochester.
Klein, W. (1994). Time in language. London and New York: Routledge.
Laca, B. (2010). Perfect semantics: How universal are Ibero-American Present Perfects?
In Selected Proceedings of the 12th Hispanic Linguistics Symposium, pp. 116.
Mateus, M., A. Brito, I. Duarte, I. Faria, S. Frota, G. Matos, F. Oliveira, and M. V.
Vigário (2003). Gramática da Língua Portuguesa (5a edição revista e aumentada ed.).
Lisboa: Editorial Caminho.
64
McCawley, J. D. (1971). Tense and Time Reference in English. In C. J. Fillmore and
D. T. Langndoen (Eds.), Studies in Linguistic Semantics, pp. 96113. Irvington.
McFadden, T. (2007).
Auxiliary selection.
Language and Linguistics Compass 1 (6),
674708.
Medeiros, A. B. d. (2015). O pretérito perfeito composto e sua interpretação. Revista
LinguiStica 6 (1).
Michaelis, L. A. (2011). Stative by Construction. Linguistics 49 (6), 13591399.
Moens, M. (1987). Tense, aspect and temporal reference. Unpublished ph.d. dissertation.
Molsing, K. V. (2006).
The tense and aspect of the present perfect in English and
Portuguese. Revista Letras 69, 133156.
Molsing, K. V. (2007). Universal and Existential Perfects in Brazilian Portuguese. Revista
Letras [UFPR] 73.
Molsing, K. V. (2010). The present perfect: an exercise in the study of events, plurality
and aspect. Ph. D. thesis, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, Brazil.
Nishiyama, A. and J.-P. Koenig (2004). What is a perfect state? University of California,
Davis, pp. 595606. Cascadilla Press.
Nishiyama, A. and J.-P. Koenig (2010). What is a perfect state? Language 86 (3), 611
646.
Ogihara, T. (2007, February).
Tense and aspect in truth-conditional semantics.
Lin-
gua 117 (2), 392418.
Oliveira, F. and A. Leal (2012).
Sobre a iteração do Pretérito Perfeito Composto em
Português Europeu. Revista de Estudos Linguísticos da Univerdade do Porto 65, 88.
Pancheva, R. (2003). The aspectual makeup of Perfect participles and the interpretations
of the Perfect. Perfect explorations 2, 277.
Portner, P. (2003).
The (temporal) semantics and (modal) pragmatics of the perfect.
Linguistics and Philosophy 26 (4), 459510.
Portner, P. (2011).
Perfect and Progressive.
In C. Maienborn, K. v. Heusinger, and
P. Portner (Eds.), Semantics: An International Handbook of Natural Language Mea-
ning. De Gruyter Mouton.
65
Reichenbach, H. (1947). Elements of Symbolic Logic. London: Macmillan.
Schaden, G. (2009, July). Present perfects compete. Linguistics and Philosophy 32 (2),
115141.
Schmitt, C. (2001). Cross-linguistic variation and the present perfect: the case of Portuguese. Natural language & linguistic theory 19 (2), 403453.
Smith, C. S. (1999).
Activities: states or events?
Linguistics and Philosophy 22 (5),
479508.
Squartini, M. and P. M. Bertinetto (2000). The simple and compound past in Romance
languages. In Tense and Aspect in the Languages of Europe, Volume 20 of Empirical
Approaches to Language Typology, pp. 403440. Berlin, New York.
Tovena, L. M. and M. Donazzan (2008, June). On ways of repeating. Recherches linguis-
tiques de Vincennes (37), 85112.
Travaglia, L. C. (1981). O aspecto verbal no português a categoria e sua expressão. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia.
van Geenhoven, V. (2001). Atelicity, Pluractionality, and Adverbial Quantication. In
H. J. Verkuyl, H. de Swart, and A. Hout (Eds.), Perspectives on Aspect, Volume 32,
pp. 107124. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag.
van Geenhoven, V. (2004). For-adverbials, frequentative aspect, and pluractionality. Na-
tural language semantics 12 (2), 135190.
Veiga, A. (2011). El pretérito perfecto español y la noción temporal de ante-presente.
Romanica Cracoviensia (11), 433448.
Viana, A. R. G. (1903).
Portugais: phonétique et phonologie, morphologie, textes, Vo-
lume 2. BG Teubner.
66