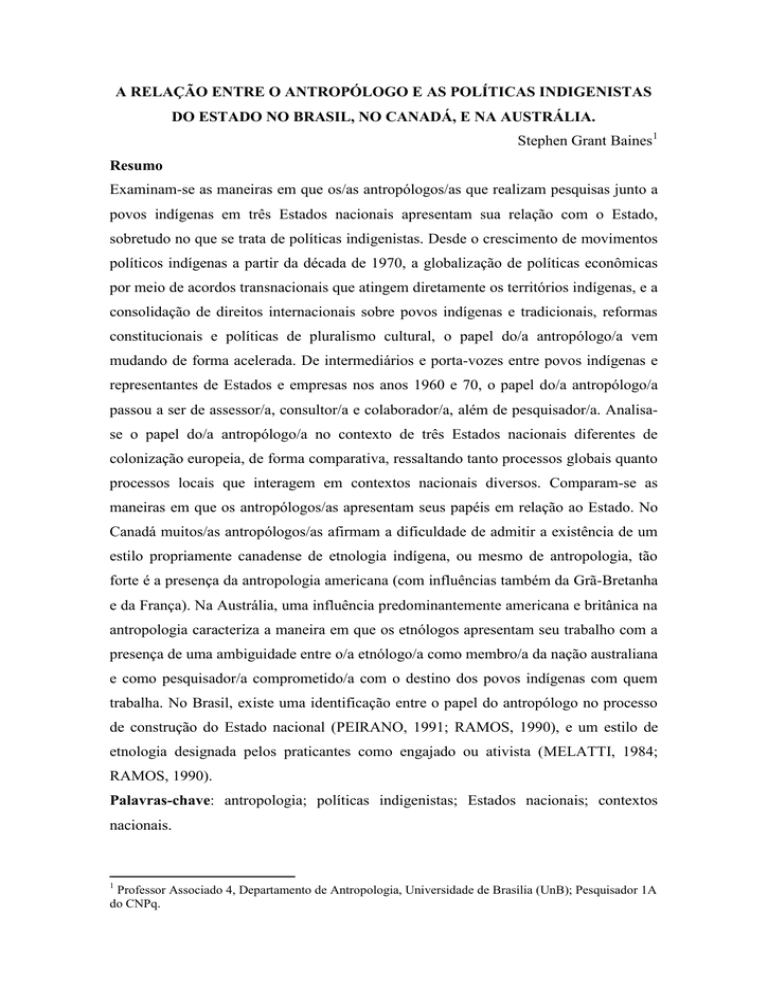
A RELAÇÃO ENTRE O ANTROPÓLOGO E AS POLÍTICAS INDIGENISTAS
DO ESTADO NO BRASIL, NO CANADÁ, E NA AUSTRÁLIA.
Stephen Grant Baines1
Resumo
Examinam-se as maneiras em que os/as antropólogos/as que realizam pesquisas junto a
povos indígenas em três Estados nacionais apresentam sua relação com o Estado,
sobretudo no que se trata de políticas indigenistas. Desde o crescimento de movimentos
políticos indígenas a partir da década de 1970, a globalização de políticas econômicas
por meio de acordos transnacionais que atingem diretamente os territórios indígenas, e a
consolidação de direitos internacionais sobre povos indígenas e tradicionais, reformas
constitucionais e políticas de pluralismo cultural, o papel do/a antropólogo/a vem
mudando de forma acelerada. De intermediários e porta-vozes entre povos indígenas e
representantes de Estados e empresas nos anos 1960 e 70, o papel do/a antropólogo/a
passou a ser de assessor/a, consultor/a e colaborador/a, além de pesquisador/a. Analisase o papel do/a antropólogo/a no contexto de três Estados nacionais diferentes de
colonização europeia, de forma comparativa, ressaltando tanto processos globais quanto
processos locais que interagem em contextos nacionais diversos. Comparam-se as
maneiras em que os antropólogos/as apresentam seus papéis em relação ao Estado. No
Canadá muitos/as antropólogos/as afirmam a dificuldade de admitir a existência de um
estilo propriamente canadense de etnologia indígena, ou mesmo de antropologia, tão
forte é a presença da antropologia americana (com influências também da Grã-Bretanha
e da França). Na Austrália, uma influência predominantemente americana e britânica na
antropologia caracteriza a maneira em que os etnólogos apresentam seu trabalho com a
presença de uma ambiguidade entre o/a etnólogo/a como membro/a da nação australiana
e como pesquisador/a comprometido/a com o destino dos povos indígenas com quem
trabalha. No Brasil, existe uma identificação entre o papel do antropólogo no processo
de construção do Estado nacional (PEIRANO, 1991; RAMOS, 1990), e um estilo de
etnologia designada pelos praticantes como engajado ou ativista (MELATTI, 1984;
RAMOS, 1990).
Palavras-chave: antropologia; políticas indigenistas; Estados nacionais; contextos
nacionais.
1
Professor Associado 4, Departamento de Antropologia, Universidade de Brasília (UnB); Pesquisador 1A
do CNPq.
Introdução
Examinam-se as maneiras em que os/as antropólogos/as que realizam pesquisas junto a
povos indígenas em três Estados nacionais apresentam sua relação com o Estado,
sobretudo no que se trata de políticas indigenistas. Desde o crescimento de movimentos
políticos indígenas a partir da década de 1970, a globalização de políticas econômicas
por meio de acordos transnacionais que atingem diretamente os territórios indígenas, e a
consolidação de direitos internacionais sobre povos indígenas e tradicionais, reformas
constitucionais e políticas de pluralismo cultural, o papel do/a antropólogo/a vem
mudando de forma acelerada. De intermediários e porta-vozes entre povos indígenas e
representantes de Estados e empresas nos anos 1960 e 70, o papel do/a antropólogo/a
passou a ser de assessor/a, consultor/a e colaborador/a, além de pesquisador/a. Analisase o papel do/a antropólogo/a no contexto de três Estados nacionais de colonização
europeia (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1988, 1998) de forma comparativa, ressaltando
tanto processos globais quanto processos locais que interagem em contextos nacionais
diversos. Comparam-se as maneiras em que os/as antropólogos/as apresentam seus
papéis em relação ao Estado. Apesar de óbvias diferenças em suas histórias e culturas,
os estilos de antropologia que se fazem no Brasil, no Canadá e na Austrália podem ser
considerados “periféricos”, no sentido dado por Roberto Cardoso de Oliveira, distintos
dos “países de centro, i.é. aqueles países onde a Antropologia, enquanto disciplina
científica e acadêmica havia originalmente surgido e consolidado [...] os Estados
Unidos, a Inglaterra e a França” (1988, p. 144).
Para abordar a etnologia indígena nestes três países é imprescindível examinar a
antropologia dentro do seu contexto histórico em cada Estado nacional e a partir das
representações que os/as antropólogos/as que realizam pesquisas com povos indígenas
apresentam sobre o trabalho do/a antropólogo/a. Ao refletir sobre o estilo de etnologia
indígena que se faz no Brasil, Alcida Ramos constata que "o enfoque privilegiado da
etnologia brasileira em relações interétnicas é [...] relacionado a um interesse social e
um contexto histórico específico” (1990, p. 453). A autora também argumenta que este
enfoque “é associado a uma atitude de compromisso político para a defesa dos direitos
dos povos pesquisados” (1990, p. 453). Ao tentar caracterizar o ethos etnológico
brasileiro, Ramos cita Mariza Peirano, que relaciona “o estilo particular de antropologia
que se pratica no Brasil às raízes do movimento modernista da década de 1920 e ao
esforço para construir uma nação brasileira. A responsabilidade dos intelectuais era de
construir uma identidade nacional baseada no que era „nativo‟” (RAMOS, 1990, p.
455). Ao se dirigir, em artigo sobre o estilo de etnologia que se faz no Brasil, a
leitores/as norte-americanos/as, Ramos apresenta os mundos antropológicos em
tradições anglo-americana e latina, lembrando também que, no Brasil, “a condição de
colonizado moldou o estilo de pensamento social específico da inteligência brasileira”
(1990, p. 456). A mesma autora acrescenta que, “a hegemonia de ideias, atitudes, e
modas euro-americanas que direta ou indiretamente invadem as mentes da população de
países como o Brasil, que, neste aspecto, não é diferente de outras nações latinoamericanas”, o que conduz “à reação contra isso na forma de uma postura crítica em
relação a coisas hegemônicas [...] muitas vezes, porém nem sempre, de inspiração
marxista, o que teve o efeito de um afastamento do estilo positivista das ciências sociais
norte-americanas e britânicas” (1990, p. 456). Ramos enfatiza que, apesar do seu "sabor
próprio", a antropologia que se faz no Brasil é de nível internacional, “Falamos a língua
franca da teoria antropológica, mantendo o nosso sotaque forte e distinto” (1990 , p.
456). Sugere, também, esta autora “a possibilidade de que a natureza do trabalho
acadêmico no Brasil permita maior liberdade de ação que no ambiente antropológico do
mundo anglo-saxão” (1990, p. 455).
Em contraste com a antropologia no Brasil que foi implantada nas universidades em um
período histórico que coincidia com esforços por parte dos intelectuais do país de
construir uma nação brasileira, na Austrália, desde a implantação de antropologia como
uma disciplina acadêmica na Universidade de Sydney em 1926, por A. R. RadcliffeBrown, até a década de 1970, os antropólogos que trabalhavam na Austrália viam a
disciplina como uma extensão da antropologia britânica, o que reflete a maneira em que
pensavam a respeito do país. Comenta Trood (1990, p. 89) que quando se criou a
Commonwealth da Austrália em 1901, seus líderes políticos não consideravam
seriamente a possibilidade de seguir uma política de relações exteriores independente da
Grã-Bretanha, e cita o primeiro ministro da nova nação, Edmund Barton para quem “a
política de relações exteriores (australiana) é do domínio do Império (britânico)”, o que
Trood afirma ser o consenso da maioria dos australianos daquela época. Durante várias
décadas, a Austrália definia seu lugar em assuntos internacionais com referência ao
status do seu país como parte do Império Britânico mais do que como um país
autônomo e independente dentro do sistema internacional, uma situação muito diferente
daquela do Brasil e em que não cabia uma ideologia de construção de uma nação
independente. Na primeira metade do século XX, a antropologia que se fazia na
Austrália deve ser examinada dentro deste contexto. A constituição da Commonwealth
da Austrália foi elaborada em 1891, submetida a dois plebiscitos populares em 1898 e
1899, e aprovada em 1900, tornando-se a Austrália uma nação independente quase 80
anos após a independência do Brasil.
A partir da II Guerra Mundial, quando os australianos se sentiram abandonados pela
Grã-Bretanha e salvos, pela intervenção americana, de uma possível invasão do Japão,
houve um movimento para repensar a tradição cultural e politica britânica, até então,
arraigadas na Austrália. Em 1954, com a criação da South East Asia Treaty
Organization (SEATO) contra a expansão comunista, o governo australiano se alinhou
aos principais aspectos da política exterior norte-americana e a partir do momento em
que as forças navais do Reino Unido se retiraram do “leste de Suez”, a influência
britânica foi em grande parte substituída pela influência estadunidense na Austrália
(BAINES, 1995). A crescente influência dos Estados Unidos da América nas esferas
políticas, econômicas e ideológicas repercutiu-se na antropologia, redefinindo o estilo
de antropologia naquele país e a estrutura dos departamentos de antropologia nas
universidades, sobretudo a partir dos anos 1980. Nas pesquisas realizadas na Austrália
em 1992 (BAINES, 1995) e 2010, vários/as antropólogos/as afirmaram que a
antropologia que se faz seria caracterizada melhor como “semiperiférica”, no sentido
usado por Cardoso de Oliveira (1988, p. 143-159) ao se referir às “antropologias
periféricas”. A antropologia que se faz na Austrália pode ser considerada uma
antropologia que surgiu e se consolidou como disciplina acadêmica dentro do contexto
da “construção do império” (STOCKING JR., 1982) britânico e a posterior expansão do
império estadunidense, mais do que uma antropologia que se desenvolveu no contexto
da “construção da nação”, o que reforça ainda mais sua caracterização como
“semiperiférica”.
No Canadá, país de antiga colonização britânica e francesa, a antropologia foi
implantada nas universidades com uma influência predominante dos Estados Unidos da
América. Em pesquisas realizadas em centros de etnologia indígena no Canadá em 1995
(BAINES, 1996), 2002 e 2009, muitos/as antropólogos/as afirmaram a dificuldade de
admitir a existência de um estilo propriamente canadense de etnologia indígena, ou
mesmo de antropologia, tão forte é a influência da antropologia americana (com
influências também das antropologias britânica e francesa), com uma aspiração
compartilhada de estar realizando uma antropologia internacional.
A antropóloga, Vered Amit, afirma que “em termos da reprodução da antropologia
como disciplina acadêmica no Canadá, o problema pode ser não tanto que somos
periféricos, mas que não somos periféricos o suficiente” (2006, p. 267). Amit esclarece
sua afirmação referindo-se à antropologia semiperiférica que se faz no Canadá, e
afirma: “somos um anexo marginal do centro, o que nos dá acesso a muitas das suas
atividades sem nos permitir exercer muita influência no seu desenvolvimento. Não
somos nem parte do centro, nem estamos fora dele” (2006, p. 273).
A influência desmedida dos EUA sobre a antropologia que se faz no Canadá é descrita
por Marilyn Silverman no que ela chama de “encontro colonial na academia canadense”
(1991), que se tornou evidente durante num processo de seleção de professor por
concurso público, do qual ela participou. Silverman descreve a situação em que a
“metáfora central era „canadense [incompetente] versus americano [competente]‟”
(1991, p. 388) e como os candidatos canadenses foram imediatamente descartados, pois
os membros da banca iniciaram seu discurso,
com a premissa do colonizado: que canadense é inferior. Nosso
objetivo é de contratar alguém que demonstra excelência
acadêmica. Por definição, tal candidato não poderia ser um de
nós, inferiores. De onde deve vir tal candidato? É claro, de
nossos superiores, do outro colonizador, dos Estados Unidos
(1991, p. 391).
Nesse artigo, Silverman, acentua a questão do pensamento colonizado de alguns dos
seus colegas. Entretanto, ela conclui que “Certamente não é por acaso que os
antropólogos canadenses, na periferia de um império, interessam-se pela trajetória
político-econômica do poder e da exploração nas suas diversas formas” (1991, p. 392).
David Howes assinala uma linha de pensamento entre antropólogos/as no Canadá que
afirma que há uma ausência de uma tradição antropológica canadense, o que pode ser
explicada pelo fato de que “na virada do século XXI apenas 25% do corpo docente de
departamentos com doutorado em antropologia havia realizado seu doutoramento no
Canadá” (2006, p. 200). O mesmo autor pergunta:
Como poderia uma tradição local surgir em face da penetração
maciça de forças externas? De acordo com Tom Dunk, esta
situação
é
agravada
pela
"mentalidade
essencialmente
neocolonial", que sem dúvida prevalece em Canadá de língua
inglesa, onde as concepções locais do que é bom são filtradas
por ideias e padrões vindos de outro lugar (HOWES, 2006, p.
200).
Este ponto de vista coincide com o que observa Silverman (1991) em seu “encontro
colonial na academia canadense”.
A pretensão universalista da antropologia e as assimetrias locais
Ao abordar as singularidades de estilos da antropologia nas chamadas “periferias”,
Cardoso de Oliveira afirma que não haveria de significar uma abdicação da pretensão
universalista da disciplina de antropologia, “uma vez que a disciplina sempre „falou‟
uma única „linguagem‟, talvez mudando apenas o „tom‟” (1998, p.114). Acrescenta este
autor que
podemos
considerar
os
elementos
individualizantes
nas
antropologias periféricas que lhes conferem particularidades
que, por mais marcantes que sejam, não nos autorizam a
classifica-las com o epiteto de nacionais. Assim, não há
necessidade de buscarmos nacionalizar nossas antropologias [...]
(CARDOSO DE OLIVEIRA, 1998, p. 114).
Entretanto, a pretensão universalista da antropologia não dá conta das desigualdades e
assimetrias de situações coloniais ou neocoloniais. As perspectivas mais locais e étnicas
também entram em contradição com a perspectiva universalista, resultando em posturas
muito diferentes, por exemplo, entre as duas maiorias de antropólogos/as anglófonos/as
e francófonos/as no caso do Canadá.
Neste sentido é impossível discutir a antropologia que se faz no Canadá, sem destacar as
diferenças entre a antropologia no Canadá anglófono e francófono e as tensões criadas
na disciplina acadêmica por aspirações políticas para a independência de Quebec da
Federação do Canadá. Cardoso de Oliveira ressalta que
No caso do Canadá francês, no Quebec, já vamos observar um
forte processo de etnicização da disciplina, gerando, a rigor,
duas modalidades de antropologia, uma francófona, outra
anglófona, profundamente marcadas por seus horizontes
linguístico-culturais (1995, p. 188).
Em entrevistas realizadas com antropólogos no leste do Canadá em 1995 (BAINES,
1996) e, em 2002, aqueles/as antropólogos/as anglófonos/as que compartilhavam a
ideologia federalista do Canadá como uma nação bilíngue (francófona e anglófona)
expressaram seu desejo de que antropólogos/as francófonos/as e anglófonos/as
pudessem comunicar-se como membros da nação canadense. Aqueles/as francófonos/as
que apoiavam a separação de Quebec da federação canadense enfatizavam a
precariedade da comunicação entre antropólogos/as anglófonos/as e francófonos/as,
ressaltando os estreitos laços dos/as antropólogos/as francófonos/as com a antropologia
dos grandes centros no nordeste dos Estados Unidos e da França, e não com os/as
antropólogos/as anglófonos/as do Canadá do resto do Canadá, tidos como seus
opressores coloniais. A forte identificação de antropólogos/as francófonos/as no Quebec
com os centros metropolitanos da disciplina pode também contribuir para a falta de
diálogo entre os/as antropólogos/as anglófonos/as e francófonos/as na província, ponto
de vista ressaltado por Azzan Júnior (2006). M. Estellie Smith nota que “os
quebequenses há muito se orgulhavam de um „cosmopolitismo inato‟ considerado em
falta na elite anglófona „indigesta e antiquada‟” (1984), postura refletida em algumas
declarações feitas por antropólogos quebequenses sobre a antropologia em Quebec
(BAINES, 1996).
O antropólogo Guilherme Raul Ruben conclui que, apesar da “conflituosa questão da
nacionalidade em Quebec” (1995, p. 125), a teoria da identidade formulada em Quebec
no âmbito da antropologia continua sendo “essencialmente autônoma” da questão da
nacionalidade. Ruben argumenta que a antropologia em Quebec recusa-se a tentar
definir suas origens em relação à sua história institucional, uma vez que, de acordo com
sua hipótese,
as origens dos modernos programas universitários de pesquisa e
de ensino da antropologia no Quebec (nas Universidades de
Montreal e de Laval) são o resultado de uma relação proibida, e
eu diria até incestuosa, entre seus legítimos pais (Tremblay e
Dubreuil), criadores [...] dos dois programas institucionais e de
um outro, socialmente proibido: a antropologia americana. Num
contexto nacionalista, francês, católico e rural, como poderia ser
aceita a participação de um parceiro inglês, protestante e
industrial, como co-genitor dos modernos programas de ensino e
pesquisa em antropologia no Quebec contemporânea? (RUBEN,
1995, p. 133-134).
No mesmo artigo, este autor acrescenta: “o reconhecimento dos pais fundadores dos
modernos programas de antropologia no Quebec implicaria reconhecer a profunda e
íntima relação da província com o mundo inglês, o que inviabilizaria o caráter étnico
que marca o estilo da disciplina no Quebec” (RUBEN, 1995, p. 134). Esses exemplos
revelam as maneiras pelas quais uma complexa configuração de lealdades regionais,
nacionais, imperiais, étnicas e indígenas em que os/as antropólogos/as estão imersos/as
como membros de estados nacionais, e grupos regionais, étnicos e indígenas dentro de
esses estados, permeiam suas perspectivas. Enquanto muitos/as antropólogos/as
francófonos/as em Quebec sentem-se colonizados/as pelos canadenses anglófonos/as, a
maioria dos/as canadenses francófonos/as e anglófonos/as sente-se colonizada pelos/as
norte-americanos/as, e alguns/umas antropólogos/as indígenas sentem-se colonizados/as
por todos/as.
Como já foi abordada acima, a prática da etnologia indígena no Brasil tem sido
caracterizada por muitos antropólogos brasileiros como um estilo de antropologia
envolvido em que o/a antropólogo/a é politicamente engajado/a com os povos indígenas
com quem ele/ela realiza pesquisas, e uma antropologia comprometida com a luta dos
povos indígenas para efetivar seus direitos constitucionais e internacionais ratificados
pelos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção 169 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Declaração da Organização das
Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2007). No início de
1980, Julio Cezar Melatti escreveu que,
Os anos 1970 foram marcados por um esforço que continua a
estar presente, de alguns antropólogos em colaborar com os
povos indígenas em quem eles são academicamente interessados
em encontrar soluções para os seus problemas mais urgentes,
como demarcação de terras, assistência médica, educação, direta
administração pelos índios de sua produção para o mercado e
outros (1984, p. 19-20),
Melatti se refere a este esforço em colaborar com os povos indígenas como uma
“Antropologia da Ação” segundo um termo usado por Cardoso de Oliveira. Este termo
pode ser esclarecido dentro do contexto da antropologia que se faz no Brasil. Cardoso
de Oliveira ressalta “a inviabilidade de desassociar a aplicação da antropologia, como
um modo privilegiado de conhecimento do Outro, das condições socioculturais,
inclusive políticas, que propiciaram seu surgimento enquanto disciplina.” (1988, p.
149), acrescentando que “tal conhecimento ocorre num meio ideologicizado, do qual
nem o antropólogo, nem a disciplina logram escapar.” (1988, p. 149).
Peirano argui que
Os antropólogos são cidadãos de um determinado país, e eles
são responsabilizados pelos direitos das populações que
estudam. [...] Os antropólogos que estudam os índios estão
olhando para parte da população do seu próprio país. Isso não é
o caso de antropólogos que vão para o exterior e mais tarde
regressam aos seus países de origem (1991, p. 101).
Ao comparar o estilo de antropologia que se faz no Brasil com o estilo que é praticado
na Índia, Peirano afirma que: “No Brasil uma teoria com engajamento político levou ao
desenvolvimento do conceito de „fricção interétnica‟, [...] o engajamento político do
antropólogo sendo inegável” (1992, p. 247-248). Esta proposta é reforçada por Ramos
ao assegurar que “a antropologia brasileira sempre foi associada com uma preocupação
de agir em defesa dos direitos daqueles que têm sido a maior fonte de inspiração
antropológica, ou seja, os povos indígenas” (RAMOS, 2000, p. 172), acrescentando que
“antropólogos brasileiros adquiriram um gosto para o ativismo” (2000, p. 173).
Embora haja um consenso entre muitos/as antropólogos/as brasileiro/as de que um
engajamento político caracteriza o estilo de antropologia que se faz no Brasil, observase um compromisso político semelhante de antropólogos/as que trabalham em outros
Estados nacionais. Isto se torna muito claro entre os/as antropólogos/as que são
cidadãos do país em que realizam suas pesquisas que seriam países de colonização
europeia, onde o Estado se expandiu sobre as terras dos povos indígenas (CARDOSO
DE OLIVEIRA, 1988; 1998). Porém, a pesquisa politicamente engajada é também
praticada por antropólogos/as de “países de centro” da antropologia que realizam
pesquisas com povos indígenas no Brasil, no Canadá, na Austrália, e em outros países.
Vários/as antropólogos/as entrevistados na Austrália afirmam que os povos indígenas
no país exigem um ativismo político de etnólogos/as australianos/as que realizam
pesquisas em suas comunidades. Ao mesmo tempo, eles não fazem a mesma exigência
para antropólogos/as vistos como "pesquisadores/as estrangeiros/as", que vêm a realizar
pesquisas de campo na Austrália (BAINES, 1995). O resultado é que alguns/umas
destes/as últimos/as são capazes de realizar suas pesquisas sobre temas etnológicos
tradicionais (um professor de antropologia nascido na Austrália citou, como exemplo,
em 1992, o trabalho, baseado em pesquisas com povos indígenas australianos, da
antropóloga francesa Barbara Glowczewski), o que é mais difícil para os/as
antropólogos/as australianos/as que enfrentam demandas políticas constantes das
comunidades indígenas com quem realizam pesquisas. Apesar de diferenças, as
pesquisas de Glowczewski são tão profundamente engajadas politicamente quanto as de
muitos/as antropólogos/as nascidos/as na Austrália, no Brasil, ou no Canadá.
Apesar
do
compromisso
político
compartilhado
pela
grande
maioria
dos
antropólogos/as que realizam pesquisas junto a povos indígenas, podem surgir dilemas
entre este compromisso político com os povos indígenas com os quais realizam
pesquisas e uma identificação com objetivos nacionais, o que se torna claro no caso do
antropólogo egípcio, Hussein Fahim, que realizou pesquisas com os núbios no sul do
Egito. Na época da construção da grande barragem de Assuã no sul do Egito nos anos
1960, que provocou o deslocamento do povo núbio dos seus territórios tradicionais, ele
compartilhou “um sentimento de simpatia para com os núbios realocados – um
sentimento comum entre os pesquisadores estrangeiros durante o período de
levantamento” (1977, p. 82). Entretanto, depois de assumir um cargo no governo
egípcio, Fahim relata que passou a ter uma “compreensão melhor dos objetivos
nacionais” (1977, p. 83), e afirma que começou a sentir menos simpatia frente à recusa
dos núbios de tomar iniciativa para ajudar resolver seus próprios problemas. Acrescenta
Fahim que como antropólogo indígena, para quem os objetivos nacionais são de
primeira importância, ele passou a perceber a situação dos núbios dentro de um contexto
nacional. Fahim descreve que quando assumiu como antropólogo que trabalhava para o
governo, identificando-se com objetivos nacionais, passou a entrar em conflito direto
com os interesses dos núbios. Enquanto os núbios “não esperavam nada” de um
pesquisador estrangeiro que atuava entre eles na mesma época, “exigiam de mim um
retorno na forma de decisões sobre a política governamental” (FAHIM, 1977, p. 83).
Enquanto “eles sabem que ele (o antropólogo estrangeiro) não tem poder, no meu caso,
os núbios exigem de mim uma ação” (1977, p. 83). As exigências dos povos nativos
com relação a um “pesquisador indígena ligado ao governo” (1977, p. 83) obviamente
são diferentes das suas exigências em relação a um/a antropólogo/a visto/a como
estrangeiro/a.
Dilemas parecidos podem ser enfrentados, tanto por antropólogos/as
anglófonos/as que realizam pesquisas com povos nativos no Canadá, como por
antropólogos/as francófonos/as que trabalham com povos nativos no Quebec.
Alguns/umas antropólogos/as francófonos/as salientaram que, se eles são nacionalistas,
os/as anglófonos/as, maioria no poder do governo federal, são imperialistas, mesmo que
não sejam conscientes disso, e seu aparente apoio aos povos indígenas do Quebec só
existe em oposição ao movimento de independência quebequense.
Também podem surgir dilemas quando “interesses nacionais” entram em tensão
com o compromisso dos/as antropólogos/as para os povos indígenas com quem realizam
pesquisas, como no caso da construção de grandes projetos de desenvolvimento como
as usinas hidrelétricas de grande escala. Em resenha de uma coletânea de artigos
escritos por antropólogos sobre os impactos de usinas hidrelétricas na América do Sul,
Teófilo da Silva e Baines comentam que,
Observa-se, desse modo, uma lealdade frágil dos autorescolaboradores entre um nacionalismo caduco que visa o
“desenvolvimento econômico do país” e um compromisso com
os povos atingidos, em que vence o primeiro. Esta fragilidade
repousa na aceitação das usinas hidrelétricas e demais
empreendimentos como algo inevitável e irreversível a partir
dessa crença no desenvolvimentismo que tem favorecido os
interesses dos governos nacionais e das grandes empresas, sem
abrir lugar para a opinião, participação e controle dos povos
indígenas, quilombolas e outros povos tradicionais e locais
atingidos sobre os rumos destas mesmas obras e sem questionar
as consequências nefastas da construção de grandes usinas
hidrelétricas
para
essas
populações
e
seus
sistemas
socioambientais. (BAINES; TEÓFILO DA SILVA, 2009, p
293).
Os mesmos autores acrescentam:
Como tem sido observado em outros estudos (Viveiros de
Castro
&
Andrade,
1988;
Ribeiro
1994),
as
grandes
hidrelétricas, por exemplo, têm reproduzido um modelo de
desenvolvimento que aumenta as desigualdades sociais e em que
os governos tratam as hidrelétricas como obras para captar
recursos, colocando-as no mercado para as empresas investirem
com fins altamente lucrativos (BAINES; TEÓFILO DA SILVA,
2009, p. 293).
As tensões surgem tanto em estilos de antropologia em países centrais da disciplina
como em países onde a disciplina acadêmica de antropologia foi implantada
posteriormente, e se associam a perspectivas universalistas e particulares. Como ressalta
Adam Kuper, falando da perspectiva de um país central na disciplina, nos EUA, e
defensor de uma antropologia internacional e universalista, na antropologia,
Nosso objeto deve ser o confronto dos modelos correntes das
ciências sociais com as experiências e modelos dos nossos
sujeitos, enquanto insistimos que isso deveria ser um processo
recíproco [...]. Isso é, inevitavelmente, um projeto cosmopolita,
que não pode ser subordinado a qualquer programa político
(1995, p. 551).
Foi revelado que tendências para o nativismo observadas, por exemplo, na obra de
alguns/umas antropólogos/as na Grécia, e expressas na forma de uma postura crítica ao
hegemônico, têm sua origem no discurso hegemônico que está de moda na academia
americana. Kuper, citando Gefou-Madianou, que critica essas tendências nativistas,
observa que “É implícito nas suas obras que os antropólogos nativos gregos têm maior
reflexividade e capacidade de „verdadeiramente‟ compreender a cultura grega e as
categorias indígenas” (GEFOU-MADIANOU, 1993, p. 172-173 apud KUPER, 1995, p.
546). Kuper também cita Herzfeld (1986), que se dirige às limitações da tradição nativa
grega de antropologia, “mostrando sua subordinação a programas políticos, e sua
relação às vezes escamoteada ao discurso antropológico cosmopolita” (KUPER, 1995,
p. 547). Kuper compartilha com Herzfeld uma “visão cética de etnografia nativista, com
suas implicações nacionalistas – e às vezes até racistas” (KUPER, 1995, p. 547).
Kuper chama atenção para o perigo de debates a nível local, que podem conduzir a uma
“espécie de provincialismo etnográfico”, e coloca a pergunta: “Esgota-se a discussão ao
cruzar as fronteiras entre as tradições regionais de estudos?” (1995, p. 550). Ao
comparar a antropologia que se faz na Índia com aquela que se faz no Brasil, Mariza
Peirano comenta que
No nosso caso (do Brasil), entre o alto teor de politização local e
o fascínio pelo modismo internacional, o viés paroquial parece
surgir, estranhamente, na crença de que fazemos parte de um
Ocidente homogêneo, [...] desconhecendo o fato de que, no
momento em que se cruzam as fronteiras nacionais, o que era
aqui uma discussão teórica se transforma imediatamente em
simples etnografia regional" (1992, p. 229-230).
Considerações finais
Neste trabalho abordaram-se algumas maneiras em que antropólogos/as que realizam
pesquisas junto a povos indígenas no Brasil, no Canadá e na Austrália apresentam seu
trabalho e alguns dos dilemas enfrentados em relação às políticas indigenistas dos
Estados nacionais. Uma questão que surge é a identidade nacional ou étnica que o/a
antropólogo/a assume na sua relação com o Estado, repleta de ambiguidades e
contradições que caracterizam as situações de contato interétnico. A antropóloga Kirin
Narayan (1993), de mãe norte-americana e de pai indiana que realizou pesquisas na
Índia questiona a noção de “antropólogo nativo”, ao abordar as ambiguidades que ela
enfrentou em suas pesquisas na Índia e propõe a sua desconstrução pelo fato que,
segundo ela, tem suas raízes na situação colonial que “polariza antropólogos „nativos‟ e
antropólogos „autênticos‟” (1993, p. 672), além do fato de que os/as antropólogos/as
nacionais de qualquer país ou grupo étnico, ao praticar a disciplina de antropologia
estão se engajando em uma prática científica eminentemente ocidental, fato ressaltado
por Gustavo Lins Ribeiro (2006) que aborda a antropologia como uma cosmopolítica.
Conforme este autor,
A antropologia, desde seu começo, é uma cosmopolítica sobre
alteridade de origem ocidental. Se o reconhecimento de uma
determinada afirmação em antropologia depende da sua
validade, esta validade, em última instância, depende de sua
consagração por uma comunidade de argumentação que é
também uma comunidade cosmopolita. Até perspectivas
nativistas teriam que passar por esse tipo de processo
(RIBEIRO, 2006, p. 155).
Chamando a atenção para a utilidade da discussão de Cardoso de Oliveira sobre as
antropologias centrais versus as antropologias periféricas para problematizar as
desigualdades, Gustavo Lins Ribeiro ressalta a necessidade de transcender tais
desigualdades (RIBEIRO, 2006). Inspirado pelo movimento coletivo chamado World
Anthropologies Network (Redes de Antropologias do Mundo), da qual ele é membro,
Ribeiro afirma que esta rede busca contribuir para a articulação de uma antropologia
diversificada que seja mais consciente das condições sociais, epistemológicas e políticas
nas quais é produzida (RIBEIRO, 2006). O autor enxerga a antropologia como uma
cosmopolítica ocidental concernente às estruturas de alteridade que se consolidou como
disciplina acadêmica formal no século XX e que tem por objetivo “ser universal, mas
que, ao mesmo tempo, é altamente sensível a suas próprias limitações e à eficácia de
outras cosmopolíticas” (RIBEIRO, 2006, p. 148). Como um discurso político
cosmopolita relativo à importância da diversidade para a humanidade, é parte de uma
antropologia crítica da antropologia que descentraliza, re-historiciza e pluraliza a
disciplina, enfatizando o papel cada vez mais importante desempenhado por
antropologias não-hegemônicas na produção e na disseminação de conhecimento em
escala global.
Espera-se que as questões levantadas apontem para a complexidade do fazer
antropologia junto com povos indígenas que estão, na sua maioria, cada vez mais
impactados pelas políticas de Estados nacionais em um momento histórico em que
muitos/as indígenas tornaram-se protagonistas políticos/as (OLIVEIRA; IGLESIAS,
2002), inclusive antropólogos/as em diálogo com os diversos posicionamentos que
refletem a imersão de todos/as em meios ideologicizados, “do qual nem o antropólogo,
nem a disciplina logram escapar” (1988, p.149), citando novamente Cardoso de
Oliveira.
Referências
AMIT, Vered. “Just a little off-centre or not peripheral enough? Paradoxes for the
reproduction of Canadian anthropology”. In: HARRISON, J.; DARNELL, R. (orgs.).
Historicizing Canadian Anthropology. Toronto: University of Toronto Press. 2006, p.
266-274.
AZZAN JÚNIOR, Celso. Antropologia e Sociedade no Quebec: antes e depois da
Revolução Tranqüila. São Paulo: Annablume. 2004.
BAINES, Stephen Grant. “Primeiras impressões sobre a etnologia indígena na
Austrália”. In: CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto; RUBEN, Guilherme Raul. (orgs.),
Estilos de Antropologia. Campinas, São Paulo: Editora da UNICAMP. 1995, p. 65119.
BAINES, Stephen Grant. “Social Anthropology with Aboriginal Peoples in Canada”:
first impressions. Série Antropologia 197, Brasília: Departamento de Antropologia,
Universidade de Brasília. 1996.
BAINES, Stephen Grant. “Organizações Indígenas e legislações indigenistas no Brasil,
na Austrália e no Canadá”. Arquivos do Museu Nacional. (61-2), 2003, p. 115-128.
BAINES, Stephen G.; TEÓFILO DA SILVA, Cristhian. Resenha do livro: “Integração,
Usinas Hidrelétricas e Impactos Socioambientais”, organizado por Ricardo Verdum.
Brasília: INESC, 2007. Anuário Antropológico, v.2007-8, 2009, p.271 – 297.
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. Sobre o Pensamento Antropológico. Rio de
Janeiro : tempo brasileiro; Brasília: CNPq, 1988.
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. “Notas sobre uma estilística da antropologia”. In:
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto; RUBEN, Guilherme Raul. (orgs.), Estilos de
Antropologia. Campinas. São Paulo: Editora da Unicamp. 1995, p. 177-190.
CARDOSO DE OLIVEIRA, R. O Trabalho do Antropólogo. Brasília:Paralelo 15: São
Paulo: Editora UNESP, 1998.
FAHIM, Hussein M. Foreign and indigenous anthropology: the perspectives of an
Egyptian anthropologist. Human Organization: Journal of the Society for Applied
Anthropology, Vol. 36(1), 1977, p.80-86.
HOWES, David. 2006. “Constituting Canadian anthropology”. In: HARRISON, Julia;
DARNELL, R. Historicizing Canadian Anthropology. Toronto: University of
Toronto press. pp. 200-211.
KUPER, Adam. Culture, Identity and the project of a cosmopolitan anthropology. Man
(N.S.)29, 1994, p.537-554.
NARAYAN, Kirin. How native is a native anthropologist? American Anthropologist,
Vol. 95(3), 1993, p. 671-686.
OLIVEIRA, João Pacheco de & IGLESIAS, Marcelo Piedrafita. As demarcações
participativas e o fortalecimento das organizações indígenas. In: LIMA, Antonio Carlos
de Souza; BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.) Estado e povos indígenas: Bases
para uma nova política indigenista II. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria/LACED,
2002, p.41-68.
PEIRANO, Mariza G. S. The Anthropology of Anthropology: The Brazilian Case. Tese
de doutoramento, Harvard University, 1981. (Publicada na Série Antropologia Nº 110,
Brasília: DAN, UnB, 1991).
PEIRANO, Mariza G. S. Uma Antropologia No Plural: Três Experiências
Contemporâneas. Brasília, D.F.: Editora Universidade de Brasília, 1992.
RAMOS, Alcida Rita. Ethnology Brazilian Style. Cultural Anthropology, 5(4), 1990,
p.452-472.
RAMOS, Alcida Rita. Anthropologist as political actor. Journal of Latin American
Anthropology, 4(2)-5(1), 2000, p.172-189.
RIBEIRO, Gustavo Lins. “Antropologias Mundiais”: para um novo cenário global na
antropologia. Revista Brasileira de Ciências Sociais, (21), (60), 2006, p. 147-185.
SILVERMAN, Marilyn. “Dispatch I. Amongst „Our Selves‟”: A colonial encounter in
Canadian academia. Critique of Anthropology, (11), (4), 1991, p. 381-400.
SMITH, M. Estellie. “Comments” on Handler, R. “On sociocultural discontinuity:
nationalism and cultural objectification in Quebec”. Current Anthropology, Vol. 25,
Nº.1, 1984, p. 67-69.
STOCKING, JR., George W. Afterword: a view from the center. Ethnos, 47, 1982, p.
172- 186.
TROOD, Russell B. Australian Diplomatic Practice: Methods and Theory. Journal of
Asian and African Studies, XXV, 1-2 1990, p. 88-113.
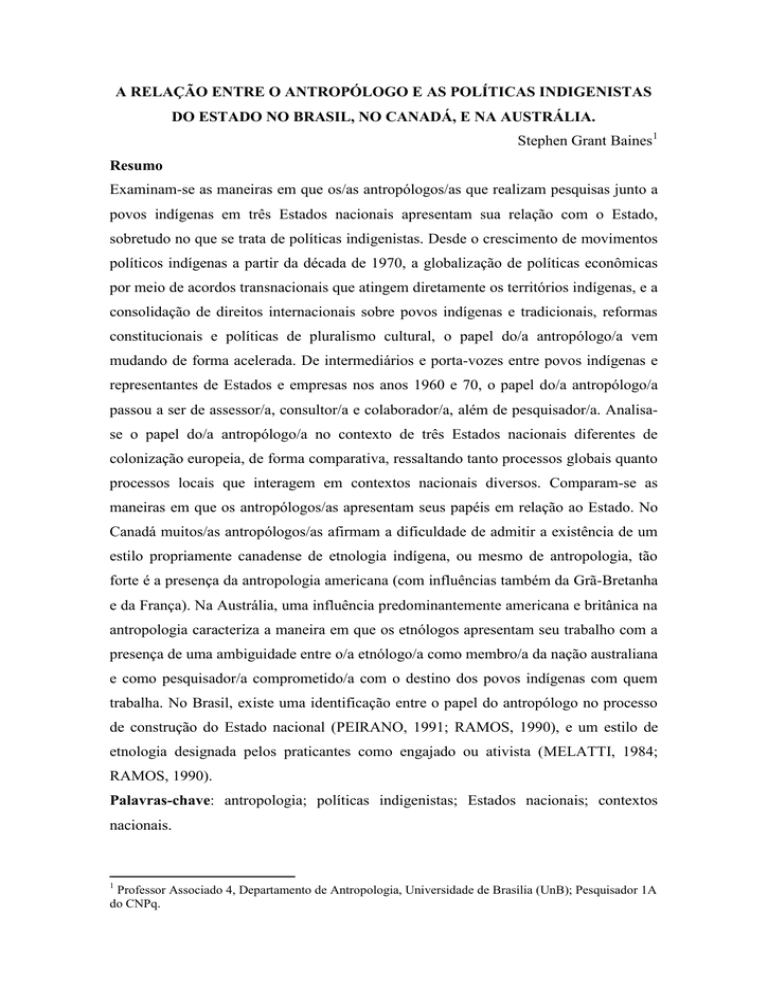
![Prova Discursiva [2ª Chamada] - Administração [para o público]](http://s1.studylibpt.com/store/data/002404746_1-5800314de091640fb66d887c62bc62e6-300x300.png)
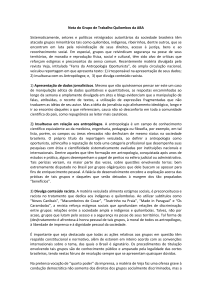




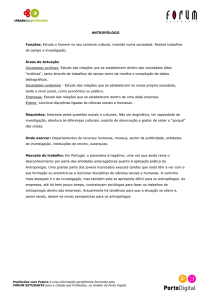



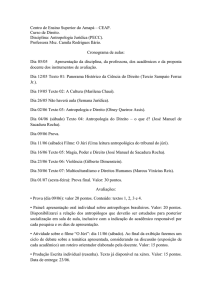
![Antropologia [Profa. Ol via]](http://s1.studylibpt.com/store/data/000329787_1-86f1de23ef4fc8c4b10e2491c0fd4e18-300x300.png)