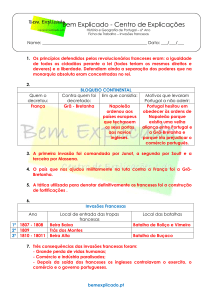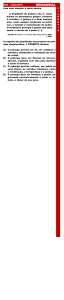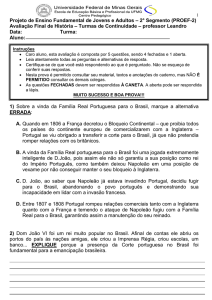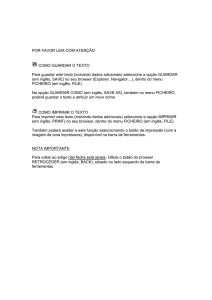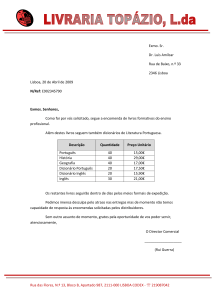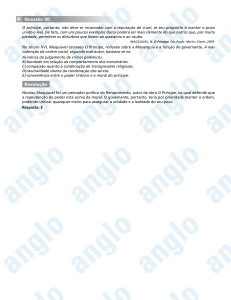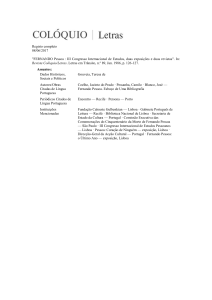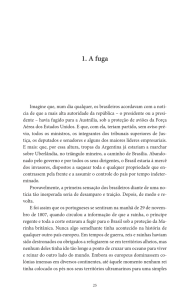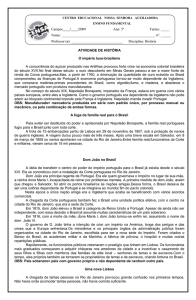2º CENTENÁRIO DAS INVASÕES FRANCESAS
(PARTE II)
A neutralidade portuguesa no conflito franco – inglês
Estratégia política e diplomática nas vésperas das invasões
A embaixada do general Lannes.
Pacificada a Europa, após dez anos de guerras, a paz de Amiens foi apenas uma trégua.
Esse curto período de tranquilidade aproveitou-o a França em fazer acreditar os seus novos
representantes diplomáticos nas Cortes até há pouco em litígio, procurando, obviamente, com
essas missões, alcançar o máximo de proveito para si.
Bonaparte, restabelecidas as relações com Portugal, enviava para a Corte de Lisboa,
como ministro da República francesa, o general João Lannes, comandante da guarda consular,
que muito se distinguira em Marengo tendo sido o vencedor da
batalha de Montebelo, nome que lhe veio a dar o título de conde.
Dada a amizade que existia (ou existiu?) entre Napoleão e
o novo representante da França junto do Governo de Portugal, e
o prestígio militar que este gozava, parecia, de facto, que a
nomeação de Lannes para Lisboa, representava uma prova de
alta consideração para com o nosso País.
No entanto, Thiers na sua «Histoire du Consulat» explica
a decisão pelo desejo de Bonaparte afastar de Paris o general.
Napoleão acabara de firmar a concordata com a Santa Sé, e
restabelecera por esse tratado em França a religião católica, sem sacrificar a liberdade de
consciência. Porém, o general organizou, entre os seus camaradas tenaz resistência, ou antes,
«más disposições». Lannes, Augereau, etc. educados na escola revolucionária, tendo por
conseguinte um grande ódio aos padres e aos emigrados, censuravam altamente, em linguagem
áspera, a atitude do governo, e diziam até inconveniências.
Podia, ainda, aduzir-se um autêntico feixe de razões que teriam determinado a escolha
de um militar totalmente estranho à diplomacia e seus usos. Por conseguinte, o envio de
Lannes para Lisboa, deve entender-se como um afastamento, derivando mais de uma vontade
de rejeição do que de um verdadeiro plano e o certo é que … a sua escolha não foi feliz para
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
1
Portugal como representante da França junto do Príncipe Regente, o que viria a ser sobeja e
lamentavelmente constatado.
Entretanto o Governo de Lisboa enviava também para Paris, como nosso ministro, D.
José Maria de Sousa, o morgado de Mateus, um dos mais hábeis diplomatas, que já fora
destinado a outras comissões e conhecia os assuntos que diziam respeito à política francesa.
D. José Maria de Sousa chegou a Paris em 7 de Abril de 1802 e a sua primeira
entrevista com Napoleão decorreu num clima de grande cordialidade, ainda que da parte do
Primeiro Cônsul houvesse motivo para, de algum modo, “torcer o nariz”: é que o Governo
português esquecia-se (ou fazia-se esquecido) em dar cumprimento ao estipulado no Tratado
de Madrid quanto à indemnização de guerra devida à França.
A inteligência e o tacto diplomático permitiram a D. José M. de Sousa moderar alguns
incidentes que se lhe iam deparando. O seu casamento com uma senhora francesa, uma mulher
distinta e que gozou de certa reputação literária, escreveu o célebre romance «Ourika» e era
íntima de Beauharnais, facilitou-lhe, sem dúvida, a sua missão na capital francesa, tendo sido
conhecida no mundo literário pelo nome de Madame de Sousa.
Complicação nas relações bilaterais luso-francesas. Afrontas ao Governo
português.
Lannes chega a Lisboa em 2 de Maio de 1802 e desde logo se convenceu que devia
impor a prepotência francesa no nosso País. Era um homem conflituoso, irascível, que apesar
do tratamento de excepção proporcionado, cometeu os maiores atropelos no que diz respeito à
sua conduta arbitrária e prepotente; arrogante, de expedientes infames, faltando-lhe estatura de
diplomata, exigia descaradamente que Portugal cedesse a todos os seus caprichos e imposições.
Completamente estranho ao uso da diplomacia, soldadesco, «entrou em Lisboa como um
verdadeiro temporal» e, muito em breve, cortaria relações com o nosso ministro dos
Estrangeiros, D. João de Almeida de Melo e Castro, que era acusado de fazer o jogo da
Inglaterra, bem como Rodrigo de Sousa Coutinho, ministro e secretário de Estado, presidente
do Real Erário, considerado como chefe do «partido inglês». E assim parecia ser, tanto mais
que nenhum deles escondia a sua simpatia para com a Grã-Bretanha e sofrendo também da
influência de Fitz Gerald, embaixador da Inglaterra em Lisboa, que odiava a França
Aberto o conflito com o ministro dos Estrangeiros, e com o propósito de intimidar e
violentar o Gabinete, Lannes só recorria directamente ao Príncipe Regente que, temendo o
impulsivo general, procurava satisfazer-lhe as exigências, quase sempre à custa do prestígio
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
2
nacional. Diz-se que, quando ia ao Palácio da Ajuda, não perguntava pelo Príncipe Regente ou
pelo Príncipe do Brasil; dizia, simplesmente: «M. du
Brésil está em casa?».
Aproveitando-se das imunidades diplomáticas,
chegou
ao
ponto
descaradamente,
de
um
estabelecer
verdadeiro
e
dirigir,
corpo
de
contrabandistas, recebendo, enquanto esteve em Lisboa,
três navios carregados, e quando partiu já estava quarto navio no Tejo.
De facto, Lannes não vinha senão para enriquecer, sabendo bem que não era apto para
as funções de que o encarregavam e, se veio, foi unicamente para ceder às instâncias de
Napoleão e Josefina, a qual para o convencer deu a madame Lannes um presente de 60.000
francos.
Semelhante comportamento do enviado francês não podia prolongar-se. As queixas do
Príncipe Regente referiam que Lannes exorbitava em desprestígio do seu país, e o governo
francês de modo nenhum podia conformar-se com a actividade do seu representante.
Repetidas vezes reclamámos, por intermédio do nosso ministro em Paris, dos actos que
entre nós praticava o representante da França. Porém, apesar das reclamações Portugal ia-se
curvando a todas as exigências do general Bonaparte, o que fez dizer a Pinheiro Chagas:
«Lannes praticava em Lisboa insolências que não ousaria praticar no principado do Mónaco,
porque a Corte portuguesa, pelo carácter do Príncipe Regente e pela fraqueza dos seus
ministros, chegara a um tal grau de abatimento e aviltamento que tudo se lhe podia fazer
impunemente».
Perante as constantes chamadas de atenção de D. José Maria de Sousa, Talleyrand
respondia: «não ser caso de preocupação do embaixador e da Corte portuguesa, e, movido
pelo rancor que tinha ao general, admirava-se de Lannes não fazer pior, prometendo substituílo». Assim informava D. José M. de Sousa, participando a Melo e Castro a opinião de
Talleyrand e acrescentando: «o homem é susceptível de interesse pecuniário». Isto significava
que Lannes considerava a sua estadia em Lisboa como ocupação dum lugar de alta
rentabilidade, acolhendo de bom grado os favores dos portugueses para moderar as suas
maneiras e a sua actividade, cobiçoso como era de ricas benesses.
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
3
Uma das pessoas contra quem o ministro
francês mais se movimentava, não disfarçando a sua
cólera, era o Intendente Geral da Polícia, Diogo Inácio
de Pina Manique. A principal razão do ódio que lhe
votava tinha a sua origem no impedimento que o
Intendente pusera, como Administrador Geral das
Alfândegas, ao despacho de grossa mercadoria
descaminhada aos direitos, e não da acusação de ter
prendido alguns franceses e mandado agredir um seu
ajudante como ele declarava.
Diogo Inácio de Pina Manique
Perante estas práticas, destinadas, em princípio, a combater o contrabando, comentava
Lannes que tais práticas não se aplicavam aos paquetes
ingleses que descarregavam no cais de Lisboa, quatro vezes
ao mês, as suas mercadorias. Esta não era a opinião de José
Maria de Sousa, o representante do Príncipe Regente em
Paris, que explica a Talleyrand numa nota de 29 de Maio:
«A maneira como os ministros estrangeiros são tratados
em Lisboa é indubitavelmente a mais vantajosa para eles
do que a de todas as cortes, visto que lhes entregam com
isenção de direitos, à chegada e durante todo o tempo de
residência, tudo o que reclamam e asseguram ser para seu
uso, desde que esses bens entrem pela Alfândega e sejam aí
examinados para evitar o abuso do contrabando, que sem o saberem, se poderia aí introduzir.
Os ministros de S. A. R. (Sua Alteza Real) nas cortes da Europa jamais pretenderam uma
reciprocidade deste privilégio de que não desfrutam».
Este texto enumerava, ainda, as diversas causas do descontentamento do futuro D. João
VI a respeito de Lannes: «reclamações e ameaças contínuas, desdém manifesto pelos usos e
regras de etiqueta, pretensão a não tratar a não ser com o Príncipe, sem passar pelos
ministros competentes».
Mesmo depois de aconselhado por Talleyrand, recomendando-lhe o apaziguamento,
Lannes não renunciava ao seu objectivo imediato: a repetida exigência da demissão dos cargos
que ocupava, Intendência e Alfândega, declarando explicitamente, que não admitia meio termo
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
4
na alternativa que propusera, isto é, ou que o Intendente fosse demitido dos dois referidos
cargos, ou que ele, general Lannes, deixaria Portugal «para cujo efeito pedia desde logo os
passaportes, acrescentando que a sua residência em Lisboa nem lhe convinha por maneira
alguma, nem lhe sendo agradável, ele a deixava em virtude da autorização, que tinha do
primeiro cônsul para se retirar, quando muito bem lhe parecesse».
A insistência na demissão de Pina Manique levou o Príncipe Regente a ordenar ao
magistrado que fizesse uma alegação por escrito, uma espécie de defesa contra as alegações
que Lannes lhe tinha dirigido. Assim procedeu, remetendo-se a referida defesa ao enviado da
França, acompanhada por uma nota redigida «nos termos mais atenciosos e lisonjeiros
possíveis». Todavia, esta atitude de consideração do Príncipe Regente e demonstrativa da
deferência que a Corte de Lisboa tinha pelo representante da República francesa, foi
completamente inútil.
Não houve esforços que se não empregassem para que ele desistisse do seu projecto, ou
ao menos para que tivesse audiência de despedida. Efectivamente, o nosso Governo ainda
pretendeu obstar a tão estranho procedimento, cujo resultado não podia deixar de ser
desagradável, pondo a Nação em sobressalto, e em dúvida para com a França a boa amizade
que o Governo português tanto desejava manter com ela. Os ministros visitaram-no, o Príncipe
envia-lhe o seu retrato enfeitado a diamantes e «armas muito belas» e, por intermédio do
visconde de Balsemão, instava para que comparecesse na audiência de despedida.
O Governo português pretendendo esgotar todos os meios possíveis para suspender a
partida do ministro francês, ainda recorreu à mediação do Núncio Apostólico a fim de
reconsiderar a sua atitude, ao que Lannes respondeu «com os excessos da sua ira, dizendo que
já então não ficaria se não fosse o Intendente demitido dos seus empregos por um decreto, que
em nada lhe fosse airoso».
A tanto não anuiu o nosso Governo. Lannes, irritado, pediu em seguida que lhe fossem
dados os passaportes dentro de vinte e quatro horas, acabando por sair de Lisboa no dia 10 de
Agosto, sem ter tomado audiência de despedida.
Dois dias antes, a 8 de Agosto, o Príncipe D. João escrevia ao Cônsul para lhe dar conta
da sua estupefacção: «Os sentimentos de confiança e amizade que sempre tive o prazer de
manter convosco, não me deixam a liberdade de me dispensar de vos comunicar a partida do
general Lannes que acaba de deixar a minha corte duma forma inusitada e que eu não devia
esperar depois dos testemunhos públicos e constantes do meu afecto pelo governo francês e os
sinais de consideração e estima pessoais que me esforcei por prodigalizar ao seu ministro
plenipotenciário».
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
5
Reacção e exigências de Napoleão Bonaparte.
A vergonhosa situação desencadeada pelo general Lannes parece não ter agradado a
Napoleão, se considerarmos o facto do enviado francês ter sido afastado de Paris durante
algum tempo. Porém, não será de rejeitar que esta atitude pretendesse, apenas, fazer acreditar
na imparcialidade do Primeiro Cônsul, ou / e tivesse sido tomada para “português ou inglês
ver”, visto que, como se verificará, passados poucos meses, a 12 de Março de 1803, Lannes
está novamente em Lisboa na qualidade de plenipotenciário do governo francês.
Ao futuro Imperador nada interessava a muita ou pouca razão que assistia ao Príncipe
Regente D. João nas queixas que lhe fazia contra os desmandos, grosserias e afrontas do
general. Perante Napoleão, o único delito de Lannes foi ter abandonado o seu cargo sem ordem
do governo francês. As fraudes, as incorrecções, as humilhações infligidas ao nosso País, que o
acolhera com excessiva deferência, não tinha qualquer valor no comportamento do seu
enviado. Napoleão odiava Portugal pela sua fidelidade à aliança inglesa, por dispor de óptimos
portos de que a esquadra britânica se servia livremente e, ainda, porque uma esquadra
portuguesa contribuíra para a derrota francesa no Mediterrâneo.
Napoleão iria aproveitar-se da situação que lhe era
proporcionada pela precipitada retirada de Lannes, com a
finalidade de substituir, em Lisboa, a influência francesa à
influência inglesa. Assim, alegando que o ministro dos
Estrangeiros, D. João de Almeida de Melo e Castro, era o
chefe do «partido inglês», além de que concedera os
passaportes ao ministro francês e ter publicado, por meio de
uma circular ao corpo diplomático, o que se tinha passado,
exigia a demissão de D. João de Almeida.
Em 14 de Setembro, dá, nesse sentido, instruções a
Talleyrand: «deve-se censurar Lannes, que faltou a todos os usos e ao dever de funcionário
público, e fazê-lo lembrar disso; deve-se pedir a demissão de Almeida e comunicar a Sousa
(nosso embaixador em Paris) que esta exigência será apoiada por uma declaração de guerra,
se tal for necessário…»
Naturalmente preocupado, D. José Maria de Sousa esforça-se por demonstrar a
Talleyrand a injustiça de se exonerar um ministro que, para mais, cumulara o representante de
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
6
França das maiores atenções, ao mesmo tempo que pede, de imediato, uma audiência a
Napoleão para tratar directamente do assunto. Segundo o relato oficial, o Primeiro Cônsul
insistiu tenazmente na demissão do referido ministro e, visando igualmente o próprio
Intendente Pina Manique, tornava nulos todos os argumentos do nosso representante em favor
do Governo português: «… É portanto, essencial manter a boa harmonia e paz, que todo o
mudo deseja… Não acredito que Portugal queira uma ruptura com a França; mas vejo que em
Lisboa se obrou como se a quisessem, e que os franceses são lá bastantemente maltratados.
Olhai: sua alteza real deve também desviar de si aquele administrador-geral das alfândegas,
porque na verdade muitos negociantes há no Havre de Grâce, aliás boas pessoas e sensatas,
que me dirigiram queixas, por terem sido vexados em Lisboa e tratados por diferente modo
dos ingleses e, finalmente, como se Portugal estivesse ainda em guerra com a França. Isto não
é bom; porque nós tratamos aqui muito bem os portugueses… Estas duas nações devem ser
amigas; é isto o que convém a ambas elas, porque aqui não há Bourbons que Portugal possa
temer. E, por certo, ainda que sejamos aliados da Espanha, jamais consentiríamos que ela
invadisse Portugal, coisa a que muito nos oporíamos, protegendo-o com todas as nossas
forças. Em vista disto, é necessário reconciliarmo-nos, sendo uma ofensa para nós que Mr. de
Almeida nos queira desunir».
A isto replicou D. José Maria de Sousa, afirmando que o Príncipe Regente estimava em
extremo a amizade da França, não querendo por modo algum ofendê-la, ao que Napoleão
retorquiu:
«Assim será; mas é duro que, por causa de uma circular de D. João de Almeida, as
gazetas estrangeiras dêem o ministro de França em Portugal como sendo o primeiro dos
contrabandistas. Isto é insuportável, mas não era assim que devia proceder uma nação
amiga… Mr. de Almeida é muito exagerado e muito violento: ele parece ter feito um estudo
para publicar o que devia ficar em segredo. Quanto ao administrador das alfândegas, eu não
falo senão como de um homem inimigo dos franceses, e de quem todo o mundo no Havre faz
queixas; mas não peço a destituição de um empregado subalterno. O príncipe regente
reprimirá os seus abusos, que provavelmente desconhece, o que também sucede em toda
aparte… Comunicai, pois, à vossa corte que eu desaprovo a conduta do general Lannes, e que
não voltará lá. Na verdade, estou arrependido de o ter para lá mandado; julguei que o seu
carácter ardente o não levasse tão longe. Ainda que o estime, acho má a sua conduta, mas lá
também obraram diferentemente com ele, desde que, por loucura, lhe enviaram daqui pela
posta a carta não cifrada em que eu não o apoiava e lhe ordenava de restabelecer a
correspondência…Enviarei um outro ministro com quem vivereis em bem. Que o príncipe
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
7
regente exonere Mr. de Almeida do ministério, não o pondo em desgraça, o que de certo não
peço. Pode ser colocado em qualquer outro lugar, podendo-se fazer isto em segredo como sua
alteza real julgar mais conveniente. Que fora do ministério não haja pessoa que saiba os
motivos disto, porque pela minha parte nada direi, guardando um profundo silêncio. Mas é
necessário que eu seja informado de que isto foi executado, e então os negócios tomarão o seu
curso… Espero, pois, que se não optará por uma ruptura.»
Ao fim e ao cabo as imposições humilhantes de Napoleão, que não eram mais que um
«ultimatum», foram comunicadas para Lisboa em 17 de Novembro de 1802.
No dia 10 de Janeiro de 1803 recebeu D. José Maria de Sousa os despachos de Lisboa
e, juntamente com eles, uma carta do Príncipe Regente para o Primeiro Cônsul que lhe foi
entregue no dia seguinte. Lendo-a na mesma audiência que lhe foi entregue, D. João resistia e
afirmava que estava em jogo a sua dignidade e o crédito do País, visto que o Cavaleiro de
Almeida obedecera a ordens suas.
Bonaparte, depois de ler o documento, irritado, disse para o nosso embaixador: «Tudo
são demoras e retardamentos de conclusão, quando eu tinha dito positivamente que queria que
fosse destituído M. de Almeida, e que o primeiro correio me trouxesse a notícia de tudo ficar
feito. Não o fizeram, não quero saber de mais nada do que tinha pedido, pois que nada se fez.
Vou dar ordens ao ministro das relações exteriores (Talleyrand), para que ordene ao general
Lannes que, imediatamente, parta para Lisboa, para tornar a exercer as funções do seu antigo
posto».
Não recebendo a resposta conforme ao que exigira, não esteve com meias medidas e,
sem mais cerimónias, despediu-se do ministro português, demonstrando grade irritação,
declarando que a sua resolução era irrevogável.
E assim foi. De facto, resolve, apesar do aviso em contrário de Talleyrand, «a soldo de
Sousa», reenviar Lannes para Lisboa, o mais rapidamente possível: «Creio os seus serviços
úteis em Portugal», escrevia a Talleyrand a 12 de Janeiro de 1803. Insistindo nas suas
exigências na resposta ao Príncipe Regente, a 14 de Janeiro, desejava, além do mais, que
ficaria satisfeito se acolhessem o seu enviado «de maneira a fazer-lhe esquecer os desprazeres
que alguns ministros lhe fizeram passar».
Não havia dúvida que Napoleão pretendia provocar atritos e, como já se havia
verificado anteriormente, ninguém melhor o podia fazer do que um homem sem formação
diplomática, sem princípios, nem escrúpulos de consciência, como o general Lannes.
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
8
Logo que ficou decidida a partida de Lannes para Lisboa, o embaixador português
escreveu a D. João de Almeida, aconselhando o Governo português ao procedimento a ter com
tão insolente criatura:
«Lannes vai partir imediatamente para Lisboa, e terão aí o desgosto de o ver…O mais
essencialmente necessário é não lhe mostrarem medo, tratá-lo com uma civilidade muito séria
e com uma firmeza inabalável. Usar para com ele de toda a distinção própria a um ministro
estrangeiro; mas sem diferença dos outros em coisa alguma. Assim se me é lícito acrescentar,
convirá que sua alteza real o receba somente nas audiência públicas, e nunca conceder-lhe
particulares, nunca tratar com ele, sem ser pelo canal do ministro. Isto me parece muito
importante, aliás considero tudo perdido, e que este homem virá a romper a harmonia…Ainda
sem contemplar a insinuação do primeiro cônsul sobre o Manique, me parece prudente afastálo, antes de chegar o general Lannes, do lugar da alfândega, e isto por prudência, para os não
por em colisão. Como o Manique está velho, pode fazer-se isso com decência, e de maneira
que não pareça receio de Lannes ou insinuação daqui».
Efectivamente, perante tais circunstâncias, o que se aconselhava ao Governo português
como mais conveniente era adoptar uma linha de conduta que pudesse evitar tudo quanto fosse
susceptível de trazer graves confrontações com o general, de quem muito se temia, olhando ao
procedimento que tivera da primeira vez na Corte de Lisboa.
Assim, o Príncipe Regente, numa atitude de fraqueza e / ou conveniência, sem outras
alternativas, e antes de Lannes chegar a Lisboa, demitiu Pina Manique do lugar de Director da
alfândega pelo seguinte decreto:
«Havendo-me representado o doutor Diogo Inácio de Pina Manique, do meu Conselho,
Desembargador do Paço, e Intendente Geral da Polícia da Corte do Reino, que os muitos e
laboriosos lugares e comissões que dele tenho confiado e a sua idade lhe não permitem
atender, como sempre praticou, com o cuidado e zelo que necessita a importante
administração geral da alfândega do açúcar, e tendo consideração ao referido, e tê-lo
promovido ao lugar de chanceler mór do Reino, hei por bem deferir-lhe, aliviando-o da dita
administração geral da alfândega do açúcar vencendo os mesmos ordenados, que levava na
folha da dita alfândega e as tiras e marcas. O conselho da fazenda o tenha entendido e faça
executar com os despachos necessários. Palácio de Salvaterra de Magos em 14 de Março de
1803».
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
9
Regresso do general Lannes a Lisboa e… à insolência. Paz precária.
A 8 de Fevereiro de 1803, Lannes, agora apoiado claramente por Napoleão, viajou para
Rochefort de onde embarcou a bordo de uma fragata de guerra francesa, tendo chegado a
Lisboa a 12 de Março.
Desde o seu regresso, Lannes dá novamente nas vistas por via de uma conduta
inconveniente, chegando a Lisboa ainda mais arrogante do que partira, porquanto sentia bem a
nossa fraqueza, demonstrando em todos os seus actos o maior desprezo pelo país onde estava
acreditado. Diz Eduardo Brazão que «o representante da França considerava-se como um
verdadeiro procônsul do seu país em Portugal».
De facto, assim que chegou a Lisboa mandou desembarcar e conduzir para sua casa
todas as fazendas que trouxe consigo sem passar pela alfândega, fechando-se, mais uma vez, os
olhos a tal excesso, sem que nada se lhe dissesse, não obstante serem até proibidas muitas
daquelas mercadorias.
A demissão de Pina Manique do lugar de Director Geral das Alfândegas estava longe
de o satisfazer, porquanto teria dito a um ministro estrangeiro que o havia fazer demitir do
lugar de Intendente da Polícia. E mais disse, que estava decidido a pedir outras demissões,
pretendendo referir-se a D. João de Almeida de Melo e Castro, ministro dos Estrangeiros e do
Presidente do Real Erário, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, «enfim de todos os homens afectos
ao partido inglês», na certeza de que em caso de recusa partiria, novamente, dentro de vinte e
quatro horas para fora de Portugal, sem pedir audiência de despedida.
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
10
Logo, após, a sua entrada em Lisboa, recusa-se a cumprir o protocolo para as
audiências, anunciando a sua chegada
por escrito ao Ministro do Reino em
vez de se dirigir, como era costume, ao
ministro
dos
Estrangeiros.
Como,
naturalmente, lhe tivesse recusado os
ofícios, foi ele próprio entregá-los a
Queluz para lhe não serem rejeitados,
numa ocasião em que D. João tinha
vindo para Lisboa. Perante a firme
decisão de se lhe devolverem os despachos que não fossem enviados directamente ao ministro
dos Negócios Estrangeiros, depressa verificou que não havia forma de corresponder-se com o
Governo senão através daquele ministro, razão porque se resolveu a mandá-los pelas vias
competentes.
Lannes não só não cumpria as regras da diplomacia como sujeitava D. João a suportar
situações humilhantes, nomeadamente, nas audiências que lhe concedia, só porque se tratava
de uma potência com poderes sem limites sobre os pequenos estados.
Logo na audiência da recepção, em que foi admitido pelo Príncipe Regente, indo contra
todas as etiquetas, e numa falta de respeito pela Corte de que era hóspede, aproveitou a ocasião
para fazer um discurso insultuoso e violento, acusando o Governo português de servir com
parcialidade a Grã-Bretanha, formulando com a maior insolência e os mais grosseiros termos
uma série de queixas e ameaças descabidas e extemporâneas.
O Príncipe Regente, intimidado com o despropósito do embaixador, tentou com calma e
cordialidade aconselhá-lo a pedir que formulasse por escrito todas as suas queixas para serem
apreciadas com justiça, o que prometeu, mas nunca cumpriu.
Pouco tempo depois, conseguiu uma segunda audiência do Príncipe, onde «mais
desabrido do que nunca», proferiu, ou vociferou, queixas e invectivas contra o ministério
existente, não se tendo coibido de dizer que todos os ministros se achavam vendidos à
Inglaterra, sendo inimigos declarados da França. Logo de seguida pediu as demissões já
referidas, D. João de Almeida de Melo e Castro e Rodrigo de Sousa Coutinho e a de «todos os
mais indivíduos que lhe passaram pela cabeça», esperando ver atendidas imediatamente as
suas reclamações.
Pacientemente, D. João respondeu-lhe que «os seus ministros eram todos portugueses,
e portanto natural e constantemente dirigidos pelo interesse do seu soberano e do seu país, e
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
11
por conseguinte isentos de toda a influência estrangeira nas suas opiniões e conduta». O
Príncipe Regente repetiu-lhe pela última vez a necessidade de o formular por escrito, uma vez
que esta era a prática de todas as Cortes para se tratarem negócios internacionais e que «esta
forma era absolutamente necessária, e em semelhante mais do que nunca, para assim se
prevenirem as desinteligências a que se estava exposto nas questões e respostas verbais». A
isto replicou, irritado: «semelhantes negócios não são de natureza a serem postos por escrito».
Tudo isto, e muito mais, foi transmitido a Napoleão Bonaparte, dando motivo a que D.
José Maria de Sousa lhe pedisse definitivamente a remoção de Lannes. A este pedido o
Primeiro Cônsul deu ordem a Talleyrand que respondesse às reclamações do representante
português apenas verbalmente, nada de declarações escritas que pudessem tornar-se
comprometedoras. Talleyrand ia entretendo D. José Maria de Sousa com meros paliativos sem
conduzir a alguma coisa de concreto, até que por fim, o diplomata obteve do próprio Bonaparte
a seguinte consideração: «que os ministros do Príncipe Regente eram todos ingleses e
antifranceses; que Mr. de Almeida era todo inglês; e finalmente que as circunstâncias deviam
desculpar os erros, que o general Lannes pudesse ter cometido; mas que o ponto mais
importante, depois daquela ruptura, era saber a decisão que Portugal tomaria naquela
conjuntura». Que conjuntura?
Portugal entre dois fogos
A paz de Amiens entre a França e a Inglaterra, em que os interesses portugueses não
foram, nem de perto, nem de longe, salvaguardados, não trouxeram tranquilidade à Europa.
Os círculos internacionais aperceberam-se facilmente de que Napoleão Bonaparte não
quisera senão obter uma pausa na luta, para reorganizar o seu prestígio interno de salvador da
República e da Pátria e proceder depois à execução do plano que, engrandecendo a França,
satisfizesse, igualmente, as suas ambições pessoais.
A paz de Amiens foi para a Europa apenas uma trégua, tanto mais que, pouco depois,
em Maio de 1803, a França e a Inglaterra viriam a envolver-se novamente em litígio.
Conquanto a ocupação de Malta tivesse constituído o “pomo da discórdia”, o contencioso entre
as duas grandes potências apontava para objectivos de maior envergadura. Na realidade, o que
estava em causa era a disputa pela hegemonia europeia.
Pressentiam-se acontecimentos políticos graves, que punham em jogo a estabilidade e o
futuro da Nação portuguesa. Perante tais circunstâncias Portugal teria que definir posições em
tão difícil conjuntura.
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
12
Depois de termos conseguido que a França nos aceitasse a neutralidade no conflito em
que a República se envolvera com as outras Potências europeias, conflito que, afinal, só veio a
terminar em Waterlow, o Príncipe Regente pôs todo o empenho em manter essa neutralidade.
O futuro D. João VI não deixava de tentar tudo o que lhe era possível para manter as melhores
relações com a França e a Espanha, embora o equilíbrio dos laços de amizade com estes dois
países fosse dos mais difíceis em virtude dos tratados de aliança luso – britânicos, velhos de
séculos e da posição assumida pelo Gabinete londrino, de declarado inimigo da França.
De modo algum nos conviria sair de uma política de neutralidade negociada à custa de
pesada indemnização, além de que a situação militar do país não permitiria repelir os
frequentes atropelos de que Portugal era vítima e, muito menos, garantir com possibilidade de
êxito a defesa nacional em caso de ataque: «vivia-se em Portugal sob a influência da fraqueza
do tesouro, copiosamente sangrado, já pelas despesas da guerra, já e sucessivamente por
elevadas somas para peitas e, mais ainda, para pagamento de anuidades das grossas
indemnizações à França».
A própria concessão e o reconhecimento da neutralidade portuguesa, que representava o
sossego da Nação foram obtidos à custa de quantiosas “luvas” e duma importante
indemnização, de que a França exigia rigorosamente o pagamento das prestações, por vezes até
com antecipação.
Dificuldades de toda a ordem punham em “xeque” a estabilidade da política externa
nacional, subordinada ao procedimento desleal de Madrid, às insolências e ameaças da França
e ainda a ter que suportar o despotismo das exigências dos interesses britânicos e as
infidelidades da Corte londinense. Portugal situava-se entre dois fogos:
Optando pela Inglaterra, como anteriormente foi sublinhado, garantia a defesa dos seus
portos, mas tornava-se vulnerável à invasão por terra pelos franceses; alinhando no bloco
francês, garantia a protecção das fronteiras, mas os seus portos e domínios coloniais ficariam
expostos ao poderio naval britânico.
Assim, a solução mais viável e a única conveniente seria pronunciar-se pela
neutralidade e defendê-la a todo o custo e… que custo!
No dia 12 de Maio de 1803 os embaixadores dos dois países em litígio abandonavam os
respectivos postos e, cinco dias depois, a 17, a Grã-Bretanha declarava formalmente guerra à
França. E como os dois adversários estavam a postos, a guerra iniciou-se de imediato.
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
13
De novo na mais embaraçosa situação, este acontecimento exigia do nosso País uma
atitude definida. Portugal decidiu-se, como não podia deixar de ser, por uma política de
neutralidade para com as duas potências em litígio, embora Napoleão ainda tentasse alcançar o
apoio do Príncipe D. João que lhe foi recusado, tendo a Inglaterra acordado nessa neutralidade
que o nosso País desejava manter.
Procurando com todo o empenho ficar neutral no meio de uma luta que se previa
prolongada e de consequências incalculáveis, o Príncipe Regente, logo nos primeiros dias de
Junho, proclamou a neutralidade do nosso País, conforme, pouco depois, se publicou na
«Gazeta de Lisboa»:
«Tendo sido o constante objecto dos meus paternais
desejos
e
das
minhas
reais
disposições
manter
inviolavelmente as relações de paz, que felizmente
subsistem entre mim e as potências minhas aliadas e
amigas, e convindo nas presentes circunstancias da
Europa estabelecer os princípios, que devem regular o
inviolável sistema de neutralidade, que me proponho fazer
observar, quando suceda, o que Deus não permita,
suscitar-se a guerra entre potências minhas aliadas e
amigas; tendo em vista quanto importa ao bem da
humanidade e tranquilidade dos meus domínios e vassalos remover todas e quaisquer
contestações que poderiam resultar da falta de conhecimento das regulações, tendentes a
obter os fins que me proponho: sou servido declarar que os corsários das potências
beligerantes não sejam admitidos nos portos dos meus estados e domínios, nem as presas, que
por eles, ou por naus, fragatas, ou por quaisquer outras embarcações de guerra se fizerem,
sem outra excepção, que a dos casos em que o direito das gentes faz indispensável a
hospitalidade; com a condição porém, que nos mesmos portos se lhes não consentirá vender
ou descarregarem as ditas presas, se a eles nos referidos casos, nem demorarem-se mais
tempo que o necessário para evitarem o perigo ou conseguirem os inocentes socorros que lhes
forem necessários, instaurando assim e pondo em todo o seu vigor a observância do decreto
de 30 de Agosto de 1780, pelo qual se determinou a mesma matéria. O conselho de guerra o
tenha assim entendido e o faça executar, expedindo logo as ordens necessárias aos
governadores e comandantes das províncias, fortalezas e praças nesta mesma conformidade.
Palácio de Queluz, em 30 de Junho de 1803. Com a rubrica do príncipe regente nosso
senhor».
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
14
Julgo que D. João (ou o Ministério) estava plenamente convencido que as coisas não
eram assim tão fáceis pretendendo, apenas, demonstrar o seu desejo de tranquilidade no País,
através de uma proclamação que a França contestaria, ou não daria a menor importância. O
Príncipe Regente punha, e Napoleão… dispunha. Vejamos.
Obviamente, Bonaparte não estava resolvido, assim de pé para a mão, a conceder a
Portugal o carácter de potência neutral sem novas contrapartidas, pois considerava que desde o
começo da nova guerra entre a França e a Inglaterra, o nosso País era obrigado a fechar os seus
portos à Grã-Bretanha, segundo o estipulado no Tratado de Madrid. De facto, achando-se rota a
paz de Amiens, entendia que as coisas tinham regressado ao ponto de partida, subsistindo,
portanto, as antigas disposições, que ligavam as diferentes potências com a França. Assim, a
guerra passava a ser a mesma que era antes daquela ruptura, e então não podia haver meio
termo para Portugal entre fechar os portos aos ingleses, ou continuar em guerra com a França.
Deste modo, Portugal via inteiramente anulados os grandes e pesados sacrifícios que a
paz de Badajoz e Madrid lhe tinham custado, colocando-nos no mesmo dilema em que, durante
anos a fio, nos vimos envolvidos, isto é, ou continuar a aliança com a Grã-Bretanha,
constituindo-se Portugal, por este motivo inimigo da França, ou vice-versa, de romper a
referida aliança para se declarar amigo da França e inimigo da Inglaterra.
Posteriormente, Napoleão conceder-nos-ia a neutralidade se lhe pagássemos dois
milhões de francos por mês enquanto durasse a guerra, acrescentando que, se o Governo
português se recusasse a este acordo, um exército francês invadiria Portugal, com a
colaboração da Espanha. Ora, a Portugal era impossível satisfazer tão excessiva soma, não
podendo, assim, pagar o pesado tributo que Napoleão lhe exigia.
Viragem na política externa
O Governo português receando o perigo iminente que o ameaçava (e tinha razão de
sobra para isso), pois era evidente que a França, de um momento para o outro, poderia enviar
os seus exércitos contra Portugal, resolveu requerer ao Gabinete londrino uma informação clara
e concreta do que pensava da nossa neutralidade e sobre os socorros com que devíamos contar,
se não pudéssemos fugir à contingência da França nos declarar guerra.
O nosso ministro em Londres, D. Domingos António de Sousa Coutinho, obteve em
resposta de Lord Hawkesbury que a Inglaterra se regozijava com a nossa situação de
neutralidade, garantindo que ela seria absolutamente respeitada pela sua parte, declarando ser
sua intenção não somente respeitar aquela neutralidade e também já ter dado ordens rigorosas a
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
15
esse respeito aos seus oficiais… Além disto, prometia expedir, como de facto expediu, um
correio ao ministro inglês em Madrid, fazendo saber ao governo espanhol que «Sua Majestade
Britânica considerava a entrada de quaisquer tropas francesas em Espanha como uma
declaração de guerra daquele reino à Grã-Bretanha, devendo o referido ministro entender-se
também com o de Portugal naquela Corte sobre as providências a tomar para conjurar o
perigo». A respeito dos socorros militares, quando porventura a França declarasse guerra a
Portugal, S. M. B. não podia, no caso em que o seu exército se encontrava, decidir sobre tal
assunto, enquanto não fossem postas em prática as providências militares, que haviam
determinado para a defesa dos seus próprios domínios. Sobre o subsídio pecuniário, que
também era referido, seria impossível que o governo inglês pudesse dar uma resposta definitiva
sobre tal assunto, enquanto não se fixassem definitivamente as finanças do país para o ano que
então corria. Finalmente, a rematar, em atitude de desinteresse pela sorte do seu aliado, lord
Hawkesbury transmitia ao nosso embaixador, Domingos Sousa Coutinho: «Tendo-vos
comunicado os sentimentos do governo de Sua Majestade nos pontos mais essenciais, que
contém o vosso memorandum, resta-me só pedir-vos que, comunicando-os à vossa Corte,
queirais acompanhá-los com a expressão, que Sua Majestade justamente espera, que o
governo de Portugal se não fie somente nos auxílios externos; mas lembrando-se que a
segurança de cada estado deve depender essencialmente dos seus próprios esforços, não
perca tempo em preparar aquelas medidas internas, que possam pô-lo em estado de repelir
qualquer agressão hostil, que contra ele se intente».
É dentro deste quadro que a decepção provocada pela posição inglesa poderá, em parte,
explicar a viragem para a política francesa, já que a Portugal, sentindo-se humilhantemente
desamparado, não lhe restaria qualquer outra alternativa, que não fosse a de interceder junto de
Lannes para que Bonaparte nos reconhecesse e respeitasse a neutralidade.
Com efeito, perante este (mais um) abandono da Grã-Bretanha, e uma vez verificada a
completa impossibilidade do Governo português poder resistir por si só a uma nova coligação
entre a Espanha e a França, foi necessário contemporizar com Lannes, dando-lhe sobre a Corte
de Madrid a preferência na negociação da nossa neutralidade, esperando Portugal que, com
essa “distinção”, o fizesse ser mais moderado em relação aos nossos interesses. Porém, não
aconteceu assim nas primeiras conversações entabuladas sobre a questão da neutralidade.
Lannes apresenta queixas pelo facto de se encontrarem navios de guerra ingleses nos
portos do Reino e que o duque de Sussex, filho do rei de Inglaterra, alimentava conluios
subversivos na própria Lisboa. A 22 de Agosto, reclamando, de modo brusco, os passaportes,
ameaça fazer logo entrar na Espanha o exército francês, que estava em Baiona, aguardando
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
16
apenas as suas ordens para se pôr em marcha. É imediatamente recebido em Queluz e, nesse
mesmo dia, 23 de Agosto de 1803, consegue que D. João de Almeida Melo e Castro
abandonasse o Governo «como preliminar indispensável, dizia Lannes, para o Príncipe
Regente se congraçar com Napoleão, sem todavia dizer como». Esta demissão foi, sem perda
de tempo, comunicada, por ofício de 25 de Agosto, para Paris a D. José Maria de Sousa,
participando que Melo e Castro tinha sido substituído na repartição dos Negócios Estrangeiros
por Luiz Pinto de Sousa Coutinho, a quem se dera o título de visconde de Balsemão como
prémio das negociações da paz de 1801. Acrescentava, «haver-se levado a efeito a citada
demissão por deferência de Sua Alteza Real para com as exigências do general Lannes». D.
Rodrigo de Sousa Coutinho que, como se sabe, estava igualmente na mira dos ódios do
representante francês, viu-se demitido da presidência do Real Erário, por decreto de 31 de
Agosto, sendo substituído nesta repartição por Luís de Vasconcellos e Sousa.
Distanciando-nos dos acontecimentos, numa perspectiva do tempo, julgo poder aceitarse que o Príncipe Regente não sentiria verdadeira inclinação por qualquer dos partidos (inglês
ou francês). Naquele momento, certamente, interessava-lhe muito mais aquele que se
considerava poder oferecer maior utilidade à Nação. Defendera, com grandes esforços e com
os fracos meios de que dispunha, a aliança com a Inglaterra da qual esperaria o mais sólido
apoio. Porém, depois do desapontamento provocado pela resposta de Lord Hawkesbury, que
nos deixava em maus “lençóis” (e, posteriormente, não foram poucas as ocasiões em que tratou
Portugal como potência de 3ª classe) o Príncipe Regente voltou-se para a França, sofrendo,
resignadamente, as afrontas de Lannes, lisonjeando-o, mesmo conhecendo mais que ninguém a
sua venalidade e brutalidade. Regressando às demissões, poder-se-á concluir que «a orientação
seguida pelo Regente, acabando por afastar do governo os ministros que desagradavam ao
embaixador francês – vista mais tarde como desonrosa e ilustrativa da fraqueza moral do
Príncipe – seguia o caminho apontado pelos conselheiros mais próximos, o qual se escudava
naquele que geralmente se toma como o mais indiscutível dos argumentos: o da necessidade».
Na verdade, com o desejo, de certo modo, desesperado, de salvação, o Príncipe Regente
resolvia mudar as principais pedras do xadrez político, sendo evidente o facto de agradar mais
à França do que à Inglaterra.
Reacção Britânica.
Como era de prever, o regresso do «impulsivo e arrebatado» Lannes, bem com a
demissão de D. João de Almeida Melo e Castro, causaram, naturalmente, o maior
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
17
desapontamento em Fitz Gerald que, dias depois, a 28 de Agosto escrevia ao Príncipe Regente
manifestando «despeito e impertinência».
Questionando D. João, perguntava «se a demissão do ministro poderia alterar, de
algum modo, as relações de paz e amizade entre Portugal e a Grã-Bretanha; se o Príncipe
estava resolvido a manter, inteiramente, na guerra a neutralidade declarada na forma do
decreto de 13 de Junho do mesmo ano de 1803; se o Príncipe resolvera firmemente não
admitir no continente, ou nos domínios ultramarinos, tropas estrangeiras e inimigas da
Inglaterra; se tinha a intenção de resistir com força armada à marcha de tropas francesas
para os seus estados, no caso de ela chegar a efectuar-se, e em tal emergência recorreria ao
auxílio inglês; se o Príncipe resistiria a todo o pedido de encerramento dos seus portos ao
comércio britânico; e, por último, se, apesar da demissão de D. João de Almeida, tencionava
continuar a permitir que o Enviado de França (Lannes) tratasse, separada ou pessoalmente,
de negócios com Sua Alteza, ou exigir que este Enviado se conformasse aos usos estabelecidos
e seguidos pelos outros ministros estrangeiros em Lisboa».
Em Novembro desse mesmo ano de 1803, Lord Fitz Gerald, tirando partido do
descontentamento reinante na Corte portuguesa, provocado pelas constantes e arbitrárias
exigências da parte de Lannes e da intolerância do seu procedimento, lembrava ao Governo
português, em nota ao visconde de Balsemão, ser difícil na actual conjuntura a manutenção das
possessões europeias de Portugal.
Nesta circunstância, Sua Majestade Britânica pretendia providenciar à salvação das
colónias portuguesas e assegurar assim, em caso de necessidade, os meios de uma retirada
honrosa ao seu aliado que, de certo, «antes quereria sacrificar o seu sossego e cómodo
pessoal, que demorar-se inutilmente na Metrópole, em risco de perder a honra, a liberdade e
talvez a Coroa». Acrescentava não estar nos planos da Grã-Bretanha propor uma retirada
prematura, já que S.M.B. desejaria mobilizar todos os esforços possíveis no sentido de
defender Portugal pelo lado do mar. No entanto, a Inglaterra chega mesmo a propor a retirada
da Corte para o Brasil, possibilitando, assim, aos súbditos de S. M. B. campo livre em Portugal
e, a pretexto de protecção, o domínio de territórios coloniais.
Ao fim e ao cabo, Lord Fitz Gerald esforçava-se por neutralizar a influência de Lannes
junto da Corte portuguesa recorrendo ao almirante Campbell, então ao serviço de Portugal e
diligenciando pela intervenção dos duques de Kent e Sussex, filhos de Jorge III, residentes
entre nós. Porém, resultaram infrutíferas as “démarches” no sentido de esfriar as relações entre
o Príncipe Regente e Lannes, bem como a convencê-lo a transferir-se para o Brasil, o que…não
tardaria a acontecer.
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
18
A compra da neutralidade. O pagamento dos subsídios.
Daqui para à frente, o chamado «partido francês», que Lannes controlava, começa a
preponderar na Corte, de tal modo que foram expedidas ordens para o nosso embaixador
recomendando-lhe que não se insistisse mais na remoção de Lannes.
Efectivamente, Lannes parecia gozar do favor pessoal do Príncipe Regente que o
tratava com muitos obséquios, o cumulava de presentes e o convidava para caçadas. «Desde
então – esclarece Luz Soriano – Lannes foi tido por D. João como o seu melhor amigo, coisa
para que muito concorreu o locupletar-se à custa de Portugal, como se vê pelas queixas que
sobre este ponto fez para Lisboa o nosso embaixador em Paris, D. José Maria de Sousa, em
ofício de 2 de Agosto». O insolente militar-diplomata, aproveitando a boa fé e consciente dos
receios da Corte portuguesa, ia exigindo adiantamentos, garantindo que, por seu intermédio, a
França e a Espanha deixariam de insistir com o Governo português para que se declarasse
inimigo da Inglaterra, e que Napoleão reconheceria a neutralidade portuguesa.
O Príncipe mostra-se tão benevolente para com Lannes que se prontificou e sua esposa,
D. Carlota Joaquina, a apadrinharem-lhe um filho, baptismo
que se realizou com toda a pompa e solenidade na real capela
da Bemposta, na presença da família real e dos vultos mais
grados da Corte. O padrinho, além de dar ao afilhado o seu
próprio nome, ofereceu-lhe presentes no valor de 12.000
libras, sendo obrigado a declarar, na «Gazeta de Lisboa» de
18 de Setembro, que a dádiva não tinha significação política.
Para celebrar o malogro do atentado contra Napoleão,
Lannes manda rezar uma missa solene e um Te Deum
Laudamus na igreja do Loreto onde acorre largamente a
nobreza portuguesa, os grandes comerciantes e todo o corpo
diplomático – exceptuando os ingleses, obviamente. À noite deu uma ceia, baile e grande
concerto, em que cantaram e tocaram a famosa Catalani, Gafforini, Monhelli, Nalsi, Matucei,
Olivieri, Angelleli e Violani, sendo directores os mestres Fioravanti e Marcos Portugal. O luxo
e esplendor deram a esta festa um brilho de tal modo elevado, que não deixou de causar grande
“azia” ao embaixador inglês, Lord Fitz Gerald, pois bastante azedado já andava ele pelo facto
que se narra a seguir.
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
19
D. João mostrava com Lannes uma condescendência a toda a prova, chegando por sua
exigência a mandar publicar num suplemento da «Gazeta de Lisboa» um artigo do «Moniteur»
francês, que lança sobre a Inglaterra a responsabilidade do atentado dirigido contra Napoleão.
Lord Fitzgerald irrita-se com isso e queixa-se num despacho rude e cheio de insolências,
despacho que comunica a todo corpo diplomático. O Governo português sofre mais esta
afronta e só obtém o perdão do referido embaixador, fazendo publicar também na «Gazeta de
Lisboa», para mostrar imparcialidade, os artigos em que a imprensa oficial inglesa desmente as
asserções do «Moniteur» francês.
Lannes
privilégio
de
chega
a
gozar
os
alcançar
o
jardins
e
propriedades reais, quando e como lhe
agradasse, convidando o Príncipe Regente
a passar alguns dias em Mafra a seu lado.
Perante estes preliminares parecia
que a negociação do tratado não teria
dificuldade em ser levada a bom termo,
só que…quando estava prestes a concluirse, e tudo se dava por ajustado, houve uma reunião mais acesa que provocou a deterioração das
relações entre o plenipotenciário francês e nosso governo, pedindo Lannes novamente os
passaportes, na intenção de abandonar a embaixada. Num momento incerto da nossa política
externa, o Príncipe Regente, recebendo-o em audiência privada, consegue com a sua
afabilidade convencê-lo a reiniciar as negociações e três meses depois estava concluída a
convenção franco – portuguesa de neutralidade.
Efectivamente, em 19 de Março de 1804 assinava-se uma convenção de neutralidade e
subsídios entre Lannes, representante da França, e o Governo de Portugal.
O Primeiro Cônsul da República Francesa, elevado por senatus – consultus de 18 de
Maio ao trono imperial, permitia que as obrigações impostas ao Príncipe Regente pelo Tratado
de paz assinado em Madrid a 29 de Setembro de 1801, fossem convertidas em subsidio
pecuniário de dezasseis milhões de francos. Este subsídio seria pago de mês a mês a contar de
1 de Dezembro de 1803, obrigando-se o Príncipe Regente a mandar «pagar em espécies, um
mês depois da troca das ratificações, no Tesouro Público de França, a parte que então tiver
vencido do subsídio ajustado; e quanto ao resto do subsídio por pagar, mandará entregar
imediatamente, depois da troca das ratificações pelo seu ministro plenipotenciário em Paris,
ao tesoureiro do governo, obrigações de um milhão de francos, que se satisfarão
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
20
sucessivamente de mês em mês até total pagamento».
Além do subsídio, o Príncipe Regente concedia, ainda, à França mais facilidades
comerciais do que aquelas que já usufruía no nosso país.
Napoleão anuía em aceitar o estatuto de neutralidade a Portugal durante o conflito, e
prometia não impugnar quaisquer medidas que pudessem ser tomadas relativamente às «nações
beligerantes, em consequência dos princípios e leis gerais de neutralidade».
Portugal procurava por todos os meios ao seu alcance evitar qualquer conflito que
pudesse bulir, de algum modo, com a sua condição de potência neutral, ainda que para a
consecução desse fim se tivesse sujeitado, por vezes, a situações vexatórias. E, até à
transferência da Corte para o Brasil, a política externa da Nação tomou sempre como directriz
dominante a «declaração persistentemente renovada a todos os governos estrangeiros,
nomeadamente à França, à Espanha, à Inglaterra e à Rússia, que a neutralidade cujo
reconhecimento tão caro havia custado, seria mantida a todo o transe, só saindo Sua Alteza
dela no caso de ter de repelir qualquer violência contrária aos direitos de soberania da Coroa
portuguesa».
Reforço do “partido francês”
Como no princípio de 1804 o Ministério se encontrasse reduzido apenas a dois
ministros, pois que Luiz Pinto de Sousa tinha adoecido gravemente, o Príncipe D. João, em 10
de Fevereiro, «tendo tido repetidas provas do zelo, fidelidade e inteligência do conde de Vila
Verde» e pretendendo demonstrar o quanto lhe eram particularmente agradáveis os seus
serviços, nomeia D. Diogo de Noronha (Conde de Vila Verde), ministro Assistente ao
Despacho. Espera S. A. R. que neste novo cargo o continue a servir com «o mesmo acerto,
fidelidade e amor com que sempre se tem distinguido no régio serviço». Obviamente, Vila
Verde era um homem afecto ao “partido francês”
Alguns meses depois, Vila Verde participa a António Araújo de Azevedo que o
Príncipe Regente «houve por bem nomeá-lo ministro secretário de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Guerra». Inequivocamente, a nomeação de Araújo de Azevedo para o
referido cargo significava uma viragem na política externa de Portugal, até então
excessivamente ligada à orientação do Gabinete londinense.
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
21
Araújo de Azevedo estava alicerçado numa base de relacionamento pessoal em que
sobressaíam «os mais eminentes vultos da política parisiense, nomeadamente Talleyrand
(ministro das Relações Exteriores), na simpatia que à Corte de Carlos IV e ao governo
francês, deviam merecer os direitos da coroa portuguesa, e a franqueza e sinceridade que se
punham na posição de Portugal perante aquelas nações».
Que a entrada de Araújo para o Ministério, em substituição de um ministro anglófilo
implicava objectivos conducentes a manter com a França relações
amistosas, demonstra-o a declarada oposição de Lord Strangford,
representante da Inglaterra em Lisboa
Elucidativo: com o conde de Vila Verde, ministro
Assistente ao Despacho, Araújo de Azevedo nos Negócios
Estrangeiros e Guerra, o visconde de Anadia, João Rodrigues de
Sá, sobraçando a pasta da Marinha e Luiz de Vasconcelos e Sousa
no Erário, o Ministério fica completo em Junho de 1804, «todos –
dizia-se – muito bem vistos pelos franceses». Este Governo de personalidades afectas ao
«partido francês», se por um lado deixava transparecer uma orientação correspondente a uma
plataforma de entendimento entre as duas nações, por outro parece corresponder a uma falta de
apoio por parte da Inglaterra.
Pouco depois, certamente por influência, ou imposição, de Lannes o ministro português
em Paris, D. José Maria de Sousa, foi substituído por D. Lourenço de Lima, homem dedicado
ao partido francês. A este propósito, António de Araújo de Azevedo, conhecido politicamente
por Araújo, escreveu a Talleyrand a participar-lhe que o Príncipe Regente resolvera enviar um
embaixador extraordinário a Paris para felicitar Bonaparte pela sua elevação ao trono imperial,
e que a escolha recaíra em D. Lourenço de Lima «que vous avez connu a Paris» e se fazia
recomendável pelo nascimento ilustre e qualidades pessoais, «qui ont captivé la bienviellance
du Marechal de l’Empire Lannes»; pedia o assentimento de S. M. I.: «par delicatesse et par
égard pour S. M. l´Emp., souhaite avoir la certitude que ce choix lui est agreable» … Os
termos em que Araújo de Azevedo se exprimira eram, claramente, propícios a lisonjear
Napoleão no momento culminante da sua carrreira ascensional.
Em 7 de Julho, o mesmo Araújo, oficiava ao nosso embaixador em Londres no sentido
de justificar perante o Gabinete de S. James, a modificação operada na diplomacia portuguesa.
O empenho manifestado por António de Araújo para que não houvesse qualquer
espécie de alarme por parte da Inglaterra, compreende-se e pode filiar-se no facto de D.
Lourenço de Lima ser «personna non grata» ao “partido inglês” e ter sido considerado como
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
22
«grande amigo da França». Então, participava ao nosso embaixador, Domingos de Sousa
Coutinho: «…o Príncipe Regente nosso senhor determinou mandar a Paris D. Lourenço de
Lima como embaixador extraordinário para cumprimentar Bonaparte (Napoleão ia ser
coroado Imperador). O marechal Lannes tinha escrito há muito tempo ao seu governo,
solicitando que lhe desse o carácter de embaixador, e indicou para Paris D. Lourenço de
Lima, julgando que ele poderia, mais do que qualquer outro, fazer-se agradável a Bonaparte».
A 18 de Maio de 1804, Napoleão é proclamado Imperador satisfazendo uma das
maiores ambições da sua vida. Entre outras solenidades marcantes para celebrar o evento,
Bonaparte criou dezoito marechais, sendo um deles o general Lannes, que assim recebia a
recompensa de ter servido a sua política de intimidação utilizando os processos mais torpes e
condenáveis.
Pouco tempo depois, a 1 de Agosto de 1804, a fim de assistir à coroação de Napoleão,
Lannes saía de Portugal, onde jamais voltaria, mas… curioso, e que me parece algo estranho, é
o que estaria por trás da decisão do Príncipe Regente quando pouco depois, a 28 de Setembro
lhe dirige uma carta no sentido do seu regresso a Portugal… nem mais, nem menos. D. João,
afirmando-se sensível aos «sentimentos que unem os nossos dois governos», pede a Lannes
que apresente a «S. M. o meu afecto à sua pessoa e dizer-lhe que será um testemunho da sua
amizade por mim o vosso pronto regresso aqui como embaixador». De facto, era uma ideia
singular renovar o lugar de embaixador a uma pessoa que, para além de ser contestada, era um
militar estranho à diplomacia e ignorante dos complexos problemas portugueses.
Lannes chega a receber novas cartas credenciais que seriam enviadas ao Príncipe a 21
de Dezembro. Porém, após várias insistências de Napoleão para que aceitasse a embaixada de
Lisboa e o marechal mantendo persistentemente a recusa, o Imperador tomou a decisão de
confiar a referida embaixada ao general Junot.
Durante os nove meses que mediaram entra a saída de Lannes e a chegada de Junot,
Serurier, que era comissário geral das relações comerciais de França em Lisboa, ficou,
interinamente, como encarregado de negócios.
.
Junot, embaixador em Lisboa. Recepção ao general-diplomata.
Napoleão ao aceitar o estatuto de neutralidade a Portugal durante o conflito, prometia
não impugnar quaisquer medidas que pudessem ser tomadas relativamente às
«nações beligerantes, em consequência dos princípios e leis gerais de neutralidade», porém,
algum tempo depois, a Corte de Lisboa, via-se confrontada com as mais embaraçosas situações
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
23
para fazer face aos projectos congeminados por Napoleão, de que Junot seria rigoroso executor
em Lisboa.
Em 19 de Fevereiro de 1805, Napoleão escrevia ao Príncipe Regente participando-lhe a
substituição de Lannes por Junot, como seu representante
diplomático em Portugal.
Partindo de Paris a 25 de Fevereiro, além de sua
mulher, Laura St. Martin Permont, futura duquesa de
Abrantes, faziam parte da comitiva o secretário da legação
M. de Rayneval, o seu ajudante de campo, coronel Laborde e
ainda um seu particular amigo, M. de La Iard. Viajando por
Espanha, onde se demorou algum tempo com objectivos bem
definidos (conluios com Godoy, primeiro-ministro espanhol),
ao entrar a fronteira portuguesa foi recebido com todas as
honras militares.
O próprio cerimonial da recepção foi prudentemente rodeado de todas as cautelas e
etiquetas inerentes à sua embaixada, para que se evitasse tanto quanto possível as «Questões e
sensaborias que com justa razão deve recear-se». O Governo português recordando ainda
todas as complicações surgidas quando Lannes entrou desabridamente em Lisboa, procurava
legitimamente evitar tudo aquilo que pudesse dar azo a situações delicadas.
A chegada de Junot constituiu na rea1idade motivos de preocupação, não descurando
o Gabinete lisbonense qualquer pormenor que pudesse ter influência na recepção ao novo
embaixador. .
Assim, devia comunicar-se a D. Lourenço de Lima (embaixador em Paris), em oficio
separado, para que procurasse junto de Talleyrand (Relações Exteriores) combinar o
cerimonial com que devia ser recebido o general-diplomata, «para evitar todas as desordens,
que sucederam, quando chegou Lannes, que quis atropelar e com efeito atropelou, o
cerimonial, e uso desta Corte na recepção dos Ministros Estrangeiros, o que causou escândalo
público, e foi uma das primeiras causas, que o indispôs contra o Ministro e Secretário dos
Negócios Estrangeiros Dom João de Almeida».
Devia D. Lourenço ponderar que Junot vinha para Portugal com o carácter de embaixador, o que Lannes não tinha, e deste modo «não pode ter a mesma familiaridade, por que
o carácter pede mais cerimónia; que como ele D. Lourenço é também embaixador, deve haver
em tudo uma reciprocidade».
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
24
O embaixador francês chegou a Lisboa no dia 12 de Abril, tendo sido transportado na
real galeota de doze remos desde Aldeia Galega (Montijo) até ao Cais de Belém. Neste ponto
era aguardado pelo Conde de Castro Marim, o qual servia de introdutor, visto que reunia as
condições exigidas pela pragmática: «era novo, tinha casado há pouco tempo, falava francês e
parece próprio para isto».
Embora tivesse chegado a 12 de Abril, Junot só foi recebido em Queluz a 24 do
mesmo mês (a família real encontrava-se em Salvaterra de Magos), entregando então as suas
credenciais de embaixador. Conquanto Junot não fosse mais diplomata que Lannes mostrou-se,
todavia, mais cortês e menos insolente, tendo sido recebido pelo Príncipe Regente com a maior
afabilidade.
Objectivos da missão Junot.
O pagamento dos subsídios foi sempre rigorosamente exigido pela França, constituindo
a recolha das prestações em atraso um dos objectivos da missão Junot, conquanto a essência da
comissão diplomática do general fosse colocar Portugal contra a Inglaterra aderindo ao bloco
franco - espanhol. No sentido de alcançar tal finalidade, Junot empregaria durante o espaço de
quinze dias todos os seus recursos persuasivos reforçados por solicitações constantes, tanto
pelo lado de Paris como pelo de Madrid, ainda que ambos os Governos usassem de certa
cortesia. Caso não conseguisse concretizar os objectivos pretendidos, Junot abandonaria
Lisboa.
Logo, após ter sido acreditado como representante da França no nosso País, Junot
entregava a S. A. R. uma carta pessoal de Napoleão, na qual eram bem evidentes as intenções
do Imperador.
Declaradamente, Bonaparte pressionava o Príncipe Regente tentando persuadi-lo a
desligar-se da órbita britânica. A 19 de Fevereiro de 1805, Napoleão escrevia ao Príncipe
Regente de Portugal, a seguinte carta:
«Sereníssimo e muito amado bom irmão e primo, aliado e confederado. A presente
carta será entregue a Vossa Alteza Real pelo general Junot, meu ajudante de ordens,
comandante dos meus hussards e embaixador junto de V. A.. Encarreguei-o muito
especialmente de afirmar a V. A. R. o interesse que dedico à prosperidade da Coroa de
Portugal, e a esperança que tenho de que os nossos dois estados hão-de caminhar conformes,
para chegarem ao grande resultado do equilíbrio dos mares, ameaçado pelo abuso do poder e
pelas vexações que os ingleses cometem, não só para com a Espanha, mas ainda para com
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
25
todas as potências neutrais. As promessas que tenho recebido de V. A. R. em todas as ocasiões,
são um seguro penhor de que nos entenderemos para fazer o maior dano à Inglaterra e
obrigá-la assim a ideias mais sãs e mais moderadas. Fique V. A. convencido dos meus
sentimentos de estima e de inviolável amizade; além de que, sereníssimo e muito amado bom
irmão e primo, aliado e confederado peço a Deus que vos tenha em sua santa guarda.
Vosso bom irmão e primo, e confederado. Napoleão. Malmaison, 30 Pluviôse,
ano 13».
Poucos dias antes da resposta do futuro D. João VI para Napoleão, Junot procurava,
persistentemente, demonstrar junto de Araújo de Azevedo, que a única e conveniente opção
para Portugal seria o alinhamento no bloco fanco-espanhol. Oficiando a 3 de Maio ao mesmo
Araújo de Azevedo, chamava-lhe a atenção para o facto de, certamente, já ter reflectido sobre o
caminho a seguir por Portugal em face da conjuntura militar europeia e que, assim, «não
deixaria o ministro de considerar que Portugal, pela sua posição geográfica, devia
naturalmente ficar aliado de Espanha e França; a conduta atroz da Inglaterra com Espanha
deveria ter provado ao Governo português que, como qualquer país neutro, não poderia
confiar em que a Grã-Bretanha lhe respeitasse a neutralidade senão enquanto isso conviesse a
seus interesses».
Ocupando, indiscutivelmente, o lugar de primeira potência militar terrestre no continente europeu, mas não dispondo de uma esquadra suficientemente forte para aniquilar o
poderio naval inglês, interessava à França a adesão luso-espanhola, uma vez que a união das
três esquadras com o encerramento dos nossos portos modificaria, sem dúvida, o desenrolar
dos acontecimentos.
Sem quebra de dignidade e em carta datada de Queluz, aos 7 de Maio, respondia D.
João ao Imperador, argumentando que «Faltaria a todos os deveres que o Céu impõe a um
soberano para com os seus súbditos, se eu, depois de os ter obrigado a contribuir para a
manutenção da neutralidade, os expusesse a uma guerra que não pode deixar de ter resultados
funestos. Vossa Magestade sabe que a monarquia portuguesa se compõe de estados
espalhados nas quatro partes do globo, que ficariam inteiramente expostos, no caso de uma
guerra com a Grã-bretanha».
Durante a permanência de Junot em Madrid concertara-se entre o Príncipe da Paz
(Manuel Godoy) e o representante da França a acção a desencadear: alguns dias após a chegada
de Junot a Lisboa, o rei espanhol deveria escrever ao Príncipe D. João para que fizesse «causa
comum» com a Espanha e a França.
Em carta datada de 20 de Março e redigida em termos semelhantes à enviada pelo
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
26
Imperador, Carlos IV acusava a Inglaterra de ter violado uma neutralidade cimentada sobre
bases propostas por ela própria, ao aprezar e incendiar navios espanhóis que navegavam na
confiança da Paz. E acrescenta: «A esta razon se unen otras rasones para estimular a V. A., de
acuerdo con la Francia, a que una sus fuerzas con las nuestras para reducir a la Inglaterra aI
deseado termino de una Paz decorosa».
Tal como acontecera na resposta para Napoleão, também a posição e oposição portuguesas ficaram definidas em relação ao convite de Carlos IV. D. Lourenço de Lima em Paris
e o Conde da Ega em Madrid, devidamente instruídos por Lisboa, e com a finalidade de
diminuir os efeitos da negativa, deviam invocar uma série convincente de razões por motivos
das quais Portugal não podia, nem devia, aceder às solicitações do bloco franco-espanhol.
Assim, o nosso embaixador em Paris tirando partido do excelente relacionamento
pessoal existente entre Araújo de Azevedo e Talleyrand, faria ver a este a inexequibilidade de
tal projecto da parte de S. A. R., por via do estado em que se encontrava o real erário e também
«pelo perigo a que exporia as suas colónias, pela interrupção absoluta do comércio com grave
prejuízo dos seus vassalos e das rendas da sua Coroa, pela forma a que Lisboa seria exposta
com o bloqueio a que logo procederiam os ingleses e por todos os motivos que são óbvios e
que V. Ex.ª não ignora».
De igual modo, conforme instruções recebidas pelo Conde da Ega em Madrid, as razões
aduzidas por D. Lourenço de Lima junto de Talleyrand deveriam ser repetidas, e expostas, pelo
nosso representante diplomático a S. M. Católica e ao seu influente ministro Manuel Godoy.
Ao contrário do que sucedeu com Paris, Madrid aceitou, de certo modo, as explicações
de Lisboa dadas directamente pelo nosso embaixador; a este facto parece não ter sido estranha
a interferência da Rainha D. Maria Luiza, «ingeniosa y autoritaria, disponia a su antojo de la
voluntad de su marido», cessando por algum tempo as pressões para a concretização da
projectada e tão desejada Liga.
Em relação a Paris a negativa previa a invasão do nosso território pelos exércitos
franceses, o que só não se terá verificado devido à vitória inglesa de Trafalgar, onde Nelson
infligiu rude golpe às esquadras franco-espanholas abortando e adiando, assim, a entrada das
forças napoleónicas em Portugal.
Outras ocasiões se deparariam em que o Gabinete Lisbonense se viu confrontado com
as maiores situações de apuro, lançando mão dos mais variados recursos a fim de não
modificar a sua posição de potência neutral.
Portugal procurava subtrair-se às aliciantes propostas da França e da Espanha garantindo o reconhecimento na manutenção de um estatuto de neutralidade, que era a única atitude
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
27
conveniente. Alegava a Corte portuguesa razões fundamentadas no Direito e na Moral, aliadas
ao tacto diplomático de Araújo de Azevedo que soube conduzir os assuntos assim em Paris,
junto de Talleyrand, como em Lisboa com o próprio Junot. Refira-se que as relações entre o
embaixador francês e António de Araújo, embora cordiais, «nunca foram fáceis e assentaram
sempre nos mesmos temas, o que aliás cedo habilitou Junot a entender o posicionamento de
Portugal, que transmitiu a Talleyrand: a impossibilidade que Portugal tinha, por pobreza,
desorganização das finanças por compromissos assumidos e carência de alimentos, de se
colocar num estado de guerra com a Inglaterra. A pulverização das colónias, fonte da sua
riqueza, colocavam-nas à mercê do país que dispusesse dos maiores e eficazes meios navais.
Eram estas as reflexões de um homem que soubera analisar o meio e entender, embora sem
gostar, a solidez dos argumentos que escutara ao Ministro Araújo, quando justificava, à
saciedade, a neutralidade que desejávamos, contudo diferente daquela que podíamos exigir
por parte de quem não a respeitava».
A Napoleão pouco, ou nada, interessavam razões fundamentadas no Direito e na Moral
para que não houvesse denúncia de tratados e violações de neutralidade com a subsequente
ocupação do território nacional; o facto de Bonaparte se ter visto a braços com outras frentes
de luta consideradas prioritárias desviando, de momento, a sua atenção para questões mais
importantes, tê-lo-ão levado a «tolerar uma neutralidade portuguesa da qual disfrutava não
poucas vantagens económicas, como o abastecimento regular de matérias primas coloniais».
Se acrescentarmos, ainda, o facto do representante diplomático de Napoleão em Lisboa
ter sido contemplado com diversos e valiosos presentes, bem como o não terem sido
esquecidas com várias mercês algumas personalidades parisienses, encontraremos os motivos
principais que terão valido ao Pais o protelar das exigências e ameaças por algum tempo mais.
Entretanto a demora de Junot em Portugal foi de curta duração. Quando, em 25 de
Janeiro de 1805, foi nomeado embaixador em Lisboa conseguiu do Imperador a promessa de o
chamar «ao primeiro disparo de canhão». Assim foi. Soldado por natureza, Junot não se
conformava com a sua nova situação e, por isso mesmo, pouco tempo a suportou. Ansioso por
tomar parte nos combates que se iriam travar na Alemanha, Napoleão cumpria a promessa e,
em 22 de Setembro, através de Talleyrand, era-lhe comunicado que devia dirigir-se a Paris
«com toda a presteza», chegando ao acampamento do Imperador na véspera da famosa batalha
de Austerlitz.
Ficou acreditado junto da Corte de Lisboa o seu secretário de legação, Rayneval.
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
28
Interesses particulares de Junot.
Ao ser revocado em Outubro de 1805 Junot, na sua passagem por Madrid, não ia de
todo satisfeito, conforme participava o conde da Ega para Lisboa ao ministro Araújo de
Azevedo. Pode considerar-se que no plano politico a missão Junot não proporcionara à França
as situações e resultados que Napoleão previa e desejava, bem como no respeitante aos
interesses particulares do embaixador.
Inicialmente a conduta de Junot foi de certo modo razoável, tendo parecido até «de
um trato polido»; porém, não tardariam as exigências que, por vezes, atingiram proporções
despropositadas e nitidamente carecidas de fundamento. Neste sentido refira-se os seus
interesses particulares, em que houve necessidade de lhe serem «coarctadas algumas
ilegítimas pretensões», já que eram destituídas de «toda a razão e justiça», além de que pretendia camuflar os seus interesses e, como dizia Vila Verde, seria preferível pedir para si próprio,
como fazia Lannes, «do que pedir para outrem, e poder depois fazer a bazófia de desinteresse».
Dentre as suas mais ilegítimas pretensões situa-se a da solicitação do
estabelecimento de mercadorias, uma espécie de feitoria, no Rio de Janeiro, em condições
vantajosas, onde ressaltava o interesse de Junot em vir a auferir elevada monta de proventos.
Para concretizar os seus projectos, tão lucrativos quão carecidos de qualquer razão
fundamentada e de nulo interesse para Portugal, antes pelo contrário, susceptíveis de nos
acarretarem prejuízos e complicações de vária ordem, escrevia Junot a Araújo de Azevedo em
29 de Outubro de 1805. Nessa carta, datada de Madrid, em que era requerida a concessão do
entreposto, Junot dizia: «... quoique peu encoragé je vais neantmoins vous faire mes demandes
et vous y répondez apres y avoir murement reflechi, si je suis refusé je dirai en Bon portugais
'patientia' si j'obtiens je remercierai de bonne grace et vous aurai obligation de ce que vous
aurai fait».
Da anuência ao requerido por Junot poderiam advir sérias complicações, especialmente por parte da Inglaterra, pois tal concessão além de constituir «uma especulação tão
contrária ao nosso antigo e prudente sistema colonial, tão susceptível de abusos enormes, e
tão conducente a excitar o irritabilíssimo ciúme mercantil Inglês, era propicia para uma
penetração francesa no Brasil».
Vila Verde denunciava os possíveis e importantes prejuízos, no caso de ser concedido o estabelecimento do entreposto no Rio de Janeiro, salientando que o do contrabando
saltava claramente à vista; e não só o da introdução dos géneros estrangeiros, mas também o da
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
29
extracção do ouro e diamantes «porque ali acharão os extraviadores sempre uma venda
segura». Muito provavelmente também a Espanha se queixaria de Portugal, se viesse a
concretizar-se a permissão do entreposto.
Sendo necessário condescender nesta matéria, e para evitar um mal maior, importava ponderar sobre o processo pelo qual se deveria responder, pedindo-se a Junot em carta
particular e sem formalidade, «uma mais circunstanciada declaração do que se pertende, a
qual é previamente necessária para se poder examinar e conceituar a pertenção proposta em
termos muito gerais para se conhecer se se poderá propor ao nosso soberano».
De momento, esta seria a resposta mais conveniente, porquanto «é a mais natural, e
não pode... e com ela se vai ganhando tempo, do qual, na época actual, talvez, que tudo se
deva esperar em benefício da situação politica presente, das potências europeias de segunda
ordem».
Porém, acontecendo que Portugal viesse a transigir nesta matéria e, nesse caso, fá-loia por via da «dura Ley da necessidade para evitar um mal maior, certo e iminente», Vila
Verde propunha que fossem observadas as seguintes condições: ser por tempo determinado;
autorizar apenas um determinado número de navios; presença de um fiscal português que
reviste o que entra e sai; que encontrando contrabando ou extravio, se lhe imporá a pena da lei
e o confisco; pagariam além das despesas de armazéns 2% por cento de entrada e 2% por saída.
Araújo de Azevedo conseguiu evitar que se desse corpo às pretensões de Junot, conquanto estas tivessem constituído motivo de preocupação e estudo reflectido mas, mais uma
vez, Portugal esteve à beira de se curvar perante as insólitas exigências da opressão francesa,
constrangido pela «dura Ley da necessidade», necessidade de manter uma neutralidade que
deixou o erário do Pais a sangrar; neutralidade nitidamente explorada, que navegou
frequentemente nas águas da arbitrariedade e da prepotência e que acabou por vir a não ser
respeitada.
Razão tinha o nosso ministro em Paris, D. José Maria de Sousa (destituído a instâncias
de Lannes), que confessava não ter ilusões algumas sobre o Tratado de 19 de Março de 1804,
aconselhando Portugal a prepara-se para o pior.
D. José Maria de Sousa, que concebera um plano para reorganizar o exército, entendia
que a melhor política era «dispor-se Portugal para a guerra, calamidade que não podia evitar,
na certeza de que, se havia de preparar-se ao tarde, melhor era preparar-se ao cedo, porque
por este modo evitava ao menos o pagamento da contribuição que Napoleão tinha resolvido
impor-lhe».
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
30
As coisas, porém, em Portugal, estavam pouco dispostas para a guerra, quer pelo mau
estado das finanças, quer pela desconfiança que havia no exército e até pela certeza de que
Portugal não podia, de maneira alguma, fazer frente à Espanha e à França, tanto mais que
estava ainda bem presente a desastrada guerra de 1801. Acrescente-se, ainda, a desunião
interna do País, provocada pela cisão dos dois partidos contrários, francês e inglês, e que na
própria Corte trazia as opiniões divididas.
Exército português desarticulado nas vésperas da 1ª Invasão.
A situação militar do país nas vésperas da 1ª Invasão Francesa era francamente precária
e desanimadora perante o quadro político que então se desenrolava na Europa.
Numa época de anuviamento em que tanto convinha ao País valorizar o Exército para
que as demais potências nos respeitassem a neutralidade, a situação militar justificava da parte
do sector responsável urgentes providências no sentido da máxima eficiência. A insuficiência
numérica e profissional dos quadros era notória, bem como a carência de armamento, munições
e equipamento. Não bastando já o pouco interesse em fortalecer a situação militar, esta
tornava-se ainda mais débil com as frequentes reduções dos efectivos do exército de Portugal.
Contra esta alarmante situação tentou lutar António de Araújo de Azevedo, ao tempo
ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra e futuro conde da Barca, opondo-se à redução
do exército, ao mesmo tempo que apresentava planos orientados no sentido de sanar ou minorar o enfraquecimento do potencial defensivo da Nação. Porém, os esforços empreendidos pelo
ministro da Guerra foram inutilmente baldados.
Razões de ordem económica levaram o Governo de Portugal, em 1804, a reduzir os
efectivos do Exército, conforme participação de Araújo para Domingos de Sousa Coutinho,
nosso embaixador em Londres. Esta medida, como é evidente, desagradou a António de
Araújo, que em Conselho se opôs tenaz mas infrutiferamente.
Efectivamente, relegado para plano secundário o potencial defensivo da Nação em
favor da economia, opera-se a redução do Exército contra a opinião do ministro da Guerra,
Araújo, com justificada estranheza do Gabinete britânico. De facto, era difícil de aceitar o
ilogismo entre esta redução e as solicitações que o ministro Araújo mandava fazer em Londres
para que aquele gabinete definisse se acorreria a Portugal no caso de se concretizar uma
ameaça à integridade da Nação, e em que termos o faria.
Em 19 de Julho de 1804 comunicou Araújo a D. Domingos António de Sousa
Coutinho, para fazer o uso tido como mais conveniente perante o Ministério britânico, de que o
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
31
Príncipe Regente determinara «reduzir o seu Exército à menor lotação de praças de soldados,
cuja resolução é tomada por motivo do estado em que se acham as suas finanças, eu tive de
expor muitas vezes ao mesmo senhor que nas circunstâncias políticas da Europa, era preciso
não diminuir a força do Exército; porém como de outro lado é grande a urgência da
economia, se adoptou o meio de o fazer que venho de referir, ficando os soldados a quem se
der baixa nos regimentos de milícias como em depósito para a todo o tempo que necessário for
se chamarem outra vez aos regimentos».
Censuras do Governo Britânico.
António de Araújo entendia que esta redução do Exército causaria certamente alguma
impressão ao Governo britânico, se acaso não lhe fossem expostas estas razões. Por isso julgou
necessário, por precaução, tomar tal atitude.
Tais explicações não obstaram a que o Governo britânico censurasse e considerasse
inoportuna uma tal reorganização do Exército, protestando junto de D. Domingos através de
Lord Harrowby, o qual se mostrava «preocupado com a possibilidade de os franceses se
apossarem da ilha da Madeira, adquirindo ali um admirável ponto de apoio».
Perante a discordância do Gabinete britânico, era forçoso responder às observações e
reconversões que Lord Harrowby fizera relativamente ao estado das finanças e exército de
Portugal.
Com tal finalidade devia D. Domingos, em ocasião oportuna, repetir a Lord Harrowby
que o mau estado existente no exército provinha em grande parte do atraso de finanças e que a
primeira origem do dito atraso se filiava «nos sacrifícios que fez esta Corte para seguir a
aliança da Grã-Bretanha, e se unir aos seus interesses na última guerra. As forças marítimas
que desde o princípio dela S.A.R. entregou à disposição de SMB, o exército que mandou ao
Rossillon; a esquadra que destinou para se combinar no Mediterrâneo com a de Lord Nelson,
foram, sem dúvida, objectos de grande despesa proporcionadamente às rendas de Portugal;
além disto, foi urgente pagar a paz, e comprar igualmente a neutralidade actual, afim de
evitar que a França principiasse a guerra presente atacando os interesses da Grã-Bretanha no
território do seu aliado; semelhantes factos merecem mais a atenção do ministério inglês, do
que a sua reconversão».
O primeiro destes sacrifícios pecuniários havia sido feito, quando o Gabinete de S.
James declarara ao príncipe regente que estava impossibilitado de socorrer Portugal e
consequentemente lhe aconselhava a sua paz particular a todo o custo e, se necessário, «com
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
32
estipulações contrárias aos tratados com a G. Bretanha»; o segundo processou-se quando o
príncipe D. João viu a necessidade de que S.M.B. tinha em «concentrar as suas Forças
Militares para se defender contra um ataque que por muito improvável na sua execução, nem
por isso dispensa de uma vigorosa defesa contra um vigoroso e inaudito preparo. Depois
destas alegações que não podem ter resposta, não deve haver no Governo Inglês pelos laços
que unem as duas Naçoens, e posso dizer também por gratidão outros sentimentos mais do
que os que lhe inspirar o interesse pelo restabelecimento da boa ordem nas Finanças, e no
Exército Português».
Soldados incapazes e ilegalmente recrutados
Nos regimentos militavam muitos soldados incapazes, e outros que foram recrutados
contra todas as leis e privilégios, de onde resultou uma numerosa deserção em prejuízo da
agricultura. Seria, pois, a estes que se determinaria dar baixa e se alguns estivessem em estado
de servir, seriam conservados nas guarnições fixas ou nos corpos das milícias.
Embora António de Araújo se esforçasse para que fossem aceites, junto do Ministério
britânico, as justificações relativas à redução do exército, fundamentando-se, o nosso ministro
dos Estrangeiros e da Guerra preocupava-se, como já se disse, em evitar o enfraquecimento da
eficiência militar da Nação.
Na já citada carta para D. Domingos de Sousa Coutinho, datada de Queluz, em 19 de
Julho de 1804, encontra-se à margem a seguinte anotação:
«Fiz repetidas representações a este respeito, e apresentei ao sr. Conde de V.ª Verde
(ministro do Reino) um plano para diminuir a despesa sem diminuir o Exército, mas ele e o sr.
Luís de Vas.os (responsável pelo Erário) não quiseram assentir; por fim salvei segunda redução
da Cavalaria».
Certamente que a situação do país não era risonha, porquanto o «partido francês»
preconizava a neutralidade, que comprada a peso de ouro, não só descurava a defesa nacional,
como ia transferindo para os cofres de Bonaparte todos os recursos do nosso exaurido erário.
Porém. Araújo, procurava a todo o transe as soluções mais viáveis para tão melindrosa
situação.
Em 21 de Janeiro de 1806, escrevendo de Vila Viçosa, o conde de Vila Verde participa
a Araújo a necessidade de nova redução do exército, pois verificava quase como impossível
que Sua Alteza Real, nas circunstâncias do Erário, pudesse pagar e sustentar a «tropa que não
digo que tem, mas que existe, julgava ser necessário absolutamente o reduzi-la a muito pouco,
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
33
porque ainda sabendo de certo o haver Guerra, acho melhor mandar a ela, para me defender,
um regimento bem pago, e bem nutrido, do que três ou quatro morrendo de fome, e sem o soldo, que lhe compete; é terrível situação para todo o caso, achar-se sem exército, e sem
dinheiro, como estamos, e V. Exa. conhece muito bem».
Em 28 de Janeiro de 1806, o futuro conde da Barca redigia a resposta revelando
claramente o seu desapontamento, demonstrando o perigo a que Portugal se expunha, além de
que uma redução do Exército produziria péssimo efeito dentro e fora do Reino.
Assegurava António de Araújo que não era pela redução do Exército que a despesa
diminuiria, mas sim examinando o motivo pelo qual o nosso Exército fazia maior dispêndio do
que qualquer outro de igual lotação na Europa e «cortar os abusos estabelecendo um bom
sistema económico; isto não é impossível nem o é
também o restabelecer a disciplina que não existe».
António de Araújo, consciente da gravidade
da situação e na sua qualidade de ministro da
Guerra, preocupava-se em justificar o ilogismo da
redução do Exército, «lutando no seio do Gabinete,
onde o critério do aumento do potencial defensivo
da Nação fora superado pelo da economia, num
momento histórico nacional em que a efervescência
bélica da Europa impunha precisamente o inverso,
isto é, a elevação da sua eficiência pelo desenvolvimento duma aturada e intensiva instrução,
renovação do armamento e do equipamento,
altiveza do espírito ofensivo, elação da disciplina e
complemento e selecção dos quadros».
Integridade do território ameaçada. A missão Rosslyn.
A 9 de Agosto de 1806, um despacho do ministro Fox, em nome de Sua Majestade
Britânica (S. M. B.), incumbia os condes de Rosslyn, de S. Vicente e o tenente-general Simcoe
de uma extraordinária e importante missão, a um tempo diplomática e militar.
Como se tivessem agravado as relações entre as Cortes francesa e britânica, Talleyrand,
no intuito de intimidar o ministro Fox e conseguir dele a paz nas condições propostas por
Napoleão, teria declarado a Lord Lauderdale, embaixador inglês em Paris que, não chegando a
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
34
acordo, o exército francês de Baiona, formado por 30.000 homens, invadiria Portugal e faria a
sua partilha como se regulou depois pelo Tratado de Fontainebleau.
Foi nesta conjuntura, de ameaça (ou pseudo ameaça), que o Gabinete londrino decidiu
enviar imediatamente para o Tejo as forças navais disponíveis que, acrescentava, em breve
seriam reforçadas por uma outra esquadra proveniente de Plymouth. O comando era confiado
aos referidos conde de S. Vicente e John Simcoe, exercendo Rosslyn as funções de enviado
extraordinário, incumbido de negociar, com o Gabinete lisbonense, «sobre todas as matérias
que dissessem respeito ao comum interesse das duas Cortes».
A missão de Lord Rosslyn, devidamente instruído pelo Foreign Office constava de três
pontos fundamentais:
1º - Se Portugal quisesse seriamente defender-se contra a projectada invasão francesa,
S. M. B. tomaria as medidas correspondentes, «em toda a plena extensão dos meios de que
dispusesse dispor para este objecto». Admitia, ainda, que o governo de Espanha, preocupado
com as consequências da passagem do exército invasor pelo seu território, se resolvesse a
modificar a posição de aliada da França, colaborando com as forças portuguesas e inglesas na
resistência.
2º - Se, porém, os meios, ou a determinação da Corte de Lisboa não correspondesse ao
fim em vista, a eficaz defesa do País, a hipótese mais aconselhável seria o Príncipe Regente
abandonar os seus territórios europeus e retirar-se, provisoriamente, para o Brasil, levando com
ele tudo quanto pudesse; neste caso, a Grã-Bretanha prestar-lhe-ia os maiores auxílios,
cedendo-lhes mesmo as suas forças navais.
3º - Se nenhuma destas soluções fosse aceite, a missão tinha mandato de modo a
impedir que a França se apoderasse da frota portuguesa, aumentando o seu poder naval e
pudesse dispor do porto de Lisboa. A verificar-se esta hipótese, deveriam as forças inglesas
propor a sua compra ou a sua entrega, «ainda que fosse necessário empregar a força, se pela
persuasão se não convencesse o Gabinete de Lisboa».
Em qualquer caso, Rosslyn deveria informar o Príncipe Regente e o seu Governo que a
submissão de Portugal à França implicaria a perda do Brasil e que a Inglaterra se considerava
no direito de o ocupar «para sua segurança». Aliás, este propósito já a Grã-Bretanha o havia
revelado em 1801, por ocasião da “Guerra das Laranjas”.
Com efeito, a 14 de Agosto de 1806, a esquadra inglesa composta de cinco naus de
linha e uma fragata, conduzindo a bordo nove batalhões de tropa de desembarque, deu entrada
no Tejo, ancorando junto à Torre de Belém.
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
35
Nesse mesmo dia, Rayneval, Encarregado de Negócios da França em Lisboa,
apresentou ao Ministro dos Estrangeiros, Araújo, uma reclamação onde salientava que a
entrada da esquadra no porto de Lisboa não tinha qualquer justificação e infringia as leis da
neutralidade que Portugal tantas vezes, e com o maior empenho, havia declarado respeitar
rigorosamente. Rayneval exigia uma explicação «pronta e precisa» e que não poderia, nas
actuais circunstâncias ser «evasiva nem dilatória». Idêntica atitude tomou o embaixador de
Espanha em Lisboa, marquês de Campo Alange.
Explicações do Governo português. Actividade intensa através dos canais
diplomáticos.
Em 26 de Agosto entrava no Tejo uma fragata inglesa, «Santa Margarida», que trazia a
bordo o encarregado da missão diplomática, Lord Rosslyn.
Tanto a chegada da esquadra ao Tejo, como as propostas feitas pelo enviado a Araújo
de Azevedo e ao Príncipe Regente acerca do primeiro ponto da missão sobressaltaram a vida
de Lisboa, causando desgosto e grande receio, criando grandes complicações com os governos
de Paris e de Madrid, o que só prejudicava Portugal, economicamente e politicamente.
No dia seguinte à chegada de Rosslyn, Araújo
de
Azevedo,
conferenciando
com
o
diplomata
britânico, recusou formalmente todos os recursos que a
Inglaterra, sem que lhos tivessem solicitado, punha à
disposição de Portugal. Fundamentava essa rejeição no
facto,
aliás
bem conhecido,
de
não
existirem
preparativos militares suspeitos em Baiona, como se
propalara,
e
serem
as
informações
recebidas
oficialmente de Paris bastante tranquilizadoras.
O nosso Ministro iria desenvolver meritória
actividade
diplomática
nesta
difícil
conjuntura.
Respondeu aos representantes da Espanha e da França
para os sossegar, oficiou ao conde da Ega, embaixador de Portugal em Madrid, para Paris a D.
Lourenço de Lima e para Londres a D. Domingos de Sousa Coutinho, a participar-lhes o
acontecimento, a fim de esclarecer cada uma das Cortes acerca da posição que Portugal e o seu
Governo tomavam perante a inesperada situação.
Ao conde da Ega, para que o transmitisse ao Príncipe da Paz e aos Reis Católicos,
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
36
assegurou que o Príncipe Regente estava determinado a não desistir, de modo algum, do seu
sistema de neutralidade. Porém, como em Madrid se suspeitava que a vinda da missão Rosslyn
fora precedida de acordo entre Londres e Lisboa, Araújo de Azevedo assegurou que o boato
era não só destituído de fundamento como de verosimilhança e por si mesmo se destruía,
«porque ninguém pode conceber um fim sensato duma esquadra no Tejo, porque seria inútil
para defesa e ataque; ninguém pode suspeitar acordo com a Inglaterra para projectos hostis,
quando nós não temos feito a mínima disposição no nosso exército, antes o temos diminuído de
forças».
Oficiando a D. Lourenço de Lima, em 24 de Agosto e 3 de Setembro, relatava as
declarações de Rosslyn e reafirmava o propósito firme da manutenção de neutralidade,
expondo parte das objecções que havia oposto às afirmações e propostas do enviado
extraordinário da Inglaterra.
Quanto à partida de 30.000 homens de Baiona, eram unânimes «todas quantas
informações que havíamos recebido, em não existir ali mais do que uma brigada italiana de
1.700 homens, nem constava que houvesse movimentos de tropas para aquele sítio; que era
impossível, segundo o carácter de S. M. Imperial e Real, haver um determinação de nos
atacar, quando não existia motivo algum de ofensa, tendo Portugal estipulado com aquele
soberano a sua neutralidade, sempre observada com o maior rigor».
O ministro destacava a inutilidade e a incongruência do socorro inglês duma esquadra,
«contrário a todo o bom senso», pois não era com forças marítimas que Portugal se poderia
defender de uma invasão da França e Espanha pela fronteira terrestre, e acrescentava que «em
face do desacerto da Inglaterra», o Príncipe Regente havia deliberado, prevenindo Lord
Rosslyn e o Gabinete de Londres, de que manteria a neutralidade e de nenhum modo
provocaria a guerra. Assim, o Príncipe Regente não só recusava o auxílio, mas exigia a pronta
retirada da esquadra de Lord S. Vicente, pois era improcedente o motivo por que havia sido
enviada.
Após ter dado as necessárias explicações ao governo francês, Napoleão, numa
audiência a D. Lourenço de Lima, declara ao embaixador português que «tendo ele (Napoleão)
dado a sua palavra de honra, nada tinha a temer o Príncipe Regente de Portugal; mas que, se
a Inglaterra desembarcasse um só homem em território português, ele via em tal caso a
neutralidade violada, julgando-se como tal autorizado a tratar Portugal pelo modo que mais
adequado fosse aos seus altos desígnios».
Para Londres, Araújo de Azevedo, no seu despacho de 1 de Setembro enviado a D.
Domingos, foi suficientemente preciso e claro, pondo a situação criada pela Inglaterra em
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
37
termos concisos de atribuir-lhe a responsabilidade de uma agressão armada que poderia
resultar da sua insólita e precipitada atitude e manifestando a firme resolução de ser mantida a
neutralidade. O ter tomado a Inglaterra a deliberação de enviar ao Tejo a esquadra, enquanto
estavam decorrendo as negociações para a paz e estas se não haviam rompido, «foi um passo
contrário aos interesses deste País e parece-me que igualmente aos da Inglaterra. No público
ninguém entende esta marcha, e a julgam para executar projectos que não existem».
Considerava, ainda, o abalo que a situação havia causado na praça de Lisboa, «o susto
em que pôs o comércio» e a repercussão que ele inevitavelmente teria nas relações comerciais
dos outros países com Portugal, cujo comércio externo, assim de importação como de
exportação, se ressentiria pelo receio de os comerciantes estrangeiros negociarem com o nosso
País.
O Ministério britânico devia, pois, ponderar todas as circunstâncias e reconhecer quanto
era útil e necessário retirar a esquadra o mais depressa possível, caso contrário, seria quase
certo que Paris e Madrid se preparassem e agissem contra Portugal «pela consideração de que
o Gabinete londinense pretendia forçar este País à guerra e das consequências que um tal
facto originava a cada um deles».
Já ficou entendido que causara estranheza na Corte de Lisboa a circunstância de a
esquadra ter sido enviada para o Tejo sem que, como era normal, um facto tão importante fosse
precedido das necessárias e prévias conversações.
O Príncipe Regente confiava na amizade de S. M. B. e assegurava que não havia outro
meio de preservar a existência da Monarquia portuguesa, nas actuais circunstâncias da Europa,
além da manutenção da neutralidade, até à assinatura da Paz definitiva. E com clarividência,
indicava as consequências de se persistir na permanência da esquadra em Portugal: «Entrar em
guerra no momento em que a França está desembaraçada de toda a diversão, ou ainda mesmo
que pudéssemos fazer guerra ofensiva à Espanha, invadindo-lhe algumas das províncias, os
franceses passariam os Pirinéus para vir socorrer os seus aliados, e ficaria em seu poder a
sorte da Península».
O fim da missão Rosslyn.
Desarmado pela argumentação de Araújo de Azevedo, que em diversos pontos punha a
descoberto a inconsistência das razões alegadas pelo representante de S. M. B., Lord Rosslyn
acabou por considerar frustrado o êxito da sua missão, conforme o participava ao seu
Secretário de Estado: «…não se podia esperar que Portugal envidasse vigorosos esforços em
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
38
sua própria defesa e era evidente que as forças britânicas seriam por si sós, insuficientes para
repelirem uma invasão dos franceses».
Que as razões apresentadas pela Corte de Lisboa para se eximir à situação que o
Governo londinense pretendia alcançar fizeram reflectir profundamente Lord Rosslyn, é
demonstrado na sua confissão a Fox, expressa neste despacho. Em Portugal, dizia ele, não
havia a menor apreensão de perigo da parte da
França e todas as informações que ele próprio,
Rosslyn, tinha podido reunir, contradiziam a
suposição das concentrações das forças invasoras
em Baiona e, sendo assim, não só cessava a razão
do auxílio, mas também qualquer atitude de
violência em relação ao Governo de Lisboa
carecia de fundamento e justificação, vindo a ser
considerada aos olhos da Europa como um acto
agressivo, e inteiramente injustificável.
Rosslyn,
de acordo com a Corte de
Lisboa, propunha ao seu Governo que seria
preferível adiar qualquer acção para o momento
em que o risco fosse efectivo, «…então a razão que se sugeriu de se apossar dos fortes e
navios, pode ser alegada com propriedade; e estas medidas tão necessárias para a segurança
da Grã-Bretanha deviam ser postas em execução».
Finalmente, depois de por diversas vezes o Governo português ter dirigido ministério
britânico, por intermédio do nosso embaixador em Londres, fortes reclamações, Rosslyn foi
autorizado a declarar que o Governo Britânico não insistia mais no seu propósito, e em 28 de
Setembro a esquadra de Lord S. Vicente levantava ferro do porto de Lisboa, navegando para a
Sicília.
Concluindo este subtítulo pode, talvez, afirmar-se que o verdadeiro móbil vibrado pelo
governo londrino na neutralidade portuguesa teria ficado enterrado no segredo da Chancelaria
do Foreign Office. Porém, no campo das conjecturas poderia admitir-se que o Governo de
Londres tivesse em mente apropriar-se da esquadra portuguesa e, que ocupando Lisboa,
adquirir uma posição extraordinariamente favorável para contrabalançar as vantagens da
França na negociação da paz.
Combater a Espanha e a França no terreno? Parece ser uma hipótese demasiado
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
39
fragilizada.
Embora continuando no campo das conjecturas, não é de rejeitar que, em face da
insistência do Gabinete britânico na transferência da Corte portuguesa para o Brasil «a qual
fazia parte de recentes desígnios comerciais e de predomínio da Inglaterra naquele Estado,
mais tarde efectivados, que o verdadeiro fim do
Gabinete londinense era o desvio dos valores
nacionais para o continente americano».
Atente-se no seguinte: precisamente uma
semana depois da chegada da Corte ao Brasil, a
28 de Janeiro de 1808, o Príncipe Regente, ao que
parece também por influência do economista
brasileiro, José da Silva Lisboa, promulgou um decreto a mandar abrir os portos do Brasil ao
comércio geral, medida muito útil à Inglaterra e por ela desejada. E mais, quando se fez, com a
Inglaterra, o Tratado de 10 de Agosto de 1810, Portugal sacrificou os seus interesses e anuiu a
tudo quanto lhe fora proposto pelo hábil negociador inglês, aceitando mesmo, ou sendo
obrigado a aceitar, reduções de soberania.
O Bloqueio Continental.
As campanhas de 1805 e 1806 contra a Áustria, a Rússia e a Prússia, bem como as
situações políticas e diplomáticas que desencadearam, pareceram desviar, por algum tempo, a
atenção de Napoleão dos assuntos peninsulares em geral e de Portugal em especial. O
Imperador, como bom estratega que era, sabia bem o valor que representava para os seus
objectivos a incomparável posição de Portugal no xadrez europeu. Era apenas uma questão de
tempo e oportunidade. E assim veio a ser.
Em Outubro de 1806, Napoleão ganha aos prussianos a batalha de Iena, vendo, então,
que era chegado o momento de empreender contra a Inglaterra a acção decisiva uma vez que,
julgando-se seguro no continente, dispunha-se a ripostar à medida tomada pelo governo inglês,
seis meses antes, que declarara bloqueadas as costas, portos e rios entre Brest e a foz do Elba.
Napoleão ao decretar o Bloqueio Continental invocava o direito de retaliação, o que não
passava de mero pretexto, porquanto tratava-se da execução de um plano que há muito vinha a
ser delineado. O Bloqueio decretado por Napoleão, e promulgado em Berlim, tinha por fim
obrigar a Inglaterra a capitular, «conquérir la mer par la puissance de la terre», fechando-lhe
os mercados da Europa; pretendia arruinar o comércio da Inglaterra e obrigá-la à necessidade
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
40
de se humilhar perante a França e aceitar as condições da paz impostas pelo Imperador. Era
este o objectivo do decreto imperial, sendo as potências europeias “convidadas” a encerrar os
seus portos e mercados ao comércio britânico
As medidas tomadas
em
Berlim,
no
famoso
decreto de 21 de Novembro
de 1806, estavam redigidas
nos seguintes termos:
1º
-
As
Ilhas
Britânicas são declaradas
em estado de bloqueio.
2º -Todo o comércio
e correspondência com elas
ficam
proibidos.
consequência
disto,
Em
as
cartas ou outros papéis dirigidos à Inglaterra ou a um inglês, todos os escritos em língua
inglesa, não terão curso nos correios, e serão apreendidos.
3º - Todo o inglês residente nos países ocupados pelos franceses é declarado
prisioneiro de guerra.
4º - Toda a propriedade inglesa é considerada boa presa.
5º - O comércio das mercadorias inglesas fica proibido, e toda a mercadoria
pertencente à Inglaterra ou proveniente das suas fábricas e colónias fica declarada boa presa.
6º - Nenhum navio que vier, directamente de Inglaterra ou das colónias inglesas, ou
que ali tenha estado, depois da publicação do presente decreto, será recebido em parte
alguma.
Só em fins de Dezembro se soube em Portugal o conteúdo das medidas tomadas em
Berlim o que, como era natural, causou grande inquietação na Corte do Príncipe Regente.
Porém, as exigências francesas não se manifestaram desde logo, decorreram alguns meses até
que Portugal fosse incomodado, uma vez que Napoleão andava empenhado nas campanhas
militares do norte da Europa, submissão da Polónia e da Rússia. Em Maio de 1807, o Príncipe
Regente enviava ao Imperador «os seus cumprimentos pelas vitórias conseguidas e exprimia a
esperança de ver uma paz durável concluir-se» … só que estas cortesias não eram capazes de
disfarçar a incapacidade em que se achava D. João de fazer respeitar neutralidade do nosso
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
41
País.
Terminadas as referidas campanhas, e estabelecida a paz de Tilsit, a nova situação
político-militar representava para Portugal um enorme agravamento dos riscos da sua posição
revelando, claramente, a sua vulnerabilidade, e Napoleão estava bem informado das nossas
dificuldades e de tudo quanto se passava na Península.
Em 29 de Julho de 1807, Hautevire, que na ausência de Talleyrand dirigia as Relações
Exteriores, participava ao nosso embaixador, D. Lourenço de Lima, que a vontade do
Imperador era que Portugal fechasse os seus portos aos ingleses; que procedesse à detenção
dos que se achassem no nosso País e lhes confiscasse os seus navios, bens e propriedades; e,
finalmente, que despedisse o ministro inglês residente em Lisboa e chamasse o que tinha em
Londres, «constituindo-se, assim, em manifesto estado de guerra contra a Grã-Bretanha, aliás
a França lha declararia pela sua parte».
D. Lourenço de Lima mostrou-se surpreendido pelo facto de não se respeitar a nossa
neutralidade, obrigando-nos a declarar guerra aberta a uma nação aliada, ao que Hauterive
replicou dizendo que tinha ordens terminantes de Napoleão para não entrar com ele em
discussão sobre tal assunto, visto que as circunstâncias da neutralidade tinham caducado e, só
assim, a Inglaterra seria forçada a estabelecer a paz com a França
Então, o nosso embaixador pediu que se lhe dirigisse uma nota nesse sentido, o que lhe
foi negado com o pretexto de que Napoleão lhe tinha mandado dar parte disto por consideração
que tinha pela sua pessoa, porque a nota relativa a este ponto devia ser apresentada ao Governo
português pelo encarregado de negócios em Lisboa, Mr. Rayneval.
O ultimato francês a Portugal. (Oitenta e três anos antes do inglês!)
Efectivamente, em Agosto, Rayneval entregava ao nosso ministro dos Estrangeiros,
Araújo de Azevedo, o ultimatum da França.
O abaixo assinado, encarregado de Sua Majestade o Imperador e Rei teve ordem de
notificar ao governo de Sua Alteza Real o Príncipe Regente, o seguinte:
«À paz continental deve seguir-se a paz marítima. A perseverante injustiça do governo
inglês deve atrair-lhe a animadversão de todos os povos e desafiar o ressentimento a todos os
soberanos, cujos direitos mais sagrados têm sido constantemente desconhecidos por aquela
potência.
Nenhum povo nem governo tem mais razão de queixa da Inglaterra que o povo e o
governo de Portugal. As liberdades que o governo inglês toma em relação ao comércio e à
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
42
bandeira desta nação importam um verdadeiro atentado contra a sua independência.
Sua Majestade o Imperador e Rei, bastante reclamou contra esses atentados e muitas
vezes lamentou a paciência com que se toleravam, mas julga dever hoje declarar que se
Portugal sofresse mais tempo a opressão de que é vítima, teria Sua Majestade de considerar
esse procedimento como renúncia a toda a soberania e independência; e para manter a
dignidade de todas as potências continentais, assim como para satisfazer os mais caros e
sagrados interesses de oitenta milhões de homens que obedecem directamente às suas leis ou
às dos seus aliados, ver-se-lhe-ia obrigado a constranger o governo de Portugal a cumprir os
deveres que lhe impõem as relações que o ligam intimamente a todas as poêencias.
Portanto, o abaixo assinado teve ordem de declarar que se no primeiro de Setembro
próximo, Sua Alteza Real o Príncipe Regente de Portugal, não tiver manifestado o desígnio de
subtrair-se à influência inglesa, declarando imediatamente a guerra à Inglaterra, fazendo sair
o ministro de Sua Majestade Britânica, chamando de Londres o seu próprio embaixador,
retendo em reféns os ingleses estabelecidos em Portugal, confiscando as mercadorias inglesas,
fechando os seus portos ao comércio inglês, e enfim reunindo as suas esquadras às das
potências continentais, e nesse caso o abaixo assinado teria ordem de pedir o passaporte e
retirar-se declarando a guerra.
O abaixo assinado, ponderando os motivos que devem determinar a Corte de Portugal
na sua presente circunstância, espera que esta, esclarecida por sábios conselhos, entrará
franca e plenamente no sistema político mais conforme à sua dignidade, bem como aos seus
interesses, e que por fim se decidirá a fazer abertamente causa comum com todos os governos
do continente contra os opressores dos mares e inimigos da navegação de todos os povos,
O abaixo assinado, pede a S. Ex.ª o Sr. Araújo, ministro dos Negócios Estrangeiros e
da Guerra, que aceite a certeza da sua subida consideração. Lisboa, 12 de Agosto de 1807 –
Rayneval».
Precisamente nesse mesmo dia, também o embaixador espanhol em Lisboa, marquês de
Campo Alange, entregava o ultimato do seu país onde se declarava: «Si el Portugal deséa su
independencia y la seguridad de su comércio, no puede permanecer por más tiempo en la
inacion en que está».
Esclareça-se, a este propósito, que a Espanha tinha sido posta ao corrente que Napoleão
queria pôr em execução o seu antigo projecto da ocupação de Portugal. Godoy, que depois da
derrota da França em Trafalgar se tinha querido afastar deste país, ao saber da vitória do
Imperador no continente, de novo se tornava aliado e amigo de Napoleão, ia orientando a sua
política connosco, de modo a tornar complicadas as relações entre os dois países peninsulares.
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
43
Sobre o ultimato, de 12 de Agosto de 1807, entregue por Rayneval ao nosso ministro
dos Estrangeiros, este escrevia, em 21 de Agosto, a Talleyrand:
«Do íntimo da minha alma, aplaudi a celebração da paz continental, porque é um
grande bem para a humanidade, e porque fará universalmente prezado o nome do maior herói
que tem existido. Felicito Vossa Alteza, pela parte que tomou nessa obra, e desejo que a paz
marítima venha a coroar um tão feliz acontecimento e tanta glória.
Vossa Alteza, receberá dentro em pouco as respostas que tive ordem de dar ao
encarregado dos negócios de Sua Majestade o Imperador e Rei. Não é possível nem por
momentos duvidar, se a guerra prosseguir, que deixe de aniquilar o nosso comércio e de
passar o Brasil para o domínio ou protectorado de Inglaterra; esta adquirirá novas forças; é
verdade que os males são incalculáveis, especialmente para nós; mas a Espanha arrisca-se
também a perder as suas colónias, e a França a faltarem-lhe as matérias primas para as suas
fábricas. Todavia, Sua Alteza Real, depois de semelhantes considerações, entrega-se
completamente à decisão de Sua Majestade Imperial e Real, somente não pode prestar-se a
confiscar os bens aos ingleses e apoderar-se das suas pessoas, porque Sua Alteza Real declara
que tal procedimento seria contrário à sua honra e à sua consciência.
Estou certo que Sua Majestade Imperial e Real só quer apressar a realização de uma
paz útil ao universo…Sua Majestade Imperial e Real, sábio na arte da guerra e na política,
soberano ao mesmo tempo e árbitro da Europa, quererá a destruição da monarquia
portuguesa? É-me impossível acreditá-lo.
Desculpai se o amor da Pátria me fez ser um pouco mais difuso, aceitai os sentimentos
da subida estima e da mais distinta consideração com que tenho a honra de ser, etc.
Lisboa, 21 de Agosto de 1807 – António de Araújo de Azevedo».
Esta carta, que alguns consideram humilhante, não seria muito mais que uma resposta
esquiva, dúbia, como era frequente, “filha” das circunstâncias e por via da «dura Ley da
necessidade». Eurico de Ataíde Malafaia, da Academia Portuguesa de História, que levou a
cabo uma exaustiva investigação, nos arquivos nacionais e brasileiros sobre António de Araújo
de Azevedo, futuro Conde da Barca, considera que «em resultado da sua elevada cultura e do
seu posicionamento mental a favor de um liberalismo ponderado, pendia naturalmente para a
França sem que, contudo, isso tivesse reflexo nas suas atitudes políticas. Ele não poderia ser a
favor de uma política de um país que, a todo o custo, nos pretendia agredir e, por isso,
entendemos que ele seria mais provavelmente contra a Inglaterra do que a favor da França. E
porque não confiava nos ingleses, para quem o comércio era o factor determinante de toda a
sua política, teria naturalmente a esperança de que, mal por mal, era sempre preferível um
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
44
acomodamento com os franceses, mesmo à custa de dinheiro».
Entretanto, o ministro inglês em Lisboa Lord Strangford, pedia ao Governo português
segurança a respeito dos súbditos britânicos e dos seus bens, segurança que lhe foi garantida,
afiançando-lhe que o Príncipe Regente jamais anuiria à sua prisão, nem ao confisco das suas
propriedades.
Ao enviar idêntica comunicação para Londres, o Gabinete português pedia ao governo
de Sua Majestade que nos permitisse fechar os nossos portos aos navios ingleses e alvitrava,
segundo os conselhos de Strangford, que a Inglaterra fizesse uma guerra aparente a Portugal. O
governo britânico olhando como quimérico o pedido de guerra aparente rejeitou-o. Quanto à
clausura dos portos, o primeiro ministro, Mr. Canning, aceitava-a desde que os franceses não
entrassem na Península e oferecia, ainda, ao Príncipe Regente o socorro da sua esquadra, «e
toda a mais assistência de que carecesse» quando, eventualmente, a Família Real se decidisse
a transferir a sua residência para o Brasil.
Em Paris, D. Lourenço de Lima tentava, desesperadamente, negociar o ultimatum, já
que não era atendido pelo Imperador e esperava, em último recurso, subornar Talleyrand, como
era hábito. Porém, o seu amigo saiu do ministério dos Estrangeiros sendo substituído por
Champagny; em carta para Portugal o nosso representante dizia: «Muita falta nos faz este
homem. É perda para mim, na verdade, irreparável».
O Governo português via-se em circunstâncias cada vez mais críticas, até porque
Napoleão considerava inútil para com ele a política dilatória e equívoca de Araújo de Azevedo.
Em face da atitude irredutível do Imperador, o Governo de Lisboa começou a pensar
seriamente na partida da Família Real para o Brasil, visto que a defesa pelas armas do nosso
País parecia a todos impossível de se realizar com êxito.
Os homens do «partido francês», que dominavam já no Conselho do Príncipe Regente,
eram da opinião de que Portugal não poderia opor-se à intransigente vontade de Napoleão,
ideia também partilhada pelos embaixadores portugueses em Paris e Madrid, argumentando
aquele a “omnipotência” da França, e este o descarado servilismo do governo espanhol ao
francês. Quanto aos simpatizantes do «partido inglês», foram igualmente ouvidos, sendo
chamados ao Conselho de Estado, D. Rodrigo de Sousa Coutinho e D. João de Almeida de
Melo e Castro, opinando que a ruína de Portugal era certa, perdendo ao mesmo tempo o
comércio marítimo e as suas colónias, sendo por isso indispensável conservar-se Portugal a
todo o custo fiel à Grã-Bretanha, o que se tornava viável mudando-se a Família Real para o
Brasil. No entanto, ambos os «partidos» eram concordantes sobre a impossibilidade de fazer
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
45
frente ao colosso do continente europeu.
Tratado de Fontainebleau – decidida a sorte de Portugal.
Napoleão não tinha qualquer dúvida de que Portugal nunca faria seriamente guerra à
Inglaterra, que os seus portos só estariam fechados aparentemente aos navios britânicos e,
assim, fosse qual fosse a resolução do Governo português, não abandonaria a ideia de ter o
nosso País sob a sua tutela.
A situação agrava-se quando o encarregado de negócios da França, Rayneval, e o
embaixador de Espanha, Campo Alange, solicitaram ao Gabinete lisbonense uma imediata
resposta às exigências dos respectivos governos, ameaçando retirarem-se caso a resposta não
fosse conforme os desejos de Paris e de Madrid. Como a resposta foi considerada de má fé,
destinada a iludir as exigências feitas, o referido encarregado de negócios e o embaixador
deixaram Lisboa a 30 de Setembro.
A notícia de que Portugal recusara aceitar o ultimatum nas condições exigidas, soube-a
Napoleão em Fontainebleau, nos primeiros dias de Outubro, irritando-se, sobretudo, pelo facto
de, ao contrário das suas
imposições, se ter permitido a
saída dos ingleses com os
seus bens.
Como
consequência
imediata, no dia 9 do referido
mês,
foram
embargados
todos os navios portugueses
que
se
encontravam
nos
portos italianos, tornando-se
essa medida extensiva aos
portos
do
Império,
da
Holanda e de Hamburgo e,
dias depois, a 12 de Outubro,
Junot recebia ordens para entrar em Espanha, dirigindo-se, ao mesmo tempo, para Baiona vinte
e um regimentos de infantaria e um de dragões, seguindo-se outros preparativos militares.
Em Fontainebleau, onde se encontrava a Corte imperial, Napoleão, encolerizado pelo
comportamento do Governo de Lisboa, teria proclamado, perante a sua roda de amigos e a todo
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
46
o corpo diplomático, a celebre frase «a Casa de Bragança deixou de reinar em Portugal».
Napoleão, irritado com o jogo duplo do nosso Governo que procurava neutralizar as exigências
francesas, confiava ao general Duroc a missão de conduzir com Eugénio Izquierdo,
embaixador de espanha em paris, uma negociação sobre os assuntos em suspenso entre a
França e Espanha, nomeadamente no que dizia respeito a Portugal:
«Quanto a Portugal – confiava o Imperador a Duroc – não levantarei dificuldades em
dar ao rei de Espanha uma soberania sobre Portugal e mesmo em separar daí uma pequena
parte para a rainha da Etrúria e para o Príncipe da Paz».
Depois de resolvidas algumas diferenças entre Duroc e Izquierdo as negociações
franco-espanholas ficaram concluídas a 27 de Outubro, e que o Imperador referendou a 29, no
Tratado de Fontainebleau onde ficou estabelecido o texto que partilhava Portugal:
As províncias de Entre Douro e Minho com a cidade do Porto formariam o reino da
Lusitânia que seria dado com soberania total ao rei da Etrúria, neto do rei de Espanha, que
cederia o reino da Etrúria, em toda a sua soberania, ao Imperador dos franceses; o Alentejo e o
Algarve ficariam a pertencer a Godoy, O Príncipe da Paz, que teria o título de Príncipe dos
Algarves; as províncias da Beira, Trás-os-Montes e Estremadura ficavam «em depósito até à
paz geral, para dispor delas segundo as circunstâncias, e conforme ao que se convenha entre
as duas altas partes contratantes»; o reino da Lusitânia e o principado dos Algarves seriam
hereditários na descendência dos seus soberanos; por falta de herdeiro legítimo, essas regiões
seriam entregues ao rei de Espanha, na condição de jamais serem governadas por um só
príncipe ou reunidas à coroa de Espanha; os soberanos do reino da Lusitânia e dos Algarves
reconheciam como protector o rei de Espanha e não poderiam fazer a guerra nem a paz sem o
seu consentimento; as duas partes contratantes partilhavam entre si, em partes iguais, as
colónias e ilhas de Portugal.
Uma convenção da mesma data regulava a invasão e ocupação de Portugal, assim como
o modo da sua administração depois da conquista.
Do Tratado de Fontainebleau não deu o Governo imperial conhecimento ao embaixador
D. Lourenço de Lima a quem, aliás, mandava sair de Paris no prazo de dois dias e da França no
espaço de quinze, com todos os outros elementos da legação portuguesa e ordem semelhante,
do governo espanhol, recebia o conde da Ega, embaixador em Madrid, por motivo da
declaração de guerra que a França e Espanha faziam a Portugal.
Curiosamente, cinco dias antes, a 22 de Outubro de 1807, as negociações que D.
Domingos de Sousa Coutinho conduzia em Londres desde Setembro, terminaram com uma
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
47
convenção secreta entre o Príncipe Regente e Jorge III de Inglaterra, só que… como sempre, os
nossos “amigos” britânicos impunham as condições a seu bel-prazer e normalmente, (ou
sempre?) os tratados com a velha “Albion” só eram honradamente cumpridos da nossa parte.
O preâmbulo, que segundo o embaixador português fora escrito pelo punho de Lord
Canning, responsável pelo Foreign Office, «era extremamente severo para Portugal,
constituindo afinal uma justificação para eventuais represálias que a Inglaterra podia adoptar
em caso de cedência pelo governo de Portugal às exigências francesas».
As próprias cláusulas eram portadoras de obrigações onerosas para Portugal, prevendo,
e que veio a acontecer, a ocupação da Ilha da Madeira, «mantendo-se essa ocupação até à
conclusão da paz definitiva entre a Grã-Bretanha e a França»; autorização de entrada dos
navios ingleses num porto do Brasil, provavelmente no de Santa Catarina, no caso de
encerramento dos portos.
De harmonia com essa convenção a Família Real devia transferir-se para o Brasil,
devendo fazer-se acompanhar por toda a frota nacional, mercante ou de guerra, sob o apoio
naval da Inglaterra. Esse apoio, que garantiria a «transmigração» da Corte para o Brasil,
deveria ser compensado (pois claro!) por um Tratado de Comércio de longa duração. A isto se
referia o artigo VII da convenção: «Quando o Governo Português estiver estabelecido no
Brasil, proceder-se-á à negociação de um Tratado de Auxílio e Comércio entre o Governo
Português e a Grã-Bretanha».
Ao fim e ao cabo, a Inglaterra comprometendo-se a proteger a transferência da Família
Real comprometia, igualmente, a escassa margem de autonomia que o Governo português
ainda controlava.
A transferência da Corte para o Brasil.
Em Outubro de 1807, as tropas associadas em Baiona, comandadas pelo ex-embaixador
em Lisboa, o general Junot, começaram a dirigir-se para a fronteira portuguesa, onde a
vanguarda, os primeiros destacamentos, entraram, pela Beira Baixa, a 18 de Novembro.
Dois dias antes aportava ao Tejo uma armada inglesa, comandada por Sir Sidney Smith,
transportando uma força de 7.000 homens de desembarque, preparada para escoltar a Família
Real para o Brasil, ou bloquear o porto, tentando evitar, deste modo, que os navios mercantes
ou de guerra de Portugal fossem tomados pelos franceses. Com efeito, o almirante Smith e o
embaixador Strangford decidiram-se pelo bloqueamento, comunicando ao Gabinete lisbonense
que os despachos do Foreign Office, só admitiam que o bloqueio fosse levantado mediante a
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
48
pronta entrega da frota portuguesa ou a sua partida para o Brasil transportando a Família Real.
Foi nestas circunstâncias que chegou a Lisboa um correio extraordinário remetido pelo
nosso embaixador em Londres, Domingos de Sousa Coutinho. O correio era portador de uma
notícia bem preocupante. Trazia a cópia de um artigo de fundo publicado no «Moniteur»,
órgão oficioso do governo francês, 12 de Novembro de 1807. Referindo-se à situação em que a
Inglaterra deixava Portugal, declarava, abertamente, que o Imperador resolvera eliminar a Casa
de Bragança: «…O príncipe Regente deste reino perde o seu trono, e perde-o influenciado
pelas intrigas dos ingleses; perde-o por não ter querido
apreender as mercadorias inglesas que estão em
Lisboa. Que faz, portanto, a Inglaterra, esta sua aliada
tão poderosa? Ela olha com indiferença para o que se
passa em Portugal. Que fará ela, quando for tomado
este reino? Ir-se-á assenhorear do Brasil? Não: se os
ingleses fizerem esta tentativa, os católicos os expulsarão. A queda da Casa de Bragança
ficará portanto sendo uma nova prova de que é inevitável a perda de qualquer que se ligar aos
ingleses». Reproduzia, ainda, o Tratado de Fontainebleau e, obviamente, a intenção do
Imperador de proceder ao desmembramento do território nacional «em função das
conveniências da sua política europeia».
Embora o artigo, ou parte dele, acima transcrito, seja da redacção do «Moniteur», nada
de relevo ali se publicava sem o prévio beneplácito e consentimento do governo que ordenou,
ou consentiu, a publicação do referido artigo, talvez pela suposição de que o exército já tinha
entrado em Lisboa, por via das ordens terminantes que para isso se tinham dado a Junot, ou de
não ser possível que de França, ou mesmo de Inglaterra, pudesse aquela folha chegar às mãos
do Governo português, antes da chegada do general a Lisboa.
Pelo menos, desde 21 de Novembro que se sabia em Lisboa qual a posição e progressão
acerca do exército de Junot que, por essa altura, estava em marcha entre Vila Velha de Ródão e
Abrantes. Precisamente naquele mesmo dia, perante o perigo que se avizinhava, Araújo de
Azevedo dirige uma carta a D. João a sugerir que convocasse, sem demora, o Conselho de
Estado.
Desde logo, o Príncipe Regente incumbiu o Ministro de convocar o referido Conselho,
sendo já com inteiro conhecimento dos termos do Tratado de Fontainebleau e da presença do
exército francês em Abrantes, que os conselheiros se reuniram, pela última vez, na manhã de
24 de Novembro, no Palácio da Ajuda.
Depois dos conselheiros terem tomado conhecimento de uma nota do embaixador
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
49
Strangford solicitando uma audiência a S. A. R. e de um ofício de Sir Sidney Smith,
comandante da esquadra que bloqueava o porto, anunciando o
tratamento hostil que praticaria se as disposições de Portugal não
fossem amigáveis, deliberou-se que:
«Pareceu aos Conselheiros de Estado que havendo-se
esgotado todos os meios de negociação e não havendo
esperança alguma discreta que por tais expedientes se
removesse o perigo iminente que ameaça a existência da
Monarquia, soberania e independência de S. A. R., achando-se
entradas nelas tropas francesas, se não devia perder um só
instante em acelerar o embarque de S. A. R. o Príncipe Regente Nosso Senhor e de toda a Real
Família para o Brasil;
Que em tais circunstâncias se devia responder a Lord Strangford participando-lhe a
conferência que S. A. R. lhe concedia;
Que ao ofício de Sir Sidney Smith haja de se responder significando-lhe as disposições
de Sua Alteza Real a receber a esquadra inglesa nos seus portos e os seus desejos de que lhe
haja de entrar quanto antes;
Que
actualmente
as
tropas
que
guarnecendo
as
se
acham
margens,
fortalezas e baterias do Tejo hajam de se
retirar daquelas posições e passarem a
ocupar os sítios que S. A. R. lhes destinar,
expedindo-se ordens aos governadores das
torres e fortalezas para que hajam de
franquear a entrada do porto, a todos os navios ingleses, assim de guerra como mercantes.
Que resolvendo-se S. A.R. a passar para o Brasil deverá estabelecer-se um Conselho
de Regência na forma que se tem praticado em ocorrências tais e nas ocasiões em que este
Reino se tem achado sem legítimo soberano, devendo esta Regência, com os poderes régios
que lhe forem delegados por S. A. R., ser composta das principais e de altas graduações
militares que S. A. R. houver de eleger.
Palácio de Nª. Sª da Ajuda, 24 de Novembro de 1807».
Seguem-se as assinaturas dos conselheiros.
A mudança da Corte para o Brasil não aparecia agora pela primeira vez, era uma ideia
antiga e sempre renovada em épocas de crise política e de gravidade para a independência
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
50
nacional.
A ideia não surgiu apenas a 24 de Novembro, quando o Conselho de Estado sancionou
a transferência, era um processo que tinha vindo a amadurecer. Desde Agosto que os trabalhos
nos estaleiros e no Arsenal estavam em intensa laboração, suscitando a curiosidade popular e
alimentando rumores cada vez mais insistentes sobre a iminente partida. O facto de terem
decorrido, somente, três dias entre a deliberação do Conselho de Estado e a saída da Corte,
parece provar que a partir de determinado momento a situação se tornou irreversível. E mais,
Araújo de Azevedo já tinha considerado, perspicaz como era, o «alcance proveitoso da ida do
Príncipe da Beira, D. Pedro, para o Brasil, ainda antes da mudança dos restantes membros da
Família Real, ida essa que factos ponderosos detiveram».
No entanto, a fixação da Corte no Brasil foi sempre criticada pelo «partido francês» e,
obviamente, pela Espanha e França. A este propósito referi, anteriormente, que Araújo era tido,
ou rotulado de francófilo, mas ficou, então, explícito, qual era o “tipo” da sua francofilia.
Araújo de Azevedo, nesta delicada situação, foi um grande propugnador da ideia e, pode
considerar-se que, no seio do Gabinete, terá sido daqueles que mais influência tiveram na
resolução do Príncipe Regente.
Como já se referiu, os rumores sobre a próxima partida do Príncipe Regente circulavam
há muito entre o povo de Lisboa, a movimentação atarefada na cidade, particularmente junto
ao porto, onde era notória a acumulação de fardos e caixotes pertencentes à Corte e aos
particulares que se preparavam para partir, não podia deixar de causar algum constrangimento.
Não deixaria de ser algo dolorosa, particularmente num regime paternalista, como foi o nosso
até ao advento do miguelismo, a separação do Príncipe, «amado por seus súbditos, do povo
que o ama e o venera». Com efeito, a preocupação do Príncipe Regente não seria propriamente
pela segurança do embarque que a progressão de Junot poderia pôr em perigo, mas antes as
eventuais dificuldades que poderiam resultar dum amotinamento da população de Lisboa, tanto
assim que a Família Real se manteve em Mafra até ao dia 27, tendo aproveitado os dias 24, 25
e 26 para preparar o seu embarque e de todos os elementos da Corte que a acompanhavam.
Foi precisamente a 26 de Novembro, véspera do embarque, que o Príncipe Regente
dava a conhecer, através da publicação do real decreto, a sua intenção de transferir a sede do
Governo para o Rio de Janeiro:
«Tendo procurado por todos os meios possíveis conservar a neutralidade, de que até
agora têm gozado os meus fieis e amados vassalos, e apesar de exaurido o meu Real Erário, e
de todos os mais sacrifícios, a que me tenho sujeitado, chegando ao excesso de fechar os
portos dos meus reinos aos vassalos do meu amigo e leal aliado, o rei da Grã-Bretanha,
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
51
expondo o comércio dos meus vassalos à total ruína, e a sofrer por este motivo grave prejuízo
nos rendimentos da minha Coroa: vejo que pelo interior do meu reino marcham tropas do
Imperador dos franceses e rei de Itália, a quem eu me havia unido no continente, na persuasão
de não ser mais inquietado, e que as mesmas se dirigem a esta capital; e querendo eu evitar as
funestas consequências, que se podem seguir de uma defesa, que seria mais nociva que
proveitosa, servindo só de derramar sangue em prejuízo da humanidade, e capaz de acender
mais a dissenção de umas tropas, que têm transitado por este reino, com o anúncio e promessa
de não cometerem a menor hostilidade; conhecendo igualmente que elas se dirigem muito
particularmente contra a minha Real Pessoa, e que os meus leais vassalos serão menos
inquietados, ausentando-me eu deste reino...».
Para dirigir o País e garantir a boa marcha da administração, o Príncipe nomeou uma
Junta de Governadores, com nobres e magistrados da sua máxima confiança, nenhum deles,
supunha, conotado com correntes da “francesia”, constituída pelo Marquês de Abrantes,
tenente-general Francisco da Cunha e Menezes, principal da patriarcal de Lisboa, D. Francisco
Rafael de Castro, ao qual foi também conferido o cargo de Regedor da Justiça, Pedro de Melo
Breyner, que seria também Presidente do Real Erário no impedimento de Luiz Vasconcelos e
Sousa, tenente-general D. Francisco Xavier de Noronha e, para substituir algum dos
mencionados, o Conde de Castro Marim, Conde de Sampaio, D. Miguel Pereira Forjaz e João
António Salter de Mendonça: «…Tendo por certo que os meus reinos, e povos, serão
governados e regidos por maneira que a minha consciência seja descarregada, e eles
governadores cumpram a sua obrigação, enquanto Deus permitir que eu esteja ausente desta
capital, administrando a Justiça com imparcialidade, distribuindo os prémio e castigos
conforme os merecimentos de cada um…».
O embarque realizou-se a 27 de Novembro. Porém, as condições meteorológicas
desfavoráveis não favoreciam a saída da barra à esquadra, causando natural ansiedade a bordo,
temendo que os franceses chegassem de um momento para o outro e, apoderando-se das
fortalezas que defendiam a barra, impedissem a «transmigração».
Com a Família Real seguiam também António de Araújo de Azevedo, Rodrigo de
Sousa Coutinho e outros que nos acontecimentos haviam desempenhado papeis de
importância, membros da alta nobreza, religiosos, funcionários da Administração, servidores
do Paço, todos com suas famílias e numerosa criadagem, num total calculado em cerca de
15.000 pessoas, de ambos os sexos e de todas as idades, valor que representava uma
percentagem aparentemente insignificante da população. Grande parte dos embarcados era
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
52
proveniente das classes abastadas; tesouros de arte, móveis, livros, guarda-roupas e outros
objectos de valor que acompanhavam os seus possuidores, tudo avaliado, ao tempo, em mais
de 80 milhões de cruzados, fora os fardos e bagagens que não puderam ser carregados por falta
espaço ou de tempo
Era muita a gente que queria acompanhar o Príncipe ou, simplesmente, fugir do
exército francês que se encontrava já às portas da cidade, mas nem todos que o desejavam fazer
o conseguiram, quer por falta de recursos, quer devido à sobrelotação das embarcações.
A esquadra régia, conforme comunicação dirigida pelo comando português ao almirante
britânico, era constituída pelas naus «Príncipe Real», levando a bordo D. João com a rainhamãe, o Príncipe da Beira, D. Pedro de Alcântara, filho primogénito, e o Infante de Espanha D.
Pedro Carlos, que depois foi seu genro; a «Rainha de Portugal», transportando a seu bordo a
princesa D. Carlota Joaquina e o resto dos seus filhos; a «Príncipe do Brasil», que conduzia as
princesas, irmãs da rainha D. Maria I. A Corte e os Ministros de Estado iam a bordo das
diferentes naus, que eram a «Conde D. Henrique», a «Medusa», «Afonso de Albuquerque», «D.
João de Castro» e a «Martim de Freitas». Três fragatas, quatro lugres e várias embarcações de
transporte, cerca de quarenta, completavam a frota.
A 28 de Novembro, a esquadra continuava fundeada porque o tempo e o mar agitado
impediam a partida. No dia seguinte, ao amanhecer, o tempo mudava e o vento estava também
de feição permitindo à esquadra levantar ferro e sair a barra, «recebendo pelo meio dia, as
últimas saudações das fortalezas, que guarneciam a entrada da barra e defendiam a cidade de
Lisboa».
Quando pelas quatro horas da tarde a esquadra portuguesa passou junto da esquadra
britânica, foi saudada com muitos vivas e salvas de artilharia; Sir Sidney Smith foi a bordo
apresentar os seus respeitos ao Príncipe Regente e oferecer-lhe para o acompanharem na
viagem as quatro naus de linha «Marlborough», «Monarch», «Bedford» e «London».
Às oito horas da manhã do dia seguinte àquele em que saíram os navios, Junot surgia
em Lisboa comandando a vanguarda das tropas francesas «que ainda terão podido vê-las
afastando-se no horizonte», tendo o general expressado ao Imperador a sua pena por não ter
podido cumprir a missão de impedir a partida do Príncipe e, certamente, a sua prisão.
Em conclusão, pode dizer-se que a ocupação francesa não era suficiente para a posse de
Portugal, porquanto a legitimidade nacional era inerente ao futuro D. João VI que a levou
consigo para o Brasil. Não se tratou de uma retirada precipitada e muito menos de uma “fuga”,
como a historiografia liberal pretendeu divulgar e, nos meus primeiros tempos de estudo, vi
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
53
estampada em alguns compêndios.
O Príncipe Regente, enquanto pôde, negociou e cedeu, esgotando todos os meios que
evitassem a ocupação do País, já que a resistência militar, por todos os motivos, se revelava
impossível. D. João não «fugiu» para o Brasil: «…Tenho resolvido, em benefício dos mesmos
meus vassalos, passar com a Rainha Minha Senhora e Mãe, e com toda a Real Família para os
Estados da América, e estabelecer-me na cidade do Rio de Janeiro até à paz geral».
A mudança de capital aparecia como medida de recurso, de emergência e temporária,
sendo no caso presente a solução mais aconselhável prudente e mais de acordo com o interesse
nacional; terá sido o meio mais eficaz de preservar a dignidade da Coroa e com ela a liberdade
política conservando-se, assim, o direito de intervenção nos sucessos internacionais.
E mais, a permanência da Corte em terras brasileiras, durante cerca de 15 anos, foi um
factor decisivo na instauração da Monarquia Constitucional, vigente até à proclamação da
República em 1910, bem como ter aberto ao Brasil as portas da independência.
Bibliografia consultada.
A – Manuscritos:
«Cartas do Conde de Vila Verde». Secção B. O. – Caixa nº 7. Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Braga.
«Copiador Diplomático» – Secção Barca Oliveira – B. O. 959. Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Braga.
B – Obras Impressas:
Barreiros, Coronel José Baptista – «Preliminares da 1ª Invasão Francesa em Portugal». Comunicação ao II
Congresso Histórico Internacional de la Guerra de la Independência y su Época. Edição da Delegação Bracarense
da Sociedade Histórica da Independência de Portugal.
Barreiros, Coronel José Baptista – «Ensaio de Biografia do Conde da Barca». Edição da Delegação Bracarense
da Sociedade Histórica da Independência de Portugal.
Barreiros, Coronel José Baptista – «Correspondência Inédita entre o Conde da Barca e José Egídio Álvares de
Almeida, secretário particular de El – Rei D. João VI. Edição da Sociedade Histórica da Independência de
Portugal. Lisboa, 1966.
Brandão, Raul – «El-Rei Junot». Renascença Portuguesa. 2ª Edição. Porto, 1919.
Brazão, Eduardo – «História Diplomática de Portugal», Vol. I (1640 – 1815). Livraria Rodrigues. Lisboa, 1932.
Chagas, Manuel Pinheiro – «História de Portugal». Vol. VII, 3ª edição. Empresa da História de Portugal,
Sociedade Editora, MDCCCCII.
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
54
Gotteri, Nicole – «Napoleão e Portugal». Título original, «Napoléon et le Portugal», tradução de Paula Reis.
Editorial Teorema.
Jaca, Carlos – «Cartas do Conde de Vila Verde para o Conde da Barca», Subsídios para o estudo da Neutralidade
Portuguesa (1804 – 1806). Dissertação de licenciatura apresentada à Faculdade de Letra da Universidade de
Coimbra. 1970.
Jaca, Carlos – «O exército português e as invasões napoleónicas». Revista «História», nº 28, Fevereiro de 1981;
«A neutralidade portuguesa no conflito franco – inglês». Revista «História», nº 64, Fevereiro de 1984; «Junot,
embaixador em Lisboa». Revista «História», nº 77, Março de 1985.
Malafaia, Eurico de Ataíde – «António de Araújo de Azevedo, Conde da Barca – Diplomata e Estadista».
Subsídios documentais sobre a época e a personalidade. Arquivo Distrital de Braga / Universidade do Minho,
2004.
Malafaia, Eurico de Ataíde – «A Guerra Peninsular». Da génese ao seu termo (1793 – 1813). Arquivo Distrital de
Braga /Universidade do Minho, 2007.
Martinez, Pedro – «História Diplomática de Portugal», 2ª edição, 1992. Editorial Verbo
Matos, Manuel Cadafaz de – «A Correspondência Inédita do Embaixador de Portugal em Paris, D. Vicente de
Sousa Coutinho». Revista da História das Ideias 10. Instituto de História e Teoria das Ideias. Faculdade de Letras.
Coimbra, 1988.
Pedreira, Jorge e Costa, Fernando Dores – «D. João VI». Direcção de Roberto Carneiro. Círculo de Leitores e
Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa da Universidade Católica Portuguesa, 2006.
Peres, Damião – «História de Portugal». Vol. VI. Edição Monumental, Barcelos, MCMXXVIII.
Pintassilgo, Joaquim – «A Revolução Francesa na Perspectiva de um Diplomata Português». Revista da História
das Ideias 10. Instituto de História e Teoria das Ideias. Faculdade de Letras. Coimbra, 1988.
Ramos, Luís A. de Oliveira Ramos – «Sob o Signo das Luzes» – Reflexão sobre as origens do liberalismo em
Portugal, alguns aspectos. Temas Portugueses. Imprensa Nacional – Casa da Moeda.
Ramos, Luís A. de Oliveira Ramos – «D. Maria I». Círculo de Leitores, 2007.
Santos, Maria Helena Carvalho dos Santos – «A Evolução da Ideia de Constituição em Portugal». Revista da
História das Ideias 10. Instituto de História e Teoria das Ideias. Faculdade de Letras. Coimbra, 1988.
Serrão, Joaquim Veríssimo – «História de Portugal» – Vol. VI. Editorial Verbo, 1982.
Soriano, Simão José da Luz – «História da Guerra Civil e do Estabelecimento do Governo Parlamentar em
Portugal», Primeira Epocha, Tomo II. Lisboa, Imprensa Nacional, 1867.
Carlos Jaca Invasões Francesas Parte II
55