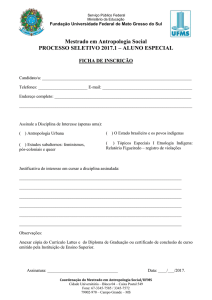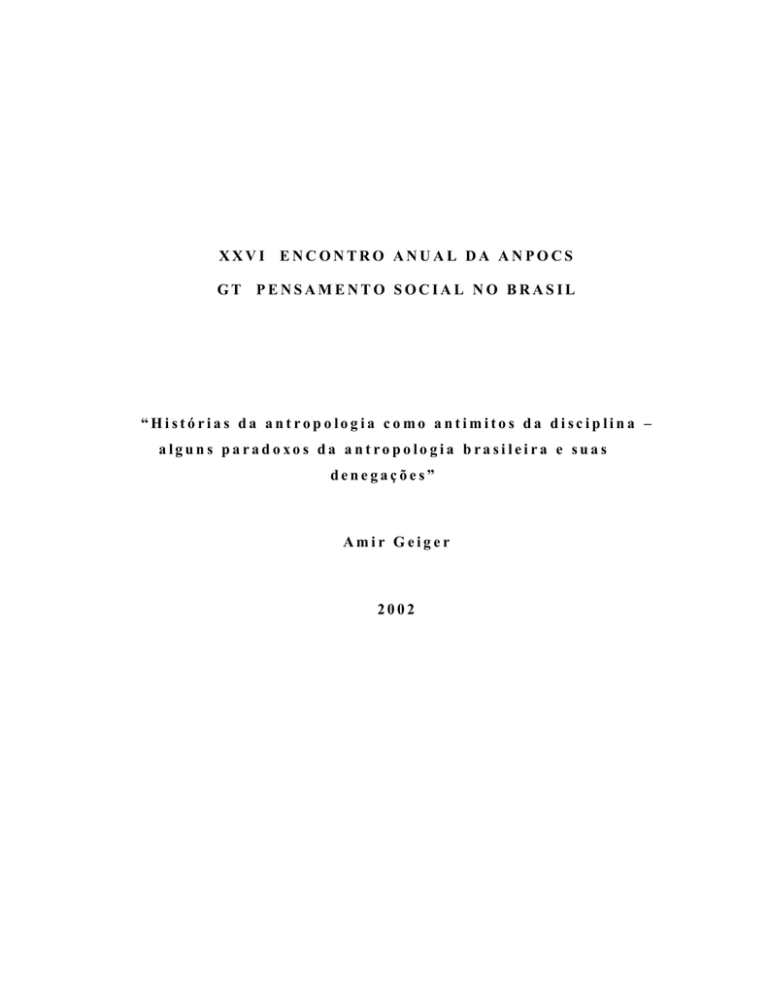
XXVI ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS
GT PENSAMENTO SOCIAL NO BRASIL
“Histórias da ant rop ologia como antimitos da discip lin a –
a lgun s pa rad o xo s da a nt ro po lo gia b ra si lei ra e sua s
denegações”
Amir Geiger
2002
1
HISTÓRIAS DA ANTROPOLOGIA COMO ANTIMITOS DA DISCIPLINA
Amir Geiger
...rebuild the foundation if you must, but save the superstructure.
W.V.Quine
Foundations of Mathematics
A relação entre antropologia e literatura já se incorporou fortemente, como matéria de
reflexão, à autoconsciência dos antropólogos. Essa situação, que se consolidou manifestamente na
década de 1980, envolve vários aspectos e expressões distintas, para não dizer posições
discrepantes. Ela não poderia ser invocada como ponto de partida teórico de alguma análise a ser
empreendida; é simplesmente evocada como um ‘fato interpretativo’1, uma inflexão do espírito
com que se pensa e se faz antropologia.
Pois o que se observa não é o desenvolvimento de um campo renovado de estudos da
produção literária como fato cultural, e sim uma compreensão literária, pelos antropólogos, da
produção antropológica. Em outras palavras, a relação aludida não nos é especialmente relevante
nem como dado substantivo nem como postulado teórico. Está num plano menos categórico do
saber: o movimento de ‘literatização’ da (auto-compreensão da) antropologia, pela via da
textualidade, chegou também a uma consideração crítica e questionadora sobre as relações da
antropologia com a modernidade. Mas tal consideração não deixou de ser pensada em termos
‘metropolitanos’, de difícil correspondência com situações como a brasileira, o que traz um
elemento lacunar, de defasagem, que está no cerne do argumento.
Clifford Geertz é um dos principais autores associados à abordagem literarizante ou
textualista da antropologia. A proximidade com a literatura caracteriza, de modos diversos,
muitos outros antropólogos, mas Geertz merece foco especial, por acrescentar à literariedade de
seus escritos e ao interesse explícito pelas questões literárias uma conceitualização antropológica
a esse respeito, que mobiliza outras conceitualizações em campos (inter)disciplinares próximos.
1
Será usado o seguinte critério gráfico: termos entre aspas duplas são emprestados à obra ou autor
citados no texto ou imediatamente depreensíveis do contexto; aspas simples indicam terminologia
criada/empregada ad hoc, ou descontextualizada, ou para a qual se quer chamar atenção desnaturalizandolhe o sentido. As aspas simples marcam também termos ou trechos que figuram originalmente como
citação no interior dos trechos aqui citados.
1
2
Anunciando uma “refiguração do pensamento social”, ele falava em “blurred genres” no campo
das ciências sociais e das humanidades em geral – uma perda dos contornos precisos dos gêneros
textuais (mas não uma indistinção pervasiva no núcleo desses gêneros). 2
Quando prospera a “dispersão” e proliferam as “convenções de interpretação”, quando a
situação é “at once fluid, plural, uncentered, and ineradicably untidy”, dá-se que nem mesmo a
“oft lamented lack of character [das ciências sociais] no longer sets them apart” (Geertz, 1983a,
p.21). As características distintivas dos textos aparecem como não mais importantes do que
aquelas propriedades que as nivelam “ontologicamente” (idem, p.20) A coerência ou significado
das obras faz-se cada vez mais um desempenho dentro de uma rede textual des-hierarquizada,
‘descategorializada’ – e com certeza esta é uma das versões do pós-moderno “fim das
metanarrativas” (lembre-se o título da coletânea em que figura este texto de Geertz: Local
Knowledge). Mas a versão geertziana da contemporaneidade é cultural, de certo modo ainda
culturalista.
Se a percepção e o entendimento se dão como interpretação, não têm por tarefa descobrir o
que velado estava na realidade, nem acrescentam significação à neutralidade das coisas. A
articulação do cultural com o textual se apresenta de um modo complexo, “auto-referido”: o
cultural (ou social) se apresenta como fenômeno nos textos que se debruçam sobre o próprio
social (ou cultural). O olhar é, então, uma troca de olhares, uma cumplicidade com o olhado.
Geertz não está apresentando uma mudança de paradigma, mas uma ‘desparadigmatização’:
(...) it is not just another redrawing of the cultural map – the moving of a
few disputed borders, the marking of some more picturesque mountain
lakes – but an alteration of the principles of mapping. (idem, p.20)
Para Geertz, a ‘literatização’ das ciências sociais não é uma desfiguração de um gênero uno
e coeso, mas a “refiguração”, pela indistinção, daquilo que ele representa. As ciências sociais não
são ‘mera’ literatura; nem os cientistas sociais do momento, literatos deslocados ou diletantes.
2
Eis alguns exemplos extraídos de sua apresentação, proposital e significativamente anedótica e
caricatural: “(...) philosophical inquiries looking like literary criticism (think of Stanley Cavell on Beckett
or Thoreau, Sartre on Flaubert), scientific discussions looking like belles lettres morceaux (Lewis Thomas,
Loren Eiseley), baroque fantasies presented as deadpan empirical observations (Borges, Barthelme),
histories that consist of equations and tables or law court testimony (Fogel and Egerman, Le Roi Ladurie),
.... parables posing as ethnographies (Cast[a]n[e]da), theoretical treatises set out as travelogues (LéviStrauss), ideological arguments cast as historiographical inquiries (Said), epistemological studies
constructed like political tracts (Paul Feyerabend) ....” (Geertz, 1983a, p.20)
2
3
Literatura – isto é, literariedade, “caráter literário” (Geertz, 1988) – significa textualidade das
obras e autoralidade de seus produtores, e estes e estas são entendidos de um modo que se quer
ainda antropológico: há uma ‘teoria da cultura’ e, mais concretamente, uma noção de observação
cultural, operando nessa perspectiva. O interpretativismo “hermenêutico” de Geertz, sua adesão
ao “the model of the text” (Ricoeur, 1984), é inteiramente compatível com seu diagnóstico do
projeto antropológico e das ciências sociais, ao supor um ‘texto cultural’ que, se não abona o
relato do antropólogo, não deixa de dividir com ele (o relato) sua textualidade: nativo e
observador são analogamente hermeneutas, leitores e produtores de interpretações (Geertz, 1973).
O texto não é escamoteamento e artificiosidade – fictio/fake –, é instância de criatividade (factor);
e a ‘autoralidade’ do etnógrafo se mede pelo que divide com o nativo como co-autor de sua
(interpretação do texto da) cultura.
Para Geertz, trata-se de encontrar um nexo entre a noção de compreensão antropológica –
que não recusa a divisa malinowskiana do “from the native’s point of view” – e a percepção do
fazer (textual) do antropólogo. O célebre caso da publicação dos diários de campo de Malinowski
– nos quais este se revela bem mais longe de uma “comunhão” com os nativos trobriandeses do
que sua etnografia (e não menos a autoridade plenamente exercida nela e através dela) chegou a
fazer crer – serve a Geertz como oportunidade para desmanchar o “mito” que representa o
fieldworker como um “walking miracle of empathy, tact, patience, and cosmopolitanism”
(Geertz, 1983b, p.56). A compreensão antropológica reside menos numa inefável experiência
empática e direta do que na tradução de uma atividade indireta, a de lidar com a acessibilidade de
uma experiência alheia: a noção de que o antropólogo interpreta a interpretação nativa (Geertz,
1973) conjuga-se com a idéia de que ele afinal lida com (as correlações possíveis entre) conceitos
“experience-near” e “experience-distant”. Ver como o nativo não é um achado, mas uma
demanda; uma atividade de composição – conceitos, perspectivas, relatos, experiências:
To grasp concepts that, for another people, are experience-near, and to do
so well enough to place them in illuminating connection with experiencedistant concepts theorists have fashioned to capture the general features of
social life (...) (Geertz, 1983b, pp.57-58)
Uma poiesis, portanto; um texto que se tece (o artefato narrativo) em relação com outro
‘texto’ que se infere (um locus da “persistência do significado”). O que, geertzianamente, já se
coloca como literariedade e textualidade é o que James Clifford, em modo crítico, veio a resumir
da seguinte forma: “ethnography is [not] ‘only literature’ (...) it is always writing” (Clifford,
1986a, p.26). Mas é preciso cuidado para não ver nesse ponto comum – o apontar na etnografia
antropológica uma escrita que não é “apenas literatura” – mais continuidade do que coincidência.
3
4
Onde para Geertz havia indistinção entre os gêneros, para Clifford há hibridismo: “ethnography
traverses genres and disciplines” (idem, p.26).
A ênfase na etnografia (sempre composição – poiesis – de texto, sempre em contexto –
politics), na etnografia como ‘atividade textual’, pode efetivamente desfazer algumas
polarizações do modelo de Geertz, no qual, apesar de haver conceitualização de uma ficção, de
uma fatura, dá-se mais atenção ao texto como operador. O artigo “From the native’s point of
view” é um exemplo claro: não há nenhuma mágica malinowskiana (ou antropológica em geral)
que não se reduza a um eficaz jogo de aproximações e distanciamentos textuais, isto é, de
interação entre os conceitos “experience-near” e os “experience-distant”, que permite tornar a
experiência nativa mais próxima do observador mais distante (i.e., o leitor, de quem o
antropólogo é um caso ambíguo, limítrofe, e de segunda potência). Essa operação textual – isto é,
que se dá no texto e por meio dele – está associada ao narrador, mas tem seu plano autoral: existe
também um jogo discursivo em que a experiência de observar e narrar a experiência alheia deve
fazer, culturalmente, sentido. Assim como a experiência nativa existe e faz sentido numa narração
(textual, near-distant) etnográfica, a experiência do sentido dessa narração deve ser textualmente
narrável.
Talvez seja a isso que a noção de alegoria, empregada por Clifford (1986b), se refira. Um
texto nunca fala apenas daquilo que narra; fala também dos significados de sua narração. Nas
palavras de Clifford, a história narrada (estória) “cannot remain just that. It implies both local
cultural meaning and a general story (...) [where] a difference is posited and transcended” (1986b,
p.99). Além disso, “these kinds of transcendent meanings are not abstractions or interpretations
‘added’ to the original ‘simple’ account. Rather, they are the conditions of its meaningfulness”. E
o trecho continua assim: “Ethnographic texts are inescapably allegorical (...) the very activity of
ethnographic writing – seen as inscription or textualization – enacts a redemptive Western
allegory.” (idem, ibidem)
Neste ponto, cabe interpolar uma interrogação paroquial quanto ao sentido brasileiro da
aludida redemptive Western allegory. No Brasil dos anos 1980, a recepção e assimilação da
“interpretive turn” das ciências sociais coincidiu com um momento de visibilidade e solidificação
da antropologia. Desse ponto de vista, talvez o aspecto mais importante não tenha sido a
afirmação teórico-metodológica do “modelo do texto” e da ‘cultura como texto’, num programa
disciplinar distinto do estruturalismo nos anos 1970, e sim a possibilidade (problemática) de
elaborar unificadamente a prática e o sentido da prática antropológica dentro do próprio programa
4
5
da disciplina, e com sua linguagem. A textualidade como operação hermenêutica constituindo
portanto, em si mesma, uma espécie de figura crítica da relação engajada que o conhecimento
antropológico tendeu a tomar nestas terras.
Dois exemplos contingenciais que, até certo ponto, constituem casos exemplares. O primeiro
é o artigo “O cativeiro da Besta-Fera” (Velho, 1995a[1987]), em que a proposta hermenêutica de
Ricoeur (referência importante para o interpretativismo de Geertz) deslancha um reordenamento
da análise de representações camponesas, explorando-se as dificuldades de integrar a visão nativa
do mal ao processo sociológico da integração no Estado-nação. A leitura ‘alegórica’ do mal, da
besta-fera como a dominação capitalista, vacila: impossível uma integração simbólica, pois a
resolução de ambigüidades esbarra na plurisotopia3 literária – distintos níveis de codificação dos
‘textos’ culturais. Vale talvez a pena pensar, para respeitar a leitura e inspiração hermenêutica das
reflexões, que tal impossível integração simbólica não significa incomensurabilidade (sobre as
conseqüências para uma decorrente crítica da ideologia da relativização, cf. o artigo sobre os
‘limites do relativismo’ – Velho, 1995b[1991]), estando os discursos, narrativas etc. não
disjuntos, mas ao contrario, mutuamente referidos, e podendo questionar-se em ambas as direções
(de modo que esta solidariedade também não deve ser entendida como coesão, já que os sentidos
não se reencontram). Esse caso é tomado como exemplar no sentido de que nessa chave podem
entender-se (mesmo que ‘contra’ seus realizadores) os estudos de método, inspiração ou temática
mais sociológica. Sua moral: os antropólogos também são, reflexivamente, nativos – o que dizem
fazer e o que efetivamente fazem estão suficientemente distantes para que caibam aí outras teias
de interpretações.
Quase simultaneamente (eis o segundo exemplo), um artigo de Roberto DaMatta, originado
de outro percurso na antropologia, vinha chamar atenção para uma discrepância entre o olhar
sociológico e o antropológico, entre a integração e a ambigüidade. “Brasil: uma nação em
mudança e uma sociedade imutável? Considerações sobre a natureza do dilema brasileiro”
(DaMatta, 1988) mostra como a visão antropológica, por temperamento (mas um temperamento
teórica e metodologicamente consolidado), se coloca entre a perspectiva normativa da
modernização, da nação moderna integrada – a esfera da rua, da lei, das relações universais
igualitárias entre indivíduos – e a do holismo hierárquico da sociedade tradicional – o universo da
3
Isotopia, em semântica, se refere às redundâncias que possibilitam uma interpretação uniforme, uma
montagem coerente dos enunciados parciais e a resolução de ambigüidades. A conceituação também se
aplica a algumas análises da alegoria, constituindo a esfera à qual é referido ou transferido o significado
básico.
5
6
casa, das relações pessoais, das cosmologias não desencantadas. O foco, relativamente sutil, não
se aplica aos grandes blocos opostos casa x rua, tradicional x moderno, etc. – que encontramos
expressivamente abordados e analisados ao longo de virtualmente toda a obra de DaMatta nos
últimos 20 anos – e sim à natureza do dilema brasileiro, que se furta às dicotomias perfeitas, às
oposições exclusivas. O olhar antropológico, talvez com algo de cubista (afim do “fato social
total” maussiano), enxerga outras arestas da realidade, e, em especial, compõe outro ordenamento
de escalas: não são ‘feudos’ tradicionais (na política, na religiosidade, na ‘psicologia’, etc.) a
entravar a modernização, nem enquistamentos modernos (industrialização, televisão, mercado,
etc.) ‘desencantando’ o mundo tropical; não há duas esferas com superfícies de contato, mas
ordens em relação de contaminação. O dilema, portanto, não está na passagem incompleta ou
mesmo assintótica à modernidade, mas no caráter não linear e mesmo – por que não? – fractal
desse processo.
Esses dois exemplos ilustrativos não se complementam, mas, conjugados, sugerem a
possibilidade de reavaliar o engajamento do saber antropológico numa direção bastante específica
e mesmo exterior a uma trajetória triunfante das ciências sociais.4 Sublinhemos as noções
principais envolvidas: uma relação hermenêutica com a realidade, o que implica ser esta
entendida como “construção social” num sentido bastante radical: fatos são interpretações, que
são fatos, etc. (cf. Fish, 1980; Watson, 1991). Uma atenção ao elemento paradoxal, não só no
sentido de que há diversos mundos (fenomenológicos) ou universos de simbolização envolvidos,
mas que estes não são mutuamente redutíveis. E, numa ilação mais livre: o “estranhamento”
enquanto função (familiar-exótico, “from the native’s point of view”, “olhar distanciado”, etc.),
comporta um ‘entranhamento’, no sentido de que – texto ou prática, ethos ou disciplina – lida-se
com as próprias engrenagens das definições e traduções da realidade, inclusive as do relato do
antropólogo. (A centralidade experiencial, vivida, do trabalho de campo faz parte desse quadro
em que não há observação sem afetação. Cf., quanto a isso, outro texto-totem de R. DaMatta, “O
ofício do etnólogo, ou como ter anthropological blues” (DaMatta, 1978).)
Não percamos o foco daquela “alegoria ocidental” visada por Clifford. Dir-se-á que ela foi
reencenada pela antropologia no Brasil? Sim, e não. Pois o estudo da realidade brasileira pelas
ciências sociais, no século XX, na medida em que se desenvolveu num espírito de “nation
4
Não será preciso insistir que, a fortiori, não se trata de postular ou demonstrar cisão disciplinar entre
a antropologia e outras ciências sociais, mas de imaginar um ‘ethos cognitivo’ antropológico disseminado
para além da institucionalização disciplinar, porém nem por isso menos diferenciado; em linguagem físicoquímica: uma fase dispersa.
6
7
building” (Peirano, 1980), poderia ser considerado (e o foi, por diversos autores e de diversas
maneiras) como parte de uma ‘segunda colonização’, interna e modernizante. Mas a ‘crítica póscolonial’ em relação a isso não recaiu sobre a antropologia; as reformulações interpretativistas e
textualistas e a evidenciação da “poética e política” dos textos antropológicos não parecem, após
assimiladas ou praticadas aqui, ter representado mais que uma reparagmatização parcial, e não
uma desparagmatização fundamental (ainda que limitada ao tom polêmico e contestatório da
vertente norte-americana). Esta observação não quer valer como descrição simplística de um
campo complexo (o da antropologia no Brasil) e sim como demarcação do âmbito da
argumentação aqui ensaiada.
Mantenhamo-nos fiéis aos dois autores – já não como casos exemplares, mas talvez
sintomáticos – agora em artigos publicados na mesma ocasião e no mesmo volume
(sugestivamente, de homenagem a um pioneiro dos programas de pós-graduação em antropologia
no país). Otávio Velho, em “De novo, os valores?”, alerta para o fato de que uma aparente
objetividade pode esconder consenso mais profundo (mas tendente ao exclusivismo) em torno de
certos valores não explicitados nem problematizados, e que “a lembrança de que constituem [os
cientistas sociais] atores em um drama que envolve toda a sociedade deixa de ser banal e volta a
ser produtiva, mobilizadora do pensamento”. Ele menciona autores para quem as ciências sociais
mantêm-se, ‘por natureza’, “não-paradigmáticas”, mas prefere, baseando-se em R.Rorty,
ponderar: “A ênfase numa linha interpretativista (...) seria sempre o fenômeno típico dos
momentos em que se procura um novo vocabulário no âmbito de uma comunidade moral [como a
dos cientistas sociais]”. (Velho, 1995c[1992], pp.142-143) Velho prossegue, aceitando a
preeminência do Estado-nação como referência básica da narrativa científico-social brasileira,
mas notando a ambigüidade de nosso ‘paroquialismo’: não alcançaríamos o “cosmopolitismo”
dos países centrais, em que o olhar para o Outro valeu certamente por um desvio para a
autocompreensão, mas também “ocultou a busca de um ‘Empire-building’ (Stocking) cuja
obsolescência (...) começa a revelar conseqüências” (idem, p.144). Por fim, numa espécie de
ruptura inversa, sublinham-se “as potencialidades que existem na releitura [da] tradição” e a
“virtualidade dos textos fundadores”, e a força da “produção brasileira mais antiga, menos
resguardada pelos muros da academia e das instituições” (idem, p.145).
Devo neste ponto suspender o andamento para enfatizar que não se trata nem de tomar esses
comentários como descritivos ou parte de uma descrição de situação disciplinar, nem por outro
lado de subscrever e aplicar essa visão ao campo disciplinar. Mais simplesmente, quero deixar
emergirem, do interior de certo mainstream, idéias e elementos a serem manipulados de modo
7
8
bricoleur. Delineia-se certa especificidade brasileira, porém não estranha a sentidos
‘metropolitanos’; configura-se uma relação antropologia-Brasil que não é nem de objeto-sujeito,
nem de prática-situação.
Em “Relativizando o interpretativismo” (DaMatta, 1992), encontra-se outra posição, porém
marcada e construída com os mesmos elementos básicos que já despontaram nesta bricolage.
Para Matta, discutir movimentos como o interpretativismo norte-americano “não só revelaria a
maturidade de uma ‘antropologia brasileira’ mais crítica e formalista como também indicaria um
esforço de libertação das imitações coloniais” (p.73). A linha interpretativa, segundo ele,
“apresenta uma série de pontos com os quais a grande maioria dos antropólogos concorda” –
querendo com isso não só dizer que ele, DaMatta, na qualidade de antropólogo tout court, pode
partilhar de preocupações da nova corrente, como também que ela apresenta, então, continuidades
mais fortes com a disciplina em que pareceria instaurar uma ruptura. A restrição principal,
portanto, não é de substância teórica, mas de ética e entonação: “argumentação filosófica
abstrata”, “exagero retórico e programático”, e “moralismo pequeno-burguês”. E um equívoco
fatal: privilegiar excessivamente as narrativas de campo, “deixando de lado uma problemática
histórica e teórica que tem sido a base sobre a qual repousam as pretensões disciplinares –
científicas ou humanistas – da antropologia” (p.50).
A sofisticação cosmopolita resvala no etnocentrismo, não escapa às próprias condições
locais de produção do saber (o “cenário universitário e cultural norte-americano”), de modo que
se tem, afinal, nas antropologias pós-modernas, uma “relativa incapacidade (...) de se debruçar
sobre a sociedade, a cultura e o sistema de valores dos pesquisadores que as têm produzido"
(idem, pp.51-52). Apontando a pouca relevância, nos E.U.A., dos estudos antropológicos sobre a
própria sociedade americana, Matta sugere que a radicalidade pretendida da crítica pós- vale por
continuísmo, furtando-se ao encontro com si mesmo mediado pelo outro.
Apesar do tom polêmico e da quase ausência de análise, o argumento de Matta é complexo:
pois DaMatta, escrevendo em reação a um movimento que, do centro e da matriz da antropologia,
recusa os pretensos fundamentos da disciplina, e remetendo esse movimento ou tendência a seu
contexto próprio, pouco universal embora muito cosmopolita, vai em favor de uma localização da
disciplina, isto é, um reconhecimento de seu caráter local. Mas isso nem equivale a restringir o
âmbito de validade da antropologia como disciplina (a ponto de reduzir qualquer movimento
crítico geral, no interior dela, a uma espécie de narcisismo em busca de hegemonia), nem, ao
contrário, pretende ser uma defesa ‘conservadora’ do universalismo (baseada na
‘paradoxalização’ da crítica feita a este, retoricamente descartada como repetição das limitações
8
9
ou vícios criticados). O que está afirmado é a dupla e articulada via, na antropologia brasileira, de
acesso ao universal e de sucesso particular, e não faria sentido, deste ponto de vista, mimetizar
um trejeito norte-americano, na medida em que a pretendida atualização teórica equivaleria a um
afastamento do que é relevante, e um abandono do que já se conquistou. Se, como escreve
M.Peirano, “the link between parochial findings and larger issues [is] the proper domain of
anthropology” (1980:vi-20), qualquer tentativa de emular ou tomar emprestada a autoridade
teórica da antropologia hegemônica correria o risco de provocar um curto-circuito ‘paroquial’ e
‘anedótico’ entre duas relações divergentes da dualidade particular-universal: a que se concebe de
um centro em cisão, e a que se constrói de uma periferia em integração.
Tudo isso compõe um quadro curioso, parcialmente invertido, em que a antropologia
periférica se vê em parte defensora da disciplina constituída, e em nome justamente de
experiências e sujeitos a que o questionamento crítico do novo paradigma se propõe dar voz.
Seria possível, daqui, afirmar que a ‘interpretação interpretativista’, ao menos em seus excessos,
explicita perversamente – pois encena aquilo que pretenderia apontar, descobre aquilo que está
em seu olhar – um solipsismo cultural, que insiste em habitar as versões triunfalistas da conquista
cultural – do white man’s burden à apreensão do sentido da cultura nativa – e arrisca estender o
domínio imperial ao desautorizar a ‘natividade’ antropologicamente narrada a que,
perifericamente, acedemos.
Assim, por trás da polêmica, há uma defesa: não só da antropologia e contra seus críticos,
mas, mais sutilmente, da antropologia em seus críticos, na medida em que a radicalidade destes já
está presente, discretamente (duplo sentido) no cerne da disciplina, mas com outra linguagem e
outra dinâmica. A crise só existiria do centro, onde aquele efeito emergente do próprio olhar
expandido do Ocidente, o mal-estar da civilização, uma dissonância fundamental do humano,
aparece como impossibilidade do nativo. Na periferia, teríamos desde cedo experimentado a
quimera da cultura como condição básica de sobrevivência simbólica. Não exatamente o
entender-se através do outro, mas como outro.
**
Faz então algum sentido pensar que, num momento crítico reflexivo, a condição brasileira da
antropologia no Brasil corresponda a uma voz singular no (des)concerto das dissonâncias e
diferenças pós-modernas, o que é bem diferente de uma resposta particular a uma suposta crise
exógena. Na periferia da expansão capitalista, a crise é endêmica, e é por isso que, vista do/no
centro, assume algo de imaginário ou fantasmal. E isso está longe de nos afastar de todo rigor
disciplinar. Podemos reformular nossas idéias mais centrais – etnografia, o Outro, a cultura,
9
10
representação – porque, mesmo sem mais poder estabelecer ‘o que é’ a antropologia, sabemos
‘para que serve’ (vide supra). Processo semelhante teria ocorrido na relação matemática-lógica,
em que as idéias mais fundamentais dos mais sólidos ramos do cálculo, da análise, etc. foram
sendo reformuladas (inclusive a de número) em diversas e simultâneas direções. W.V.Quine
observa que “[O]ne is readier to say what the numbers are for than what they are” (Quine,
1976[1966], p.26), e mostra que todo o esforço de precisão conceitual deriva do respeito ao uso, e
para evitar que os paradoxos perturbem nossa tranqüilidade metafísica. Diremos então, (quase)
sem impropriedade, que também nas searas mais positivistas a questão do vocabulário – tão cara
ao principal dos pragmatistas atuais, R.Rorty – é idêntica à dos ‘fundamentos’. Estes
fundamentos, afinal, são sempre ad hoc, e o ‘para que serve’ pode então corresponder ao
pragmatismo, ou à consciência da natureza ética/estética, ou poético-política, do
empreendimento.
No teoria da lógica matemática, a fundamentação consistente e completa – isto é, sem
paradoxos e sem teoremas exógenos – é demonstradamente impossível. Mas a famigerada “prova
de Gödel”, de 1931, que pôs fim aos programas de axiomatização (que procuravam derivar toda a
matemática de um corpo restrito de axiomas e regras fundamentais), não teve para além disso
maiores efeitos paralizantes, e para os cientistas sociais – mesmo os behavioristas – dificilmente
terá valor maior que o de uma fábula, ou melhor (e então reencontramos nosso tema), uma
alegoria. Tudo se passa como se, armada de conceitos e teorias desenvolvidos ao longo de mais
de um século, a antropologia visse desfazer-se a possibilidade de coesão, de acordo básico,
axiomático, quanto ao significado de suas noções. A crise não decorre do insucesso de uma busca
por fundamentos, mas da percepção de que a coesão possível não poderia ter sido – a não ser
ideologicamente, ou como ascese fundamentalista – senão um efeito do centro. A unidade, a
‘amarração’ de tantas noções numa entidade cultura se desfaz com o próprio culturalismo.
Vacilam os códigos da representação, vacila a legitimidade do representar.5
Dando à idéia a forma precária de um silogismo:
5
“Ethnography is actively situated between powerful systems of meaning. It poses its questions at the
boundaries of civilizations, cultures, classes, races, and genders. Ethnography decodes and recodes, telling
the grounds of collective order and diversity, inclusion and exclusion. It describes processes of innovation
and structuration, and is itself part of these processes” (Clifford, 1986, pp.2-3). “The critique of colonialism
in the postwar period – an undermining of ‘The West’s’ ability to represent other societies – has been
reinforced by an important process of theorizing about the limits of representation itself.” (idem, p.10)
10
11
a) dado que se pode entender a crítica de R.DaMatta ao gênero pós-moderno do
interpretativismo norte-americano como uma dissensão em nome da antropologia, mas baseada
(em parte) num argumento de particularidade cultural do universalismo praticado pelos
universalistas, e na qual como que se afirma que o centro deixou de ver ou não conseguiu praticar
aquele paradigma clássico em todas as suas possibilidades (necessitando criticar o paradigma para
poder fazer aquilo que perifericamente já se fazia dele ou com ele); e
b) dado que esse tipo de discussão implica conseqüências mais profundas do que mero pleito
(ressentido ou frustrado) de modernidade e universalidade; então
c) há uma alteração da antropologia mesma, ainda que mínima, e periférica ao sistema; uma
alteração que não inverte os papéis do investigador e investigado, mas altera a relação entre eles
em função de reapreensões do significado da investigação. É nesse sentido, infletindo e
problematizando o saber antropológico, que antropólogos ‘nativos’ (estudando a sociedade
ocidental ou a própria sociedade) podem propor alternativas de conhecimento, não pelo
desenvolvimento de outro sistema, mas por mutação do existente.
Podemos fazer desse item c o ponto nodal da argumentação: parece capaz de ser tolerado (ou
mesmo suscitar concordância) por todos os autores que são referência para este texto, mas guarda
uma ‘radicalidade pontual’ que está longe da rotina, da normalidade paradigmática kuhniana – daí
poder-se talvez dizer que a antropologia, em potência, é sempre crítica cultural. (Se alguma coisa
a economia tem a ensinar aos antropólogos, é que a condição periférica não nos põe a salvo das
crises centrais; resta aos observadores da cultura a possibilidade de uma barbárie simbólica: a
periferia é onde os etnocentrismos imperiais começam por ruir. Cf. DaMatta, 1999.)
Enfim, falar em antropologia brasileira (por exemplo) já traz em si um paradoxo. Não por
haver impossibilidade de praticar antropologia no Brasil (os brasileiros aprenderam com os
estrangeiros6), nem por haver impossibilidade de ‘praticar’ o Brasil pela antropologia (os
antropólogos ajudaram a dar sentido ao país7). Mas por implicar, na própria associação dos
termos, uma re-significação ou reconceptualização deles. De um lado, o momento reflexivo,
interpretativo e textualista da antropologia, abordado inicialmente, e que é, até certo ponto,
exógeno embora não estranho à condição brasileira, aponta, como vimos, para uma
descaracterização disciplinar. De outro lado (que não será aqui abordado), poder-se-ia afirmar
com alguma plausibilidade que, também exteriormente à antropologia disciplinar, nas artes e na
6
Cf. o artigo de Mariza Corrêa (1988), abordado adiante, no texto.
7
É o sentido do “nation building” no trabalho de Mariza Peirano abordado adiante.
11
12
literatura especialmente, o movimento modernista, inicialmente, trouxe algo da ordem de uma
descaracterização nacional – operada pela busca do autêntico, contra a convenção e pela
invenção. O paradoxo surge quando essas duas crises assimétricas são aproximadas: nem a
‘cultura culturalista’ é capaz de garantir a integridade de um país múltiplo (como foi a tônica dos
que comemoraram, recentemente, o Brasil como o país que não é ‘outros quinhentos’), nem a
nacionalidade guarda a possibilidade incólume de inscrever nossas diferenças num projeto
universalista (como o moto marioandradino, também à beira do senso comum da construção
nacional, do “Brasil no concerto das nações”).
Em trabalho anterior (Geiger, 1999, capítulos 3, 4 e 5), procurei mostrar que o modernismo
brasileiro dos anos 1920, caracterizável como primitivista, pode ser entendido como crítica
cultural, e que neste sentido guarda pontos comuns – muito concretos em algumas obras de ficção
– com a antropologia posterior. Em outro trabalho (Geiger e Velho, 2000) explorou-se o sentido
em que a vertente crítico-cultural de uma obra antropológica como a de Roberto DaMatta pode
ser aproximada de um modernista primitivista como Oswald de Andrade. Desta vez, neste artigo
(baseado nos capítulos iniciais da obra mencionada acima), a démarche é distinta: procurarei
fazer surgir, ‘em negativo’ e ‘por ausência’, a pertinência do modernismo para a antropologia
brasileira. Ele é, por assim dizer, denegado em duas visões reflexivas que, ao longo dos anos
1980, funcionaram como normalização do paradoxo antropologia brasileira, dando a esse
sintagma um sentido menos radical, mais paradigmático. Fiel ao modo negativo, e inspirado na
mitologia estrutural – segundo a qual todo mito busca resolver uma contradição, numa tarefa
impossível, quando a contradição é real (cf. Lévi-Strauss, 1975[1948] – chamarei essas visões
reflexivas de antimitos, na medida em que arrefecem os paradoxos e criam assim condições de
plausibilidade e coerência para a disciplina, recalcando uma antropologia imaginária e mítica, a
da impossível articulação do modernismo literário com o pós-modernismo cultural (em direção,
talvez, a um ‘transmodernismo’ do eixo G.Freyre-R.DaMatta?).
*
Reduzir uma antropologia brasileira a antropologia no Brasil. Ou limitá-la a uma
antropologia do e para o Brasil. Está claro que não são essas caricaturas que dão conta dos
refinados trabalhos de Mariza Peirano e Mariza Corrêa. Mas é o significado que acabam por
assumir quanto ao silogismo antes proposto.
*
12
13
The Anthropology of Anthropology – the case of Brazil (Peirano, 1980) é um estudo de
algumas obras e percursos referenciais na antropologia brasileira ao longo de quatro gerações
acadêmicas-universitárias, e pode ser considerado um modelo de entendimento da antropologia
brasileira como um caso de antropologia em contexto nacional. Ele explicitamente procura
responder a e aprofundar o movimento disciplinar de que parte: “the process of self-reflection in
which anthropologists have recently been engaged [in which] the basic assumptions of the
anthropologists begin to be questioned” (Peirano, 1980, p.I-5). Esse é, grosso modo, o mesmo
processo ao qual são geralmente associados os trabalhos interpretativistas aludidos na primeira
parte deste trabalho. Mas o trabalho de Peirano, com outro tipo de instrumental analítico e crítico,
não só se distingue bem claramente daqueles, como tomou, em trabalhos posteriores (Peirano,
1991 e 1995) um sentido mesmo de oposição ao norte-americano (e a aproximação com a
antropologia indiana (1991, 3a parte) faz sobressair ainda mais, em paradoxo apenas aparente, o
que há de brasileiro, e não só de universalismo teórico, em sua posição).
Tendo como questão orientadora a do universalismo da antropologia, Mariza Peirano (1980,
capítulo I) responde a ela, ao fim do exame do “caso brasileiro”, com uma afirmação matizada,
contextualizadora (idem, cap.VI) e que tem como medida justamente o sucesso da disciplina, ou
melhor, seus autores, em envolver-se com uma noção – se não um projeto – de construção da
nação (“nation building”). Abordando as diversas linhas de produção de quatro gerações da
antropologia brasileira, ela mostra a presença dos dois planos de integração – o territorial e o
social – implicados no conceito de nação, tal como proposto por N.Elias.
O “caso brasileiro” da antropologia se desenha como um campo imantado, em cujo pólo
inicial está a antropologia voltada para as sociedades indígenas como um outro exterior (e
anterior), presente no território mas sem ter sido assimilado e absorvido, estando, no pólo oposto,
o interesse por um outro interno, social, por assim dizer sociológico.8 Entender a análise de
M.Peirano como histórica, isto é, como descrição de um processo contínuo de transformação
(acúmulo de conhecimento; institucionalização progressiva; extensão, diversificação e integração
dos objetos; deslocamento dos temas e interesses) seria linearizar um desenho mais complexo,
pontilhístico. Pois se com efeito parece haver redefinições dos interesses na direção de uma
8
Cf. Peirano, 1980, capítulo IV, sobre o estudo das “frentes de expansão”, por Otávio Velho, e a área
de estudos camponeses, em consolidação no Museu Nacional, na década de 70; cf. igualmente o capítulo
III, sobre Florestan Fernandes, e sua ‘migração’, da antropologia histórica dos tupinambás, a uma
sociologia da questão racial e, posteriormente, da situação de dependência do país no capitalismo
internacional.
13
14
passagem que vai do antropológico enquanto ex-ótico (ainda que não do estrangeiro) ao
sociológico como inclusivo9 (porém não homogêneo), há outras dimensões igualmente relevantes
e levadas em conta por M.Peirano, como por exemplo a relação com a literatura, presente
marcadamente, e de distintas maneiras, nas obras antropológicas diversas de Antônio Cândido,
Darcy Ribeiro e Roberto DaMatta.
Ao considerar os rearranjos, migrações, diversidades e reelaborações encontradas ao longo
das obras das sucessivas gerações de antropólogos, a autora permite que se entenda a
consolidação (e mesmo o sucesso) da antropologia brasileira como algo mais amplo do que a
eficácia descritiva ou explicativa no lidar com o objeto. Assim, embora a tese abra com uma
defesa do universalismo antropológico, que nos levaria a pensar a antropologia brasileira como
uma antropologia no Brasil, é afinal uma disciplina do e para o Brasil que se revela. E nesse
sentido é que, embora o universalismo possa conferir até certo ponto (imaginário) uma visada
exterior, o trabalho todo não se constitui exatamente como a ‘metaantropologia’ que o título
sugere (“anthropology of anthropology”).
A autora procura um meio-termo necessariamente histórico entre as teorizações da
‘bidirecionalidade’ (ou “reversibilidade”) e as da “unidirecionalidade” do conhecimento
antropológico. A reversibilidade é a posição, que ela associa a Lévi-Strauss, de que outras
culturas têm/podem ter um conhecimento antropologicamente válido sobre a sociedade ocidental
que as estuda; a da irreversibilidade é a de Dumont, que associa a antropologia, maussianamente,
ao universalismo próprio da sociedade ocidental (basicamente, a européia). “I consider
unsatisfactory both Lévi-Strauss’ position, which accepts that anthropological thinking may
develop eveerywhere, and Dumont’s assertion that anthropology is possible only in Westernuniversalistic societies. If one is too unqualified, the other is too restrictive. In addition, I see both
views as a-historical (...)” (Peirano, 1980, p.I-7) O “caso brasileiro” realmente constitui um
desafio, e não só por ser periférico, pós-colonial (pois a antropologia brasileira, por exemplo, é
bem diferente da indiana: aqui, não se incorpora, mas se transplanta): nem o ultra-universalismo
de Lévi-Strauss (às expensas ‘desta’ antropologia), nem o universalismo particular de Dumont (às
9
Nos anos 50, a sociologia é vista como um saber mais comprometido com a modernização e a
compreensão dos processos, dificuldades e sentidos da ‘universalização’ e integração da sociedade, por
oposição a uma “óptica da exclusão” (Maio, 1997), elitista e “europeizante”. Uma antropologia voltada
para outros mas não de modo exoticista e sim numa perspectiva de preocupação com a integração nacional
(como M.Peirano demonstra ser o caso das obras representativas por ela analisadas) está, portanto, muito
próxima da sociologia no campo das ciências sociais.
14
15
expensas das sociedades estudadas) dão lugar teórico para o que praticamos. O teor da resposta de
M.Peirano é aquela transformação dos regimes de being here e being there (e seus
correspondentes ‘retóricos’):
(...) the idea that cultures which have been the objects of inquiries “will
develop anthropological traditions of their own ... and will make us the
object of their speculation” is problematic. If and when this happens, the
relationship between investigator and investigated will be different and
will involve different assumptions about the research (Peirano, 1980,
p.VI-38 [a citação, no trecho, é de Crick, Explorations in language and
meaning: towards a semantic anthropology (1976)])
A interrogação central é se esse raciocínio não é ele mesmo reversível: se quando se
produzem modificações na relação investigador-investigado e nos pressupostos da investigação
não se está, com isso, tornando a sociedade-fonte da antropologia um objeto de conhecimento
antropológico alternativo. Se, enfim, uma antropologia praticada no Brasil não será, ainda que em
grau mínimo, uma antropologia brasileira, isto é, uma inflexão própria e singular do campo
antropológico e que traz outra forma de entender a ‘sociedade ocidental’. 10 E ainda, se sua prática
constitutivamente paradoxal, em que being here se faz por meio de Being There (cf. Geertz,
1988) e vice-versa (intelectuais desterrados em sua própria terra, segundo a formulação de Sérgio
Buarque de Holanda, instrumental para a análise empreendida por M.Peirano) não é enfim capaz
de dizer para nós da singularidade do país.
*
As características paradoxais apontadas acima são geralmente reconhecidas nas reflexões
antropológicas. Mas a bidirecionalidade do conhecimento geralmente aparece como
intensificação do problema (o Brasil é parte do ocidente ou é outro?), e não como solução. A
noção de contexto tem realmente grande valor lógico quanto a isso, pois estabelece algum tipo de
hierarquia, ou de Gestalt de fundo e forma entre os elementos locais e os universais.
Em um texto representativo de seu empreendimento de cunho histórico, Mariza Corrêa
(1988), após dar os contornos da “constituição de uma comunidade, ou uma tribo, antropológica
10
Note-se que não se recorre nem à idéia de uma antropologia nativa no sentido literal de
conhecimento brasileiro sobre um outro ocidental (pois a consciência histórica e política nacional sempre
foi de pertencimento, problemático, à civilização européia) nem a uma antropologia do nativo, ou “autoantropologia” (Strathern, 1987), no sentido de conhecimento antropológico sobre a própria sociedade (pois
os antropólogos no Brasil pesquisaram outros sociais e culturais).
15
16
nacional” nos anos 1930-60, afirma que ela teve como “traços distintivos” “o trabalho de campo e
a forte presença do índio na disciplina” (p.94).
Criaram-se, por assim dizer, genealogias e tribos antropológicas que formam uma trama
sombreada em que a palavra-chave – subjacente (no argumento) ou explícita (no título do artigo)
– é o “excêntrico”. Pois se a praia da antropologia é habitada por sombras de antropólogos que
aqui estiveram para estudar os grupos indígenas, estes também estão presentes como sombras nos
diálogos da disciplina, uma vez que "ao falar sobre esses grupos, seus pesquisadores estão
também, ou estão com mais freqüência, falando uns com os outros" (idem, ibidem).
E há mais sombras ainda: pois é a própria ‘antropologia brasileira’ que aparece, não como
um corpo sólido e opaco, mas uma “tradição inventada” (p.80): um desenvolvimento intersticial,
uma entidade projetada e animada no espaço de uma defrontação dos estrangeiros – membros de
outras sociedades – com os indígenas, representantes da sociedade outra. Assim, a excentricidade
está de saída colocada nos três planos (im)possíveis: o do encontro (entre membros de sociedades
mutuamente estranhas), de que a antropologia brasileira em formação é testemunha e
continuadora; o do diálogo (entre antropólogos, a respeito dos grupos estudados), de que os índios
são o referente; e o de uma identidade (a da nação, que deveria incluir antropólogos e índios), em
cujo território, de Léry a Lévi-Strauss e depois, havia ‘campo de trabalho’.
E isso tudo é interessante para uma discussão a respeito da possibilidade ou do sentido
específico de antropologia nacional, e da antropologia brasileira como tal. Pois, em vista do que
se acaba de expor, entende-se que para M.Corrêa a questão seja afinal imprópria, e que "a forte
presença de pesquisadores estrangeiros no país evo[que] a questão sempre ilusória da
nacionalidade" (p.94). Isto é, a antropologia brasileira, sendo uma “tradição nacional” dentro da
disciplina, não é uma antropologia nacional em sentido pleno, e isso (depreende-se) não por
condição ou vocação próprias, mas dada a excentricidade inerente da experiência e da história
antropológicas.
Mas a nacionalidade ilusória não deve ser entendida, aqui, como o contexto nacional (que
efetivamente existe) – tanto assim, que o objeto se justifica ao longo do estudo a seu respeito, e se
afigura como uma real “comunidade” ou “tribo” brasileira, i.e., no Brasil. Ilusória – repetindo – é
a possibilidade de um caráter nacional da antropologia feita no país, e é a propósito disso que
Mariza Corrêa fala de um “cosmopolitismo” da antropologia brasileira, que implicitamente
remete aos dois “traços distintivos” da constituição do campo antropológico institucionalizado,
16
17
conforme apontados pela autora. Embora M.Corrêa não o faça, parece possível efetivamente
relacionar cada um desses traços a um aspecto – ou talvez qualidade – do cosmopolitismo
invocado. Assim, a circulação de pesquisadores estrangeiros (primeiro traço), não só em terras
brasileiras mas também – e por assim dizer formativamente – no campo brasileiro da
antropologia 11 se afigura como uma modalidade bastante concreta dos trânsitos simbólicos:
teorias, métodos, influências que atravessam fronteiras e desautorizam ênfases muito fortes em
rótulos nacionais de antropologia (p.94). E quanto à centralidade dos indígenas (segundo traço),
“[n]ão é necessário (...) acrescentar que somos todos estrangeiros em relação ao objeto
privilegiado de nossa disciplina” (idem); o que é ainda mais reforçado se tomarmos a costumeira
identificação (sempre um pouco apropriativa) dos antropólogos com os grupos estudados como
uma figurada estrangeiridade interna à tribo.12
Para M.Corrêa, a presença estrangeira é a própria marca histórica, e mesmo a condição
epistemológica, da antropologia. Lê-se na abertura do artigo:
Talvez seja uma ironia adequada a esta disciplina que se quer uma ciência
do outro que ela tenha criado, em quase toda parte, tradições
antropológicas nacionais fundadas por estrangeiros (...). Seja como for que
estrangeiro é definido, de certa maneira, integrantes dessa tribo, somos
todos estrangeiros (...). Cada antropólogo que conta sua história pessoal
relembra como veio de um outro campo do saber, de uma outra região de
seu país, ou de outro, ou como perdeu qualquer outra referência inicial que
possuía. Conta, em suma, como é um desenraizado, um excêntrico.
(Corrêa, 1988, p.79)
Portanto, a formação da antropologia, aqui, se daria como mais um caso dentro de uma
generalidade, de um universo relativamente homogêneo; ou, nas palavras da autora, uma
“trajetória brasileira da disciplina”. Esta fórmula (e a idéia que sintetiza) parece supor alguma
11
"(...) as tradições aqui inventadas, se não o foram apenas por estrangeiros, tiveram uma forte
participação deles nessa invenção" (Correa, 1988, p.80).
12
O cosmopolitismo da formação da antropologia brasileira, mencionado por M.Corrêa, não é o
mesmo que R.DaMatta vem apontar nos antropólogos norte-americanos. Estes vivem uma situação de
presença institucional dos departamentos universitários com pesquisadores em vários campos de estudo no
mundo inteiro. Já o caso brasileiro, inversamente, foi o de um campo de pesquisa em que estiveram
presentes antropólogos de diversas procedências, lançando uma multiplicidade de olhares sobre o país.
(Essa percepção pode levar-nos diretamente a um fraseamento da questão em termos de antropologias
centrais e periféricas: estas, exportando matérias-primas (objetos) e importando, daquelas, as teorias
manufaturadas.)
17
18
visão universalista, no sentido de que o conjunto-universo é determinante de seus elementos, e o
que chamamos ‘antropologia brasileira’ não seria senão a antropologia tout court, dentro de
contexto ou de condições brasileiras.13
A imagem invocada, de “traficantes do excêntrico”, é bem eloqüente a esse respeito. Indica a
conexão ‘colonial’ entre a estrangeiridade e a formação da antropologia. Tratando dos anos 193060, M.Corrêa vê-se abordando uma época (especialmente até os anos 50) em que “as fronteiras
institucionais e disciplinares (...) eram ainda facilmente atravessadas” (idem, p.88). A referência
direta, nesta frase, é o trânsito (inclusive geográfico) dos pesquisadores entre instituições, e isso
aparece como um dos aspectos de uma situação de relativa indefinição disciplinar, em termos de
‘comunidade científica’ (participações em congressos antropológicos, sociológicos,
americanistas) e de formação e trabalho universitário (pp.85-91). Mas para além dessa referência
direta, está um ‘território disciplinar’ menos metafórico do que seria de supor. Um lugar, não
mapeado, cheio de riquezas brutas em que os “traficantes”, em seu trânsito, vão estabelecendo
aos poucos demarcações, construindo feitorias, regularizando a produção, oficializando sua
presença. O país da disciplina (duplo sentido) é a soma cultivada da paisagem natural com o
elemento exógeno, ou “excêntrico”, incorporado.
Tal imagem extraída do texto até aqui abordado serve para sugerir o ‘nexo modernista’ de
nossa leitura: vislumbrar, daquele território, alguma ocupação primitiva, que só costuma figurar
como passado mítico do desenvolvimento histórico da disciplina. É o caso, por exemplo, de
M.Peirano, apresentando os anos 1920 como anteriores ao ‘ponto zero’ da institucionalização das
ciências sociais (equiparável aos tupinambás e seus estudos por Florestan Fernandes como pontozero, respectivamente, da sociedade brasileira e da sociologia universitária brasileira) e seguindo
nisso a afirmação já corriqueira (embora não trivial) de que o modernismo ‘prepara o terreno’ de
uma representação ou um conhecimento brasileiros do Brasil.14
13
Na verdade, há ainda um ‘resto’, manifestado en passant por M.Corrêa e que indica uma direção
um pouco diferente: “No caso brasileiro, se acrescenta ainda a esta ambigüidade [da condição estrangeira,
excêntrica, na constituição de tradições antropológicas nacionais], às vezes, uma harmonia, às vezes um
descompasso, entre ‘como pensamos’ e ‘como nos pensam’. A trajetória brasileira da disciplina é, mais do
que costumamos registrar explicitamente, parte tanto de seu percurso internacional, quanto do imaginário
dos antropólogos em geral (...)” (Corrêa, 1988, p.79-80)
14
Quanto à visão do modernismo como precursor, há várias perspectivas distintas que a propõem, a
começar por Antônio Cândido. Sérgio Miceli procura desfazer o mito do modernismo como ‘momento
inicial’ da brasilidade moderna, seja por um exame sociológico direto da relação entre “intelectuais” e
18
19
Se na perspectiva de uma ‘estrangeiridade’ constitutiva e informativa, não se justifica falar
de antropologia brasileira em sentido forte, isso não esgota todas as interrogações possíveis a
respeito de uma ‘brasilidade antropológica’, e isso está indicado pela própria autora, que evoca
imageticamente o eco das vozes, ou a persistência dos olhares, dos estrangeiros que vieram dar à
nossa praia: de certo modo a sociedade brasileira veio constituir-se onde já circulavam
interrogações e perquirições exógenas. Como se O Brasil, isto é, a entidade retratável, pensável e
construtível como nação, fosse de nascença algo não autóctone.15
Assim, a questão que se impõe é que um olhar outro (do outro e para um outro), nuclear na
constituição da antropologia brasileira justamente não é estranho, ou “excêntrico” às autointerrogações nacionais. O local pode não ser nativo, o extrâneo não ser estrangeiro; o que é
próprio pode não ser espontâneo (e o modernismo é um exercício consciente dessa construção),
assim como o autêntico pode impor-se de fora (e o modernismo também acolheu a consciência
exercitada dessa incorporação). Portanto, falar de uma antropologia brasileira como sendo algo
mais do que ‘em situação’ não chega a ficar desautorizado nem pela origem estrangeira dos
“traficantes” originais, nem pela procedência não indígena das ferramentas (teorias) dos primeiros
colonos. Ainda é possível – mesmo se (ou justamente porque) levamos tais aspectos em conta –
propor para a antropologia uma afinidade forte: o ter aqui se desenvolvido não é sinal (apenas) da
sua capacidade de universalizar-se, mas da receptividade própria e especial do ‘meio’.
*
Após ter apresentado os antropólogos como uma “tribo” de “ex-cêntricos”, M.Corrêa
ressalta a presença do “imaginário” nesse grupo, a existência de “tradições inventadas”, de
“mitos”16 em “uma disciplina que se apropria, talvez indevidamente, de uma história que não é
“classes dirigentes” (Miceli, 1979) e daquilo que a arte escamoteia (o ‘preço’ social das obras), seja
lançando o foco sobre uma geração esquecida, isto é, negada pela ‘história oficial modernista’ e seu poder
sobre as “instâncias de consagração” (Miceli, 1977); e ao projeto de um exame crítico do ‘passado
adquirido’, pela via da historização das ciências sociais nacionais, não é estranha a proposta de M.Corrêa
(cf. cap.1 de As ilusões da liberdade [Corrêa, 1982]).
15
Prudente de Moraes Neto: “A civilização aqui pegou de enxerto.” Essa idéia era repetida,
provocadoramente, pelos modernistas mais associados a um ‘primitivismo’, nos anos 1920, como
radicalização da luta contra tradições falsas, estranhas ao que deveria ser nossa cultura. (A frase é de um
trecho de entrevista de Prudente e Sérgio Buarque de Holanda ao Correio da Manhã (19/6/1925)
16
Como já foi dito, não é irrelevante para esta argumentação que tal dimensão mítica ou imaginária
seja tomada como especialmente importante para a antropologia no Brasil: o território brasileiro em que
19
20
exatamente, ou inteiramente, a sua”, incorporando a seu conteúdo as informações contidas
naquele “início mítico” (Corrêa, 1988, p.80). Eis então o sentido intentado com a imagem do
tráfico: falar de uma disciplina científica que não tem, ou não se organiza em torno de uma
definição precisa de método ou de objeto, mas sim por uma orientação, um olhar;17 uma
disciplina cujos conteúdos são trazidos (traficados...) e cuja formação é portanto (narrada como)
ex-centrada.
É em relação a tal imagem (ou narrativa) que se apresenta o projeto historicizante, vale dizer
desmitificador. M.Corrêa o propõe, aqui, justamente a partir de ‘imagens míticas’ (e não menos
históricas) – fotografias de pesquisadores antropológicos em atividade pioneira no Brasil. Mas é
mais interessante ver a outra vertente sugerida por ela imediatamente apó o trecho que fala do
território mítico. Lemos aí:
Não é sem interesse lembrar que o outro ramo mítico da disciplina [no
Brasil], o dos estudos sobre negros, tem como herói fundador Raimundo
Nina Rodrigues: desse cruzamento entre nativos que se interessavam pelo
estudo de ‘estrangeiros’ (os “colonos negros” como os chamava o médico
maranhense) e estrangeiros que se interessavam pelos nativos, nasceu a
tradição antropológica no Brasil. (idem, p.80)
Com isso, somos remetidos diretamente à tese sobre a “escola Nina Rodrigues” (Corrêa,
1982). Nela, efetivamente, o tema/imagem da excentricidade, da ‘estrangeiridade intrínseca’ do
conhecimento e das tradições disciplinares da antropologia, já está presente (menos
desenvolvido): no retrato que nos é oferecido de Nina Rodrigues e sua “escola”, temos um objeto
estrangeiro, com um observador nativo. Pareceria então desenhar-se um quadro de simetrias
vivem os distintos grupos, estudados por distintos pesquisadores de correntes e inserções institucionais
diversas – vale dizer: de diferentes excentricidades –, não é senão o substrato eventual (no sentido
estruturalista) de um “território [‘mítico’] disciplinar” (Corrêa, 1988, p.80)
17
Com esse tipo de formulação, não pretendo fazer uma afirmação sobre a antropologia, e sim evocar
uma auto-imagem bastante corrente; não há porque desconhecer as várias tentativas de definição de método
e de objeto – seja ‘dedutivas’ ou ‘indutivas’, isto é, por proposição de um programa ou por observação do
campo já constituído –, algumas das quais têm ou tiveram sucessos parciais e relativos. O que é
interessante, a esse respeito, não é uma possível ‘essência’ ou unidade/unificação da antropologia, e sim a
percepção de que sua ‘coesão’, a (relativa, parcial) comunicação entre projetos, teorias, estudos distintos
(inclusive no método e no objeto...) está alhures – e é isso que já está sugerido na observação de A.Kuper
(mencionada por M.Corrêa), de que “a antropologia social nasceu em 1914, nas Ilhas Trobriand” (citado
em Corrêa, 1988: 80); apenas, em vez de pôr a ênfase na miticidade da tradição inventada, sublinho a
pregnância (que opto por ver como sintomática e não como forjada) da experiência malinowskiana.
20
21
invertidas: um lado dos estrangeiros que observam os nativos indígenas ao território e estranhos à
sociedade nacional, e outro lado dos brasileiros que observam populações trazidas de outras terras
para ser elemento econômico no país.
Mas se tal desenho pode fazer parecer que há uma complementaridade bem-sucedida no
conjunto dos estudos constitutivos da antropologia brasileira, é na verdade do contrário que se
trata: pois há uma assimetria, uma polaridade; em outras palavras, a função excentricidade não é
neutra, não é simplesmente uma relação epistemológica ou uma prática de método. A proposição
que adianto é que há formas distintas de considerar tal não neutralidade, e de associá-la a alguma
especificidade brasileira. Mais concretamente ainda: não há, naquela dupla estrangeiridade tão
argutamente apontada, simplesmente antropologia, mas também condição brasileira.
A condição brasileira proposta como hipótese aqui é a de uma afinidade entre uma imagem
ou representação da antropologia – quando entendida ou exercitada, no veio clássico, como
‘ciência do outro’ – e o tipo de intelectualidade que se desenvolveu no Brasil. Em outras palavras,
que não só o Brasil foi um local particularmente interessante para se fazer observação (trabalho
de campo) sobre nativos outros – como nos primórdios ‘míticos’ da disciplina aqui, com
estrangeiros estudando índios –, mas também que a antropologia talvez tenha se apresentado (ou
representado) como conhecimento particularmente interessante, aqui: não só como instrumento,
mas como expressão desses outros nativos em sua relação aos nativos outros, isto é, dos
brasileiros que estudam outros ‘brasileiros’.
Os elementos que informam esta hipótese estão presentes tanto na tese de M.Corrêa, quanto
na de M.Peirano, mas são trabalhados diferentemente. Ambas afinal recorrem, e de modo
igualmente evocador, à frase-diagnóstico de Sergio Buarque de Holanda sobre os intelectuais
brasileiros como em exílio em seu próprio país. Mas cumpre distinguir a visão, de M.Corrêa, que
chamarei contextualizadora, daquela, que chamarei contextualista, de M.Peirano.
Para Corrêa, o que é afinal relevante é que “a geração de [18]70” – de que faz parte Nina
Rodrigues, precursor ou pioneiro dos estudos sobre os negros, uma das vertentes maiores da
antropologia brasileira ––
(...) abriu perspectivas novas na vida intelectual de seu tempo ao se
interessar pela questão da literatura, da política ou da religiosidade de
membros da comunidade nacional que não eram considerados como
parceiros no jogo político. Antes de ser pensada em termos de cultura, ou
em termos econômicos, a nação foi pensada em termos de raça. (Corrêa,
1982, p.35)
21
22
A questão da raça – englobando questionamentos também econômicos, políticos e culturais
– aparece assim como permanente e ‘definidora’, mas não definida (idem, ibidem), uma cifra da
nação18. Trata-se então, a partir daí, e nessa orientação da autora, de seguir historicamente – numa
história ‘etnográfica’, antropologicamente formada, por assim dizer – os caminhos teóricos e
institucionais, práticos e intelectuais, que levaram do objeto raça, de inserção médica, a um
objeto cultura, já ‘antropológico’ tal como o reconhecemos hoje.
Se isso já deixa claro o que se quer dizer com a designação de “visão contextualizadora”,
ainda cabe estender a proposição e insistir nela. É que o ‘racismo’ dessa geração parece encenar
ou tipificar o dilema colonial: a estrangeiridade do ‘objeto’ – essa população de outra origem,
inserida (à revelia) na economia mas excluída da sociedade nacional – refraseia aquela
estrangeiridade subjetiva do intelectual europeizante, dividido, em exílio – cujas referências
européias já foram internalizadas mas com ideais que ainda apontam para fora, para a Europa.
E assim, essas duas imagens – a de uma intelectualidade sempre deslocada, parte da classe
dominante (colonial ou colonizada) que ‘pensa o Brasil’ movida pela afirmação da (ou por sua
afirmação como) nacionalidade; assim como a imagem do Brasil pensado e representado (um
Brasil que começa a se definir pela via de uma complexa procura daquilo que lhe é próprio) –
ambas imagens, conjugadas, são bem compatíveis, a meu ver, com o tropo da excentricidade ou
estrangeiridade, reivindicado como elemento histórico e qualidade epistemológica da
antropologia.
18
“A questão principal que Nina Rodrigues e seus contemporâneos se colocavam dizia respeito à
nossa definição enquanto povo e a deste país como nação, o que os fazia colocar as relações raciais no
centro de suas preocupações teóricas e de pesquisa, bem como de sua atuação política.” As obras dos
autores representativos da “geração de 1870” “vão se separar em relação às questões que respondem
quando tratam das relações raciais. Aluísio Azevedo e Euclides da Cunha parecem mais preocupados em
responder à questão da nacionalidade, ou do nativismo recolocado, isto é, ‘quem somos’, questão que só
pode ser formulada a partir da transformação da colônia em nação e por uma elite intelectual então se
constituindo. Silvio Romero e Nina Rodrigues, sem desleixar esse ângulo da questão, pareciam colocar sua
ênfase num desdobramento dela, isto é, ‘quem são eles’, acentuando a distância entre o analista e o objeto.”
E há aí, como notaram tantos autores, uma “mudança de perspectiva”: “do que parecia ser a formação de
um sentimento coletivo de oposição ao domínio português, no período colonial, passava-se a uma visão de
grupo dominante em relação ao grupo dominado.” (Corrêa, 1982: 24-25)
22
23
De certo modo, poder-se-ia dizer que o Brasil – o Brasil representado, ou em representação –
é excêntrico: não só pela atração que exerce, como território exótico, sobre europeus; 19 nem
apenas em função da atração da intelectualidade do país pela Europa.20 O caráter excêntrico não
diz respeito apenas a uma relação espacial (ou espaço-temporal, se pensarmos ao mesmo tempo
no evolucionismo e numa metáfora gravitacional do poder). Se a excentricidade é
representacional, se tem algo simultaneamente concreto e abstrato (como que uma fusão dessa
natureza tanto histórica quanto epistemológica, que M.Corrêa aponta na excentricidade da
antropologia), é porque as duas atrações, que a princípio parecem conviver bem numa ex-colônia
periférica, podem contaminar-se mutuamente, emaranhando-se: uma atração pela maneira
européia de olhar o que há aqui de exótico, uma atração pelo que há aqui de possibilidade nativa
de preencher o ideal europeu.
Abordarei agora o aspecto antimítico dessa visão contextualizadora, a partir de uma
passagem muito específica do trabalho de M.Corrêa, em que ela critica a afirmação de Arthur
Ramos, de que a obra de Nina Rodrigues continuava basicamente válida, bastando, para a
realização ou percepção de tal validade, substituir raça por cultura. A autora vê nisso a evidência
da expressão simples da construção de um mito: o da Escola Nina Rodrigues como matriz de uma
antropologia atual, e da qual Arthur Ramos – o construtor do mito – seria o representante e
continuador. M.Corrêa prefere não marcar o nível menos substantivo ou literal21, em que é
verdadeira aquela afirmação, isto é, o nível de alguma problemática, de algum questionamento
permanecer ‘o mesmo’, ainda que formulado em outro vocabulário. Entende-se então o sentido
forte, programático, aludido com a qualificação de “contextualizadora” atribuída por mim à
19
O excêntrico como exótico: a atração exercida pelo exótico, que traz para cá antropólogos europeus
(e dos E.U.A.) aparece como o extremo de uma linha que vai desde as expedições naturalistas (para não
falar das vertentes narrativas/descritivas da presença colonial/comercial, como no caso holandês e francês) ,
passando pelo exotismo primitivista do início do século XX (especialmente no universo da vanguarda
artística e literária da capital artística e literária de então, Paris).
20
O excêntrico como faltoso, não autônomo: essa atração é de certo modo o complemento da
anterior, i.e., do exotismo: é como que o outro lado da lógica colonial, a própria curvatura do espaço de
poder, que chama para a metrópole os bens e riquezas e as decisões, assim como os filhos da elite (para os
estudos superiores) e o imaginário intelectual.
21
Digo “prefere” pois ela está, em outros momentos de seu trabalho, bem atenta às outras relações
intelectuais envolvidas nas leituras históricas e interpretativas dos estudos ou interpretações do Brasil.
23
24
proposta de M.Corrêa: ela (a proposta) se quer desmitificadora. Segundo ela, raça e cultura
remetem a constelações teóricas e práticas diferentes – e, portanto, ignorar as mudanças
científicas (e políticas/ideológicas) que separam as obras em que esses termos aparecem seria
aproximar o que deve ser afastado, recorrendo-se a uma metáfora imprópria, isto é, uma analogia:
a saber, que raça em Nina Rodrigues seria como cultura na antropologia atual.
Mas uma visão menos contextualizadora deixaria de lado a lógica política, o móvel prático,
as motivações institucionais de Arthur Ramos, preferindo aplicar o foco àquilo que pode estar
dito, ainda que à sua revelia: que as diferenças podem não estar mascaradas, mas afirmadas por
contraste, acentuadas pela sua equiparação, sendo-se assim capaz de precisar o que é próprio de
nossas metonímias, de nossas continuidades e pertencimentos. Bastaria fazer a
metáfora/substituição correta, para que o antigo se mostre ainda pleno de sentido, ainda que sem
continuidade com o presente. Afinal, é justamente porque “raça” não diz o mesmo que “cultura”,
tornando as obras que as utilizam incomparáveis (incomensuráveis, diriam Thomas Kuhn e Paul
Feyerabend) – é justamente por isso que se faz interessante compará-las. Em lugar de atribuir a
Arthur Ramos uma espécie de presentismo22 – como se sua afirmação significasse fazer de Nina
Rodrigues ao mesmo tempo um ‘precursor faltoso’ da antropologia do próprio Arthur Ramos e
um profeta carismático dessa antropologia –, poder-se-ia ver em sua posição a manifestação
refinada e sutil (pela via sintética de uma afirmação esquemática e certamente não-neutra) do
caráter duplo da prática antropológica: suficientemente ‘científica’ para que a ausência de um
conceito-chave tenha conseqüências profundas sobre as investigações e seus achados, e
22
A noção de presentismo é proposta por G.Stocking (1968), para falar da pespectiva “the past for the
sake of the present” – frase tomada de Herbert Butterfield (que assim resume o produto da história liberal
(whigish): “a story which is the ratification if not the glorification of the present” (citado em Stocking,
1968, p.3). Mas Stocking justamente elabora sua idéia de uma perspectiva “historicista” para as “ciências
do comportamento” reconhecendo o sentido ‘presentista’, isto é, de sua utilidade ou valor para o presente,
para o atual estado do conhecimento: “precisely because in the history of the behavioral sciences there are
legitimate and compelling reasons for studying ‘the past for the sake of the present’, it is all the more
important to keep in mind the pitfalls of a presentist approach” (idem, p.11) – que perderia a compreensão
mais profunda dos sentidos do thinking, da ação mesma de pensar, em favor da cristalização do thought, o
pensado. Correspondentemente, creio que se pode imaginar uma espécie de presentismo colocado
metodológica e ironicamente a serviço de uma concepção mais historicista, isto é, que se inscreve, e às
ciências em geral, como diálogo ou “conversação” (K.Burke [conforme citado e comentado por
J.R.Gonçalves, 1996, pp.171-172]), como participação num pensamento em elaboração permanente.
24
25
suficientemente humana para que não lhe seja estranho um horizonte outro mais além da
diferença de ‘paradigmas’ e ‘contextos’ de investigação.
A contextualização assim concebida quer quebrar o fio de ‘contaminação’ das obras que
(afirma M.Corrêa) pretendem, no e pelo texto, dominar sua situação contextual (pois, afinal,
querem enfatizar ou mesmo inventar os vínculos e apagar as dissonâncias, de modo a formar o
desenho de uma escola que as justifique).
Porém creio ser possível afirmar outra possibilidade, a de um contexto desses mesmos
textos, que em parte se deixam dominar pela comunicação implícita que os atravessa (como
indica a referida afirmação de Arthur Ramos23), o que remete ao ‘contextualismo’ de Mariza
Peirano, a saber, a visão que aponta a pregnância das questões nacionais no corpo das ciências
sociais sem que haja prejuízo da cientificidade (em termos de ciências humanas) e universalidade,
e sem que haja desmitificação sociologizante.24
A proposta de M.Corrêa se inscrevia num esforço maior (como o do programa de “história
das ciências sociais no Brasil” [Miceli, 1989]) de levantamento do “contexto social e político
onde se deu a institucionalização das ciências sociais no Brasil” (Corrêa, 1982, p.12). E o sentido
desse esforço é criar a base para um entendimento sociológico das ciências sociais que permita
23
Deve estar claro que longe de qualquer propósito exegético ou interpretativo das relações entre
Arthur Ramos, Nina Rodrigues e a antropologia de então e de agora, essa discussão pretendeu –
descontextualizadamente, se se quer – ‘pontualizar’ meu argumento pela aplicação a um aspecto bem
expressivo da posição contextualizadora.
24
Cf. Peirano, 1980, capítulo VI, especialmente a seção B, especialmente pp. VI-32 a VI-34, e
particularmente: “(...) [Brazilian] social scientists [after the 1930’s] developed their theories from the
perspective of nation-building. This is not meant to imply that the social sciences are not granted relative
autonomy from larger social processes, within which the issue of validity and scientificity may be debated.
I simply want to stress that social scientists, accompanying or reacting to a general trend in the national
political ideology, developed their inquiries in terms of nation-building, understood as the development of
national consciousness, participation and commitment. (...) Social scientists in this context examined what I
call the myths of national identity as a precondition for the understanding of the ‘reality’ of Brazil.
However, in doing so, both anthropologists and sociologists were caught in the ‘mirror image’ dilemma and
were forced to develop alternative propositions on what Brazilian reality ought to be. Interestingly enough,
when looking at the ‘symbols of nationhood’, anthropologists proposed, instead of trying to demystify
them, as was the sociologists’ tendency, to explain by which means they operate.” (Peirano, 1980: VI-3233)
25
26
escapar a uma circularidade, qual seja, a de dar sentido ao país pela narração e interpretação dos
sentidos anteriormente dados (p.11). A interpretação ideológica, circular, tenderia a se inscrever
numa linhagem de versões interessadas, de “redescobertas” do Brasil cuja socio-lógica, a da
inserção no próprio campo intelectual, seguiria obscurecida (pp.11,14). A ênfase na análise da
relação entre os “alinhamentos políticos e teóricos e a prática [intelectual]” seria mais frutífera,
capaz de trazer fatos em vez de versões. As “genealogia[s] teórica[s]” dos grupos de intelectuais
não teriam distância crítica suficiente em relação à reivindicação de legitimidade dos próprios
membros desses grupos, que recorrem a essas genealogias.25
Quanto a isso, aliás, é forçoso lembrar que Sérgio Miceli é um dos campeões da
desmitificação do modernismo. E assim como para ele há um mito literário do modernismo, 26 há,
segundo M.Corrêa, um mito antropológico da Escola Nina Rodrigues. E não é o exame de
conteúdo, mas o das práticas – o ‘modo de produção’ – que esclarece sobre o significado social
de suas idéias. A contextualização proposta é dupla: a da própria frase de Arthur Ramos, suas
motivações políticas (no campo intelectual e institucional, colocando-se como continuador da
narrativamente construída Escola Nina Rodrigues), e também da descontinuidade entre a
antropologia médica, de matriz racista, do século XIX, e a praticada nesta segunda metade do
século XX. Os conceitos tão distintos de raça e cultura, que compõem ou mesmo definem
vocabulários/ paradigmas dificilmente comensuráveis, remetem a contextos científicos e
institucionais diversos. E assim – segue o raciocínio contextualizador –, as obras ou correntes
marcadas por tais conceitos só poderão aparecer em continuidade por efeito de uma narrativa
parcial: no sentido de interessada (por funcionar como justificação e inserção de praticantes da
disciplina) e de incompleta (por privilegiar certas relações e elementos, obscurecendo outros).
25
Efetivamente, Mariza Corrêa é capaz, ao final de seu trabalho, de concluir por uma discrepância
entre as práticas intelectuais de legitimação e a produção mesma dos membros da chamada Escola Nina
Rodrigues e a versão ‘genealógica’, mítica afinal, de sua existência e seu papel num “panteão” da
antropologia no Brasil.
26
Para ele (Miceli, 1977, 1979), as versões (pre)dominantes da cultura brasileira seriam construções
políticas, isto é, cuja lógica é a da imposição dentro do campo intelectual, e que por força opera por
mitificação: des-historiciza as relações, apagando certos elementos para privilegiar outros. O modernismo
seria menos a emergência do novo, a ruptura absoluta em relação aos parnasianos (e simbolistas), do que o
resultado de determinadas opções simbólicas relativas à posição quanto ao poder nacional (oligarquias) e
internacional (“importação de sistemas de pensamento”), e de estratégias de comércio com a classe
dominante – o que desautorizaria o quadro de consagração do modernismo.
26
27
Meu argumento se conclui lembrando que há outro mito antropológico de passagem entre
raça e cultura: o de Casa-grande e senzala, de Gilberto Freyre, de sua originalidade, e da
conversão, nele operada, do pensamento racial(ista) para o cultural(ista). Ele põe também
questões a respeito de vocabulário e comensurabilidade.
Ricardo Benzaquen (Araújo, 1994) mostrou como há de fato uma narrativa explícita,
montada pelo próprio autor Gilberto Freyre, segundo a qual sua obra marcaria e estaria marcada
por tal passagem. Mas tal nível explícito está permeado de complicadores, entre os quais a
indefinição – apontada e criticada por outros autores – entre a intenção culturalista e as passagens
carregadas de ‘sobrevivências’ raciais. R.Benzaquen não propõe resolver essa questão, mas
infleti-la, isto é, não procura dissolver uma suposta aparência de ambigüidade, e sim dar a esta o
seu sentido positivo na obra de G.F. A presença implícita mas efetiva, em Casa-grande e senzala,
da idéia neolamarckiana de raça, em que o meio tem papel de primeira ordem, e que portanto é
muito mais afim da noção de cultura como entidade autônoma, mostrar-se-ia capaz de iluminar
diferentemente a tal passagem ou conversão de raça a cultura, bem como a sua especificidade ou
mesmo a originalidade de Gilberto Freyre (Araújo, 1995, capítulo 1).
Assim, o mito ao mesmo tempo pessoal, autoral e disciplinar proposto em Casa-grande e
senzala não resulta desfeito; ao contrário, suas limitações e contradições são mesmo elementos
intrínsecos de seu sentido. A contextualização se faz mais exegética do texto, menos
sociologizadora do autor ou ideologizadora da obra, e faz ver que o sucesso da narrativa – neste
caso: do sociólogo sobre o Brasil e do autor sobre seu percurso e sua produção – não precisa
medir-se pela adequação ou consistência quanto aos vocabulários constituídos (raça, cultura), mas
por alguma criatividade de tipo sintático, minimamente coerente em relação a eles.
O próprio fato, sublinhado e criticado por M.Corrêa, de que a relação intelectual com obras
do passado é dupla (reflexiva, dir-se-ia no jargão atual) – as análises expressam também uma
relação de pertinência com o objeto e procuram definir um con-texto, situar a própria obra
analítica em função de um ‘diálogo’ com as obras analisadas – já serviria para sugerir que é
possível tomá-la como operativa e significativa. Essa duplicidade intelectual não é
necessariamente falta de coesão (análises que são também diálogo e inserção; epigonismos que
habitam outros paradigmas), e indica que nossos mitos de origem não precisam coincidir com
nossas origens míticas.
A dupla constituição da antropologia aqui, a partir de estudos médicos e raciais, e com a
‘importação’ de pesquisadores estrangeiros de povos indígenas não nega que elejamos outro mito
que sustente nossa identidade: à maneira estruturalista, ele não deve abrigar ou ceder vez a nossa
27
28
história (no caso, intelectual), mas orientar nossa representação dela. E o modernismo poderia ser
visto como (proposição de) uma sintaxe dessa dupla estrangeiridade, como encadeamento
complexo de uma entidade literalmente complicada (dobrada sobre si, em convoluções) em que a
‘cultura brasileira’ comporta elementos díspares sem pacificação nem aniquilação27 e no qual,
como intelectuais, somos capazes de encontrar objetos de análise, mas sem deixar de ser
capturados, em algum plano, como nativos.
Quando R.Benzaquen sublinha o elemento neolamarckiano do conceito de raça em Gilberto
Freyre, não deixa de estar ‘contextualizando’ – isto é, estabelecendo as contigüidades
metonímicas que informam as descontinuidades metafóricas, esmiuçando os apoios do ‘salto’
problemático, encenado em Casa-grande e senzala, entre raça e cultura (esses termos tomados
não como posições teóricas estritas, mas situações discursivas), dentro da produção da disciplina,
ou melhor, de estudos sobre o Brasil reivindicados como de interesse ou orientação
antropológicos.
Com isso, quero propor que a força do mito não é aquela descrita por M.Corrêa. O mito por
ela apontado é mais fraco, visto haver continuidade, passagem, intermediações entre o passado
totêmico (racial) e a prática de hoje (cultural). Isto, é claro, não significa que Arthur Ramos, ao
enxergar afinidades com uma obra centrada na noção de raça mesmo numa situação em que o
peso conceitual já está deslocado para a cultura, esteja propondo um relato mais objetivo do que o
admite a análise crítica de M.Corrêa. Simplesmente, sugiro que o grau de mitificação no
estabelecimento de linhagens antropológicas não está afinal necessariamente em correlação direta
com a distância teórica, institucional, etc. entre as gerações envolvidas no relato.
Isso nos leva mais longe.28 Com efeito, no caso exemplar enfocado, a obra de Gilberto
Freyre constitui menos uma conversação ou tradução do que uma coabitação dos vocabulários da
27
28
Guerra e paz, no título sintético da interpretação de R.Benzaquen (Araújo, op.cit.)
Por que não separar a história da disciplina do mito a ser escolhido para ela? (Eis de retorno a
instância pedestre de uma questão abrangida pelo debate Sartre – Lévi-Strauss, se lido, no capítulo final de
O pensamento selvagem (Lévi-Strauss, 1976[1962], à luz da retomada comtiana empreendida no capítulo
anterior. A história da disciplina, onde cabem as críticas e as contextualizações, não precisa ser amedida
dos mitos que os que a praticam escolhem para ela (ou para si). Nossa relação atual com o passado é
sempre, em certa medida, mítica, embora a história possa estabelecer continuidades e descontinuidades
com contextos vários.
28
29
raça e da cultura. Como ressalta R.Benzaquen, essa ambigüidade (como outras) não resulta
dissolvida, e sim elevada a outro plano de significação da obra. E não é à toa, no que toca ao
raciocínio aqui desenvolvido, que é como obra modernista que Casa-grande e senzala toma sua
dimensão menos sintomática29 e mais paradigmática.
A possibilidade de convivência tensa de contrários que não se anulam nem se
complementam, o modo como estes se apresentam, em homologia com a própria realidade
conforme interpretada na obra, sugere que o caso Gilberto Freyre (na interpretação de
R.Benzaquen) possa servir como sinal (no nível da observação e do raciocínio) ou mesmo como
ícone (no nível da relação com a disciplina) de uma antropologia em que a forma, o desenho das
relações entre os elementos empregados e explorados é tão importante quanto o conteúdo
conceitual e empírico.
*
A menção a G.Freyre pode conduzir de volta ao trabalho de M.Peirano, mais uma vez como
elemento de sintomatização. Pois constitui de fato uma ausência – um “seqüestro”, diria Mario de
Andrade – do estudo realizado por ela. Dizer que se trata de denegação, e não de esquecimento, é
lembrar que, efetivamente, não há lugar teórico para algumas ambigüidades.
A designação de contextualista que dei à perspectiva dessa autora visa marcar o que há de
proximidade com a contextualização – o entendimento de obras, conceitos, etc. como parte de
uma situação – e o que há de distância – pois não se trata mais de uma redução30 ao contexto
como tarefa explicativa, de desvelamento de sentidos obscurecidos ou mitificados, e sim de uma
presença do contexto nos textos,31 que então esclarecem o contexto (em si mesmo um discurso,
ou texto, mais difuso e difundido), 32 tanto quanto ou mais do que são por ele esclarecidos. 33
29
Penso em algumas das leituras ou referências mais comuns do livro: por exemplo, como obra
pessoal e proposta mistificadora/conservadora, como momento de transição entre ensaísmo e produção
científica)
30
O termo redução pode aqui ser lido num sentido muito próximo do químico: anti-oxidação, fazer
perder a pungência, a mordacidade)
31
“(...) também se pode observar que contextos nacionais e, especificamente, ideologias de nation
building deixam sua marca nas vertentes disciplinares (...)” (Peirano, 1991, p. 13); “(...) ideologias
nacionais estão impressas nas teorias sociológicas – replicadas ou invertidas (...)” (idem, p. 244)
32
Na conclusão de sua tese, M.Peirano ressalta que a antropologia voltou-se para os mitos da
nacionalidade, o que não deixa de sugerir essa inversão, ou inversibilidade, texto-contexto.
29
30
Para M.Peirano, trata-se de “discutir a relação entre teoria antropológica e o contexto social
no qual ela se desenvolve” (Peirano, 1991, p.11), e isso sem “desenvolver uma história da
disciplina ou tecer reflexões epistemológicas, nem tampouco realizar uma sociologia do
conhecimento” (idem: 12), mas sim “explora[r] a variabilidade das questões antropológicas em
contextos socioculturais diferentes” (idem). Mais que as intenções de seu trabalho, essas parecem
ser suas premissas e afirmações básicas: “(...) este discurso que é a antropologia assume política e
eticamente diferentes estilos, de acordo com o contexto no qual se desenvolve, o que não lhes tira
a característica universalista, porque esta é teórica” (idem: 13).
Assim, o que chamo contextualismo não é um procedimento contextualizador, em operação
no trabalho propriamente realizado, e sim uma orientação teórica: ele é (ou quer-se) uma maneira
do universalismo. Significa que para além da contextualização, há a proposição de um contexto
privilegiado – o nacional. Mas – aqui o universalismo – esta é uma característica das próprias
ciências sociais, coetâneas e congeniais à emergência de sociedades nacionais. Uma antropologia
brasileira não é apenas e simplesmente (dessa perspectiva) aquela feita no contexto brasileiro,
mas aquela em que a questão da nação, tal como se apresenta no Brasil – identificação, formação,
construção da sociedade nacional – marca de modo específico o desenvolvimento da disciplina, o
que pode ser observado no exame de trajetórias de antropólogos de gerações e orientações bem
diversas (Peirano, 1980).
Na perspectiva de M.Peirano, tanto a universalidade da antropologia quanto a sua vinculação
com a nacionalidade – embora afirmadas e formuladas teoricamente – têm uma base
empírica/histórica. As duas referências para o universalismo são a generalidade da disciplina – as
leituras comuns, o ‘cânon’ antropológico mais ou menos fixo em seu núcleo de autores e de obras
e difundido em todos os contextos de ensino e produção – e sua circunstância de nascimento (ou
de gestação), os séculos XVIII-XIX, em que a sociedade toma caráter estado-nacional, e que se
impõe como a forma moderna de organização social.
Aqui, cabe uma pausa: embora M.Peirano por assim dizer explicite a dimensão política
implícita de seu projeto, o nexo colonial está praticamente (e curiosamente) ausente da discussão
teórica propriamente dita; nexo no entanto importante para uma discussão do universalismo, já
que evidencia o aspecto de poder que pôde garantir status epistemológico a um fato histórico.
33
É talvez por isso que a tese de M.Corrêa não dialoga diretamente com a de M.Peirano, que é
brevemente mencionada, naquela, como uma abordagem “temática”, sem maiores afinidades
metodológicas (e, depreender-se-ia inexatamente, substantivas).
30
31
Assim, a observação e a própria idéia de um envolvimento da antropologia brasileira com o
nation building (no sentido preciso de formar, no próprio processo de (auto)conhecimento, uma
nação antes problematicamente imaginada34) acabam sendo enfraquecidas pela quase
identificação deste com a idéia de envolvimento com o “contexto nacional”. Pois dizer que as
antropologias inglesa, francesa ou norte-americana se fazem em contextos nacionais certamente
não é o mesmo que afirmar que têm papéis homólogos de elementos ou instrumentos de
formação da nação, e M.Peirano o mostra bem (embora talvez com pouca ênfase).35 Mas é
discutível o passo lógico e político-teórico de subordinar o nation building a uma supercategoria
do “contexto nacional”. Em termos lógicos, poderíamos, alternativamente, pensar a relação entre
eles, não com rigidez e sistematicidade conceitual (sub- e supercategorias, espécies em gêneros,
indivíduos em classes, todas bem delimitadas), mas como semelhanças de família (Wittgenstein,
1985). Em termos político-teóricos, a subordinação do nation building brasileiro a uma entidade
universal “contexto nacional”, entendida como marca genética de surgimento das ciências sociais
na Europa, reproduz, no plano do pensamento, o efeito de poder colonial responsável pela
mundialização do Estado-nação.
Caberia então interrogar se não há uma perspectiva mais sensível às diferenças (e às
semelhanças de família) entre sentidos que nação, e mesmo construção assumem em contextos
diferentes. Até aqui vai a proposta de M.Peirano: que as nações são diversas enquanto contextos
antropológicos, e que a antropologia é diferenciada enquanto texto nacional. Parece então
possível reafirmar em termos mais fortes que os decorrentes da posição contextualista, o vínculo
34
Quanto à idéia de nação como entidade imaginada, cf. Anderson (1991).
35
Ver, quanto a isso, o mesmo trecho citado na nota 24. Essa passagem torna-se estratégica, na
medida em que coloca a proposta de M.Peirano como uma ‘reflexão’ (“antropologia da antropologia”)
capaz de perceber o enredamento das ciências sociais no “‘mirror image’ dilemma”, o que de certo modo a
colocou em continuidade com as gerações ‘pré-institucionais’. M.Peirano reconhece, na antropologia que
não procura desmitificações, mas análises simbólicas, uma saída do dilema (seria o caso de R.DaMatta).
Essa percepção, a meu ver, abre a possibilidade de um entendimento ‘intra-reflexivo’, isto é, de aceitação
não passiva de algum papel no jogo de espelhos, que deixa de ser dilema, passando mesmo a ser
intervenção – ver, a respeito, de O.Velho, “Novas perspectivas: globalização” (Velho, 1995d), parte III. O
lugar de um ‘modernismo brasileiro como antropologia’ está na possibilidade de inversão da direção: um
procedimento que, reflexivamente, crie símbolos do dilema nacional do jogo de espelhos (como seria
possível mostrar a respeito de Mário de Andrade e Oswald de Andrade – cf. Geiger, 1999), não estará
realizando um procedimento antropológico a contrapelo?
31
32
característico entre antropologia e o Brasil – afinidade efetiva, e não apenas variante de um
vínculo ge(ne)ral(izado).
O exemplo de Gilberto Freyre, que figurou anteriormente como sinalizador de um
vocabulário ‘misto’ ou intermediário na antropologia, e que na verdade já trazia em si a sugestão
de que um Brasil pensado culturalmente é um meio – compósito, plástico, plurívoco – de cultura,
tal exemplo é aqui também, no trabalho de M.Peirano, uma ‘ausência’ eloqüente, eqüidistante,
por assim dizer, entre o ensaísmo anterior à institucionalização das ciências sociais e a
antropologia acadêmica, ‘social-científica’, e com a capacidade – estética tanto quanto intelectual,
e em afinidade implícita com um modernismo (Araújo, op.cit., p.23) – de “aproximar visões
diferentes, antagônicas até, sem dissolvê-las ou mesmo reduzir consideravelmente a sua
especificidade” (p.24).
A lembrança desse caso-limite, desse desafio à classificação, conduz à questão da
antropologia institucional(izada). M.Peirano dá destaque à lógica educacional e política que
presidiu a implantação institucional das ciências sociais no país (mais exatamente, em São Paulo,
com a USP – cf. Peirano, 1980, cap.I), a qual acompanha o auge do processo de ‘positivação’ da
nacionalidade: a nação é afirmada como viável e também como exigindo um conhecimento
positivo a seu respeito. E é nessa situação de nacionalidade ou nacionalismo modernizante – que
implica um olhar crítico para o que houve de faltoso ou deslocado no país – que as ciências
sociais vêm então se firmar como um discurso separado do da literatura, aquela literatura
(ideológica, e não científica; ensaística, e não sistemática; pessoal, e não acadêmica) em que se
procurou tantas vezes dar bons termos à dualidade do nacional e estrangeiro que marcava
‘colonialmente’ a intelectualidade brasileira. São as condições sociais, políticas e ideológicas
dessa separação ou recusa que constituem, segundo M.Peirano, a linha divisória das ciências
sociais no Brasil, e não o fato mesmo da mudança de um regime literário a outro, científico
(Peirano, 1980, pp.II-1-2).36 Na verdade, o caráter mesmo e o ritmo dessa mudança são cheios de
nuances e M.Peirano está atenta a eles. Meu argumento é que embora M.Peirano não subscreva a
visão de uma superação quase epistemológica do momento pré-institucional, e prefira falar de
uma mudança contextual em lugar de confirmar uma ruptura definitiva nos textos mesmos da(s)
nova(s) disciplina(s), ela não problematiza justamente a ‘conexão mítica’: seu contextualismo não
dá atenção (nem, por suposto, a deve) às ‘continuidades metafóricas’ que sobrevivem ao ‘salto
36
Nesse sentido, poder-se-ia dizer que ela, antropologicamente, combina as três perspectivas
paradigmáticas da história intelectual brasileira, conforme W.G.Santos: a institucional, a sociológica, e a
ideológica.
32
33
metonímico’ em jogo. Para M.Peirano, o ponto principal é que os antropólogos, que são também
cidadãos, intelectuais envolvidos com a construção da nação, produzem obras que inscrevem as
questões nacionais no corpo teórico, metodológico e ético da disciplina. O contexto, a inserção na
e relação com a realidade estudada inflete a produção dos estudos.
Meu ponto é de certo modo antiinverso ao dela: o assunto não se esgota na observação de
que o contexto brasileiro infunde elementos e direções próprias às ciências sociais aqui praticadas
e, correspondentemente, os estudos realizados influem sobre a representação da nação. Há
também, além dessa inflexão, um elemento de reflexão. Certos elementos presentes na
intelectualidade literária nativa se observam em idéias, relações ou representações que a
contribuição antropológica de orientação e ancoragem acadêmica suscita entre alguns praticantes
da disciplina. Ou, dizendo-o de outro modo: também é possível uma leitura da antropologia do
Brasil, não como texto trazido ao nosso contexto (e por este amoldado), mas como
contextualização disciplinar de um texto ou subtexto que percorre obras literárias ou outras em
que a questão da nacionalidade está presente. (É uma perspectiva que volta a ser semelhante à da
institucionalização, mas em que esta conta menos como fato do que como rito – sempre com
lugar para a fundação mítico-carismática...)
Por exemplo, com relação a um conceito como cultura, poder-se-ia desta perspectiva dizer
que, embora os estudos antropológicos que o utilizam se apliquem a objetos e em situações
brasileiras com uma história e sociologia específicas (perspectiva contextualizadora), e embora o
lugar teórico e pragmático na antropologia não esteja desligado de condições históricas e
ideológicas de desenvolvimento da disciplina, aí incluídas as das sociedades nacionais
(perspectiva contextualista - cf. Peirano, 1980, cap.I), isso não significa que com isso se esgote o
entendimento cultural do país. A pergunta que se coloca é se não tem havido, para além dos
estudos localizados, conduzidos com o método e os conceitos próprios da disciplina, um outro
papel de conhecimento da antropologia: o de uma interpretação do país, no sentido genérico mas
não menos forte de uma atenção especial à dimensão simbólica. É preciso sublinhar que não
pretendo nenhuma demonstração de que é efetivamente assim; tal idéia é a premissa menor 37 do
‘silogismo’ aqui ensaiado, que diz que se efetivamente há na antropologia esse outro papel, ou
37
Ela não obstante está expressa, a meu ver, com bastante ênfase na obra de Roberto DaMatta, e, nela,
o artigo “Brasil: uma nação em mudança e uma sociedade imutável?” (DaMatta, 1988) é particularmente
feliz como exemplo da sensibilidade especial da antropologia para certas questões ‘definidoras’ do país
(que estaria, sabemos desde Carnavais, malandros e heróis (DaMatta, 1979), mais no “dilema” do que na
‘realidade’.
33
34
papel outro, ele não decorre do que se obteve com a institucionalização acadêmica, mas preenche
um lugar já delineado ‘carismaticamente’.
Se for assim, o contextualismo tem suas limitações, pois seria preciso também pensar a
entrada universalista das ciências sociais como um dado de contexto inserido na série de textos da
nação. É preciso ressaltar que essa série de textos não é um contínuo linear, e que, nela, como já
foi indicado, o movimento modernista brasileiro dos anos 1920 é por mim considerado como
efetiva ruptura, momento ou local em que os elementos de representação e interpretação do Brasil
sofrem um rearranjo bastante significativo.
*
Finalmente, podemos esboçar uma movimento mais afirmativo na direção das condições
mínimas de reapropriação (reflexa, irônica) do modernismo. Ele se fará colado ainda ao trabalho
de M.Peirano, mas tem pretensão mais unificada, de responder ao diagnóstico simples e básico
das observações feitas até aqui: que os modelos ‘de contexto’ reconhecem a literariedade, mas
não lhe dão lugar senão residual no sistema; e que o modernismo está presente (por ausência) nos
modelos, mas sem ter seu lugar reconhecido.
DISCIPLINA, AUTOR, COMENTÁRIO
Seria fácil, porém simplista e equivocado, centrar o argumento sobre uma refutação ao
‘corte’ da tese de M.Peirano sobre a antropologia brasileira, que recai nos anos 1930. Esse
período é, com efeito, um “sociogenetic moment”, um “major ideology-producing period” e a
década da institucionalização das ciências sociais (Peirano, 1980, p.II-1). Há então uma
descontinuidade aí, fruto da modernização universitária e dos cursos estrangeiros trazidos ao país,
e que independentemente da classificação (ideologia, ensaísmo, imaginação, por oposição a
ciência, disciplina, método) constituem um elemento novo no quadro intelectual e embasam essa
demarcação temporal ou histórica (a ser miticamente escandida).
É claro que, assim entendido o contexto, não cabe interrogar sobre uma inclusão, no quadro
da antropologia, da produção anterior aos anos 1930 – aquilo que se ganharia em completude
seria menos do que o que se perde em consistência. O programa de M.Corrêa é um
desenvolvimento dessa constatação, e trata como mito as obras antropológicas ‘precursoras’ e as
reivindicações de continuidade com elas. A idéia que persigo, porém, é que alguns elementos
dessa completude abdicada – por exemplo, quando se deixa de ver já em operação, em certas
34
35
discussões ou elaborações sobre a nacionalidade ou o “caráter nacional”, um conceito (ainda mal
ou equivocamente formulado) de cultura – retornam como recalcado.
Isso talvez fique mais bem ilustrado pela aplicação de algumas noções propostas por Michel
Foucault sobre mecanismos de controle do discurso (A ordem do discurso (Foucault, 1996)).
Interessam aqueles três que ele define como de “limitação do acaso”: o comentário, o autor, a
disciplina – cujas “multiplicidade”, “fecundidade” e “desenvolvimento”, respectivamente, podem
ser vistos “como (...) recursos infinitos para a criação dos discursos”, mas que não deixam, frisa
Foucault, “de ser princípios de coerção” (Foucault, 1996, p.36).
A disciplina, diz Foucault, é que estabelece as fronteiras do que pode ser dito como
verdadeiro, isto é, regras, objetos, conceitos que devem ser observados para que se possa falar do
– ou no, conforme Canguilhem (mencionado por Foucault) – verdadeiro. “No interior de seus
limites, cada disciplina reconhece posições verdadeiras e falsas; mas ela repele, para fora de suas
margens, toda uma teratologia do saber.” (idem, p.33) E imediatamente, num trecho muito
sugestivo, observa que “o exterior de uma ciência é mais e menos povoado do que se crê”. 38
Minha sugestão, quase óbvia, é que se tenha essa figura em mente ao pensar a
institucionalidade das ciências sociais. Não, porém, para analisar ou criticar o momento
disciplinar e institucional em si mesmo, e sim como imagem de uma relação de observação: que
as ciências sociais, e a antropologia entre elas, puderam ser pensadas como instrumental de
acesso e abordagem ao verdadeiro, num abandono das formas híbridas, "teratológicas”, de saber,
mas também, correspondentemente, continuam excluindo, des-referindo certas dimensões, mais
contingentes, do discurso da (sobre a, na) ‘cultura brasileira’.
Mariza Corrêa propôs, com relação à medicina no Brasil, especificamente a medicina legal
de Nina Rodrigues e sua “escola”, um nuançamento da noção de disciplina segundo Foucault. “A
lei e a norma, no sentido que lhes dá Foucault, foram aqui complementares, partes inseparáveis de
um mesmo conjunto” (Corrêa, 1982, pp. 50-51). M.Corrêa afirma que a disciplina médica não era
a sutil contraparte, persuasiva e manipuladora, da lei e do direito; não era o contraverso
particularista, separador, instituidor de um “mais poder” e “falseador” da relação legal universal
(aplicabilidade generalizada) e da reciprocidade contratual. Segundo M.Corrêa, o perito médico38
E continua: “(...)certamente, há a experiência imediata, os temas imaginários que carregam e
reconduzem sem cessar crenças sem memória; mas, talvez, não haja erros em sentido estrito, porque o erro
só pode surgir e ser decidido no interior de uma prática definida; em contrapartida, rondam monstros cuja
forma muda com a história do saber” (Foucault, 1996[1971], p.33).
35
36
legal não estava oposto ao cidadão (pois num país cheio de não-cidadãos); o saber médico repetia
e continuava o domínio senhorial dos corpos e a expressão política e jurídica deste: a lei
desigual.39
Ora, M.Peirano de saída enfatiza que a institucionalização acadêmica das ciências sociais, a
partir dos anos 1930, é função de nova situação nacional, de novas orientações e percepções
ideológicas do país pelas elites. Não é difícil, portanto, associar tal mudança, “momento
sociogenético”, com uma transformação da própria institucionalidade política, social e jurídica do
país, isto é, com uma possível alteração da relação entre a esfera da lei e a da norma, entre o
estudo e a disciplina, o poder e o saber. Poderia ser que a relação entre essas instâncias – que
M.Corrêa mostrou ser de continuidade, no caso da medicina precursora da antropologia no Brasil
– assumisse, na modernização da sociedade brasileira, a mesma função de contra-inversão
daquela observada na Europa por Foucault e outros autores.
E isso faz aparecer uma ambigüidade forte nas ciências sociais. Elas são, ao mesmo tempo
um agente desse novo conhecimento (científico) e representação (ideológica) da nação – vindo
trazer um saber universalista para uma sociedade de desiguais, numa recolonização – uma
perspectiva da inclusividade, que os capítulos centrais da tese de M.Peirano mostram
detalhadamente em operação, na antropologia ‘acadêmica’ de cinco décadas.40 É, pois, num
39
M.Corrêa: “A ‘normalização’ dos comportamentos sociais, lenta e sutilmente encaminhada por
táticas disciplinares na Europa ou nos Estados Unidos, não precisou aqui, como lá, competir a princípio
com os poderes da lei; ao contrário, as ‘disciplinas’ se constituíram dentro de um quadro jurídico cujos
termos de definição eram equivalentes aos seus.” (Corrêa, 1982: 48) E ainda: “Não foi com a
institucionalização da medicina que se iniciou entre nós uma tecnologia de controle dos corpos dos
homens, embora ela tenha tido aí um importante papel a desempenhar. Este saber é mais antigo e
‘interdisciplinar’ e, se pode ser analisado nos termos utilizados no debate contemporâneo sobre a história
das especialidades médicas, faz parte da própria história da nossa constituição política. Deixar de lado essa
complexidade de relações entre as várias ciências na história do controle das populações no Brasil, é perder
um componente importante de sua inteligibilidade (...)” (idem: 49). Tudo isso, aliás, não deixa de
realimentar a indagação que conduziu este trabalho: se com as perspectivas contextuais (contextualização e
contextualismo) não se estará perdendo, analogamente e em paradoxo apenas aparente, um “componente
importante da inteligibilidade” da cultura brasileira (vista, esta, como categoria representacional, não como
fato em si).
40
Por inclusividade entendo um interesse implícito ou explícito em um estudo de outros em que as
distâncias e diferenças étnicas, culturais e sociais estão colocadas como relevantes para a nação.
36
37
‘sistema’ de universalidade e reciprocidade cidadãs que vão se fazendo os estudos, e se
constituindo os temas e as carreiras antropológicas.
Se é assim, então parte do esforço teórico de M.Peirano está deslocado. Ela procura
reiteradamente firmar uma universalidade antropológica sempre em situação, mas sobre um
terreno em que há outras trilhas a percorrer. Ela se baseia numa refutação da reversibilidade do
conhecimento antropológico, uma exclusão da possibilidade de “antropologias nativas”, e com
isso transparece o lado disciplinar, no sentido foucaldiano de unilateralidade de certas relações,
de não-reciprocidade (“mais-poder”, diz Foucault). Pois a “reflexividade” proposta por M.Peirano
em sua tese tem o caráter da recursividade (“anthropology of anthropology”) e não do
defrontamento; de um pensamento ocidental que quer pensar-se, mas não deixar-se pensar.41
Portanto, quando apresenta a nação como contexto de um conhecimento antropológico
universalista, M.Peirano estaria usando uma estratégia de saber-poder para universalizar um
conhecimento afinal contextual e particular, experiencial, como o é o antropológico.
O antropólogo cidadão é aquele capaz de formular sobre as sociedades e grupos estudados, e
que integram ou são incorporados à nação, um discurso que, se escuta a voz do outro, o faz numa
moldura em que esta está limitada quanto aos efeitos possíveis: a nação não é questionada, e com
isso confirma-se o (recursivo, meta-) universalismo. Qualquer antropologia ‘mítica’, holista, do
outro sobre “nós” (ou questionadora do “nós”, que é afinal antes uma figura do que uma petição
antropológica) – qualquer antropologia ‘mítica’ estará do lado “teratológico”.
A leitura foucaldiana prossegue, e com mais nuances. Pois o estudo de M.Peirano é todo
construído sobre os trabalhos de antropólogos de diferentes gerações, num viés nitidamente
autoral (mas que não é teorizado, permanecendo implícito e intuitivo). O autor é outro dos
mecanismos de controle do discurso mencionados por Foucault, que assim expõe a oposição ao
mecanismo da disciplina:
41
Nesse sentido, a autora talvez pudesse proceder ao contrário do que faz, e em lugar de recusar a
posição de Lévi-Strauss, reivindicá-la como justificação: pois se afinal não há diferença entre o pensamento
dos indígenas tomar forma sob a ação do meu, ou o meu sob a ação do deles, como ele afirma no
Pensamento selvagem (para o comentário de M.Peirano, cf. 1980, p.I-5), então o interesse epistemológico
de uma antropologia nativa se evanesceria, deixando apenas o aspecto político – o que por sua vez marcaria
ainda melhor a dissenção com a corrente, lata, da pós-modernidade, da política-com-poética, etc.
37
38
Visto que uma disciplina se define por um domínio de objetos, um
conjunto de métodos, um corpus de proposições consideradas verdadeiras,
um jogo de regras e de definições, de técnicas e de instrumentos; tudo
is[s]o constitui uma espécie de sistema anônimo à disposição de quem quer
ou pode servir-se dele, sem que seu sentido ou sua validade estejam
ligados a quem sucedeu ser seu inventor. (Foucault, 1996[1971], p. 30)42
Visto que M.Peirano não apresenta uma elaboração teórica ou metodológica dessa escolha, é
provável que não subscrevesse, em seu trabalho, a definição de Foucault: “O autor, não
entendido, é claro, como o indivíduo falante que pronunciou ou escreveu um texto, mas o autor
como princípio de agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas significações, como
foco de sua coerência.” (idem, p.26) Mas nem por isso é fora de propósito ressaltar que não só as
figuras se opõem, como suas escolhas pareceriam mutuamente excludentes para um trabalho
inscrito no campo científico-disciplinar atual:
(...) nos domínios em que a atribuição a um autor é de regra – literatura,
filosofia, ciência – vê-se bem que ela não desempenha sempre o mesmo
papel; na ordem do discurso científico a atribuição a um autor era, na Idade
Média, indispensável, pois era um indicador de verdade. (...) Desde o
século XVII es[s]a função não cessou de se enfraquecer, no discurso
científico: o autor só funciona para dar um nome a um teorema, um efeito,
um exemplo, uma síndrome. Em contrapartida, na ordem do discurso
literário, e a partir da mesma época, a função do autor não cessou de se
reforçar (idem, p.27).
Ao apontar a copresença dos mecanismos disciplinar e autoral como referências de uma
“antropologia da antropologia”, poder-se-ia enviesar a argumentação e insistir no caráter bifronte
da antropologia: ‘científica’ porém ‘literária’, tão mais autoral quanto mais institucionalmente
disciplinar43 (num processo que parece tomar simultaneamente sentidos contrários), enfim,
iluminista de nascimento, romântica por vocação – o que já é quase um lugar-comum da
disciplina, e reconhecido explicitamente pela própria autora. Mas o que quero sugerir é que a
ambigüidade permanece – talvez como dilema ou crise, mas potencialmente como
enriquecimento – para uma reflexão antropológica sobre a própria antropologia. No caso
específico brasileiro, aparece como questão sobre a definição de e relação com os ‘clássicos’, e se
42
Esse ponto clara e diretamente remete-nos de volta ao da textualidade ‘geertziana’ das obras
antropológicas.
43
Essa observação não tem, é claro, validade geral na história (e geografia) da antropologia, mas é
bem aplicada – e isso é que importa para minha ‘petição modernista’ – à antropologia clássica, ou aos
clássicos antropológicos (como, por exemplo, aqueles quatro estudados por Geertz).
38
39
a cientificidade deverá se dar às expensas da literariedade (na oposição paulista, à la Florestan
Fernandes), a disciplinaridade às custas da autoralidade.
Sublinhe-se, a propósito, a afinidade maior desse viés autoral com o próprio momento préinstitucional (ensaístico, literário), e portanto certa fraqueza (no sentido de não-radicalidade) da
perspectiva de M.Peirano, que aceita e mesmo opera com a simultaneidade das duas vertentes,
porém parece optar por não lidar com o dilema completude-consistência que esta apresenta.
Isso não é dito com intenção crítica, mas retórica: quer-se introduzir, como ‘solução’ (ou, na
verdade, complexificação) dessa duplicidade de princípios, justamente o terceiro princípio de
controle mencionado por Foucault: o comentário. Para entendê-lo, é preciso primeiro levar em
conta que
(...) há, muito regularmente nas sociedades, uma espécie de
desnivelamento entre os discursos: os discursos que ‘se dizem’ no correr
dos dias e das trocas, e que passam com o ato mesmo que os pronunciou; e
os discursos que estão na origem de certo número de atos novos de fala que
os retomam, os transformam ou falam deles, ou seja, os discursos que,
indefinidamente, para além de sua formulação, são ditos, permanecem
ditos, e estão ainda por dizer. (Foucault, 1996[1971], p.21-22)
Para um antropólogo, a palavra mito parece no limiar desse trecho, mas Foucault observa em
seguida que esses discursos,
[n]ós os conhecemos em nosso sistema de cultura: são os textos religiosos
ou jurídicos, são também esses textos curiosos, quando se considera o seu
estatuto, e que chamamos de ‘literários’; em certa medida textos
científicos” (idem, p.22).
Enfim, dadas essas propriedades sociais-discursivas
(...) no que se chama globalmente um comentário, o desnível entre texto
primeiro e texto segundo desempenha dois papéis que são solidários. Por
um lado permite construir (e indefinidamente) novos discursos: o fato de o
texto primeiro pairar acima, sua permanência, seu estatuto de discurso
sempre reatualizável, o sentido múltiplo ou oculto de que passa por ser
detentor, a reticência e a riqueza essenciais que lhe atribuímos, tudo isso
funda uma possibilidade aberta de falar. Mas, por outro lado, o comentário
não tem outro papel, sejam quais forem as técnicas empregadas, senão o de
dizer enfim o que [já] estava dito articulado silenciosamente no texto
primeiro. (...) O comentário conjura o acaso do discurso fazendo-lhe a sua
parte: permite-lhe dizer algo além do texto mesmo, mas com a condição de
que o texto mesmo seja dito e de certo modo realizado. (idem, pp.24-26)
É o mecanismo de trazer algo novo em forma de repetição, e de reiterar pela descoberta.
39
40
O que proponho que se pense, quanto a isso, é menos uma hipótese cuja demonstração
apresentarei ao juízo do leitor, do que um credo ou aposta para a qual solicito alguma
compreensão ou cumplicidade inicial: que ‘esta’ antropologia do Brasil que se (auto)observa
antropologicamente (e historicamente), poderia com algum proveito reflexivo considerar-se como
um comentário a um “texto primeiro” modernista.44
A antropologia brasileira – tal como vista ou observada nessas tentativas universalistascontextualistas de auto-reflexão – como um comentário. Mas não no sentido de acessório apenso
a um texto, nem no de exegese: antes uma rotina da (re)descoberta do Brasil na (e pela)
modernidade. Qualquer tentativa de descrever ou analisar o modernismo em concordância com
essa imagem seria um equívoco tático e estratégico. Pois foge ao escopo, e mesmo à competência,
deste trabalho (e seu autor) propor uma descrição e interpretação d’o modernismo quando se quer
justamente valorizar a riqueza ‘selvagem’ do movimento; além disso, e embora seja com certeza
interessante uma interdisciplinarização retrospectiva do modernismo (que se deu antes do bigbang disciplinar dos anos 1930), o que se pode pretender, em um trabalho acadêmico deste tipo, é
falar do nexo e dos aspectos ‘internos’ dessa conexão modernismo-antropologia.
Portanto, trata-se de mostrar em negativo essa imagem modernista, a sua presença (‘mítica’,
e não necessariamente precursora ou influenciadora) na antropologia atual. E no que toca à
condução e conclusão deste trabalho, isso se faz pela explicitação do lugar do modernismo na
própria reflexão teórica que embasa e conclui o esforço contextualista de M.Peirano, de ver a
antropologia do Brasil como culturalmente determinada. Ela resume o escopo teórico mais largo
de seu trabalho de continuação e aprofundamento do que foi empreendido na tese, dizendo ter
como objetivo a discussão “[d]a relação entre perspectivas teóricas e o meio histórico e
sociocultural no qual se desenvolvem, tema que toca de leve a grande questão da universalidade
da ciência.” E continua, numa passagem breve, mas central para o que aqui se quer afirmar:
44
É claro que não pretendo eximir-me de todo e qualquer compromisso de convencimento; apenas
sublinho que ele não é de natureza demonstratória, e que o desenvolvimento apresentado não pretende
assumir, como retórica, a possibilidade (fictícia) de exaurir as possibilidades de interpretação, seja da
antropologia ou do modernismo (ambos por demais amplos e variados para constituírem ‘objetos’ de
demonstrações diretas); a argumentação não pretende conduzir inapelavelmente, ‘algoritmicamente’, a
certas conclusões, mas, de modo por assim dizer ‘conexionista’, fornecer razões, dados suficientemente
fortes para que se admita a plausibilidade instável de um entendimento afinal sempre parcialmente intuitivo
dos não-objetos antropologia (brasileira) e modernismo (idem).
40
41
Herança do século XIX, a idéia de que uma ciência da sociedade e da
história era possível se relaciona a dois problemas contemporâneos: o
primeiro, herdamos do modernismo, quando se pensou na possibilidade de
um concerto das nações, no qual o Brasil teria o seu acorde próprio [alusão
indireta a Mário de Andrade, anteriormente mencionado pela autora, e cuja
frase ‘É no Brasil que me acontece viver’ figura como epígrafe do ensaio
em questão, Uma antropologia no plural, que conclui o livro de mesmo
nome] (...) (Peirano, 1991, p.235).
Dois reparos, a esse propósito. O primeiro tem a ver com os termos em que M.Peirano coloca
a relação, que reconhece, com o modernismo. Ela não volta a tratar da questão, o que por si já é
expressivo de que para ela a “herança” vale como anterioridade histórica, mas não como presença
atualizada metaforicamente (‘mítica’). Ou seja, ela não considera o nexo modernista em termos
de comentário, isto é, como o de uma primitividade do texto primeiro, e sim em termos de uma
continuidade temporal (e o debate pós-moderno deveria então repercutir sobre a avaliação dessa
“herança” modernista, nem que se tratasse de, contextualmente, examinar o novo sentido
reafirmado ou ratificado que tal herança tomaria). Há algo de denegatório nesse nãoreconhecimento do mecanismo do comentário aqui envolvido. Pois a linearidade ou
progressividade afirmada – como se tivéssemos ‘herdado’ certas questões, que então devemos
explorar com os meios intelectuais de que agora dispomos – mascara aquele aspecto a que
Foucault chamou atenção: que o comentário
[d]eve, conforme um paradoxo que ele desloca sempre, mas ao qual não
escapa nunca, dizer pela primeira vez aquilo que, entretanto, já havia sido
dito e repetir incansavelmente aquilo que, no entanto, não havia jamais
sido dito. (Foucault, 1996[1971], p.25).
A ‘herança’ modernista vai além de questões legadas ou transmitidas; o conjunto do
movimento ajudou a definir o próprio espaço problemático do que se pode chamar “contexto
nacional” – a “embeddedness” da antropologia não é institucional ou sociológica somente, mas
“ideológica” ou (proponho como glosa dos 90) representacional. Como diz Hélio R. Silva, o
movimento teve, desde o início, uma dimensão “meta-estética”:
[o] modernismo se estilhaça em módulos autônomos que refletem não só
música, arquitetura, artes plásticas, literatura, mas também política,
história, sociologia, educação, em níveis heterogêneos, mas que indicam
uma coisa preciosa que os modernistas sabiam desde o início: a dimensão
meta-estética do modernismo. (Silva, art.cit., p.92)
E sua precária ou ausente coesão de movimento desde logo faz-se pluralidade de sentidos e
projetos possíveis a partir do móvel inicial:
41
42
descobrir o Brasil e modernizá-lo. Os participantes da Semana de Arte
Moderna, todos concordavam com essas duas palavras-de-ordem.
Restavam porém algumas questões acessórias: como descobrir? em que
direção dever-se-ia processar a modernização?
Como descobrir um país sem estradas, sem universidades, e que se
estendia em sua continentalidade ante os pés da fome de sistematização
modernista?
(...) Descobrir o Brasil. O país, com inúmeros grupos tribais, com regiões
inteiras a explorar, sem estradas e portanto sem contatos, era considerado
previamente uno. Colocava-se desde o início o problema da ‘Cultura
Brasileira’. Mas se havia univocidade de propósitos, o país não era
unívoco. (Silva, 1986, p.92)
Mas meu argumento é que a abertura e plurivocidade de sentidos – do país e dos programas
de ‘descoberta’ – não é lacunar, um vazio à espera de preenchimento. Se há um espaço (em
aberto) definido no modernismo, é porque as questões propostas por ele não esperam resposta,
mas são elas mesmas respostas a que retornamos, como comentário, ainda que criticamente. Em
outras palavras, há elementos, no modernismo, de um ‘discurso fundador’ (no sentido
foucaldiano), de originalidade e de autorização.
Enfim, parece possível afirmar, do comportamento denegatório (ou seja, de reconhecimento
na negação) que em relação ao modernismo apresentam certas visões históricas e antropológicas
sobre a antropologia brasileira (exemplificadas pelas obras das duas Marizas), que tal caráter seu
não é função de uma falta de conhecimento antropológico do modernismo, mas um problema de
reconhecimento do modernismo como ‘antropologia’ – ou antes, do que há de antropológico no
modernismo.
******
42
43
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANDERSON, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the origin and spread of
nationalism. Rev. edition. London-New York: 1991.
ARAÚJO, Ricardo Benzaquen. Guerra e Paz: Casa-Grande & Senzala e a obra de
Gilberto Freyre nos anos 30. Rio de Janeiro: Editora 34. 1994.
CLIFFORD, James. “Introduction: Partial Truths.” In ____ & MARCUS, G.E. (ed.),
Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley and Los
Angeles: University of California Press, 1986.
CORRÊA, MARIZA. As ilusões da liberdade – a Escola Nina Rodrigues e a
antropologia no Brasil. Tese de doutorado, Universidade de São Paulo, 1982.
____. “Traficantes do excêntrico: os antropólogos no Brasil dos anos 30 aos anos 60.”
Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol.3, n.6, fev. 1988.
DAMATTA, Roberto. “O ofício do etnólogo, ou como ter anthropological blues”.
Boletim do Museu Nacional, Rio de Janeiro: (27) maio 1978 (Nova Série,
Antropologia).
____. “Brasil: uma nação em mudança e uma sociedade imutável? Considerações sobre a
natureza do dilema brasileiro.” Estudos Históricos, 1(2) 1988.
____. “Relativizando o interpretativismo”. In: Corrêa, M. e Laraia, R. (orgs.), Roberto
Cardoso de Oliveira - homenagem. Campinas: IFCH/Unicamp, 1992.
____. “Palpite inicial e arremate: os bichos são mais importantes que os bicheiros”. in
DaMatta, R. e SOÁREZ, E. Águias, burros e borboletas – um ensaio
antropológico sobre o jogo do bicho. Rio: Rocco, 1999.
43
44
FISH, Stanley. “Is there a text in this class?” e “Demonstration vs. persuasion: two
models of critical activity”, in Is there a text in this class? – the authority of
interpretive communities. Harvard Univ. Press, 1980.
FOUCAULT, M. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1996[1971].
GEERTZ, Clifford. The interpretation of cultures. New York: Basic Books, 1973.
____. Blurred Genres: the refiguration of social thought. In: Local Knowledge – further
essays in interpretive anthropology. New York: Basic Books, 1983(a)
____. From the native’s point of view. In: ____. Local knowledge. 1983(b).
____. Works and lives – the anthropologist as author. Stanford Univ. Press, 1988.
GEIGER, Amir. Uma antropologia sem métier: primitivismo e crítica cultural no
modernismo brasileiro. Tese de doutorado, PPGAS/Museu Nacional, UFRJ.
Rio, 1999.
GEIGER, Amir e VELHO, Otávio. “A liminaridade antropofágica de Roberto DaMatta,
ou Tupi or not tupi? A virtude está no meio”. In GOMES, L.G. & BARBOSA, L.
& DRUMMOND, J.A. (orgs.): O Brasil não é para principiantes. Carnavais,
malandros e heróis, 20 anos depois. Rio, Editora FGV, 2000.
GONÇALVES, José Reginaldo. “A obsessão pela cultura”. In: MOREIRA, M.E. e
PAIVA, M. (orgs), Cultura. Substantivo Plural. São Paulo / Rio, Editora 34
/CCBB, 1996.
LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
1975.
44
45
____. Pensamento selvagem. São Paulo: Cia. Editora Nacional. 1976.
MAIO, MARCOS CHOR. A história do Projeto Unesco – estudos raciais e ciências
sociais no Brasil. Tese de Doutorado. Orientador José Murilo de Carvalho,
IUPERJ, 1997.
MICELI, S. Poder, sexo e letras na República Velha. São Paulo: Perspectiva, 1977.
____. Intelectuais e classe dirigente no Brasil. São Paulo: Difel, 1979.
MICELI, S. (org.) História das ciências sociais no Brasil – volume 1. São Paulo:
Idesp/Vértice, 1989.
PEIRANO, Mariza. The Anthropology of Anthropology: the Brazilian Case. Harvard
Univ., 1980. Dissertation. (PhD).
____. A antropologia de Florestan Fernandes. In: ____. Uma antropologia no plural.
1991a.
____. O antropólogo como cidadão. In: ____. Uma antropologia no plural. 1991b.
____. O encontro etnográfico e o diálogo teórico. In: ____. Uma antropologia no
plural. 1991c.
____. Uma antropologia no plural. In: ____. Uma antropologia no plural. 1991d.
____. A favor da etnografia. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1995.
QUINE, W.V. The ways of paradox and other essays. Cambridge and London: Harvard
Univ. Press, 5a.ed., 1976.
45
46
RICOEUR, Paul. “The model of the text: meaningful action considered as a text”. In ___.
Hermeneutics and the human sciences. New York/Paris, Cambridge Univ.
Press/ Editions de la Maison de Sciences de l’Homme. 1984.
SILVA, Hélio R.S. “Modernismo Hoje”. Revista do Brasil, n.6, 1986.
STOCKING JR., George. On the limits of “presentism” and “historicism” in the
Historiography of the behavioral sciences. In: ____. Race, culture, and
evolution. New York: The Free Press, 1968.
VELHO, Otávio. “O cativeiro da Besta-Fera.” In: ____. Besta-Fera: recriação do
mundo: ensaios críticos de antropologia. Rio de Janeiro: Relume-Dumará,
1995a.
____. “Relativizando o relativismo.” In: ____. Besta-Fera: recriação do mundo. 1995b.
____. “De novo, os valores?”. In: ____. Besta-Fera: recriação do mundo. 1995c.
WATSON, Graham. “Rewriting culture”. in FOX, G. (ed.), Recapturing Anthropology
– working in the present. Santa Fe: School of American Research Press, 1991.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. In: Wittgenstein – textos escolhidos. Col.
Os Pensadores. São Paulo, Abril Cultural. 1985.
46
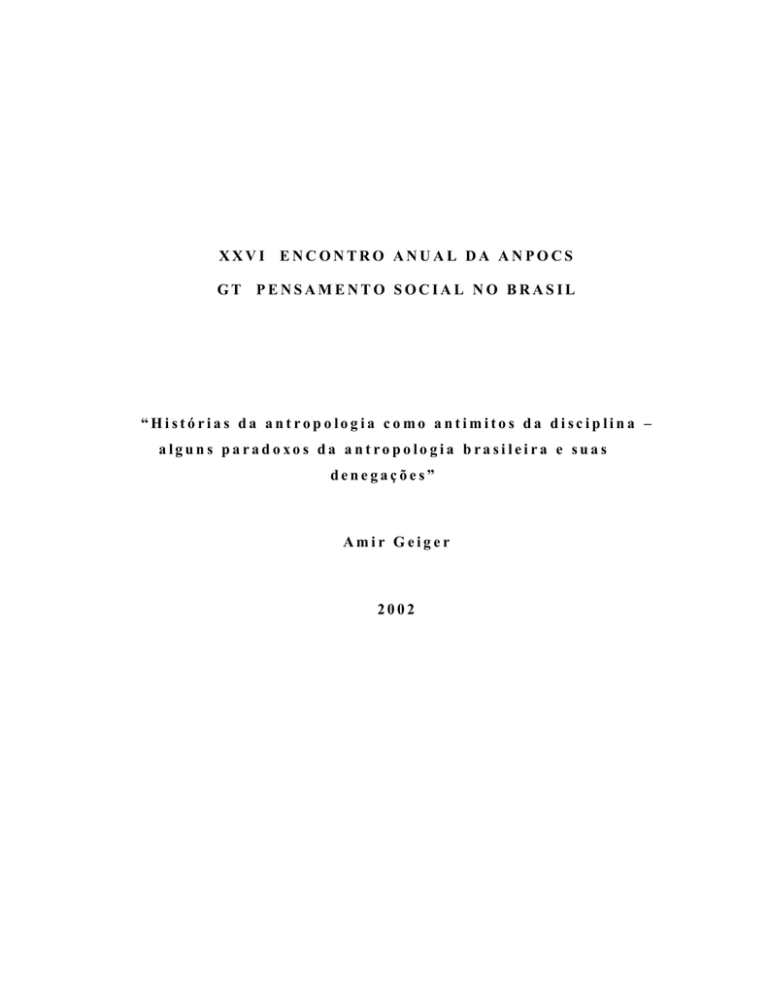









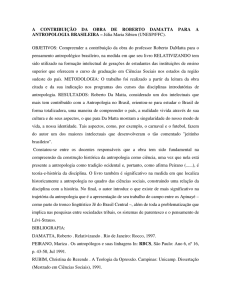
![Antropologia [Profa. Ol via]](http://s1.studylibpt.com/store/data/000329787_1-86f1de23ef4fc8c4b10e2491c0fd4e18-300x300.png)