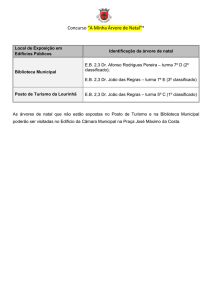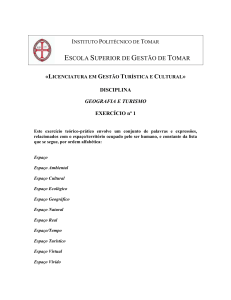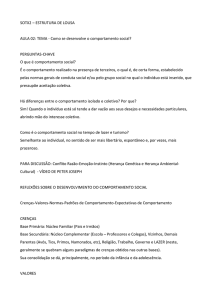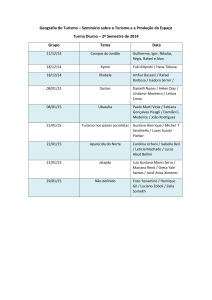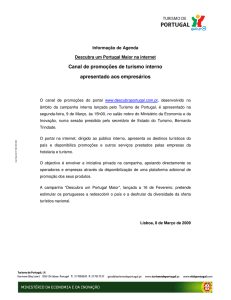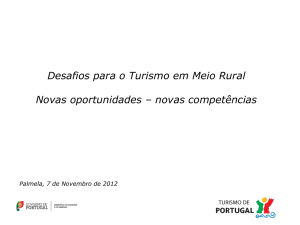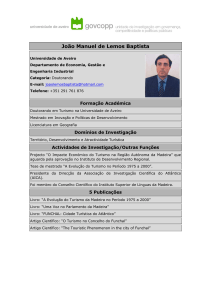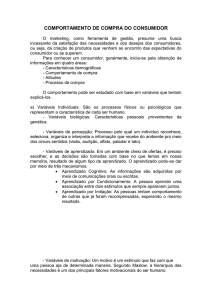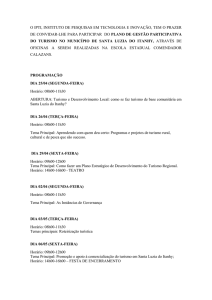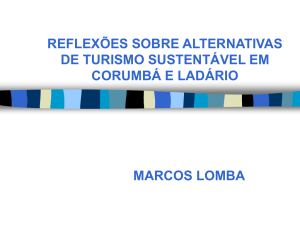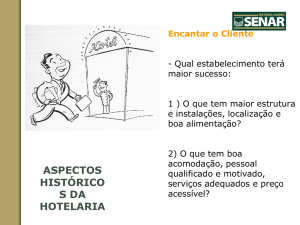MULTIFUNCIONALIDADE NO ESPAÇO RURAL E AS “NOVAS FRONTEIRAS”
PARA O ETNOTURISMO EM REGIÕES DEPRIMIDAS: ESTUDO DE CASO DE
AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JEQUITINHONHA/ MG
MULTIFUNCTIONALITY IN RURAL SPACE AND "NEW FRONTIERS" FOR
ETHNOTOURISM IN SUB-DEVELOPED REGIONS: A CASE STUDY OF FAMILY
FARMERS IN JEQUITINHONHA VALLEY / MG- SOUTHEASTERN BRAZIL
Ludimila de Miranda Rodrigues Silva
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia
[email protected]
José Antônio Souza de Deus
Professor Associado III- IGC/ UFMG
[email protected]
RESUMO
Este artigo discute as experiências etnoturísticas desenvolvidas em comunidades tradicionais (de
quilombolas e artesãos) domiciliadas no Vale do Jequitinhonha, inserindo tal problematização no
horizonte de discussão da multifuncionalidade do espaço rural. A pesquisa utiliza categorias
conceituais de análise e paradigmas de interpretação explicitamente geográficos e os procedimentos
metodológicos aí adotados como formas de operacionalização da investigação compreenderam:
pesquisa bibliográfica, cartográfica e documental; reconhecimentos de campo (efetuados nos
municípios de Minas Novas, Turmalina e Angelândia/ MG); observação participante e realização de
entrevistas semi-estruturadas com membros das comunidades pesquisadas. Conclui-se que a atividade
turística contribui significativamente para os processos, em curso, de reafirmação da identidade
cultural, protagonismo político e exercício da territorialidade destes atores, no contexto regional.
Palavras-Chave: Multifuncionalidade no Espaço Rural, Agricultura Familiar, Etnoturismo, Vale do
Jequitinhonha/ MG.
ABSTRACT
Ethnotouristic experiences developed in maroon peasants’ and artisans’ traditional communities
situated in Jequitinhonha Valley (Minas Gerais state- southeastern Brazil) are at issue in this paper.
These issues are contextualized within the framework of rural space multifunctionality. The research
used clearly geographical conceptual categories of analysis and interpretation paradigms.
Methodological tools adopted included: bibliographic and cartographic research; field works
(accomplished in the municipalities of Minas Novas, Turmalina and Angelândia/ MG); participant
observation and semi-structured interviews with members of the surveyed communities. It is
concluded that tourism contributes widely to the processes, in progress, of these actors` cultural
identity reinvention, active political participation and exercise of territorialities in the regional context.
Keywords: Multifunctionality in Rural Space, Family Farming, Ethnotourism, Jequitinhonha ValleyMinas Gerais/ Brazil.
INTRODUÇÃO
Esta investigação aborda experiências da atividade turística desenvolvidas em
comunidades tradicionais rurais de agricultores familiares sediadas na emblemática região do
Vale do Jequitinhonha- no estado de Minas Gerais. O estudo coloca em pauta, por um lado, as
práticas de turismo solidário implementadas nas comunidades de artesãos de Coqueiro
Campo (município de Minas Novas) e Campo Buriti (Turmalina)- onde a produção de
artesanato constitui o principal atrativo turístico local, ao lado da gastronomia; e por outro
lado, as perspectivas de desenvolvimento do ecoturismo e/ ou do turismo de base comunitária
nas comunidades quilombolas domiciliadas na Fazenda Alto dos Bois (município de
Angelândia/ MG). Vale ressaltar que Rodrigues et al. (2012, p. 175) realizando uma
abordagem etnogeográfica da produção do artesanato em comunidades quilombolas no Vale
do Jequitinhonha ressaltam que tal atividade “tem se colocado atualmente como importante
alternativa para a preservação das tradições culturais e para a geração de fonte de renda para
as comunidades locais em seus territórios rurais tradicionais em diferentes regiões do Brasil”.
Grünewald (2003, p. 145) assinala, a propósito, que: “[...] existem inúmeras formas de
turismo e, embora algumas delas estejam totalmente despreocupadas com questões de
história, cultura própria, raça, origem, como o turismo recreativo, outras formas tomam por
objeto aspectos de identidade ou alteridade”, tendo, aliás, seu alcance e perspectivas, muito
questionados e debatidos, hoje em dia, em diferentes regiões e países do mundo (ALDAPA,
2011).
A pesquisa utiliza categorias conceituais de análise e paradigmas de interpretação
explicitamente geográficos e os procedimentos metodológicos aí adotados como formas de
operacionalização da investigação compreenderam: pesquisa bibliográfica, cartográfica e
documental; reconhecimentos de campo empreendidos nos três municípios; observação
participante e realização de entrevistas semi-estruturadas com membros das comunidades
pesquisadas. As pesquisas de campo foram realizadas em abril e outubro de 2014; e em abril,
julho e agosto de 2015, no âmbito do projeto intitulado: “Etnogeografia, paisagens culturais e
gestão do território em comunidades tradicionais do Vale do Jequitinhonha/ MG”
(patrocinado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais/ FAPEMIG).
O TURISMO NO CONTEXTO DA PLURIATIVIDADE DO ESPAÇO RURAL
De acordo com Rodrigues (2000, p. 51) o turismo rural é “uma modalidade ainda
relativamente nova no Brasil quando comparada a outras, como o modelo ‘Sol e Praia’ e o
ecoturismo. Não há marco preciso para datar o início desta atividade no Brasil devido à
grande extensão geográfica do país”. Vale ressaltar, contudo, que as transformações atuais
produzidas no espaço rural não permitem mais entendê-lo como um espaço exclusivo de
atividades agrícolas uma vez que ocorre, hoje, aí, uma crescente diversificação de atividades
agrícolas e não-agrícolas que remete à pluriatividade das famílias rurais. “Do ponto de vista
histórico, o fenômeno da pluriatividade é uma constante na agricultura” (SOUZA, GROSSI,
2004, p. 100).
As geógrafas M. Aparecida S. Tubaldini e Sandra M. Lucas P. Silva (2009, p.121)
inclusive destacam que “a pluriatividade do trabalho é uma necessidade das comunidades
camponesas” em termos da sua sobrevivência. Diversos autores, aliás, chamam atenção “para
a necessidade de se observar os novos atores e novas funções adquiridas pelo espaço rural,
afirmando inclusive o seu caráter multifuncional e a sua versão multipropósito” (SOUZA,
GROSSI, 2004, p. 95), e se observa, assim, que emergem aí, “complementaridades
proporcionadas pelos rendimentos das atividades rurais não-agrícolas, desenvolvidas interna
ou externamente às explorações agrícolas (novos produtos agrícolas, turismo, indústria,
artesanato, serviços, etc.)” – (SOUZA & GROSSI, 2004, p. 97).
No âmbito das novas atividades que estão emergindo no meio rural, é relevante
assinalar, a propósito, que o turismo rural assume um papel destacado, como uma vertente
alternativa de desenvolvimento, capaz de revitalizar as áreas decadentes e estagnadas ao
fomentar a diversificação de fontes de renda e oportunidades de trabalho para as comunidades
locais (ELESBÃO, 2000). E Santos e Pirete (2004, p. 176) demarcam que “o turismo em
espaço rural é um fenômeno recente no país” e, a cultura rural, o folclore, a gastronomia, e o
artesanato são incluídos, no contexto do desenvolvimento desta atividade produtiva, “como
atrativos a serem comercializados”... Já a geógrafa Maria Geralda de Almeida (2006, p.116)
postula que na atividade turística é desejável que “a população local esteja engajada e
participando ativamente. Às vezes, parte dela toma iniciativa criando infra-estrutura de
hospedagem, de alimentação, oferecendo serviço de guia, de piloteiro, de conduta, ou
comercializando produtos de artesanato”.
Um aspecto particular a ser discutido, nesse contexto, é o papel sugestivamente
assumido pelas mulheres, no campo como atoras que historicamente desenvolveram múltiplas
atividades, tanto no setor agrícola, como em atividades não-agrícolas. Pois além dos afazeres
domésticos as mulheres foram historicamente envolvidas, também, na lavoura de subsistência.
O excedente dessa produção de subsistência era comercializado (MATOS, BORELLI, 2012,
p. 140) e isso contribuía para a compra de produtos que não eram produzidos pela indústria
doméstica (SILVA, 2009, p. 556). A família nesse contexto era, ao mesmo tempo, produtora
e consumidora. A indústria doméstica tinha um peso importante, também, na produção para o
consumo da família. Já a participação dos homens na indústria doméstica referia-se mais à
produção de cestos, balaios, chapéus e móveis (SILVA, 2009, p. 556).
O ARTESANATO COMO FONTE DE RENDA, SUSTENTABILIDADE
ECONÔMICA E REVALORIZAÇÃO DA CULTURA NO VALE DO
JEQUITINHONHA/ MG
No contexto regional das comunidades quilombolas de Minas Novas e Chapada do
Norte no Jequitinhonha, segundo os pesquisadores1 Maria Aparecida S. Tubaldini, Raphael
Diniz e Lussandra Gianasi, que têm realizado, recentemente, diversas pesquisas sobre a
agricultura familiar nesse recorte territorial, a rotina de trabalho das mulheres tem se tornado
mais exaustiva nos últimos anos/ décadas, “já que a migração sazonal vem retirando boa parte
da mão de obra de seus maridos e filhos jovens do trabalho na roça” (TUBALDINI, DINIZ &
GIANASI, 2012, p. 147).
Nesse território, fundou-se, em 1994, uma associação de artesãs nas comunidades
rurais de Coqueiro Campo e Campo Buriti (respectivamente localizadas nos municípios de
Minas Novas e Turmalina), a qual foi constituída por agricultoras familiares (e donas de casa)
que uniram suas forças para tentar aprimorar o artesanato local, até então pouco conhecido/
pouco desenvolvido, e que passaram a produzir artefatos de cerâmica (utilitários e
ornamentais), como as famosas “bonecas de barro” do Vale, hoje mundialmente notabilizadas
(DEUS, 2012; DEUS & CASTRO, 2014); e cuja singularidade é documentada numa rica
literatura científica já desenvolvida especificamente a respeito dessa atividade, tão típica do
Vale (DALGLISH, 2008; MASCELANI, 2008; NAME, YASSUDA, 2008).
É relevante assinalar, aliás, que, no Jequitinhonha, os pigmentos usados na decoração
das peças de cerâmica são naturais, extraídos do barro e encontrados em diversas jazidas de
1
Geografia Agrária
argila da região. No processo de produção artesanal se usa rudimentares fornos a lenha. Fruto
de um longo e delicado processo que envolve a coleta do barro, a sua transformação em
argila, a modelagem, secagem, decoração e queima, essa cerâmica é testemunho de um modo
de vida, de descobertas tecnológicas e adaptações específicas, bem como de padrões estéticos
próprios. Como as técnicas de produção de cerâmica eram dominadas tanto pelos nativos da
terra, como pelos colonizadores portugueses e pelos povos africanos escravizados, foi
provavelmente a combinação de conhecimentos de todos esses atores que se materializou no
saber dos atuais ceramistas do Vale. E é relevante assinalar, a propósito, que no estado de
Minas Gerais, muitas regiões onde os processos de industrialização e de informação foram
mais tardios, mantiveram, quase intactas, expressões culturais tradicionais, incluindo-se aí o
modo de fazer artesanal, ao contrário de países/ regiões onde o processo industrial se
intensificou e o saber fazer local se perdeu de forma irreversível.
E paralelamente, também desenvolveu se nessas localidades, um programa de turismo
solidário implantado a partir de iniciativa do governo estadual de Minas Gerais e parceiros
(Ministério do Turismo, Instituto do Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais/
IDENE e Fundação Diamantinense da Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão/ FUNDAEPE)
com o objetivo de implementar a ordenação turística destas comunidades que possuem rico
patrimônio natural e cultural, mas que apresentam baixos índices de desenvolvimento
humano. Diante do potencial turístico que as regiões do Vale do Jequitinhonha e Norte de
Minas possuem (devido a seu rico patrimônio cultural), é que o programa se propôs a atuar
como mola propulsora do “desenvolvimento sustentável” dessas regiões almejando uma
potencialização da geração de trabalho e renda para as comunidades.
Maria Aparecida M. Silva que recentemente pesquisou a cerâmica do Vale adotando
como vertente de análise as relações de Gênero no Mundo do Trabalho ressalta, a propósito
que: “trata-se de uma atividade que une agricultura e indústria (no sentido de produção e
transformação), através da existência de um saber transmitido de geração em geração. Pelo
fato de ser, sobretudo, um trabalho exercido pelas mulheres (os homens trabalham, em geral,
a madeira e o couro), são elas que detêm este saber” (SILVA, 2013, p. 170). Entende-se
artesanato como “a arte de confeccionar peças e objetos manualmente, em pequena escala,
utilizando materiais e instrumentos simples e/ ou aparelhagem rudimentar, sem o auxílio de
máquinas sofisticadas” (MATTOS, 2003, 156).
O artesão é o “indivíduo que exerce, por conta própria, a arte e o oficio de executar,
manualmente ou com o auxílio de instrumentos rudimentares, peças e objetos de artesanato”
(MATTOS, 2003, p. 156-157). Ressalte-se que o Serviço Brasileiro de Apoio às Empresas
(SEBRAE, 2005, p. 12) considera que o artesanato é um setor econômico essencialmente
“sustentável” que valoriza a identidade cultural das comunidades e promove a melhoria da sua
qualidade de vida, ampliando a geração de renda e os postos de trabalho nas comunidades
envolvidas. Pois o artesanato é uma atividade econômica de reconhecido valor cultural e
social que se assenta na produção, restauro ou reparação de bens de valor artístico ou
utilitário, de raiz tradicional ou contemporânea e na prestação de serviços de igual natureza,
bem como na produção e confecção tradicionais de bens alimentares.
Vale ressaltar ainda que com o desenvolvimento acelerado da produção em série,
gerado pela indústria e a uma massificação dos produtos, o artesanato tem que se diferenciar
dos produtos industriais para poder sobreviver. Essa diferenciação é particularmente
relevante, porque sendo essencialmente trabalho manual, ele permite a expressão de
criatividade em todas as suas dimensões, podendo cada peça corresponder a um objeto
decorativo ou uma obra de arte. E hoje em dia, esta função constitui forte motivação para a
compra, pois a atividade artesanal gera um produto exclusivo, diversificado e de grande valor
artístico, conjugando dessa maneira o design e a utilidade como atributos essenciais para que
ele tenha aceitação no mercado consumidor. O escoamento da produção e a comercialização
dos produtos constituem, contudo, os maiores desafios para a otimização do desenvolvimento
da atividade.
O turismólogo Sidney D. Batista, que recentemente concluiu dissertação de Mestrado
no Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais- IGC/ UFMG2, coloca
em pauta, por sua vez, as perspectivas do Turismo noutro recorte territorial do Vale: o sítio
histórico cultural da Fazenda Alto dos Bois, situado em Angelândia/ MG3, onde coexistem
uma paisagem natural atraente (com a presença, em seu entorno, de cachoeiras, grutas e
fragmentos de Mata Atlântica, por exemplo) e uma paisagem cultural sugestiva e dinâmica,
devido à existência, aí, de agricultores familiares quilombolas (que se destacam por seus
modos de vida, culinária típica, espacialidades festivas, etc.). O Alto dos Bois é um dos sítios
geográficos onde o patrimônio cultural regional (composto por aspectos naturais, históricos e
arquitetônicos) integra-se à paisagem. A Fazenda do Alto dos Bois foi tombada como
Patrimônio Público Municipal pela Lei n.º 058/ 1999, aprovada em 06 de julho de 1999 na
Câmara Municipal. Localiza-se na porção noroeste do município, próxima aos limites
2
A Dissertação foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Geografia e orientada pelo Prof. José
Antônio S. Deus.
3
O município de Angelândia está localizado no Alto Vale do Jequitinhonha, no nordeste de Minas Gerais.
Possui extensão territorial de 185.21 km² e população de cerca de oito mil habitantes- dos quais, mais da metade,
domiciliados na zona rural.
municipais de Capelinha e Minas Novas. O sítio foi visitado, no século XIX, por viajantes
como: Pohl (1976), Saint Hilaire (2000), D’Orbigny (1976), Spix & Martius (2005) e Tschudi
(2006). E o auto-reconhecimento destas comunidades como quilombolas desencadeou, sua
certificação pela Fundação Palmares em 04 de novembro de 2010. Tais comunidades
experimentam uma vivência espacial muito singular, relacionada à cultura camponesa e à
preservação de características identitárias próprias, expressas em práticas culturais ancestrais,
processos sincréticos de dinamicidade cultural e uma organização social específica.
Em entrevistas semi-estruturadas realizadas com os moradores, verificou-se que as
comunidades locais (de Alto dos Bois, Barra do Capão e Córrego do Engenho) possuem “uma
noção do que seja a atividade turística” e “gostariam que aumentasse o número de turistas” in
loco. A pesquisa aponta que “a região possui um potencial turístico...”, em especial para o
turismo cultural e o ecoturismo (BATISTA & PAULA, 2014, p. 279). E vale ressaltar
ainda que nas pesquisas de campo, os dados que emergiram da fala dos entrevistados na
“sociedade envolvente”, revelam que a relevância, em termos históricos, culturais,
paisagísticos, etc., do Alto dos Bois é amplamente reconhecida pela população domiciliada na
sede municipal.
Traçando-se um paralelo com a situação hoje vivenciada pelos quilombolas noutros
contextos territoriais (quanto a seu relacionamento com a atividade turística), é sugestivo
notar que a geógrafa Maria Geralda de Almeida registra que “há um súbito e crescente
interesse pelos bens culturais, pelos saberes, pelos grupos étnicos. O que pode explicar o fato
de o sítio dos kalunga4 ter se transformado em um dos atrativos turístico-culturais mais
visitados do estado de Goiás... (ALMEIDA, 2014, p. 200).
Tais fenômenos e processos são observados, aliás, em outras populações tradicionais,
a exemplo das sociedades indígenas, como pode se verificar, por exemplo, nas comunidades
indígenas pataxó(s)5 sediadas no litoral sul da Bahia (“Costa do Descobrimento”) e em
Carmésia, no Vale do Rio Doce- MG, já investigadas por pesquisadores nas perspectivas da
Geografia Cultural/ Etnogeografia e da Antropologia do Turismo (DEUS & SILVA, 2015;
GRÜNEWALD, 2001, 2002, 2015).
4
Um dos mais emblemáticos núcleos quilombolas do país, domiciliado numa área ainda bastante preservada do
Cerrado goiano (ALMEIDA, 2010, 2012).
5
Povo indígena do Tronco Macro-Jê, da Área Cultural Leste/ Nordeste.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como registra Almeida (2014, p. 200), “o turismo é um fenômeno social que
manifesta um crescimento constante [sendo] considerado como uma importante fonte de
riqueza econômica e como oportunidade para impulsionar áreas deprimidas nos aspectos
econômicos e sociais”. Ramos & Almeida (2014) enfatizam, contudo, que buscar mecanismos
que consigam conciliar a conservação da biodiversidade e da sociodiversidade, o
desenvolvimento das atividades de visitação e lazer, a manutenção do respeito e a valorização
da cultura local constitui um grande desafio no planejamento e desenvolvimento da atividade
turística, sobretudo quando desenvolvida em áreas protegidas e/ ou territórios de comunidades
tradicionais. Pois como também ressalta Almeida (2003, p. 18) encontrar formas de “proteger
a cultura local sem torná-la mais uma mercadoria a ser consumida pelo turismo, é um dos
dilemas sérios daquelas comunidades que hesitam em tornarem-se turísticas”. E como aponta
Alfonso (2003), o sistema turístico tem necessariamente que levar em consideração, portanto,
as questões concernentes tanto à sociedade local, como aos visitantes e, consequentemente, os
estudos que contemplam a problemática do turismo devem estar dirigidos à busca do bemestar de ambos os atores, na perspectiva da minimização dos impactos negativos aí
envolvidos, sejam eles físicos, econômicos, sociais ou culturais.
Nos recortes territoriais que investigamos podemos sinalizar que em Coqueiro Campo
e Campo Buriti, a pequena escala do empreendimento, por um lado; e o perfil “despojado e
consciente” das pessoas que procuram o lugar como atrativo turístico, por outro lado, não
parecem evidenciar uma grande amplitude de tais impactos (ou riscos), nas duas
comunidades. Já no Alto dos Bois, pode-se perceber que prevalece entre os moradores das
três comunidades aí sediadas (Alto dos Bois, Barra do Capão e Córrego do Engenho), uma
visão ainda romântica e idealizada do turismo, que não antevê a possibilidade de ocorrência
de tais externalidades (na hipótese da intensificação da atividade turística em seus territórios).
Mas observa se, em ambas as comunidades, um rico processo de aprendizado político que vai
se desenvolvendo, à medida que elas entram em contato com novos interlocutores e novas
realidades, em seu cotidiano e vão se realinhando e se ressignificando de forma contínua e
extremamente dinâmica.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALDAPA, Rosa Mayra Ávila. Turismo Cultural en México: Alcances y Perspectivas.
México (D. F.): Editorial Trillas, 2011, 140 p.
ALFONSO, Maria José Pastor. El Patrimonio cultural como opción turística. Horizontes
Antropológicos, Porto Alegre, v. 9, n. 20, p. 97-116, out. 2003.
ALMEIDA, Maria Geralda. A produção do ser e do lugar turístico. In: SILVA, José
Borzacchiello, LIMA, Luiz Cruz, ELIAS, Denise. Panorama da geografia brasileira
I. São Paulo: Annablume Editora, 2006, p.109-222.
______________________ . Etnodesenvolvimento e Turismo nos Kalunga do nordeste de
Goiás. In: LIMA, Ismar Borges. Etnodesenvolvimento & Gestão Territorial:
comunidades indígenas e quilombolas. Curitiba: Editora CRV, 2014, p. 195-212.
_______________________ . Lugares turísticos e a falácia do intercâmbio cultural. In:
ALMEIDA, Maria Geralda. Paradigmas do Turismo. Goiânia: Editora Alternativa,
2003, p. 11-19.
_________________________ . Territórios de quilombolas: pelos vãos e serras dos Kalunga
de Goiás - patrimônio e biodiversidade de sujeitos do Cerrado. Ateliê Geográfico,
Goiânia, v. 4, n. 1. P. 36-63, fev. 2010.
________________________ . Troca de saberes no Cerrado, valorização dos quintais,
segurança alimentar e cidadania nas comunidades Kalunga em Teresina de
Goiás. Goiânia: Instituto de Ciências Socioambientais da Universidade Federal de
Goiás- IESA-UFG/ FUNAPE, 2012, 32 p.
BATISTA, Sidney Daniel; PAULA, Viviane Cristina. Estudo sobre as paisagens culturais das
comunidades quilombolas do Alto dos Bois e as possibilidades do desenvolvimento da
atividade turística. Revista de Turismo Contemporâneo, Natal, v. 2, n. 2, p. 266-28,
jul./ dez. 2014.
DALGLISH, Lalada. Noivas da seca: cerâmica popular do Vale do Jequitinhonha. 2 ed. São
Paulo: Editora UNESP/ Imprensa Oficial do Estado, 2008, 216 p.
DEUS, José Antônio Souza. Paisagens culturais alternativas e protagonismo etnopolítico de
comunidades tradicionais no hinterland brasileiro. In: TUBALDINI, Maria Aparecida
dos Santos, GIANASI, Lussandra Martins. Agricultura familiar, cultura camponesa
e novas territorialidades no Vale do Jequitinhonha: gênero, biodiversidade,
patrimônio rural, artesanato e agroecologia. Belo Horizonte: Fino Traço Editora,
2012, p. 35-50.
DEUS, José Antônio Souza; CASTRO, Henrique Moreira. Protagonismo político,
etnodesenvolvimento e processos de reterritorialização de comunidades quilombolas,
em curso, no Vale do Jequitinhonha/ MG. In: LIMA, Ismar Borges.
Etnodesenvolvimento & Gestão Territorial: comunidades indígenas e quilombolas.
Curitiba: Editora CRV, 2014, p. 141-153
DEUS, José Antônio Souza; SILVA, Ludimila de Miranda Rodrigues. Reinvenção da
identidade cultural, protagonismo etnopolítico e interações com o Turismo dos índios
Pataxó(s) de Carmésia (estado de Minas Gerais, Brasil). Agália, Santiago de
Compostela (Galiza), no. especial (Turismo em Terras Indígenas), p. 203-223, out.
2015.
ELESBÃO, Ivo. O turismo como atividade não-agrícola em São Martinho/ SC. In:
ALMEIDA, Joaquim Anécio, RIEDL, Mário. Turismo rural: ecologia, lazer e
desenvolvimento. Bauru (SP): EdUSC, 2000, p. 245-263.
GRÜNEWALD, Rodrigo de Azevedo. A Reserva da Jaqueira: Etnodesenvolvimento e
Turismo. In: RIEDL, Mario et al. Turismo rural: tendências e sustentabilidade. Santa
Cruz do Sul (RS): EdUNISC, 2002, p. 205-230.
_____________________________ . Os Índios do Descobrimento: Tradição e Turismo.
Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2001, 224 p.
_______________________________ . Turismo e Etnicidade. Horizontes Antropológicos,
v. 9, n. 19, p. 141-159, 2003.
______________________________ . Turismo Pataxó: da renovação identitária à
profissionalização das reservas. Agália, Santiago de Compostela (Galiza), no. especial
(Turismo em Terras Indígenas), p. 43-58, out. 2015.
MASCELANI, Ângela; BEUQUE, Lucas. Caminhos da arte popular - o Vale do
Jequitinhonha. Rio de Janeiro, Museu Casa do Pontal, 2008, 144 p.
MATOS, Maria Izilda, BORELLI, Andrea. Espaço feminino no mercado produtivo. In:
PINSKY, Carla Bassanezi, PEDRO, Joana Maria. Nova História das Mulheres no
Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 2012, p. 126-146.
MATTOS, Paula Belfort. A arte de educar. São Paulo: Antônio Bellini Editora, 2003, 164 p.
NAME, Daniela; YASSUDA, Selmy. Espelho do Brasil. a arte popular vista por seus
criadores. Rio de Janeiro, Casa da Palavra, 2008, 160 p.
POHL, Johann Emanuel. Viagem ao interior do Brasil. Tradução de Milton Amado e
Eugênio Amado. Belo Horizonte: Editora Itatiaia/ EdUSP, 1976, 417 p.
RAMOS, Laura M. Jaime; ALMEIDA, Maria Geralda. Lugares de Memória em trilhas
interpretativas: a integração entre Cultura & Natureza na visitação da comunidade
kalunga do Engenho II. In: LIMA, Ismar Borges. Etnodesenvolvimento & Gestão
Territorial: comunidades indígenas e quilombolas. Curitiba: Editora CRV, 2014, p.
213-226.
RODRIGUES, Adyr Balastreri. Turismo rural no Brasil – ensaio de uma tipologia. In:
ALMEIDA, Joaquim Anécio, RIEDL, Mário. Turismo rural: ecologia, lazer e
desenvolvimento. Bauru (SP): EdUSC, 2000, p. 51 - 68.
RODRIGUES, Ludimila de Miranda et al. Abordagem etnogeográfica do uso de saberes na
produção do artesanato em comunidades quilombolas de Minas Novas e Chapada do
Norte. In: TUBALDINI, Maria Aparecida dos Santos, GIANASI, Lussandra Martins.
Agricultura Familiar, cultura camponesa e novas territorialidades no Vale do
Jequitinhonha: gênero, biodiversidade, patrimônio rural, artesanato e agroecologia.
Belo Horizonte: Fino Traço Editora, 2012, p. 175-193.
SAINT HILAIRE, Auguste. Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Tradução de Vivaldi Moreira. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 2000, 378 p. Original
Francês.
SANTOS, Rosselvelt José; PIRETE, Maria José. O novo rural e o turismo ofertado por este
espaço. In: SANTOS, Rosselvelt José, RAMIRES, Júlio César de Lima. Cidade e
Campo no Triângulo Mineiro. Uberlândia: EdUFU, 2004, p. 175-195.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS EMPRESAS. Catálogo de Artesanato de Minas
Gerais. Belo Horizonte: SEBRAE/ MG, 2005, 208 p.
SILVA, Maria Aparecida Morais. De colono a boia-fria. In: PRIORE. Mary Del,
BASSANEZI, Carla. História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Editora Contexto,
2009, p. 554-577.
SOUZA, Marcelino; GROSSI, Mauro Eduardo. Pluriatividade e desenvolvimento rural. In:
CALZAVARA, Oswaldo, LIMA, Rodne. Brasil rural contemporâneo: estratégias
para o desenvolvimento rural de inclusão. Londrina: EdUEL, 2004, p.73-108.
SPIX, Johann Baptist von; MARTIUS, Carl Friedrich Phillip von. Viagem Pelo Brasil 1817/ 1820- Volume II. São Paulo: Edições Melhoramentos, 2005, 332 p. Original
Alemão.
TSCHUDI, Johann Jacob von. Viagens através da América do Sul. Tradução de Friedrich
E. Renger e Fábio Alves Júnior. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro/ Centro de
Estudos Históricos e Culturais, 2006, 344 p. Original Alemão.
TUBALDINI, Maria Aparecida, DINIZ, Raphael Fernando, GIANASI, Lussandra Martins.
In: TUBALDINI, Maria Aparecida dos Santos, GIANASI, Lussandra Martins.
Agricultura Familiar, cultura camponesa e novas territorialidades no Vale do
Jequitinhonha: gênero, biodiversidade, patrimônio rural, artesanato e agroecologia.
Belo Horizonte: Fino Traço Editora, 2012, p. 141-156.
TUBALDINI, Maria Aparecida dos Santos, SILVA, Sandra Maria Lucas Pinto. Territórios de
resistência: paisagem e cultura nos remanescentes quilombolas de Barro Preto, Santa
Maria do Itabira/ MG, e Indaiá, Antônio Dias/ MG. In: ALMEIDA, Maria Geralda;
CRUZ, Beatriz Nates. Território e Cultura: inclusão e exclusão nas dinâmicas
socioespaciais. Goiânia: Universidade Federal de Goiás/ FUNAPE; Manizales:
Universidad de Caldas, 2009, p. 114-126.