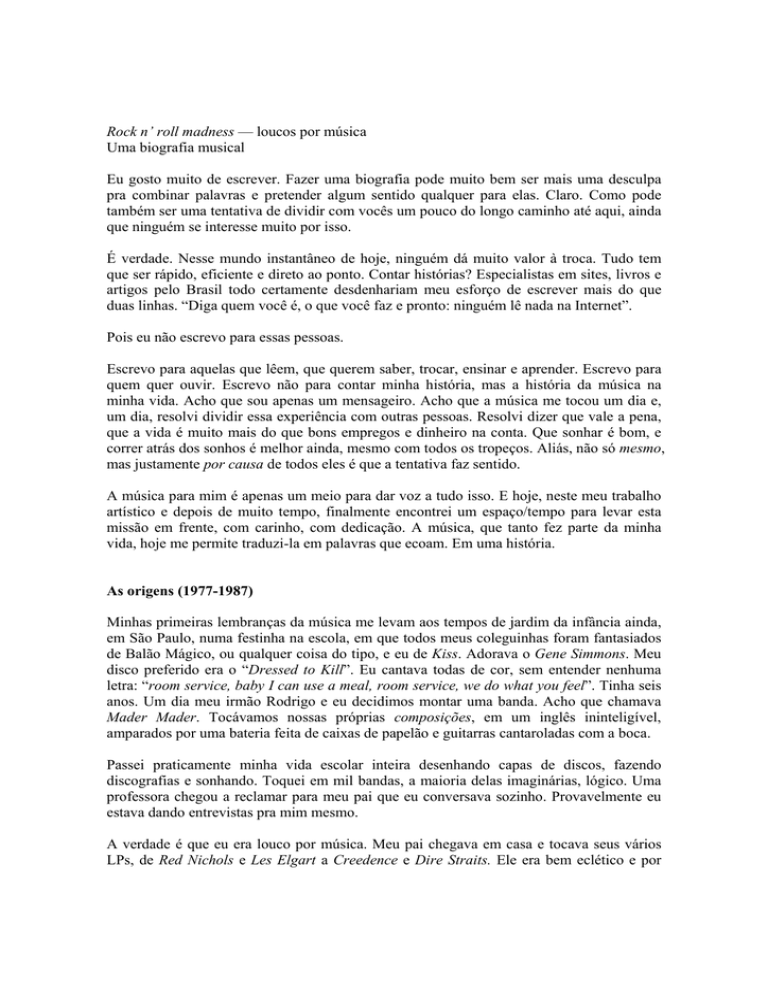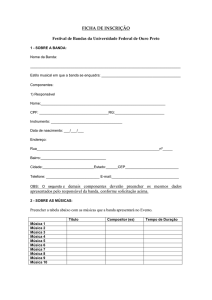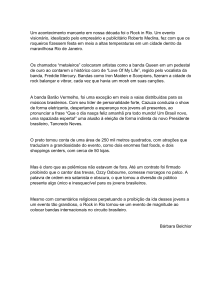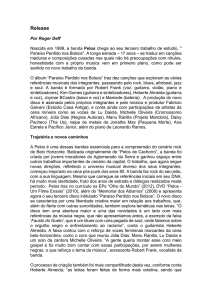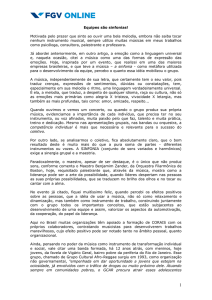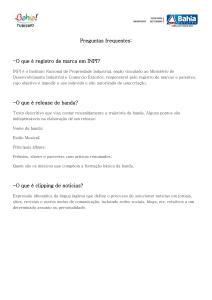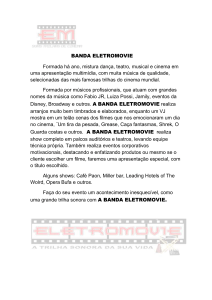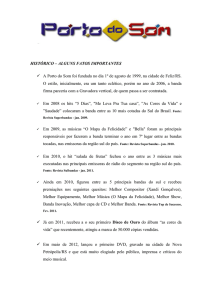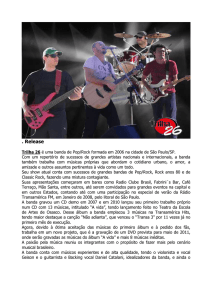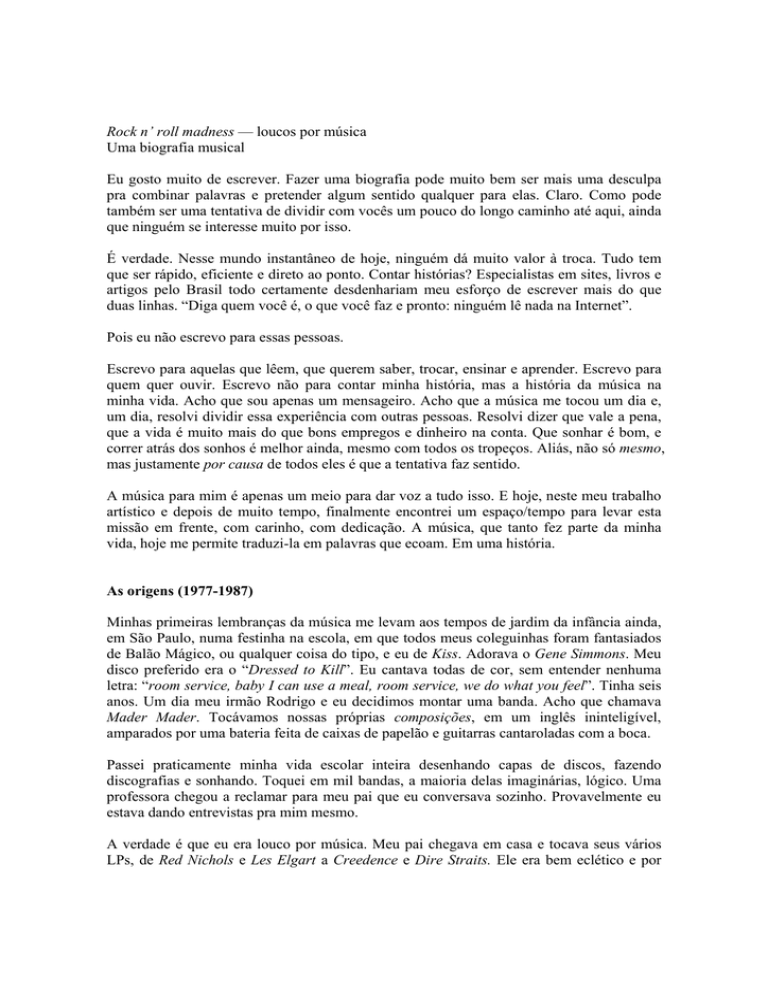
Rock n’ roll madness — loucos por música
Uma biografia musical
Eu gosto muito de escrever. Fazer uma biografia pode muito bem ser mais uma desculpa
pra combinar palavras e pretender algum sentido qualquer para elas. Claro. Como pode
também ser uma tentativa de dividir com vocês um pouco do longo caminho até aqui, ainda
que ninguém se interesse muito por isso.
É verdade. Nesse mundo instantâneo de hoje, ninguém dá muito valor à troca. Tudo tem
que ser rápido, eficiente e direto ao ponto. Contar histórias? Especialistas em sites, livros e
artigos pelo Brasil todo certamente desdenhariam meu esforço de escrever mais do que
duas linhas. “Diga quem você é, o que você faz e pronto: ninguém lê nada na Internet”.
Pois eu não escrevo para essas pessoas.
Escrevo para aquelas que lêem, que querem saber, trocar, ensinar e aprender. Escrevo para
quem quer ouvir. Escrevo não para contar minha história, mas a história da música na
minha vida. Acho que sou apenas um mensageiro. Acho que a música me tocou um dia e,
um dia, resolvi dividir essa experiência com outras pessoas. Resolvi dizer que vale a pena,
que a vida é muito mais do que bons empregos e dinheiro na conta. Que sonhar é bom, e
correr atrás dos sonhos é melhor ainda, mesmo com todos os tropeços. Aliás, não só mesmo,
mas justamente por causa de todos eles é que a tentativa faz sentido.
A música para mim é apenas um meio para dar voz a tudo isso. E hoje, neste meu trabalho
artístico e depois de muito tempo, finalmente encontrei um espaço/tempo para levar esta
missão em frente, com carinho, com dedicação. A música, que tanto fez parte da minha
vida, hoje me permite traduzi-la em palavras que ecoam. Em uma história.
As origens (1977-1987)
Minhas primeiras lembranças da música me levam aos tempos de jardim da infância ainda,
em São Paulo, numa festinha na escola, em que todos meus coleguinhas foram fantasiados
de Balão Mágico, ou qualquer coisa do tipo, e eu de Kiss. Adorava o Gene Simmons. Meu
disco preferido era o “Dressed to Kill”. Eu cantava todas de cor, sem entender nenhuma
letra: “room service, baby I can use a meal, room service, we do what you feel”. Tinha seis
anos. Um dia meu irmão Rodrigo e eu decidimos montar uma banda. Acho que chamava
Mader Mader. Tocávamos nossas próprias composições, em um inglês ininteligível,
amparados por uma bateria feita de caixas de papelão e guitarras cantaroladas com a boca.
Passei praticamente minha vida escolar inteira desenhando capas de discos, fazendo
discografias e sonhando. Toquei em mil bandas, a maioria delas imaginárias, lógico. Uma
professora chegou a reclamar para meu pai que eu conversava sozinho. Provavelmente eu
estava dando entrevistas pra mim mesmo.
A verdade é que eu era louco por música. Meu pai chegava em casa e tocava seus vários
LPs, de Red Nichols e Les Elgart a Creedence e Dire Straits. Ele era bem eclético e por
causa disso acabei ouvindo de tudo. Ainda que ficasse bem mais impressionado vendo o
Gene Simmons voar e o Paul Stanley chacoalhar os ombros para a platéia.
Comecei tendo aula de piano, com sete anos, minha mãe me levou. Antes disso, eu não
lembro, mas consta que cantei “Na Manjedoura em Belém” numa apresentação do jardim
da infância. Lembro sim de a professora ter me escolhido, sei lá por quê. Fiquei enrolando
o cadarço envergonhado e não lembro de nada além disso.
Foi então que decidi ser o Michael Jackson. “Thriller” tinha acabado de ser lançado e eu
ficava imitando todos os passos e danças dele num venerável insulto ao criador da
moondance. Gostava tanto de fazer isso que meus pais decidiram que seria interessante eu
animar as festinhas de fim de ano em família: bastava juntar todos os tios e primos no Natal,
que lá estava eu, depois da ceia, dançando Michael Jackson na frente de todo mundo. Vai
entender.
Versão Argentina (1988-1990)
Com 11 anos fui morar na Argentina. A cidade chamava Resistencia e até a casa tinha
nome: “Casita”. Foi uma casa que, para mim, existiu desde sempre: em seus campinhos de
futebol, em seu acolhimento, em suas margens frente ao rio. Acho que por ter mudado tanto
de lugar, minhas memórias são mais vivas, como se fossem compassadas, de uma maneira
rítmica até. Um período pra cada lugar, uma história pra cada período. Exatamente como na
música. Não é a toa que a segunda música do “Discos De Vinil E Fitas” “chama
Resistencia”.
Na Argentina comecei a ter aulas de violão. Meu pai foi o primeiro a falar para mim da
importância que o violão teria na minha vida, como integrador social, numa roda de amigos,
e mesmo como uma forma de expressar minha arte e me desenvolver. Tocava chamamé,
um estilo muito presente nas regiões andinas da Argentina, Bolívia e Peru, misturado com
as planícies da região do Chaco (Argentina e Paraguai). Mas eu gostava mesmo era de rock.
Montei diversas bandas de mentira com amigos, gravamos algumas fitas, os instrumentos
cantarolados com a boca. Tudo brincadeira.
Brincando ou não, a arte, ou alguma insólita variável dela, sempre esteve presente na minha
infância. Com nove anos eu já tinha escrito três “livros”: “O menino errado”, sobre um
garoto que ia mal na escola; “Rannieri”, sobre um caçador de tesouros; e “O menino
fantasia”, provavelmente numa tentativa de autobiografia (!), camuflada na história de um
menino e um velhinho que tinha uma comprida barba branca e um barrigão enorme. Na
história, o menino desenha um velinho que assume vida, de alguma forma, saindo do papel
e vindo a parar do seu lado. Os dois viveriam mil aventuras. Sei lá se isso aconteceu mesmo,
mas ainda tenho este livrinho, com as ilustrações e tudo mais. Os outros, infelizmente se
perderam.
Com 12 anos eu tinha também feito umas cinco séries de histórias em quadrinhos: “O
gângster”, “O assassino”, “O invasor”, “Conan, o bárbaro”, “O exterminador”. Todas
autênticas obras-primas da mais bela arte, quase sem cenas de violência. Embora
amareladas pelo tempo e pelo esquecimento, também guardo essas historinhas, em algum
baú da minha casa.
Gostava bastante de escrever poesias. Mandava para minha mãe no dia das mães, para meu
pai no aniversário dele. Na 7ª série tive o descaramento de querer ler a poesia que tinha
feito à minha mãe numa gincana cultural do colégio em que eu estudava, Dom Bosco. Era
um colégio religioso e militar, só para garotos. Imaginem a fúria dos alunos ao verem um
garoto miudinho (de menino sempre fui assim) no palco, recitando um poema pra mamãe,
com a voz aguda. Fui vaiado até não poder mais.
Como se não bastasse (e para mim essa palavra parecia nunca fazer parte do meu
vocabulário), eu insistia em fazer arte de algum jeito (de criança sempre diziam que eu era
muito arteiro mesmo). Não me contentando com o poema, escrevi uma pequena peça de
teatro e chamei meus amigos para participar, para apresentá-la na mesma gincana. Era do
“Indiana Jones”, eu era o próprio. Fomos também vaiados por todos. Mas eu não desistia
de jeito nenhum (vai ser cabeça dura assim!). Resolvi escrever outra peça, agora sobre
Alexandre, O Grande, que teve que aprender a ser músico para libertar a princesa das garras
de Hades e terminava tocando “Twist and shout”. Dessa vez, e pelo menos dessa vez, eu
acertei a mão. A galera adorou. No entanto, e como deveria ser pelo resto da minha vida
artística, não tive a chance de apresentar esta peça na gincana para toda a escola, foi só para
minha classe mesmo, porque a gincana foi cancelada de última hora.
Meus anos na Argentina me marcaram profundamente. Era o final da década de 80 e
pairava no ar aquele clima de saudosismo, de mudança. Não que eu soubesse o que era isso,
na ingenuidade de meus 12 anos, mas de um jeito ou de outro me deixei ficar nessa época,
como se a saudade existisse só para justificá-la e tempos depois sempre voltasse a buscá-la,
seja numa estrada, seja numa canção, seja numa lembrança.
Bebedouro Rock City (1991-1994)
Ganhei minha primeira guitarra com 15 anos, quando já tinha mudado para o interior de
São Paulo, em Bebedouro. Nessa época já devia ter umas 20 composições em inglês, agora
com um mínimo de estrutura gramatical, ainda que todas elas se chamassem “rock n’ roll
alguma coisa”. “Rock n’ roll hell”, “Rock n’ roll madness”, “We want some rock n’ roll”,
“Rock it out” e “Rock makes me shout” fazem parte dessa leva. Eu juro. Tenho até uma fita
gravada com essas pérolas.
Antes disso, na 8ª série, aconteceu outro gincana cultural, no Colégio Objetivo. Valia
inscrever de tudo: música, poesia, crônica, teatro. Puxa vida como eu amava essas coisas. Ia
logo me inscrevendo em todas as categorias e tendo que convencer os amigos que sim, eles
eram capazes de ser atores, músicos, poetas, pintores, tudo ao mesmo tempo, na maioria
das vezes contra a vontade de todos. Não sei como acabavam aceitando e se submetendo às
minhas elucubrações. Acontece que eu era tipo um tratorzinho, saia logo atropelando todo
mundo. Amigos queridos, espero que não guardem rancor de mim!
Enfim, nessa gincana fizemos uma dublagem altamente tosca de “Money Talks”, do AC/DC.
Eu tocava a guitarra, sem saber uma nota, caia e rodopiava no chão tentando imitar o Angus
Young. Até que era legal. O mais legal mesmo foi uma peça de teatro que a gente
apresentou, na mesma gincana. Não sei por que eu continuava tentando dar uma de diretor
teatral, em vez de seguir como todos os outros alunos normais de Educação Artística, que
haviam se incorporado ao grupo dirigido pela professora: criei um grupo dissidente. A
professora aceitou com a condição de que fizéssemos uma peça fiel à história sobre a
libertação dos escravos.
Lá foi o grupo dela e fez uma linda apresentação sobre o tema, responsável e fidedigna. A
escola inteira estava presente, assistindo, e aplaudiu. Chegou a vez de o meu grupo entrar.
Eu não queria muito seguir roteiros pré-determinados, nunca fui assim. Logo de cara a peça
começava com um baita quebra-pau, os escravos fugindo na porrada e depois eram todos
capturados novamente. Do meio da peça eu consegui ver o olhar de reprovação da
professora. O cenário então desabou na minha cabeça (literalmente). Mas eu improvisei —
sendo um dos escravos —, como se derrubar a parede de tijolos em cima de mim fosse
parte do roteiro. A platéia riu. Na cena seguinte, os escravos, tristes, começaram a cantar
para afastar suas mágoas. Nada a ver com a história real. A Princesa Isabel viu o que eles
faziam, ficou encantada e decidiu abrir uma companhia de teatro. A peça culminava com os
escravos dançando e cantando ao som de “Tell me more” (Olívia Newton-John e John
Travolta), conquistando a simpatia dos que assistiam e sendo libertados por sua música. E
não é que a peça conquistou mesmo a simpatia das pessoas? A escola aplaudiu de pé e a
professora pessoalmente veio me parabenizar por ter trabalhado tanto nos bastidores para a
realização daquela peça. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida.
Minha primeira apresentação “oficial” como músico foi ainda com 15 anos, numa banda
formada por amigos do colegial, que se chamava Psicozzy. A banda acabou em dois meses
por diferenças estilísticas. Na verdade eles me mandaram embora: eles queriam tocar
covers e eu as minhas horríveis músicas próprias. Mas valeu a experiência.
Meu primeiro parceiro musical pra valer foi o Du Viegas, grande amigo da escola e ainda
dos dias de hoje. Com ele fizemos o Angel Hammer — sim, eu era heavy metal — e
tocávamos nossas composições, misturadas com Kiss, Ramones e Attaque 77. Fizemos um
show na boate de Bebedouro, à época reduto dos mauricinhos e patricinhas da cidade, que
ficaram pasmos com nossa caretice: 80% do set era autoral, ninguém conhecia nada e
mesmo assim a gente tocava como se todo mundo estivesse adorando nosso som. Na
primeira música que cantei, “Rock n’ roll hell”, quase vomitei, de tão nervoso, mas se isso
acontecesse viria até a calhar com a atitude que pretendíamos. Do Angel Hammer também
faziam parte Grilo, na batera, e Palmito, no baixo. Os apelidos, acreditem, refletiam
perfeitamente a diversidade da banda (não sei se deveria, mas vou deixar que vocês saibam
que o meu nome artístico era Andrew LeBon e o do Du, Eddie Shaggy — foi mal, Du).
Tudo bem, éramos crianças.
O Grilo e o Palmito se rebelaram com a imponderável liderança artística minha e do Du
(até parece), e decidiram sair da grande e promissora Angel Hammer, deixando-nos sem
cozinha. Foi então que resolvi ligar para um garoto, quem eu havia conhecido dois anos
antes numa situação no mínimo inusitada: estava um calor de 57 graus (Bebedouro é foda)
e eu assistia aos jogos inter-escolares sentado na arquibancada do ginásio, sozinho. Não
tinha muitos amigos, havia acabado de me mudar da Argentina para Bebedouro, estava
totalmente deslocado. Eu quase não conhecia ninguém. De repente, vi um menino de seus
oito anos (ok, 10) se aproximar e, dirigindo-se a mim, perguntou sem rodeio algum:
“Qué um pouco do meu suquinho?”
Ele trazia consigo um suco de laranja, daqueles que vinham em saquinhos, e mesmo sem
me conhecer me ofereceu um pouco. Esse era o Felipe Tamburello. Isso era ainda em 1991,
e a partir desse dia ele se tornaria meu amigo de toda a vida, inseparável companheiro das
minhas desventuras musicais.
Algum tempo depois de tê-lo conhecido me disseram que ela era um batera fantástico, e
como o Grilo havia nos deixado, resolvi ligar pra ele. Ele atendeu, meio mal humorado —
estava no meio de um ensaio e eu evidentemente estava interrompendo. Perguntei se ele
estava tocando com alguém, ele disse que era o baterista e o vocalista (!) de uma banda e
que não tinha muito tempo para outras coisas. A banda acho que era ele e mais um cara
(que ele mandou embora depois). Realmente era um menino de 12 anos muito ocupado.
Ofereci a possibilidade de entrar no Angel Hammer, uma banda com o maior futuro do
mundo e blábláblá, mas ele fez pouco caso. Eu devo ter dito que lhe emprestaria meus
bonequinhos do He-man se ele entrasse, ou qualquer coisa do tipo, mas a verdade é que ele
acabou aceitando.
Para o baixo, chamamos o Zé Cláudio, que na verdade era tecladista. O primeiro ensaio
com a nova formação foi interessante. O Du ficou meio ressabiado com o Felipe porque ele
tava meio bravo e o bumbo era mais alto que ele, mas nada que impedisse o bom som do
conjunto (hoje eles também são melhores amigos). Eu ficava me olhando no espelho
enquanto cantava, fazendo caras e caretas a la Paul Stanley (bem ridículo por sinal) e o Zé
Cláudio ria sem parar. Fizemos um único show, também na boate, e o Fê, com 12 anos,
destruiu na batera. De novo, tocamos praticamente só músicas nossas, para a surpresa do
público presente. E no mesmo dia tocou com a gente o Iron Maiden Cover, da qual fazia
parte o Dersinho, quem voltaria a entrar na história anos depois.
O Angel Hammer deve ter sido a banda que mais ensaiou no mundo. Sem brincadeira,
qualquer folga na nossa agenda escolar era motivo pra ensaiar. A gente ensaiava, ensaiava,
ensaiava, sem ter show marcado, sem ter para que ensaiar, a não ser o próprio prazer de
tocar (até porque quando alguém ensaia, sempre é para alguma coisa, não?). A gente não:
ensaiava para ensaiar. No fim das contas, o ensaio era o próprio show. Primeiro na casa dos
pais do Du, coitados deles, tão bonzinhos, não sei como se submetiam a isso. A gente
tocava desafinado, fora do tom e de tempo. Depois foi na casa do Felipe. A avó e a mãe
dele adoravam nossa presença e faziam pão-de-queijo pra animar os ensaios. Já eu morava
em apartamento, e mesmo assim ensaiamos algumas vezes lá, na sacada (!), mas os
vizinhos não deixaram mais.
Naquela época todo mundo brigava sem precisar de muito motivo então mudamos de banda
umas seiscentas vezes. O Du roubava minhas músicas, eu as dele, a gente competia e
ninguém ganhava, como bons leonino e aquariano que somos. Vale dizer que o Du fazia
um estilo bem Bret Michaels (que ele não assume de jeito nenhum) e eu Ace Frehley (ainda
que estivesse bem aquém, nos meus 16 anos — e até hoje — de ingerir qualquer tipo de
alucinógeno).
O Du, Felipe e eu, juntamente com o Cafu, outro grande amigo nosso, éramos uma turma e
tanto. O Felipe era mais novo e acabou sendo adotado pela gente. Os amigos da classe dele
tinham um pouco de inveja, sei lá, afinal ele saía com os meninos mais velhos. A gente
tinha 16 e ele 12. Ele só não suspeitava que nós três éramos os mais bobões do mundo.
Nenhum de nós namorava, sequer tínhamos pretendentes. Usávamos boné de banda, camisa
de flanela em cima de uma camiseta preta, de banda também, e ficávamos na esquina da
única chopperia da cidade, com os pés encostados na parede, discutindo sobre música,
mudanças nas formações de nossos conjuntos preferidos e os últimos discos que tinham
sido lançados. As garotas da nossa classe até que achavam a gente legal, pelo menos de vez
em quando, mas tinham vergonha de passar perto, às vezes nem nos cumprimentavam. Isso
porque no começo dos anos 90 reinava em nossa geração um desejo coletivo e tácito de
pertencer à turma dos tais (e olha que estávamos em Bebedouro!): os mauricinhos
passeavam com seus copos de uísque em uma mão e a menina mais bonita da escola em
outra.
Já a gente só sonhava.
Eu, pelo menos, devo ter gostado de trinta meninas na minha adolescência. E,
invariavelmente, tomado trinta foras. Dos piores. Vivi infinitas vezes aquela estranha
sensação de ver uma garota na minha frente, talvez esperando que eu falasse com ela, e
sentir meu corpo congelar numa timidez inerte que me condenaria pelos anos restantes da
minha vida colegial à triste solidão de quem ama e nunca é amado.
O que era uma timidez enorme no mundo dos relacionamentos era uma inexplicável
ousadia nos negócios. Nessa época, esse lado meio esquisito meu — responsável por me
deixar confuso pelo resto da vida, querendo sempre fazer mil coisas ao mesmo tempo —
começou a ganhar força. Alguns chamam de falta de foco. Outros de empreendedorismo. O
fato é que, com 16 anos, eu tentava reuniões com algumas empresas da cidade, à procura de
patrocínios para a banda. Eu ia à pé, com uma fita embaixo do braço e algumas fotos no
outro, visitando livrarias, escolas de inglês e até concessionárias de carros. Ia na cara dura
mesmo. Para meu espanto (de hoje, afinal ainda não consigo entender como me atrevia a
tanto) eu consegui mais de um. Com a ajuda desses patrocínios pudemos fazer os shows na
boate, já que seus proprietários nunca investiriam em uma banda desconhecida (de
moleques de 16 anos!) e a produção de qualquer evento envolvia uma série de custos.
Mandava fitas também, para gravadoras e rádios. Trocava cartas com empresários nos EUA.
Tentava viabilizar a arte de algum jeito.
E, se não conseguia nenhuma brecha como “empresário”, continuava tentando como artista.
Nem que fosse outra arte. Fiz concurso pra garoto-propaganda. Ganhei, achando que ia
virar ator da globo da noite para o dia, mas só fiz gravar comerciais bestas.
Já que não seria contratado decidi então fazer meu próprio filme. Junto com o Cafu,
certamente um dos amigos mais importantes da minha vida, escrevemos o roteiro para
“Scorpion and Ace”, um filme policial violento pra caramba, com uma história esdrúxula,
mas que na época parecia o máximo. Peguei a filmadora do meu pai, convocamos os
amigos (sempre os mesmos) e distribuímos os papéis. O Felipe Tamburello era um dos
bandidos: Krugher. Nossa tarefa era perseguir o irmão do Cafu, o Cássio; e o Felipe, no
papel de renomados traficantes de Bebedouro City.
Uma das cenas bizarras do filme mostrava o Cafu e eu nos preparando para a batalha,
vestindo a roupa de policial, colocando o revólver no coldre e fazendo cara de mau. Só
depois fomos perceber que, no filme, parecia que a gente estava se trocando juntos no
mesmo banheiro (erro de produção)! Nas cenas de luta, a gente instalava um vídeo-game
por perto e alguém precisava dar uns socos no joguinho pra coincidir com as porradas do
filme. Era para chorar de rir. A gente se divertia mesmo.
Não contentes com o filme — que não passou da quinta cena — o Cafu e eu decidimos
fazer um filme de boxe, a la Rocky Balboa. Eu só não sabia que envolvia lutar de verdade,
mas enfim. Preparamos um mega evento, seria a luta do século, War Machine contra
Executer, com amigos da escola obviamente pagando mico, na ordem: Laurinho Cócegas,
comentarista e jurado; Zé Cláudio Compaixão, câmera-man; Felipe Andorinha, jurado; Du
Malcovich, jurado (comprado pelo Cafu! O cara passou a luta inteira torcendo pra ele,
acreditam?). E como juiz, este sim era o ponto alto da luta, Flavinho Emoções, um amigo
nosso que era todo bombado. Ficou sem camisa e de gravatinha borboleta.
O embate foi cômico, pra não dizer trágico. Eu pesava trinta quilos e meio e o mais perto
que havia chegado de uma luta na minha vida foi entre os bonequinhos do He-man e do
Rambo. O Cafu pesava oitenta e nove, era faixa-preta de caratê e usava luvas sem proteção.
Não preciso nem dizer: o cara me arrebentou inteiro. E, de maneira até hoje inexplicável,
ele não me nocauteou. Pelo contrário, fizemos a contagem de pontos... e eu ganhei! Ou os
jurados estavam viajando enquanto a gente se dava umas bordoadas na cabeça ou não
sabem fazer conta, mas para todo fim, fui o campeão da luta do século. Está tudo em fita e
não me surpreenderia se um dia ela aparecer pelos youtubes da vida — tamanha é a
bizarrice.
Tudo isso acontecia na casa do Cafu, diga-se de passagem. A mãe dele ficava desesperada,
coitada, afinal não é todo dia que melhores amigos marcam um encontro para trocarem
umas porradas. Saíamos arrebentados, mas sempre tinha lanchinho. A mãe do Cafu era
demais.
Decidimos fazer a revanche. Para isso, resolvemos filmar os treinos. A câmera focava no
Cafu fazendo algum exercício, então cortava para mim. Era muito engraçado: ele levantava
10 quilos em cada braço, com sua cara de japonês inabalável; e eu suava pra levantar um
quilo e meio. Ele corria uma quadra em quinze segundos. Eu pulava cordinha imitando o
Stallone. Éramos crianças.
Mas tínhamos 17 anos e não sei como passamos pelo colegial. Com tanta atividade extracurricular não era de se esperar que o Cafu e eu fôssemos bons alunos. Mas pasmem,
éramos os melhores da escola, se não for da cidade. E óbvio: competíamos. Um dia ele era
melhor, noutro eu. A admiração que tínhamos um pelo outro fez mesmo da gente bons
alunos e queridos dos professores.
Chegávamos na escola sem saber que tinha prova, a classe inteira aos berros, correndo pra
lá e pra cá. “Tem prova hoje? Do que?” — o semblante do Cafu parecia não se alterar para
nada. “De química orgânica!” gritava alguma desesperada. Então a classe entrava num
conflito físico brutal pra decidir quem sentava perto da gente. Eu ia para uma ponta, o Cafu
para outra, e passávamos cola para a classe inteira: éramos generosos. Teve até aqueles para
quem a gente fez a prova inteira.
No terceiro colegial cheguei a montar outra banda também, “Mr. McCoy”, em homenagem
a uma música que eu tinha feito com meu irmão. Dessa banda participou um exímio
guitarrista e grande amigo, Gansinho, que anos depois me ajudaria a produzir a demo que
me conduziu ao Christiaan Oyens. O irmão dele, Ganso, estudava com a gente, era nosso
amigo também e detonava no vocal. O batera era o eterno e grande Tamburello, que de um
jeito ou de outro sempre esteve do meu lado.
Ah, o Felipe e eu, quantas vezes teremos saído em Bebedouro? Eu passava para buscá-lo
em sua casa, no Uninho que meu pai me emprestava. A gente ficava ouvindo Warrant no
último volume: “Mr. Rainmaker, don’t waste your time, I found a girl who’s permanent
sunshine”. Se bem que a gente nunca encontrava a tal menina do sol incessante. Dávamos
milhões de voltas de carro, ouvíamos Jeff Healey carregando seu blues em “How long can a
man be strong?” porque a gente não sabia quanto tempo ia agüentar sem encontrar uma
namorada, e nada mudava nunca.
Falando em carro, meu pai também tinha um Landau — aprendi a dirigir nele. Um dia a
gente resolveu filmar um campeonato de futebol. Como ninguém tinha carro, os 10
jogadores dos dois times, foram no Landau, todos juntos, eu dirigindo. Foi uma vergonha.
Dez carinhas descendo do mesmo carro, como se fosse o ônibus da seleção. Não sei o que
isso tem a ver com a música, mas acredito que existe um pouco de tudo em nós. E um
pouco de Bebedouro ficou, com certeza, para sempre em mim.
Com o fim do colegial fechei a fase de Bebedouro na minha vida, mas a porta ficou aberta
para as amizades que duraram para sempre. Fui pra Argentina tentar ser médico, depois
para a Inglaterra para estudar inglês, onde conheci um monte de bandas legais, e nessas
indas e vindas toquei algumas vezes na banda de thrash-metal do meu irmão, Malparidos.
Nessa fase, como (quase) todo guitarrista em construção, eu estava bem ligado no fator ummilhão-de-notas-por-segundo e o estilo cabia bem para essa banda. Meu irmão tinha um
senso de “peso” muito forte, que ele emprestava para suas músicas e que acabaria
exercendo uma grande influência em minhas composições no futuro. No fim das contas,
meu irmão sempre esteve presente em minha música, desde o Mader Mader, até os dias de
hoje. E um pouco disso eu resgatei quando decidi voltar às origens.
De volta a São Paulo: Grapevine (1995-1997)
Voltei para São Paulo, minha cidade natal, eu continuava compondo e tocando sozinho. O
Du também tinha mudado para cá e montamos a Sixxty-9, uma banda de hard rock cocky¸
se é que vocês entendem esta expressão. Como o Felipe não tinha nem terminado o colegial
em Bebedouro e não conhecíamos nenhum baterista, utilizamos programação para gravar
umas músicas bem legais que eu tinha feito: “All the world’s gone dry”, “Running To Kill”
(que no futuro eu transformaria na “Incompreensão”) e uma parceria minha e do Du,
“Frozen Wings”, muito boa também, com uma pegada meio Alice In Chains, entre outras
na mesma praia.
Chegamos a fazer um home-video do Sixxty-9, que filmamos em Bebedouro, tocando todas
estas músicas junto com o Fê, além do Gansinho na outra guitarra (que já começava a
despontar com sua técnica estonteante) e o bom e velho Zé Cláudio no baixo. A intenção
era mandar essa fita de vídeo para alguma gravadora. Ah, o sonho das gravadoras, quem me
dera eu tivesse me livrado dele antes. O Gansinho, junto com seu irmão, Ganso, seguiu seu
destino pra formar uma bela banda de metal, VersOver. E esta seria a última vez que eu
tocaria com o Fê, por um bom tempo. Meu caminho musical tomava um desvio repentino,
que seria fundamental para meu futuro, embora me distanciasse de minhas origens.
Bebedouro ficava para trás, e na frente um aparente mundo de oportunidades.
No cursinho conheci um figura que seria outro parceiro importante na minha carreira
musical: Peu. Tínhamos a paixão pela música em comum e isso nos fez bons amigos. Ele
também gostava de Creedence, o pai dele também mostrava mil músicas pra ele e ele
também tinha um milhão de bandas, entre elas uma de rockabilly, Another Five Hundred.
Não demorou muito pra gente resolver fazer um som juntos. Eu sempre tinha sonhado em
montar uma banda cover do Creedence (em parte para agradar meu pai) e quando eu dei a
idéia para o Peu ele topou na hora. Nascia o Grapevine, com o Teteu, amigo dele, na batera,
o Dani, irmão dele, na outra guitarra, e meu irmão no baixo. Em um único dia, na casa do
meu pai, tirei todas as músicas no violão e transcrevi todas as letras — não existia Internet,
não dava pra pegar a letra no Google como se faz hoje em dia, de maneira tão fácil.
Essa foi uma fase muito gostosa — dá pra não gostar de tocar Creedence? — em que
aprendi bastante como guitarrista, justamente ao tocar coisas mais simples, e ao mesmo
tempo mais emotivas. John Fogerty era um mestre nos riffs. Aprendi também com o forte
senso de harmonia entre o Peu, Teteu e Dani; eles tinham uma característica curiosa de
unidade que me remetia a meus tempos de banda com meus amigos. Além disso, eu estava
totalmente em casa, com meu irmão ali do lado. Era demais. Com o Peu aprendi a rasgar a
voz pra alcançar as notas que eu não conseguia. Eu acabaria precisando de 150 mil aulas de
canto no futuro pra dominar melhor esse vício, mesmo assim não posso deixar de agradecêlo por isso, pois até então eu tinha muita vergonha de soltar a voz e esse macete me ajudou
a enfrentar muito meu medo: de um dia para o outro virei um roucão, rasgando tudo quanto
era nota! Bem legal.
O Grapevine começou a ganhar fôlego. Na edícula da minha casa eu resolvi montar um
estúdio de ensaios. Eu deixava tudo preparado antes da chegada da galera: ficava regulando
o som, tentando adequar um quarto de uma casa de família à sonoridade de uma banda de
rock. Ficava passando fita adesiva nos cabos porque odiava que eles ficassem
desorganizados, coisa maluca essa, não? Sempre fui meio roadie. O pessoal chegava e era
só plugar e tocar, estava tudo pronto. Ninguém precisava mexer uma palha. Mesmo assim,
tinha tão presente a memória de ensaiar sempre que dava, adquirida em Bebedouro, que
ficava louco ante a impossibilidade de fazer o mesmo em São Paulo: os caras moravam na
Granja Vianna, nunca podiam, e quando um podia o outro não, tinham outras bandas.
Enfim, era uma frustração e tanto, pois o que eu queria era ficar tocando sem parar.
Vale dizer que já estávamos na faculdade, eu estudava publicidade na ECA, e lá mesmo
conheci um outro grande amigo desta nova fase, Tiaguinho. Garoto simpático, sorridente e
eternamente feliz, foi como um motorzinho dando ouvido às minhas divagações sobre
banda, música, como tinha e não tinha que ser. Putz, ele me ouvia sem parar. E dar ouvidos
a um aquariano pode ser perigoso — corre o risco dele nunca mais parar de falar.
Ao mesmo tempo em que o Grapevine começava a ganhar prêmios de melhor performance
ao vivo em festivais por aí, eu continuava com meu gosto pela composição. E sempre em
inglês. Continuava gravando, sozinho que fosse, com o teclado da minha irmã, com meu
violão. Fiz uma música bonita, “Been left by the rain”, que gravei na sala da minha mãe,
mostrei pros meus pais, eles adoraram. Mas... era tudo em inglês.
Meu pai, que sempre esteve presente em minha vida, com seus conselhos e o carinho que a
proximidade da nossa relação permite, acompanhava de perto minhas diversas incursões
pela arte e pela música. Depois de me ouvir repetir um milhão de vezes que “agora é pra
valer, esta banda sim vai estourar”, juntamente com fitas e fitas mal gravadas, ele me
apontou a beleza da língua portuguesa e de como ela tinha sempre feito parte, de alguma
forma, no jeito de eu querer fazer arte. Falou das minhas poesias quando menino. Falou da
minha paixão pela Literatura. E era verdade. Falou que seria muito bom seu passasse a
fazer músicas em português. Mas era muito difícil aceitar isso.
Num dia, no meio de uma aula de Sociologia, acho, falei para o Peu: “por que a gente não
compõe em português?”. Ele não gosta muito de assumir isto mas a verdade é que ele me
xingou e disse: “você pensa que é o Renato Russo?”. Até que tinha um pouco de razão. De
qualquer jeito, o Peu era outro cara que amava escrever e tinha lá suas crônicas e histórias,
muito boas por sinal. No cursinho, não preciso nem dizer, a gente competia pra ver quem
era o melhor em redação e quem ganhava a preferência da professora. Eu até que estava
indo bem na primeira metade do curso, mas ele resolveu apelar — e apelou feio. Numa das
redações encomendadas pela professora ele entregou um texto que o pai dele fez (um
exímio escritor, diga-se de passagem), só que o sacana falou que foi ele. Claro que a
professora veio toda apaixonada e melosa: “Peuzinho querido, que texto é esse?”. Aí o
safado confessou, mas já tinha ganho o coração dela!
Enfim, tudo isso pra dizer que ele é sim um escritor e tanto; e algum dia sei que ainda vou
ver algum livro dele publicado por aí. Dito isto, era perfeitamente natural que os dois
passássemos então a compor juntos, em português, não importando quão resistentes
fôssemos a esse processo.
Nossa primeira música foi “Num outro lugar”, em que usamos um dicionário de sinônimos
(!) para fazer grande parte da letra. Bom, tudo tem seu começo. A música entrou para um
filme que nosso grupo fez para a aula de Cultura Geral, ou sei lá qual, na USP. O filme era
sobre uns anjos que tentavam mostrar o caminho correto para as pessoas. Óbvio que nós
todos fomos os (péssimos) atores, e o script não era lá tão bom, mas acreditem ou não o que
as pessoas mais destacavam quando assistiam era nossa música.
Fizemos então aquilo que chamamos de Prelúdio Acústico — uma banda com duas vozes e
dois violões. Essa banda existia puramente para tocar o que a gente gostava, e isso era o
máximo. O Peu e eu íamos de bar em bar implorando por um espaçozinho que fosse na
agenda desse pessoal, pra gente tocar alguns covers e quem sabe lá no meio algumas nossas.
“História de uma patricinha apaixonada” surgiu nessa época. Os amigos mais próximos
começaram a gostar bastante. Diziam que a gente tinha futuro.
O Teteu logo entrou no Prelúdio, e depois de fazermos algumas apresentações num bar
chamado “Garrafaria”, só voz e violão, fizemos o primeiro show nós três (o Peu tocando
baixo), na festa de libertação dos bixos da ECA, em março de 97. E essa foi a primeira vez
que o Tiaguinho também subiu num palco, pra tocar baixo na “História”. Detalhe: ele
nunca tinha visto um baixo na vida. Até então ele fazia aula de violão e ficava cantarolando
músicas do Iron Maiden e Live, os únicos dois CDs que ele tinha. E ele era tão legal que
não fazia sentido não tê-lo na banda, mesmo sem saber qual uso poderíamos dar pra ele!
Enfim, eu tinha um baixo (e nessa época só o fato de ter um instrumento era o suficiente
para que uma pessoa pudesse tocá-lo) e emprestei pro Tiaguinho, pra ele treinar. E ele
entrou na banda.
Eu sempre tive uma característica um pouco chata de ir atrás de tudo quanto é banda nesse
mundo, comprar a coleção inteira e forçar todo mundo a gostar também. Fui assim desde
criança. Na época da faculdade, eu morei uma temporada na Califórnia e voltei de lá
encantado com uma série de bandas novas que faziam um som muito legal — que eu
resolvi chamar de College Rock (só porque o conheci na Universidade da Califórnia), mas
que não tem nada a ver com isso: a única verdade nesta afirmação é que essas bandas se
lançavam na faculdade mesmo. Mas seu estilo pode ser considerado como Adult Alternative
Pop/Rock. Pelo menos é o que o pessoal chama lá fora. Faziam parte dessa leva Collective
Soul, Gin Blossoms, Toad The Wet Sprocket, Hootie, Edwin McCain¸Sister Hazel, Del
Amitri, entre vários outros. Eu trouxe vários CDs pra ouvir com o pessoal e acabamos
resolvendo que queríamos fazer um som assim. Na verdade, eu conheci Blossoms e Toad
graças ao bom e velho Kiss, ainda em 94, por causa de seu CD tributo, no qual estas bandas
fizeram versões matadoras para “Christine Sixteen” e “Rock n’ Roll All Night”
respectivamente.
De qualquer forma, um dos maiores fãs que o Prelúdio tinha era o irmão do Peu, o Dani.
Quando fazíamos uma música, bastava mostrá-la pro Dani para, depois de vê-lo chorar
emocionado, ter a certeza que havíamos acabado de fazer um hit. Só depois eu aprendi que
o Dani choraria por qualquer música que o Peu fizesse. Uma vez o Peu fez um rock n’ roll,
chamava “Balada com meus amigos”, acho, e o Dani chorou. Vai ser emotivo assim! De
qualquer forma, ele adorava mesmo nossas músicas e não parava de insistir para entrar e ser
o outro guitarrista do Prelúdio. Se vocês ainda não confundiram a história inteira, vão se
lembrar que o Dani já tocava no Grapevine com a gente, mas não bastava. Ele ia nos
ensaios do Prelúdio, nem que fosse pra ficar assistindo, dando uma força, fazendo backings.
Pô, um cara assim merece entrar na banda, não?
Já que falamos no Grapevine, tenho que contar a vocês um pouco das nossas desventuras.
A primeira vez que o Grapevine subiu num palco foi no festival do Mackenzie, em 97.
Ficamos em terceiro lugar entre 300 bandas, com “I heard it through the grapevine”. Legal
pra caramba. Depois tocamos em alguns outros festivais e rara vez devemos ter feito um
show mesmo. Um dos primeiros, com set completo e tudo, (pelo menos tentativamente) foi
num boteco ao lado da faculdade em que meu irmão estudava, Unib. No boteco cabiam sete
pessoas. Levamos bateria, amplificador, microfones, tudo. Juntou umas duzentas. Putz, até
meu pai foi assistir, nem creio. O “show” foi interrompido pela polícia, muito louco.
Fizemos um outro show, que meu irmão também descolou, num bar no Itaim, onde a nossa
descontração no “palco” começou a virar marca registrada. Subíamos nas mesas pra solar,
rolávamos no chão, era uma mega diversão. Só que o bar era uma pizzaria.
Um terceiro show, também através do meu irmão (a família Galiano parecia mesmo ter tino
para essa atividade!), foi na quermesse da Móoca, nas escadarias de uma igreja, contratados
por um Frei, que na verdade era um Frade, e se chamava Fred. O clima era um pouco hostil,
afinal não tenho certeza se os freqüentadores daquela quermesse na Móoca estavam muito
interessados em Creedence Clearwater Revival.
Houve ainda um quarto show, num evento do Incor, onde meu irmão trabalhava, que foi
espetacular. Só havia adultos, e todos ficaram encantados com nosso repertório setentista.
Dançavam pra lá e pra cá, e ver essa energia das pessoas, em resposta ao nosso som, é algo
sem explicação.
Acho que o último show do Grapevine foi na ESPM, em 99 — desta vez quem arranjou foi
o Dani mesmo — e que provavelmente marcou a despedida do Grapevine, mas deixou para
sempre a marca de irreverência no palco e cadência contagiante das músicas do Creedence
em meu perfil musical.
Vodka Frog: um drinque com os sapos (1997-2002)
O fim do Grapevine coincidiu mais ou menos com o surgimento do Vodka Frog, pelo
menos com esse nome — afinal o Prelúdio já existia desde meados de 96, quando o Peu e
eu resolvemos compor juntos. Em 98 já tínhamos mais composições, o Dani já tinha
entrado e ensaiávamos bastante. Eu tinha visitado uma série de estúdios profissionais,
deslumbrado, e pensei que era hora da gente ter um registro decente de nossas músicas (até
então todas as minhas gravações tinham sido feitas em fitas caseiras). Foi duro convencer o
pessoal a investir em um estúdio, estava todo mundo meio sem grana (como todo
universitário), mas todos acreditavam invariavelmente que a banda tinha futuro.
Eu tinha feito aulas de piano no Souza Lima, então fui atrás deles pra ver a possibilidade de
gravar um CD demo minimamente decente. Conheci o Bechara, baterista e técnico de som
do Souza Lima. Os sapos, como éramos conhecidos, adoraram a possibilidade de gravar,
todo mundo botou um pouquinho de grana no bolo e fechamos 20 horas, se não me engano,
pra gravar e mixar três músicas. Eu me lembro bem de querer ter gravado um disco inteiro,
mas óbvio que não tínhamos dinheiro nem tempo para ensaiar tantas músicas.
Gravamos nossa primeira demo em 98, que foi um aprendizado bastante interessante.
Ficaríamos no negativo por um bom tempo, até conseguirmos recuperar a grana investida.
Em 99 passei o ano novo na Califórnia, com outro grande amigo meu, Gabes. Fomos atrás
do show do Gin Blossoms, o único depois que eles tinham se separado, que seria na virada
do ano novo em Phoenix, Arizona. Sim, no meio do deserto.
Essa viagem foi sensacional. Acabamos ficando amigos dos caras do Gin Blossoms
(salvaguardando as proporções do que esta palavra significa para eles e para nós). O Gabes
e eu dávamos muita risada juntos. Tínhamos mil sonhos em comum e um deles era largar
tudo e abrir uma empresa ou qualquer coisa nos EUA. Lembro de o Gabriel anunciar
peremptoriamente: “cara, temos tudo para detonar nos EUA! Vamos morar aqui agora
mesmo”.
No dia seguinte eu mostrei a “15 minutos” pra ele, minha mais nova composição, e ele não
teve dúvidas de anunciar, de maneira igualmente peremptória: “cara, você tem tudo pra
detonar na música! Vamos voltar pro Brasil agora”. Esse era o Gabes.
Mostrei também “Vamoprabalada” e acho que nessa hora ele resolveu ser nosso empresário,
mas esqueceu no minuto seguinte e foi fazer outra coisa, como bem é de sua característica.
De volta ao Brasil, acho que tivemos a grande sorte de conhecer um grupo bem legal de
amigos, na Câmara Americana de Comércio, onde o Tiaguinho, Teteu e eu trabalhamos por
um ano mais ou menos. Marssa, Ximas, Rodrigones, Tarsa, Morenets, Danilão, Walan,
Beisert, Jubes, Ni, Pedrão e mais um montão de gente, todos jovens, da mesma idade,
trabalhando numa empresa. Só molecada. Era de se esperar que houvesse balada atrás de
balada. Não tenho absolutamente nenhuma dúvida que este foi o grande propulsor do
Vodka Frog como banda, porque a gente acabou virando desculpa pra esse pessoal todo se
encontrar. Não teríamos nunca conseguido o que conseguimos se não fossem por amigos
como estes, além dos outros, obviamente, que nunca deixaram de nos acompanhar: o
pessoal da ECA, Mackenzie, ESPM, Granja e tantos outros.
Foi na própria Câmara que ouvi falar de um tal de festival de música cujo vencedor poderia
gravar um CD. Putz, era tudo o que eu queria. Imediatamente inscrevi o Vodka, embora
contra a vontade do pessoal da banda que não acreditava muito nesse tipo de festival.
Chamei o Dani pra me acompanhar e fomos conhecer o organizador do evento, grande
Fernandão Bustamante (ex-tecladista do Zero). O esquema do festival era aquela velha
história de sempre, compre não sei quantos ingressos se quiser participar. Eu comprei, certo
de que venderia tudo na Câmara. Vendemos uns quatro, acho. Mas mesmo assim, tocamos
“História” e “Enfim” e... ganhamos! Essa era a primeira vez, de fato, que o Vodka subia
num palco (até então só havíamos tocado como Grapevine). Foi a primeira vez também que
usamos o sapo de pelúcia, mascote da banda. Enquanto a gente tocava a “História” eu o
atirei no meio da galera (e acho até hoje que o sapo foi o grande responsável pela nossa
vitória).
Como prêmio, gravamos um EP com 8 músicas nossas, num passo que nos abriria muitas
portas. Isto foi no começo de 2000. Terminamos o CD em julho do mesmo ano, acho.
Chamamos o disco de “O Rádio Não Tem O Que Tocar”, o primeiro EP do Vodka.
Com o CD na mão, faltava levá-lo para as pessoas que tinham o poder de decisão nas
gravadoras. Mas não bastava mandar pelo correio. Faríamos um mega lançamento no
Woodstock Club, na Rua Consolação. Alugamos o espaço e até chegamos de carro especial,
pra causar uma impressão (o Kiss fez isso no seu primeiro show em NY, chegando de
limusine). Sim, eu fazia de tudo para seguir os consagrados passos do Kiss, não tenho
vergonha de admitir! Contratamos buffet pra servir salgadinhos e não sei mais o quê. O
Teteu, que era um cozinheiro e tanto, diga-se de passagem, inventou um drink Frog, verde.
Foi um show bem legal. Serviu mais pra mostrar quem a gente era para as pessoas do que
para qualquer empresário. Até porque a gente filmou tudo, para preparar um material bem
bacana depois, mas misteriosamente a fita sumiu.
É interessante notar que durante esse tempo todo, todos nós continuávamos trabalhando,
estudando, enfim; dedicávamos somente o pouco tempo livre que tínhamos para a música.
Mas não deixava de ser recompensador. Logo depois desse show, eu recebi a notícia de que
tinha entrado num curso de pós-graduação na Harvard, bastante concorrido — algo que
também sonhava com profunda intensidade (sempre lembrando que eu fazia muito de tudo
ao mesmo tempo). O pessoal da banda congelou quando eu contei para eles. “Justo agora?”.
É, na minha vida sempre foi tudo “justo agora”.
Fui a obrigado a tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida: a banda era apenas
uma promessa nesse momento, o curso de pós-graduação algo mais concreto. O louco aqui
foi atrás da música, meu pai quase me mata. Para dar um formato mais profissional para
essa decisão, mudei do meu quarto para a edícula (onde a gente costumava ensaiar) e
coloquei um sofazinho lá, junto com uma mesinha de escritório. Pronto, estava inaugurando
o escritório do Vodka Frog! Com nada mais do que isso e um telefone comecei a ligar de
gravadora em gravadora, bar em bar, empresário em empresário, sempre procurando vender
a nossa incipiente marca, que agora, mais do que uma promessa, tinha que acontecer de
qualquer jeito.
O primeiro show que surgiu dessa investida foi no Zé Pereira (bar na frente da FAAP), casa
que nos acolheu até julho de 2001. O Gabes me levou lá, uma amiga sua trabalhava como
promoter da casa. Fizemos uma reunião com ela e ele não sei como a convenceu de que
éramos uma banda espetacular. Fizemos um show e lembro-me do Zé Pereira entrar em
ebulição! Era algo impressionante: não cabia muita gente, o som era amador, as mesas
competiam por espaço com as pessoas, tinha gente nas escadarias, em cima das cadeiras,
mas a energia do lugar era tudo de bom. Os garçons começaram a cantar junto com a gente,
o pessoal da FAAP foi começando a vir mais e mais — e coincidentemente metade das
pessoas que trabalhavam na Câmara estudava na FAAP — então uma coisa levou a outra
e... pronto: já não éramos mais tão desconhecidos. Cópias do EP “O Rádio Não Tem O Que
Tocar” começaram a circular (de novo, ainda não rolava o fenômeno da Internet e mp3), e
mais e mais pessoas pareciam estar gostando de nosso som.
O tempo que eu passava no escritoriozinho improvisado do Vodka Frog também servia de
inspiração para uma série de coisas legais: criamos o “Frog Intra”, um comunicado por
email que contava as novidades da banda para os amigos/fãs, sempre num tom irreverente.
Dessa forma, eu tinha conseguido juntar duas coisas que eu amava em uma: ficar
inventando coisas e correndo atrás de tudo com a possibilidade de escrever — ainda mais
sobre a gente! Então era frog intra pra cá, frog intra pra lá. A base de dados ia crescendo, o
profissionalismo de nossas ações também. A gente aprendia com o processo. Nesse meio
tempo tenho certeza que uma série de bandas legais que cruzaram com a gente na época
passou a adotar parte de nossas estratégias e postura frente ao público. De repente começou
a surgir um monte de mascotes, comunicados engraçados por email e coisas parecidas.
Acho que isso foi um legado bem interessante que o Vodka Frog deixou para o cenário da
música independente de São Paulo, salvaguardando as proporções.
Nessa época também surgiu o “Frog Box”: era uma caixa verde, super legal, com nosso CD,
cópias de matérias que começávamos a soltar na imprensa, fotos, etc. Mandamos o “Frog
Box” para tudo quanto é lado. Eu virei até motoboy, de Uninho mesmo — fui de rádio em
rádio levando o “Frog Box”, ligando para ver se tinha chegado, convidando as secretárias,
estagiárias, porteiros, guardas-noturnos (e quem atendesse ao telefone) para nossos shows.
Uma dessas ligações retornou: no dia 12 de fevereiro de 2001 (por sinal meu aniversário), a
voz do Edgard (ex-VJ da MTV) anunciou “Alguma Vez” na 89 FM! Ouvir nossa música
rolando no rádio foi algo indescritível. Um presente de aniversário. Uma dádiva. Lembrome de ter pulado com os caras, gritando, e depois sentei sozinho, chorando de alegria.
A segunda grande casa que nos recebeu (e mudaria nosso destino) foi o Na Mata. Num dia
qualquer outro grande amigo meu, Ximas, me liga no meio da noite, desesperado: “Dreas,
você tem que vir aqui, puta que pariu, cara”. Demorou pra entender o que ela queria dizer,
mas enfim ele me contou que havia descoberto uma balada onde o palco era verde e em
forma de sapo! Eu fui na mesma hora encontrá-lo, e era verdade. Só então percebi que lá
era o extinto “Popular”, uma casa onde, quatro anos atrás, eu havia ido para assistir um
show de uma banda e ficado encantado com o lugar. Lembro-me de ter pensado “um dia
vou tocar aqui”.
Comecei a ligar para o dono, para tentar uma reunião, mas a casa era disputadíssima.
Quando ele finalmente agendou, fizemos uma apresentação toda elaborada em PowerPoint,
e lá fomos, eternos empresários/músicos, artistas/empreendedores, tentar vender um sonho.
Coincidentemente o Cliff, um dos donos da casa com quem falamos, amava Gin Blossoms,
o que facilitou muito o processo. Ele nos deu uma única noite de teste: oito de agosto de
2001. Queríamos também comemorar os cinco anos de banda (considerando a primeira
composição minha e do Peu, em 96), então tudo parecia fazer mais sentido.
Todo mundo ajudava com alguma coisa: o Teteu era o mestre da sala de estar, sabia receber
as pessoas como ninguém, conversava com todo mundo e sabia o nome de todo mundo. O
Dani e o Peu tinham mãos muito hábeis para o design. O Peu desenhou o logo da banda e o
Dani fez sites, convites, flyers e tudo mais. Inclusive o convite dessa dita “festa de cinco
anos da banda”. O Tiaguinho, bem, ele era a simpatia em pessoa. Ficava sorrindo no palco
e todo mundo achava o máximo. E eu, sei lá, acho que era o senhor dos pepinos. Um dia
antes do show lá estávamos nós, empolgados, todo mundo comemorando, e quem liga para
mim? O dono do Na Mata, extremamente nervoso, gritando “como é possível que vocês
toquem duas horas”, “uma banda desconhecida”, “tocar músicas próprias? Só uma e olha
lá”. Pior ainda: o Na Mata não costumava chamar bandas de rock, e era natural que eles
ficassem preocupados. Conversei com ele, procurando acalmá-lo, mas acho que não
precisava. A noite acabou falando por si mesma: batemos o recorde de público da casa, só
com amigos nossos, e amigos de nossos amigos. O show foi muito legal. 2001 era o ano do
Vodka.
Ficaríamos no Na Mata até a minha despedida da banda, em novembro de 2004. Nesse
tempo todo fizemos os shows que considero até hoje os mais legais do período do Vodka.
Já em 2002, o Teteu e eu tínhamos virado uma bela dupla de empresários: a gente ia de
terno e gravata, notebook e um discurso afinado pra tentar convencer gravadoras a nos
contratarem. Mandávamos milhões de emails. Um dia me ligaram da Sony, retornando um
email que eu havia enviado ao presidente. O cara era o Diretor Artístico de lá e
simplesmente tinha adorado o conceito por trás da nossa banda, embora não tivesse ainda
ouvido nosso som (e a gente sabe que nesse meio a música nem sempre vem em primeiro
lugar, né?). “Vodka Frog, que nome maluco, meu velho!”. Nunca esqueço essa frase.
Fiquei pasmo, a Sony tinha ligado pra gente! Conseguimos, até hoje não sei como, agendar
uma reunião com ele, e mostramos nosso som. A coisa toda com a Sony evoluiu e quando
estávamos para fazer a reunião final, no Rio, tivemos que desistir, porque outro empresário
extramente famoso, conhecido por descobrir bandas de pagode — com quem tínhamos
feito uma demo no mesmo ano, muito a contragosto meu (ele queria que a gente fosse uma
banda só de violões e tocasse na Rádio Cidade) — falou que queria assinar com a gente e a
banda, não muito segura, acabou indo com ele. Foi muito triste. Óbvio que ficamos na
geladeira, o tal empresário sumiu com as fitas e perdemos a Sony para sempre.
Ao mesmo tempo, eu tinha conseguido o email de um tal de Ktenas, Vice-presidente de
Marketing da Abril Music e mandei uma mensagem pra ele (tenho o email até hoje).
Depois ele me contou que tinha intenção de assinar com a gente, mas a gravadora acabou
fechando. Claro, é a história da minha vida. O que é pra ser é pra ser.
Eu fiquei muito abalado com todo esse processo e cheguei até a pensar em desistir. Mas a
energia dos shows era muito forte, as pessoas pareciam gostar, não tinha como algo tão
verdadeiro assim não dar certo. A gente estava se consolidando como banda fixa no Na
Mata e mais e mais casas estavam nos procurando. Acabamos abrindo as portas para noites
dedicadas ao rock no Na Mata, coisa que nunca acontecera antes. O público aumentava,
todo mundo comentava.
Então pensei que poderíamos seguir nosso caminho sozinhos mesmo, que talvez as
gravadoras não fossem a única alternativa. Quem me dera eu tivesse chegado a essa
conclusão antes.
Conversei com o pessoal sobre tentarmos gravar nosso disco mais decentemente. Até então
a gente só tinha o EP “Rádio Não Tem O Que Tocar”, que tinha sido gravado em 2000, e já
estávamos em meados de 2002. A banda tinha evoluído um pouco. O Gabes voltou a
interceder e indicou um primo seu, Cláudio Baeta (baterista do Leonardo), um cara
totalmente do bem que tinha acabado de montar um estúdio em São Bernardo. Fomos o
Gabes e eu lá fazer uma reunião e eu fiquei encantando com o estúdio, altamente
profissional. O único problema é que era profissional demais para o Vodka! Tanto em valor
quanto em relação a nossas pretensões no momento. Tive que montar uma “mentirinha” pra
convencer o pessoal a ir lá, dizendo que somente faríamos uma demo e nada mais. Pôxa, já
tínhamos tomado tantas portadas, era natural que ninguém tivesse mais fôlego para fazer
grandes malabarismos.
Seja como for, o pessoal foi lá e adorou a energia do lugar, acabaram entrando de cabeça no
projeto. A gente já fazia muitos shows então era possível financiar tudo isso com dinheiro
exclusivamente de cachês. Entre os meses de abril e julho de 2002 gravamos a versão
oficial de “O Rádio Não Tem O Que Tocar”, com 12 músicas. O tal do disco com a capa
verde. Este foi um período muito legal da minha vida. Eu saía do trabalho em Perdizes às
20h, cruzava a cidade até São Bernardo, gravava até às 3h da manhã, voltava pra SP e ia
dormir às 5hs, pra acordar às 7h e começar tudo de novo.
Conseguimos também recuperar as fitas demo que havíamos gravado com o empresário de
pagode e decidimos inserir no disco, sob autorização dele (ele já havia encontrado outra
banda, pelo jeito não precisava mais de nós).
Nosso projeto foi ficando tão legal que merecia uma celebração à altura. Uma vez mais
aquele impulso maluco tomou conta de mim e achei que a gente podia fazer um lançamento
no Tom Brasil. Na verdade eu fiz uma conta besta: se a gente fazia dois shows por semana
e em cada show iam 200 pessoas diferentes, bastava juntar essas pessoas todas num só
lugar, que a gente conseguiria encarar o Tombra. O pessoal da banda sempre me achou
meio maluco mesmo então resolveram topar.
Mobilizamos o mundo e um pouco mais para esse lançamento, que ocorreu em 19 de
setembro de 2002. Convidamos bandas amigas para abrir o show (com a gente eram quatro
no total), distribuímos flyers pessoalmente em tudo quanto era faculdade e bar, ligamos
para tias-avós, vendemos camarotes, fizemos promoções, distribuímos convites de graça
em agências de modelos. E enfim levamos 1400 pessoas ao Tom Brasil. Um feito inédito
para uma banda independente.
Para mim, foi o ápice, a celebração daquela trajetória. Só depois eu iria perceber que o
Vodka tinha dado certo sim. E era ali, naquele dia. Não seria — nem precisaria ser — mais
do que isso.
Meu pai veio da Argentina com meu irmão, minha mãe de Bebedouro com minhas irmãs,
todos meus amigos estavam lá, pôxa vida. Ver 1400 pessoas gritando, dançando e cantando
as letras que você, timidamente, faz no silêncio do seu violão, num canto qualquer da sua
casa, é algo inexplicável. “Hoje acordei pensando em você...”. É, acho que sempre pensarei
nesse dia. Fiquei sem palavras. E sem joelho também: três dias antes do show rompi
ligamento jogando futebol. Claro, sempre comigo. O médico falou pra eu não me mexer
muito, mas isso não me impediu de pular como nunca, mesmo com o joelho latejando.
Tem dores que não chegam à alma.
O fim e o começo (2002-2004)
O Vodka era uma reunião de amigos. Nunca teve a pretensão de ser mais do que isso, e
acho que nem tinha porque ser. Funcionou quando a gente funcionou como amigos, quando
as pessoas que iam nos ver eram nossos amigos. E deixou de funcionar quando a amizade
ficou relegada a um segundo plano, devido a outros interesses.
É difícil falar do fim de um relacionamento sem decorrer sobre mágoas, culpas e tudo mais.
Mas não é isso que importa. De 1996 a 2004 foram nove anos. Com bons e maus momentos,
claro, mas é toda uma história. Merece respeito. Acho que, aquém das diferenças pessoais,
o que pesou mesmo foi o ritmo de cada um de nós — mais especificamente o deles e o meu.
Engraçado que estou já falando do fim antes mesmo de contar que depois do Tom Brasil
assinamos com o empresário do Capital Inicial e com o selo do Ktenas, gravamos o CD
“Num Cinema Perto de Você” (2004) produzido pelo experiente Kiko Zambianchi, vimos
nosso clipe “15 minutos” rolar na MTV e até abrimos para o Capital em alguns shows
legais. Tínhamos assessoria de imprensa, empresário, selo, clipe. Enfim, tudo o que
aparentemente tínhamos sonhado.
Mas meu sonho era outro. Eu não queria estourar por estourar. Eu só queria tocar as minhas
músicas. E é por isso que eu falo do fim antes disso tudo. Justamente porque, para mim, o
Vodka acabou naquele dia, naquele Tom Brasil. Esse foi o fim. Porque era isso que o
Vodka tinha que ser.
E como falei acho que o que mais contribuiu para isso foi o ritmo de cada um. Quando o
ano de 2003 começou, vínhamos fazendo o mesmo som há muito tempo, sempre as
mesmas músicas. Até as pessoas já estavam cansadas de ir a nossos shows. O público
começou a diminuir. Fizemos o Tom Brasil de novo mais duas vezes, em 2003 e depois em
2004, e cada vez o público foi menor.
Mais do que o fator externo, era o interno que me incomodava: eu não conseguia expressar
no Vodka tudo o que eu queria artisticamente. Minhas músicas não cabiam mais lá. Eu
estava vivendo uma série de mudanças pessoais — nesse ano encontrei a Dani, a mulher da
minha vida, e me casei; no ano seguinte tive minha filhinha Sofi — e precisava dar voz a
tudo isso. Precisava seguir em frente, acolher um incontido grito interno, que almeja
explodir, como se pudesse assim libertar a arte. E era muito triste para mim encontrar o
pessoal e dizer “galera, olha só a música que eu fiz” e ver eles torcerem o nariz “lá vem o
André com mais uma música nova”. Era muito triste ver uma banda que já estava
consolidada, escondida sob a égide de um sucesso efêmero, fazendo covers, em vez de
investir em nosso som próprio.
O mais engraçado é que ninguém é culpado por isso! Hoje entendo que cada um tem seu
jeito, seu tempo com as coisas. Eu queria compor, gravar, tocar, ensaiar e voltar a fazer
tudo o que eu fazia com os meus amigos em Bebedouro, quando a gente não era ninguém,
somente amava a música pela música. Pra piorar, eu também queria cantar mais, desde
sempre, mas nem todos aceitavam isso na banda, e quando nossos empresários
recomendaram a mesma coisa, acabou ficando uma situação insustentável. É claro que
havia competição, brigas, intrigas e uma série de coisas naturais a qualquer banda. Elas
simplesmente vieram à tona num mesmo instante, o que piorou tudo.
Eu levei até onde pude. Consegui inserir três músicas novas no “Cinema”, praticamente
forçando a barra com a banda, mas eu já tinha muito mais músicas compostas, dava pra
fazer o disco inteiro só de músicas novas! Não precisava regravar “O Rádio Não Tem O
Que Tocar” pela terceira vez (quarta, se considerar a primeira demo). Pôxa, em nove anos
de banda a gente produziu um único disco — ou o mesmo disco três vezes. A verdade é que
me sentia cada vez mais sufocado. Minha produção artística limitava-se a eles quererem ou
não dar voz a ela e realmente isto é uma situação que não funciona pra ninguém. Em
novembro de 2004, esgotado e desiludido, eu saí do Vodka Frog.
Folk e MPB juntos em carreira solo (2003-2005)
Os anos que se seguiram a minha saída do Vodka (e logo antes dela) foram provavelmente
os mais férteis da minha vida, musicalmente. Fiz mais de 60 músicas, de todos os estilos.
Gravei três discos e hoje já estou começando o quarto, isso num intervalo de quatro anos.
Acho que a razão é que compor, para mim, nunca foi uma tarefa árdua, difícil, que
demandasse inspiração divina. Pelo contrário, era bem prático mesmo, como o próprio
significado que a palavra assume: compor é juntar, fazer uma composição de coisas, fatos,
histórias. Pronto. De repente elas ganhavam vida, na forma de música. Não precisava estar
apaixonado, ter sofrido algo fora do comum. Eu simplesmente escrevia algo que me tocava,
e que eventualmente pudesse tocar também uma outra pessoa. Que pudesse fazer algum
sentido. Não precisava ser verdade, tampouco fantasia, quem sabe uma mistura dos dois.
Tem outra: com o tempo a gente aprende que é besteira ficar tentando compor um hit. Não
cabe a nós essa definição. Cabe, sim, ser fiel à nossa essência, e era nesse ponto que eu me
encontrava. Então não havia nada que me impedisse de compor mais.
Fui, por assim dizer, colecionando temas e canções que marcaram muito esse período.
Além do mais eu vivia um intenso relacionamento com minha mulher, que naturalmente foi
se transformando em música. Em 2003, antes de sair do Vodka, gravei um disco acústico
com oito músicas, que dei de presente para ela, em seu aniversário. O disco tinha a música
“Seu Motivo”, que certamente foi um dos meus momentos mais inspirados. Um dia
coloquei a “Seu Motivo” na Internet para um amigo ouvir, por alguns minutos, e meses
depois descobri que um monte de gente a baixou e inclusive é música-tema de seus
relacionamentos (assim como o é do meu com a Dani!). Outro dia, por sinal, me ligou um
artista famoso pedindo autorização para gravá-la.
Não dá para deixar de ficar extasiado com uma coisa dessas. De novo, você faz uma música
sozinho no seu violão, que tem um significado único para você e de repente, sem mais nem
menos, essa música passa a significar algo para outra pessoa, que você nem conhece. O
poder da música é extraordinário. Atinge pessoas em tempos distantes, em outras cidades,
mundos e situações. Graças a essa música em especial eu pude ficar para sempre com a
Dani. Graças a ela muita gente se apaixonou também, pelo que me contaram. Para mim,
isso só pode ser uma expressão de Deus, que generosamente despeja um pouco de Seu
amor através de uma simples melodia.
Para esse disco acústico, que considero minha primeira incursão “solo”, chamei o eterno
Tamburello para fazer a percussão. Êta cara que não me abandona. Foi um fim de semana
bem divertido. Eu comprei várias cervejas pra gente se animar, o coitado esperou eu gravar
minhas partes por tanto tempo que em determinado momento ele dormiu no chão do
estúdio. Breusco.
Fiquei feliz também porque finalmente estava podendo registrar decentemente as músicas
que vinha fazendo. Eu não parava de compor, e no Vodka não vislumbrava possibilidade
alguma de gravar algo novo. Também tinha menos e menos tempo para a música, afinal
minha carreira como consultor estava deslanchando, eu era marido e pai, tocava no Vodka,
coordenava uma revista de artes, dava aulas em uma faculdade e produzia eventos culturais,
tudo ao mesmo tempo. Realmente não dá pra fazer tudo bem. E o Vodka foi a primeira
coisa que eu resolvi deixar de lado.
Nessa época, eu estava explorando novos sons, novas texturas, muito influenciado pelo
violão folk de caras como Edwin McCain (quem eu admiro profundamente), Pat McGee,
John Mayer, Ben Harper — isso sem mencionar The Boss Bruce Springsteen, uma das
maiores razões para eu amar a música como poesia. Também contava com a presença
reluzente da Dani na minha vida, que me convidava a conhecer um pouco mais de música
brasileira (a qual eu sempre fui um pouco avesso, não sei porquê). E tudo isso foi se
transformando em músicas mais elaboradas sob o ponto de vista harmônico e melódico.
Outra enorme influência para mim, desse período e para sempre, foi o Richie Kotzen, um
músico, cantor, compositor e guitarrista fenomenal, que consegue unir o soul e o folk com
pegadas mais fortes do rock de um jeito único.
Além disso, o Vodka nunca foi uma banda muito musical, no termo mais amplo que a
palavra assume. Não trabalhávamos harmonias diferentes, nem estruturas complexas de
tempo. Fazíamos um som bastante ingênuo: era intro, canto, refrão, solo e acabou. Saí de lá
com vontade de aprender a explorar a música de outras formas e fui procurar gente que, a
meu ver, entendia muito do assunto. Era uma época em que eu estava muito ligado também
a artistas como Nando Reis e Zélia Duncan, então fui atrás do Christiaan Oyens. Eu estava
em casa assistindo o DVD acústico do Lulu com a Dani e falei para ela, apontando um
carinha loiro tocando Weissenborn no canto do palco: “olha aí. É esse cara que vai produzir
meu disco!”.
Não deu outra. Coloquei minha experiência de ficar-correndo-atrás-de-tudo-que-nemmaluco em prática e duas semanas depois já estava em reunião com o Chris, discutindo a
possibilidade de fazer um disco. Assim nasceu o álbum “Em Qualquer Lugar”.
Um pouco antes de chegar até ele, em julho de 2004, eu fiz a pré-produção desse disco no
estúdio do meu amigo Gansinho, em Bebedouro (outro gente finíssima) e contei com o
incansável Fê para a batera. Fizemos seis músicas com uma sonoridade folk pra caramba.
Hoje me orgulho muito dessa pré-produção e com certeza vou retomá-la em breve. De
qualquer forma, quando mostrei o resultado para o Christiaan ele gostou bastante das
composições, mas resolveu levar a produção para outro caminho. Talvez sua visão e
experiência mercadológicas não concebessem um disco puramente folk rock fazendo
sucesso no Brasil, então ele deu uma cara mais MPB para meu trabalho — o que me levou
para um lado completamente desconhecido.
O processo de produção com ele foi uma escola para mim. Procurei virar uma esponja, para
sugar cada segundo de seus conhecimentos, sua sensibilidade musical, e sua candura como
pessoa. O Chris é um cara espetacular, super de bem. Eu ia pro Rio fazer as sessões de préprodução com ele (ele decidiu recomeçar o trabalho do zero) e me obrigava a compor mais
e mais. Eu adorava ter um cara me incentivando para fazer mais músicas, pois era
justamente o contrário do que havia vivido até então. Foi aí que eu fiz 60 músicas! Ele
falava “não, não essa não”. E aos poucos construímos juntos as músicas que acabariam por
entrar no disco. Como, de tão ansioso, eu pegava a primeira ponte pra chegar logo no Rio,
acabava chegando mais cedo. Então ele me convidava pra tomar café em seu apartamento.
Dessa forma pude conhecer sua linda família, seus filhos, e achei o máximo encontrar um
músico extremamente respeitado no mercado, e ao mesmo tempo tão simples, tão centrado:
os filhos indo pra escola, a esposa pro trabalho, vivendo como uma família comum.
Em janeiro de 2005 (eu tinha acabado de sair do Vodka) entramos em estúdio pra gravar
“Em Qualquer Lugar”. Convidei o Fê pra me acompanhar e saímos de SP, de carro, para
passar duas semanas no Rio, gravando num estúdio profissional. É com certeza um sonho
de qualquer músico. Foi uma viagem que eu nunca vou esquecer: como se o Fê e eu
voltássemos aos tempos da adolescência. Eu queria muito que ele tivesse gravado a batera
no disco, assim como eu queria ter gravado as bases das guitarras, mas o Christiaan optou
por usar músicos de estúdio e resolvi respeitá-lo. De novo, para mim era mais um curso de
produção do que qualquer coisa: eu precisava ver, ouvir, aprender.
O Christiaan me contou uma coisa muito legal sobre o mestre e o aprendiz (ele é um
praticante assíduo de Aikidô). O aprendiz foi até o mestre e pediu que ele o ensinasse.
Perguntou se tinham que fazer isso ou aquilo, de qual ponto ele achava melhor começar. O
mestre, calado, apenas servia o chá para seu aprendiz, quando este percebeu que o chá
estava transbordando, e gritou para o mestre. O mestre, imperturbável, tão-somente falou:
“você é como esta xícara de chá. Não conseguirei ensinar nada a você se antes você não
esvaziar o que você sabe”. Eu gostei tanto da analogia que fui para o Rio com minha xícara
completamente vazia.
O Chris juntou um time de músicos excepcionais para gravar meu disco. Era fantástico ver
o pessoal interpretando a intenção de minhas composições em seus instrumentos. O disco
foi gravado praticamente ao vivo, à exceção das minhas partes, óbvio. A gente deu muita
risada, mesmo. O Fê e eu ficamos num hotel meio mendigo nos primeiros dias, que ficava
ao lado do estúdio. Eu já tinha estourado completamente meu orçamento, (produzir com um
cara como Christiaan Oyens não tem como ser nem um pouco barato!) então essa era a
única opção de estadia viável. Na primeira noite, a gente chegou do estúdio e tinha uma
baratusca no banheiro. Ninguém teve coragem de matar, ela ficou lá. O Felipe e eu
simplesmente não dormimos! No dia seguinte peguei um hotel bem mais legal, e a gente
pelo menos conseguiu curtir o mar da Barra. Era o máximo ver a gente ali, na praia do
Pepê: dois paulistas branqueluscos, magrelarros, no meio dos cariocas saradões. Realmente
era uma vista e tanto.
Uma das coisas mais legais desse disco foi a versão de “Rasguña Las Piedras”, de um dos
maiores ídolos do Rock Argentino, Charly Garcia. Charly teve grande influência na música
argentina como um todo, e em Fito Paez um de seus grandes seguidores. O fato é que eu
sou louco pelo Fito Paez e queria de qualquer jeito fazer uma versão dele. O Christiaan
achou melhor não, mas tirou a “Rasguña” da cartola, o que para mim foi uma grande
alegria, pois colocou um pouco da minha infância no disco, e assim um pouco mais de
verdade, ainda que não seja o Fito. O mais legal da “Rasguña” foi que me abriu o caminho
para cantar mais em espanhol — mais de uma pessoa veio me dizer que minha voz soa
melhor em castelhano, e como eu falava em espanhol naturalmente, uma coisa acabaria
levando à outra no futuro próximo. Além disso, ao cantar em espanhol, era o mais perto do
Fito — e da Argentina — que eu poderia ficar, e isso por si só já era demais.
Penso também que, apesar de ter entrado em estúdio cinco vezes (entre LPs, EPs e demos)
antes do “Em Qualquer Lugar”, este sim foi a minha estréia. É isso mesmo: depois de quase
14 anos fazendo música e cinco discos gravados, eu finalmente considero que pude fazer
minha estréia “oficial”. Digo isso não em demérito aos outros discos, mas sim porque não
deixa de ser a primeira vez que assumi o vocal pra valer. Antes disso eu sempre fui um
guitarrista. E tem mais, foi a primeira vez que desenhei o disco do jeito que queria, num
formato mais profissional, com o produtor que eu queria.
Eu tinha acabado de fazer mil aulas de canto, num esforço tremendo para melhorar meus
vícios de rasgar tudo quanto é nota, e estava ainda conhecendo minha voz. Não me
surpreende que tenha cantado timidamente nesse disco. A voz tá lá, afinadinha, respiração
no lugar, etc. e tal. Tudo direitinho, como mandava o figurino. Mas o excesso de
preocupação com a técnica acabou limitando muito minha emoção. E sei lá, sempre achei
— e ainda acho — que o rock não só pressupõe, como exige uma certa dose de erro. Uma
certa dose de exagero, que chama mais à emoção do que à técnica. Além disso, a roupagem
MPB convida a uma suavidade que eu acho que eu não tenho de jeito nenhum. Eu sempre
tive uma voz mais grave, rouca, e não conseguia aveludá-la da forma que este disco
mereceria.
Lembro-me daquela série “Classic Albums” em que o produtor do Nirvana abre a sessão do
“Nevermind” e sola a voz do Kurt em um canal na “Smells Like Teen Spirit”. Nossa, dá pra
ver que o cara tá gritando a alma para fora. Qualquer professor de canto ia falar “isso não
pode, de jeito nenhum”. O próprio produtor conclui, estupefato: “isso aqui é emoção pura.
O grito do Kurt beira o desespero”. É esse desespero, essa emoção, esse caos que acho que
faltou na minha voz no disco “Em Qualquer Lugar”.
Embora algumas pessoas não concordem, tenho quase certeza que foi isso que fez com que
esse disco não acontecesse comercialmente. Os arranjos são lindos, as composições
também; foi a primeira vez que usei minha Telecaster reedição de 52, minha guitarra
preferida, plugada num Fender; e os solos têm uma sonoridade de matar: “Incompreensão”
até parece que foi tocada pelo Mark Knopfler. “Em Qualquer Lugar” parece Richie Kotzen,
um dos grandes responsáveis pelo meu atual estilo de tocar. As letras, então, eram de uma
profundidade considerável: um dia estava no Orkut e o Gansinho me contou que uma
conhecida sua de Uberlândia tinha colocado, na sua página principal, a letra inteira de “Um
Dia, Uma Vida”. De novo fiquei emocionado: uma música minha não só tinha tocado uma
pessoa qualquer, como assumido tamanha importância que ela considerava colocá-la na
página que descreve sua personalidade. Quer mais identificação do que isso?
De qualquer forma, considero “Em Qualquer Lugar” um puta disco, digno de quem o
produziu e fiel ao momento que eu vivia, buscando sonoridades mais tênues. Serviu
também como uma escada para que eu encarasse a produção do meu próximo disco, tendo
em vista o imensurável aprendizado que obtive só de olhar o Chris e sua equipe trabalhando.
Para divulgar “Em Qualquer Lugar”, montei a banda Bastidores. É claro que o Tamburello
assumiu a batera, sem nem pensar duas vezes. Consegui o baixista por indicação do estúdio
onde ensaiávamos, ele se chamava Qüem e era uma comédia ambulante.
Ensaiamos por algumas semanas sem um segundo guitarrista. Chegamos a fazer alguns
testes, mas nenhum parecia encaixar no perfil que a gente queria. Foi então que o Felipe
falou comigo sobre o Dersinho. O Dersinho tinha morado com ele e nesse tempo todo que
eu fiquei no Vodka eles dois rodaram a noite paulistana tocando em uma série de bares e
bandas legais. Eu achei ótima a sugestão, pois lembrei que o Dersinho era de Bebedouro e
no primeiro show da minha vida eu tinha dividido o palco com ele. Aliás, não só o palco!
Ele não quer que eu conte muito mais naquele dia em Bebedouro ele subiu no palco, viu
meu pedal e falou todo nervosão: “moleque, eu vou usar seu pedal”. E eu, coitado, tinha um
metro e meio, era super tímido. Lógico que emprestei meu pedal para ele. Mal sabia ele que
iria tocar novamente comigo tantos anos depois.
O mais curioso é o que o Dersinho é uma das pessoas mais carinhosas que eu conheço.
Hoje em dia ele não só é o grande guitar man dos Bastidores, como um de meus mais
queridos amigos, uma pessoa maravilhosa.
Com essa formação enfrentamos a turnê do disco “Em Qualquer Lugar” durante todo o ano
de 2005, tomando portadas de bares e casas noturnas, ouvindo não atrás de não, fazendo
shows vazios, ou por vezes só para os garçons. Se não fosse o meu amigo Gabes aceitar
pela milésima vez emprestar a data de seu aniversário para fazer um show de lançamento
dos Bastidores, nem lançamento a gente teria.
É, foi um ano muito difícil. Difícil recomeçar. Eu, que havia vivenciado um mundo de
plástico, de atenções, amigos e festas intermináveis, de repente me vi somente com os três
ou quatro verdadeiros amigos que sobraram e que ainda iam aos nossos shows. Mesmo
assim, e digo isso de todo coração, eu estava muito mais feliz tocando para três garçons do
que estava quando tocava para 500 pessoas nos shows do Vodka.
De volta às origens com os BASTIDORES: o rock como os bons tempos (2006-hoje)
Não é à toa que dizem que tudo volta para seu devido lugar. O surgimento dos Bastidores
foi para mim como um retorno a tudo o que era bom e verdadeiro: eu finalmente estava de
volta para casa. Bebedouro, Argentina, infância e juventude em São Paulo; tudo o que eu
havia vivido musicalmente até então finalmente se juntava em um mesmo universo.
No meio da “turnê” do disco “Em Qualquer Lugar”, nosso som foi se transformando. O que
era uma apresentação “solo” foi virando uma banda. Criamos uma identidade nova, ali
mesmo, no calor do palco, no suor dos ensaios, esculpida no prazer de tocar por tocar, na
música feita com gosto e liberdade. Aos poucos, também, a sonoridade foi ganhando o peso
que sempre foi característica da minha trajetória musical: seja pela bateria fulminante do
Tamburello, seja pelos acordes cheios da guitarra do Dersinho ou pela minha voz que
parecia ir se soltando mais e mais, gritando a emoção guardada por tantos anos. Estávamos
inaugurando um novo caminho.
E esse caminho é o caminho de volta, sim. Eu acho que, para mim, começou com meu
irmão, Rodrigo. Em todo esse tempo ele nunca deixou de me apoiar, de ir aos meus shows,
de ouvir minhas músicas e de opinar sobre meus trabalhos. Nunca deixou de arrastar seus
amigos para nos ver, carregar amplificadores para mim, por causa da minha coluna, ou se
fantasiar de segurança para dar realismo à interpretação que a gente queria fazer, fingindonos de banda famosa quando na verdade não tinha ninguém para nos assistir. Isso sem falar
nas não poucas vezes que de verdade foi meu segurança, me livrando de caras que queriam
me pegar sabe-se lá por quê. Mesmo quando se mudou para a Argentina, continuamos
intercambiando conversas sobre música, bons tempos, saudade sem fim. Pôxa vida, o
Rodrigo foi meu irmão de toda a vida: era o cara do Mader Mader. Era o baixista do
Grapevine. Era o ombro amigo que me segurou por tantos anos, mesmo quando eu achava
que não precisava dele. Ele sempre esteve lá.
Era de se esperar que fosse ele o primeiro a falar para eu deixar meu som mais “pesado”.
Eu mandava minhas músicas novas para ele e ele logo dizia “é lenta?”. “Faz música
rápida!”. E aos poucos eu fui voltando para meus tempos de criança e adolescente, de rock
n’ roll e Kiss voando pelo palco. “Pros tempos em que o mundo não existe”.
O caminho de volta passou também pelo meu pai, que me contou sobre como as músicas do
Creedence levavam as pessoas ao êxtase no fim dos anos 60, puramente por convidá-las a
dançar devido a sua levada irresistível. Ninguém entendia a letra, ninguém sabia o que eles
estavam falando, mas todo mundo cantava. E lá fui eu fazer músicas com letras que não
diziam nada sobe nada, a não ser pela melodia convidativa. Meu pai, que já uma vez me
sinalizara a importância que a música teria na minha vida, agora voltava a dar sinais para
onde eu deveria ir.
Passou pela minha mãe, sem dúvida, que ouvia paciente e incansavelmente minhas novas
músicas, sempre gostando, sempre sorrindo, sempre achando o máximo. Me trouxe de volta
simplesmente por ser ela, mãe, e fã incondicional. E é claro que passou também pelas
minhas irmãs, Dri e Baby, divertindo-se com as incursões do irmão no mundo da música e
sempre tendo que inventar desculpas para levar mais e mais amigas para os shows. Vai
agüentar um irmão assim, hein!
O caminho de volta passou, e sempre, pela minha amada esposa, Dani. Foi ela quem pregou
quadros com fotos da banda na nossa sala de estar, não só convidando a música a fazer
parte da nossa casa, mas da nossa vida. Ela, minha inspiração, meu amor, foi quem ouviu
músicas e mais músicas serem construídas do nada, por horas e horas, do quarto ao lado, ou
no mesmo quarto. Foi quem abriu mão de mim por muitos momentos. Foi quem seduziu
minhas histórias e encantou minha vida, me dando a Sofia, nossa filhinha. A Sofi, por quem
o caminho de volta também passou. No milagre de ser pai, de aceitar a missão de conduzila na Terra em direção ao destino que o Senhor Nosso Deus determinar. Até com a música
minha Sofi foi generosa, escolhendo desde seus dois aninhos “I’m Going Down” do Bruce
Springsteen como sua preferida.
Não preciso nem dizer que o caminho de volta passou pelo Felipe, quem no meu
aniversário de 2005 convenientemente me deu um livro de presente: a biografia autorizada
do Kiss. Li e reli o livro inúmeras vezes, revivendo todas as histórias que já sabia de cor e
recuperando em mim o amor pela banda que cospe fogo. Depois ele me disse que
certamente tinha segundas intenções com esse livro: ninguém mais do que o Fê ama um
som bem pesado.
Ah, o caminho de volta passou pelo grande Dersinho, querido amigo. Ensaio após ensaio
ele e eu, os dois tiozões dos Bastidores, ficávamos conversando por horas sobre bandas e
mais bandas. A gente ia comer hambúrguer no Burdog ou no Hobbys como desculpa para
falar de Bad Company, Led Zeppelin, Free, Thin Lizzy, Humble Pie, Moot The Hoople, T.
Rex e outros tantos. Mais vintage impossível, o Dersinho reascendeu os anos 70 em mim.
Ou aquela época em que eu ficava encostado na mureta da chopperia de Bebedouro com
boné e camiseta de banda, sonhando: o mais engraçado é que o Dersinho é uma das poucas
pessoas que conseguem falar mais do que eu. Então eu fico lá, ouvindo, curtindo. Ele tem
umas mil histórias de bandas que eu não conheço e para mim é um aprendizado cada vez
que a gente senta pra trocar figurinhas. Não me surpreenderia se um dia ele aparecesse, de
verdade, com o álbum Rock Stamp pra gente olhar e dar risada.
É, o caminho de volta passa por lugares onde a gente não imagina. E começa quando a
gente nem percebe. Antes mesmo de sair do Vodka eu já tinha montado outra banda com o
Fê só pra gente se divertir, sem pretensões. Por um tempo se chamou Banana Pop Star,
depois Starvin Marvin. A gente só queria ensaiar. Tanto que a gente ia no estúdio, só ele e
eu, e ficávamos tocando músicas novas e velhas, rindo, como os tempos de criança.
Fizemos um show, no chá-bar do meu casamento. Muito louco. Tocamos algumas músicas
que a gente tinha feito juntos, como “Alguém Como Você”, um rock totalmente pra cima,
juntamente com covers que pudessem ser um pouco mais condizentes com um chá-bar (se é
que Rock n’ Roll Radio do Ramones e Paradise City do Guns se encaixam neste perfil). O
mais legal era que com o Fê não tinha tempo ruim: eu mal mostrava uma música, ele dizia
“vamos ensaiar agora” e imediatamente imaginava a linha da bateria. Bastava dizer “vamos
gravar, Fê?” e lá estava ele gravando, no dia seguinte. Sem se quer ter ouvido a música.
Passávamos vários finais de semana na minha casa, em 2003, compondo juntos,
relembrando os bons tempos, e fazendo planos para ter uma banda séria, mas o Vodka me
impedia de qualquer dedicação à outra atividade relacionada à música: de alguma maneira
eu ainda estava preso a ele. E querendo ou não tinha alguma coisa para aprender lá. O Fê
também tinha tocado no lugar do Teteu em algumas ocasiões, no próprio Vodka, o que
serviu para me reconectar ainda mais com ele, do ponto de vista musical. Tocou inclusive
em shows grandes, onde, mesmo sem ensaio, ele foi lá e destruiu na bateria. A gente
parecia se comunicar só com o olhar, eu levantava a guitarra, ele virava; ele acenava com a
baqueta no contratempo e eu segurava um acorde cheio para entrar cadenciado com ele.
Isso sem se quer ter ensaiado uma vez. Os shows do Felipe com o Vodka serviram também
para o pessoal conhecer e se impressionar com sua performance na batera: era algo
realmente sensacional.
Desde aquele tempo, o caminho de volta sempre esteve lá. Bastava eu enxergar. Era o
caminho que me conduziria aos tempos de fantasia do Gene Simmons no jardim da infância,
de peças de teatro vaiadas na Argentina; de ensaios com o Du Bret Michaels em
Bebedouro; de filmes e lutas e uma vida inteira na casa do Cafu; de foras imponderáveis na
adolescência; de percorrer a Inglaterra, a medicina e Califórnia atrás do meu lugar; de
aventuras e desventuras como empresário, consultor, empreendedor, coordenador de revista,
produtor de eventos e professor de faculdade. Me conduziria também aos bons tempos da
energia irreverente do Grapevine; dos shows entre incontáveis amigos do Vodka; do Gabes
e os caminhos que nunca terminam; do Ximas e os palcos em forma de sapo; do Marssa e a
vitória sobre a razão.
O caminho de volta para os Bastidores nos levou a gravar mais um disco, “Discos De Vinil
e Fitas”, em janeiro de 2008. No último minuto a gente contou com a entrada do grande
Marcelo no baixo, que infelizmente acabou saindo logo antes do lançamento. Gravado parte
em Bebedouro, com o Gansinho pilotando as máquinas, e parte em São Paulo, no meu
estúdio “Cachorro Latindo” (em homenagem a meu cachorro Toad), o disco marcou nosso
retorno a tudo que era bom. Era nossa estréia como banda. Tinha músicas de rock n’ roll,
pra ficar à vontade, para viver à vontade. Gansinho e eu assinamos a produção. Ele com um
lado mais técnico, até mesmo tecnológico: ninguém conhece de música e tecnologia como
esse menino. Eu com um lado mais artístico, de arranjos e instrumentação. Tínhamos uma
linguagem muito complementar.
“Discos De Vinil E Fitas” foi composto de maneira muita rápida. A idéia de entrar em
estúdio antes mesmo de completar um ano do lançamento do “Em Qualquer Lugar” era
permitir o registro apropriado para aquela mudança que estava acontecendo ali mesmo nos
nossos olhos; aquela química que fez com que Bastidores virasse Bastidores. E ponto.
Já estávamos tocando “Alma Coletiva” desde o início de 2007 (música que me levou 20
minutos pra fazer, se tanto) e ela parecia funcionar ao vivo como nenhuma outra. Aos
poucos saíram “Alguma Impressão”, “Resistencia” e outras da mesma índole, músicas
pelas quais hoje tenho grande admiração.
A mais legal de fazer foi “Colecionando Finais”. Um dia antes de entrar em estúdio pra
gravar a batera (e não há exagero neste comentário) eu estava no “Cachorro Latindo” e
sentia que faltava um toque mais forte para o disco. Fiz o riff e a harmonia na mesma hora,
gravei direto no Protools enquanto compunha, inclusive já concebendo aquela parte que
considero um dos melhores momentos nossos como banda: a convenção antes do solo.
Ninguém nem tinha ensaiado, nem conhecia a música, mas para mim ela estava pronta: foi
feita para o Bastidores. Cheguei ao estúdio no dia seguinte com as guias gravadas de todas
as músicas, incluindo “Finais”; o Felipe achou que eu estava louco de querer gravar uma
música que ele nem tinha ouvido, mas eu tinha certeza que ia dar certo, que ele ia conseguir.
O Felipe entrou lá, mandando ver na batera, e em 3 takes matou sua parte. Para mim é, com
certeza, uma de nossas melhores músicas e a que invariavelmente usamos para fechar o set.
“Discos De Vinil E Fitas” também contou com um mestre nos teclados, Roller Coaster, um
amigo nosso de Bebedouro que mandou ver no piano e no hammond-B3. Gostamos tanto
que estamos esperando ele mudar pra Sampa pra fazer parte da banda em definitivo.
Graças ao disco pudemos também conhecer o Brendan Duffey e a equipe do Norcal, que
nos acolheu em uma mixagem de fazer escola. Graças ao disco foi possível contar com a
Ana Paula e a equipe de assessoria da Perfexx, com um trabalho altamente profissional.
Graças ao disco conseguimos sobreviver na busca pela música como meio de vida, e não
emprego.
Não sei dizer quantos discos mais vou fazer. Não sei até quando Deus seguirá iluminando
meus passos em direção à arte. Só sei que o caminho até aqui tem me possibilitado tamanho
aprendizado, que sinto como uma obrigação em dividir isso com o mundo. Sinto que, por
onde eu for, terei algo para contar.
Para muita gente, esta história não vai fazer sentido nenhum. A maioria não vai nem ler. Eu
sei disso, mas não importa. Tenho certeza que uma ou outra pessoa vai se reconhecer aqui.
Tenho certeza que alguém vai ler e falar “eu passei por isso”. Contanto que saibam que
cada segundo que estive ao lado delas não foi em vão, este texto terá cumprido seu papel.
E é por isto que esta não é minha biografia. De verdade. Falei isso no começo e volto a
falar agora. Esta história é sobre vocês, de vocês e para vocês. A todas essas pessoas
queridas, meu mais profundo carinho, agradecimento e admiração, por tanto batalharem
para permitir que um carinha qualquer, como eu, faça da música, da arte e do rock n’ roll,
não só uma história, não só uma vida. Mas uma celebração.
A vocês, com todo meu amor.
André Galiano.