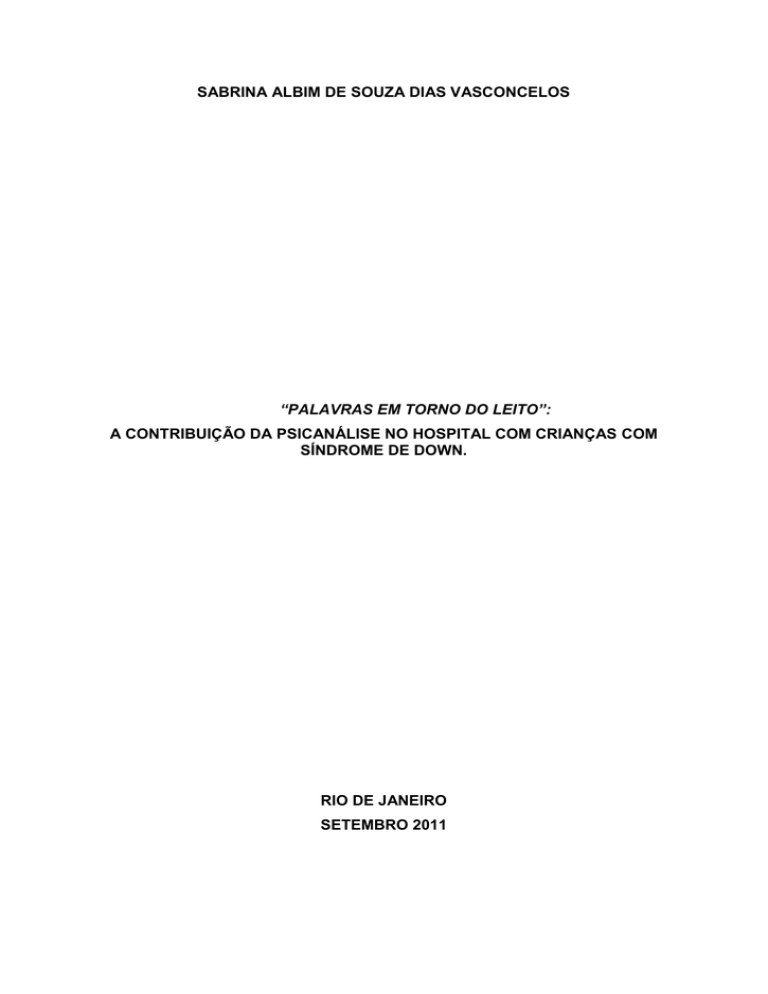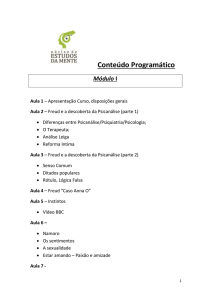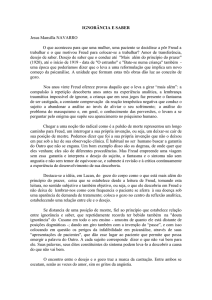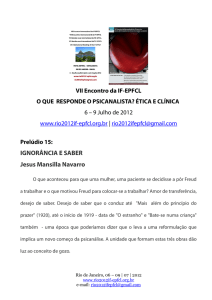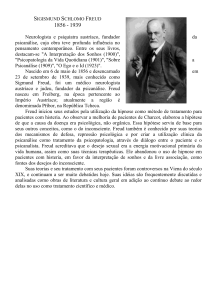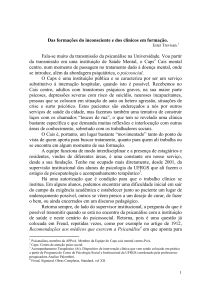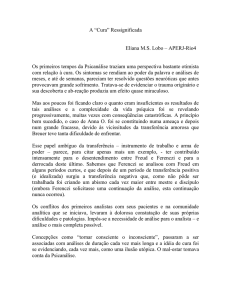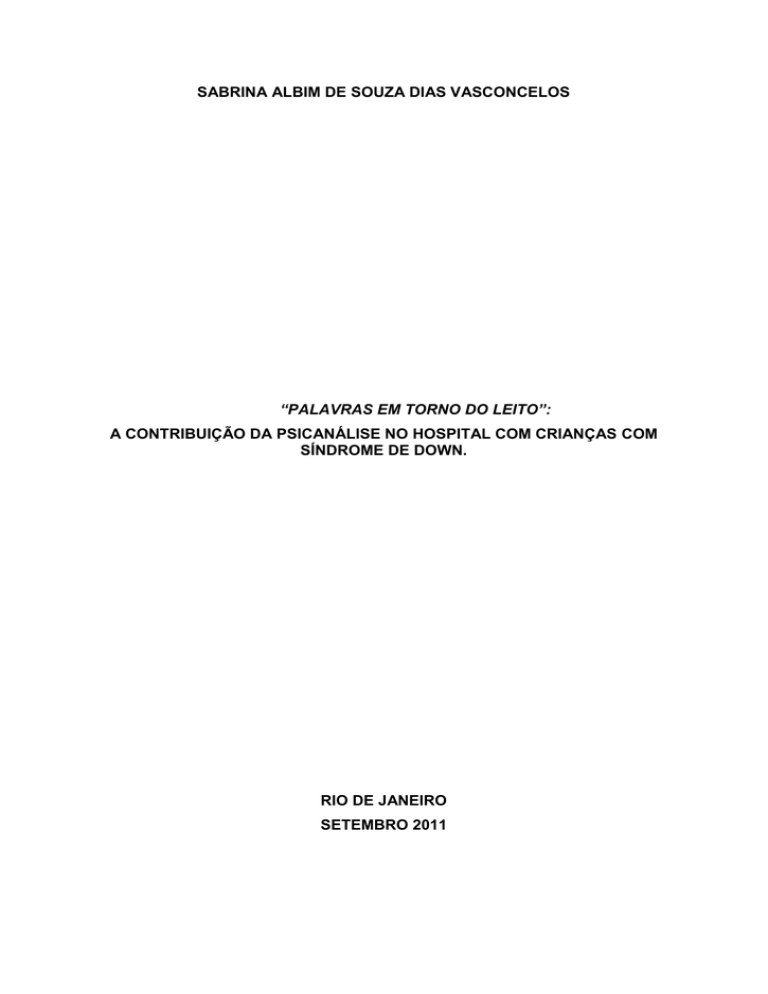
SABRINA ALBIM DE SOUZA DIAS VASCONCELOS
“PALAVRAS EM TORNO DO LEITO”:
A CONTRIBUIÇÃO DA PSICANÁLISE NO HOSPITAL COM CRIANÇAS COM
SÍNDROME DE DOWN.
RIO DE JANEIRO
SETEMBRO 2011
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
SABRINA ALBIM DE SOUZA DIAS VASCONCELOS
“PALAVRAS EM TORNO DO LEITO”:
A CONTRIBUIÇÃO DA PSICANÁLISE NO HOSPITAL COM CRIANÇAS COM
SÍNDROME DE DOWN.
Dissertação apresentada no Programa de
Pós Graduação: Mestrado Profissional em
Psicanálise,
Saúde
e
Sociedade
da
Universidade Veiga de Almeida.
Orientadora: Professora Drª Maria Cristina Candal Poli
RIO DE JANEIRO
SETEMBRO 2011
V331
Vasconcelos, Sabrina Albim de Souza Dias
Palavras em torno do leito: a contribuição da psicanálise no
hospital com crianças com Sindrome Down / Sabrina Albim de
Souza Dias, 2011.
75p. ; 10cm.
Dissertação (Mestrado em Psicanalise, Saúde e Sociedade) -Universidade Veiga de Almeida, Rio de Janeiro, 2011.
Orientador: Profa. Dra Maria Cristina Poli
1- Psicanálise 2 – Sindrome de Down I- Poli, Maria Cristina
II – Universidade Veiga de Almeida III - Titulo
CDD 616.858842
Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Setorial da Tijuca/UVA
SABRINA ALBIM DE SOUZA DIAS VASCONCELOS
“PALAVRAS EM TORNO DO LEITO”:
A CONTRIBUIÇÃO DA PSICANÁLISE NO HOSPITAL COM CRIANÇAS COM
SÍNDROME DE DOWN.
Aprovada em: 12 de Setembro de 2011, Rio de Janeiro.
BANCA EXAMINADORA
________________________________________
Professora Dra. Maria Cristina Poli – Orientadora
Doutorado em Psicologia pela Université de Paris 13 - Paris-Nord. Pós-doutorado em
Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Professora do Mestrado em Psicanálise, Saúde e Sociedade – UVA
_____________________________________________
Professora Dra. Fátima Cavalcante
Doutora e Pós-doutora em Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ)
Professora do Mestrado em Psicanálise, Saúde e Sociedade – UVA
________________________________________________
Professora Dra. Marisa Decat
Doutorado em Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ e
Mestrado em Psychologie Psychopathologie Subjectivité Langage pela
Université Louis Pasteur - ULP, Strasbourg, França.
Coordenadora e Professora da Pós-graduação em Psicologia Hospitalar - FUMEC
A todas as pessoas especiais que
me inspiraram a desenvolver este
trabalho.
AGRADECIMENTOS
À minha querida orientadora, Cristina Poli, pelo vasto conhecimento
ensinado e pela admirável serenidade transmitida neste momento de tanta
ansiedade.
À professora Fátima Cavalcanti por reforçar para mim, de um modo
muito precioso, que, realmente, as pessoas com Síndrome de Down são
―Pessoas Muito Especiais‖.
À professora Marisa Decat, meu eterno agradecimento pelo carinho em
aceitar meu convite. Admiro-a e sigo seus passos profissionais desde a
Graduação, Pós-graduação e, hoje, no Mestrado, é uma honra escutá-la. Tudo
o que aprendi sobre Psicanálise no Hospital devo a ela – um tesouro de
conhecimento e sabedoria.
À minha amada mãe, pelo exemplo, pela paciência e dedicação para
corrigir meus erros cometidos na vida e na escrita. Minha mestra em Letras é
responsável pelo toque especial do Português neste trabalho.
Aos três homens da minha vida: meu marido, meu pai e meu irmão, pelo
humor cômico necessário para suavizar as cobranças da vida.
À admirada vovó Ailza, por existir!
Às novas amigas do Mestrado com quem partilhei novas conquistas e
angústias neste trajeto das nossas vidas.
Aos hospitais que acreditaram no meu Projeto e o abraçaram.
“O mundo não fala. Sou eu que
dou a ele a minha palavra; sou eu
que digo o que as coisas são.”
Tezza, 2007.
RESUMO
A presente dissertação desenvolve uma reflexão sobre a contribuição da
psicanálise no hospital com crianças com Síndrome de Down internadas, para
assim podermos pensar o que ‗faz‘ um analista quando conduz uma escuta
analítica para-além das quatro paredes do consultório. O texto terá como base,
noções e conceitos fundamentais da psicanálise: transferência, inconsciente e
linguagem e, para isso, lançaremos mão de Lacan nos textos ―A instância da
letra no inconsciente ou a razão desde Freud‖ e ―Os quatro conceitos a
Psicanálise‖. Apreendendo estes conceitos, vamos percorrer também na leitura
de Freud nos textos ―Projeto para uma psicologia científica‖ e ―Psicologia das
massas e análise do eu‖ para compreendermos a constituição social do sujeito
da psicanálise. E por fim, relatamos a história de três pais que compartilham
conosco as aleluias e as agonias do nascimento de um filho com a Síndrome.
Dessa forma, intitulado, palavras em torno do leito, o texto se apresenta como
uma pesquisa bibliográfica que abre espaço para o questionamento da
subjetividade implicada em cada criança, internada num hospital, com seu
sintoma, sua dor e, mais, um diagnóstico de Síndrome de Down que convoca o
analista a atuar no hospital... E com palavras!
PALAVRAS-CHAVE: psicanálise, hospital, deficiências, síndrome de Down,
transferência, linguagem e inconsciente.
ABSTRACT
This dissertation develops a reflection on the contribution of psychoanalysis to
the hospital with children with Down syndrome in hospital, so we can think
about what 'makes' an analyst when it leads to an analytical listening, beyond
the four walls of the office. The text will be based on notions and concepts of
psychoanalysis: transference, unconscious and language and, therefore, we
use texts of Lacan in "The Instance of the Letter in the Unconscious or Reason
Since Freud" and "The four concepts of psychoanalysis" . Seizing these
concepts, we will also go on reading the texts of Freud's "Project for a Scientific
Psychology" and "Psychology and the Analysis of the Ego" to understand the
social constitution of the subject of psychoanalysis. Thus, titled, words around
the bed, the text is presented as a literature that opens space for the
questioning of subjectivity involved in each child, a hospital, with your
symptoms, your pain, and more, a diagnosis of syndrome Down that calls the
analyst to work in the hospital ... And with words!
KEY WORDS: psychoanalysis, hospital, disability, Down syndrome, transfer,
language and unconscious
SUMÁRIO
1
INTRODUÇÃO..................................................................................10
2
A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO.....................................................12
2.1
Inconsciente e linguagem.................................................................16
2.2
Estádio do Espelho e Narcisismo ....................................................19
2.3
Psicanálise: uma proposta de constituição social do sujeito...........22
3
DEFICIÊNCIAS..................................................................................28
3.1
O que é a Síndrome de Down?..........................................................31
3.2
Discurso médico.................................................................................34
4
PSICANÁLISE E HOSPITAL.............................................................42
4.1
Setting analítico.................................................................................43
4.2
Não há psicanálise sem Transferência ............................................45
4.3
Contribuição da psicanálise no hospital.............................................50
5
DOCUMENTÁRIO “DO LUTO À LUTA” ..........................................54
5.1
Luto e a magia das palavras...............................................................54
6
RELATOS DOS PAIS APAIXONADOS.............................................60
7
NAP (Núcleo de Atendimento ao Paciente): uma construção....66
8
CONCLUSÃO....................................................................................69
9
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................72
10
1 – INTRODUÇÃO.
O presente trabalho foi inspirado no percurso pelos hospitais onde
trabalhei e aprendi com os ensinamentos da profissional, pioneira em
Psicologia Hospitalar, em Minas Gerais, a psicanalista Dra. Marisa Decat, a
qual nos ensina que, ―o critério para o trabalho analítico, também nos hospitais,
é o critério ético, o que implica a ética do bem dizer, isto é, na especificidade
das respostas às demandas quando ao acolhê-las a partir de uma posição
específica,
pode
respondê-las‖
(Decat,
1996,
p.156).
Dessa
forma,
psicanalistas acolhem a demanda no hospital a fim de ―colocar o paciente para
andar‖ (Decat, 1996, p.157). O possível sucesso terapêutico oferecido pela
psicanálise já era destacado por Freud. De acordo com Decat, (1996) quando
um psicanalista acolhe a demanda, ele promete com sua oferta um resultado.
Caso contrário, seria um grande engodo, uma perversão. Assim, a psicanálise,
no hospital, não se trata de um bem moral, mas de um bem a oferecer.
Pode-se fazer uma apropriação deste trabalho, dividindo-o em três partes
importantes.
Os primeiros capítulos priorizam dissertar sobre os conceitos
psicanalíticos que importarão para compreender a constituição do sujeito na
psicanálise e o inconsciente estruturado como a linguagem. Por conseguinte,
nos capítulos posteriores, serão destacadas as considerações sobre deficiência
e a Síndrome de Down e a contribuição da psicanálise no hospital com essas
crianças. E, por fim, destacaremos três livros autobiográficos em que o autor
narra a experiência de ter um filho com Síndrome de Down e a construção, na
prática, de um setor de psicologia em um hospital privado do Rio de Janeiro.
Desse modo, no primeiro capítulo, abordaremos a constituição do sujeito
baseado no texto de Freud ―Projeto para uma psicologia científica‖, em que ele
tenta estabelecer uma Psicologia com base físico-química e com um
vocabulário naturalista/fisicalista. A explicação deslizará para a Experiência de
Satisfação, a influência da linguística estrutural de Ferdinand de Saussure na
Psicanálise e a apresentação do inconsciente estruturado como linguagem. O
11
Estádio do Espelho acrescenta à explicação que Lacan aposta na construção
do sujeito (e não na sua existência a priori).
Na segunda parte do trabalho, encaminhamos a discussão para a
reconstituição histórica da deficiência e especificamos a Síndrome de Down de
acordo com o discurso biológico. Dessa forma, aproveitando as explicações e o
saber da ciência sobre a Síndrome, resgatamos de Lacan os quatro discursos
para questionar se a doença orgânica (atrelada ao discurso médico) pode
atingir a subjetivação da criança.
Na terceira parte, destacaremos a contribuição da psicanálise no hospital,
apontando que o analista poderá acolher tanto a produção de uma retificação
subjetiva como, ainda, constituir-se em um trabalho de análise. O efeito desse
trabalho, porém, só se sabe a posteriori. Como escutar o narcisismo que é
colocado à dura prova quando os pais de uma criança com Síndrome de Down
se veem diante do seu filho, internado num hospital, devido às complicações de
saúde que a síndrome pode provocar?
E, por fim, não podíamos deixar de destacar uma série de construções
importantes, fruto das inúmeras tentativas de compreensão e de diálogo entre
profissionais e pais que fazem parte do universo da criança que adoece e é
hospitalizada: os três livros autobiográficos dos pais que têm filhos com
Síndrome de Down: ―O filho eterno‖, ―Relatos de um pai apaixonado‖ e ―Cadê a
Síndrome de Down que estava aqui?‖ Esse material precioso nos ajudou a
refletir sobre a expressão de um pai que diz: ― – o nascimento do meu filho com
Down foi semelhante ao desabamento de um prédio de sessenta andares de
desinformação‖. A construção do setor de psicologia dentro do hospital se
inspira nesse relato e na apresentação da APACHE (Associação para melhoria
das condições de hospitalização da criança) no livro ―Bicho da cara preta:
crianças no hospital‖. Trata-se de uma associação pioneira na França na luta
para melhorar o ambiente hospitalar da criança e sublinhar também a
importância do acolhimento no hospital, baseado nas premissas do programa
de humanização hospitalar.
12
2 – A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO.
Para falar de sujeito, a partir da psicanálise, realçando os escritos de
Lacan, precisamos de nos remeter à noção de estrutura que difere do conceito
de desenvolvimento. Essa perspectiva é crucial na discussão sobre a lógica da
estrutura e a lógica do desenvolvimento. Afinal, o sujeito para a psicanálise é
produto da estrutura pela linguagem e não um ser que cresce e evolui
biologicamente de modo prévio.
No livro ―Psicanálise e psiquiatria com crianças: desenvolvimento ou
estrutura‖, Oscar Cirino (2001) nos apresenta Jean Piaget e Henri Wallon como
autores que defendem os ―estágios do desenvolvimento‖. Para eles,
representantes da psicologia genética, os estágios são operacionais e seguem
uma sequência evolutiva de aquisições. De acordo com esses autores, o
desenvolvimento psíquico é uma construção progressiva baseada na relação
do indivíduo com o meio. Dessa forma, o desenvolvimento psíquico fica
atrelado ao desenvolvimento psicomotor e afetivo.
É importante realçar que a psicanálise foi, em alguns momentos,
relacionada a esse processo de evolução do psíquico devido à leitura de Ana
Freud e Renné Spitz sobre os textos de Freud, como se o sujeito adquirisse
uma relação madura com o objeto para alcançar satisfação.
Dessa forma, a contribuição de Lacan, sempre preciosa, evidencia que
seu ―retorno a Freud‖ foi para sublinhar a crítica quanto à assimilação da
psicanálise com a psicologia evolutiva e genética.
Para a Psicanálise, sujeito se constitui no campo do Outro. Essa
constituição traz em si a marca da divisão desse sujeito, visto que, para se
constituir, ele depende do significante, e este vem do Outro. Freud (1895), no
―Projeto para uma psicologia científica‖, referindo-se à experiência de
satisfação, já nos adianta sobre a importância fundamental desse Outro, que
13
em geral é a mãe, para o pequeno bebê desamparado, que, ao ser acolhido
por alguém que lhe interpreta e lhe satisfaz as necessidades, mantém, então,
sua sobrevivência, mas também, primordialmente, oferta-lhe a chance de
aceder a seu estatuto de sujeito. Ou seja, o bebê nasce e interage com um
mundo dinâmico e submetido a variadas situações, em que ele apreende e
responde, de maneira particular, de acordo com sua singularidade.
Freud (1900), no ―Projeto para uma psicologia científica‖, tenta
estabelecer uma Psicologia com base físico-química e com um vocabulário
naturalista/fisicalista. Para isso, faz uso de dois axiomas: determinismo e
materialismo. Ou seja, os processos do aparelho psíquico não são localizados
na psiquê, mas se dão no substrato material, que são os neurônios.
Dessa forma, Freud nos explica que, no Princípio da Inércia, todo
acúmulo de energia é sentido como desprazer e, com isso, deve haver uma
descarga (ações motoras): quantidade de energia = 0. Mas essa teoria sofreu
alterações. Afinal, se a quantidade de energia for = 0, o sujeito paralisa. Com
isso, surge o Princípio da Constância que se refere à possibilidade de a
quantidade de energia ficar diferente de zero (a menor quantidade de libido
possível).
De acordo com Freud (1900), na experiência de Satisfação ocorre uma
ligação entre o objeto que proporcionou a satisfação com a imagem do
movimento que permitiu a descarga. A partir de uma necessidade do vivente, o
aparelho procurará reinvestir na imagem (lembrança) da percepção do objeto,
numa tentativa de vivenciar a satisfação original novamente. É isso que Freud
chama de desejo, ―o reaparecimento da percepção é a realização do desejo e o
caminho mais curto a essa realização é uma via que conduz diretamente da
excitação produzida pelo desejo a uma catexia completa da percepção‖.
(Freud, 1900, p.603).
Assim, o aparelho primitivamente visa repetir a percepção à qual estava
ligada a satisfação de necessidade. O aparelho alucina o objeto de satisfação,
14
mas deve dar lugar a uma atividade capaz de tornar possível o discernimento
entre o objeto alucinado e o objeto real (entre alucinação e percepção). Esse
discernimento só é possível com os signos da realidade que são fornecidos
pelo sistema percepção-consciência.
O processo de pensamento visa, portanto, substituir uma identidade
perceptiva por uma identidade de pensamento. Dessa forma, o
processo de pensamento que se forma a partir da imagem-lembrança
constitui-se como um contorno para a relização de desejo, o que faz
uso do pensar um mero substituto do desejo alucinatório. (Garcia –
Roza, 2002, p.184)
O pensamento é o resultado da frustração do desejo, na medida em que
este busca uma satisfação que não encontra. O sujeito, ao passar pela
experiência de satisfação, desejará satisfazer-se com o primeiro objeto, que
para sempre ficou perdido, trazendo a noção de que o aparelho sempre deseja.
Então, o ―desejo de outra coisa‖ aponta o objeto perdido, jamais reencontrado e
o caráter insatisfeito do desejo, sua relação com a falta. Ou seja, ao
estabelecer uma relação entre inconsciente e repetição, pode-se dizer que o
inconsciente nos faz buscar aquele objeto de satisfação. Com isso, acabamos
repetindo outros objetos – erramos o alvo e encontramos outros objetos
substitutos, mas com o mesmo objetivo – uma identificação precária (parece,
mas não é). Repetimos, pois não alcançamos o alvo. O deslizamento
metonímico é essa busca constante, cada significante tenta representar um
objeto de desejo.
Freud (1900), então, no ―Projeto‖, afirma que nunca haverá o encontro
entre o objeto procurado e o objeto encontrado, pois é exatamente a falta do
objeto que põe o aparelho psíquico para trabalhar. Ele supõe que o bebê
encontra-se em um desamparo primordial e, a partir daí, analisa a experiência
de satisfação.
Kelles (1999), psicóloga do Hospital Mater Dei, em Belo horizonte, que
realiza um trabalho na UTI neonatal, sob a coordenação da Psicanalista Marisa
Decat, pioneira em Psicologia Hospitalar em MG, transmite-nos sua escrita
sobre essa entrada do bebê na estrutura.
15
Inicialmente, esse pequeno ser, num estado de total desamparo, vive
sua primeira experiência de satisfação basicamente a nível orgânico,
decorrente de uma excitação interna que precisa ser eliminada. Esse
incômodo será aliviado com a ajuda de outro ser, um ser falante,em
geral a mãe que saberá lhe oferecer o objeto adequado nesse
momento e introduzirá essa criança no mundo da linguagem.
Podemos dar como exemplo a fome, que será saciada
organicamente com a ingestão do alimento e virá revestida de uma
sensação prazerosa que a criança registrará e tentará retomar em
várias ocasiões de sua vida. (KELLES, 1999, p.)
E é nesse Outro, que lhe garante a sobrevivência, que a criança
depositará, de foma fantasiosa, um poder, como aquele que tudo pode, sem
falhas: um Grande Outro, nomeação dada pela psicanálise. Lacan (1964) nos
diz:
O sujeito aparece primeiro no Outro, no que o primeiro significante. O
significante unário, surge no campo do Outro, e no que ele
representa o sujeito, para um outro significante, o qual outro
significante tem por efeito a afânise do sujeito – quando o sujeito
aparece em um lugar como sentido, em Outro lugar, ele se manifesta
como fading, como desaparecimento. (LACAN, 1964, p. 206)
O sujeito, porém, não se encontra apenas no campo do Outro. A
mensagem que vem desse Outro, através de suas demandas, produz
interrogações, produz um enigma, pelo fato de esse outro ser submetido a uma
lei e não ser possuidor de todos os significantes. Dessa forma, uma falta é
encontrada no Outro. E é dessa falta que surge a operação da separação.
Nessa operação, o sujeito se pergunta o que quer o Outro e, dessa falta do
Outro, surge, então, a dimensão de falta no próprio sujeito.
As vivências dessa fase irão indicar a estrutura psíquica do sujeito, por
isso, sabemos da grande importância dos primeiros anos de vida para o ser
humano.
16
2.1 – Inconsciente e linguagem.
A linguística estrutural de Ferdinand de Saussure influenciou a
Psicanálise e a escrita de Lacan, realçando a questão do significante.
Lacan nos ensina o quanto a linguagem é determinante do sujeito. Já
existimos mesmo antes de nascer através do nome que recebemos. Mas o que
mais interessa a Lacan não é somente a linguagem, e sim a relação da
linguagem com o inconsciente. Servo da linguagem, o sujeito do inconsciente
(sujeito da psicanálise) é aquele que fala e deseja. É a fala que marca a
posição e a verdade desse sujeito. Mas fala é o lugar da ambiguidade, do
equívoco e é, justamente, essa pluralidade de sentidos do significante que
favorece a abertura do inconsciente no discurso. Assim, Lacan marca que o
inconsciente não está nem dentro nem fora, mas na própria fala do analisante
que se estrutura da mesma forma como a linguagem é estruturada – ―o
inconsciente é o efeito da fala sobre o sujeito, o sujeito se determina no
desenvolvimento dos efeitos da fala, em consequência de que o inconsciente é
estruturado como uma linguagem‖ (LACAN, 1964, p.142).
A teoria psicanalítica fundamenta-se na aposta da existência do
inconsciente, o que explica um grande número de fenômenos, tais como os
sonhos, os atos falhos e os sintomas. No fim do século XX, Freud conceituou o
inconsciente de uma maneira divergente de como era formulado até então –
não comportava a qualidade da consciência. O inconsciente freudiano
ultrapassa isso, refere-se a um sistema com leis próprias de funcionamento.
A priori, o inconsciente era apresentado por Freud nos sonhos, chistes,
esquecimentos, isto é, nas falhas e deslizes em nossa rotina, como se fossem
acidentais. Mas Freud dá a isso uma significação, apontando para um sentido e
determinismo psíquico. Ou seja, as formações do inconsciente (chistes,
sonhos, atos falhos) portam um saber enigmático que insiste em se desvelar.
Dessa forma, frente à mudança na forma de abordar o inconsciente,
buscamos algo a ser decifrado a partir da explicitação do inconsciente como
17
uma sintaxe – uma lei da articulação – como se alguma coisa viesse a ser
revelada e transformada. São essas as formações de interesse de uma análise
através da associação livre e não mais a ênfase de se buscar uma origem do
sintoma. O sentido que estava por detrás do sintoma se transforma num
sentido de construção sobre o sintoma – da recordação à interpretação. Cabe,
portanto, ao analista sustentar, na transferência, os momentos de manifestação
do inconsciente – trata-se de um chamado ao sujeito.
Na realidade, Freud não criou um novo termo, mas cedeu a ele um novo
estatuto. De acordo com suas premissas, o inconsciente passa a ser
apresentado como algo que foge à cadeia lógica da consciência, possuindo
uma realidade exclusiva: a realidade psíquica.
É a partir da hipótese de que o inconsciente existe que o analista propõe
ao sujeito que fale, pois o sintoma tem algo a dizer. A Psicanálise quer decifrar
o sintoma, pois existe algo para além da consciência. De acordo com essa
questão, Freud dialoga com a Pessoa Imparcial no texto: Podem os leigos
exercer a análise?
A Pessoa Imparcial continua: suponhamos que o paciente não esteja
mais bem preparado para compreender o tratamento analítico do que
eu; então, como o senhor vai fazê-lo acreditar na magia da palavra ou
da fala destinada a libertá-lo do seu sofrimento? (FREUD, 1926, p.
183)
Freud realça a palavra como um instrumento valioso de acesso ao
inconsciente, sugerindo que o paciente discurse livremente sobre o que lhe vier
à mente, renunciando a toda crítica – trata-se da associação livre - para que,
desse modo, haja abertura para os tropeços da fala, pelos quais o conteúdo do
inconsciente aparece como os chistes, atos falhos, esquecimentos.
Já Lacan nos traz outra concepção da relação consciência e
inconsciência. Ele nos ensina que a consciência fica em continuidade com o
inconsciente, devido à linguagem. Isso é o aforismo – o inconsciente funciona
18
com as leis da linguagem e, assim, estrutura-se. Lacan toma o signo linguístico
para fazer uma análise e baseia o inconsciente na lógica do significante.
Dessa forma, a partir da experiência do inconsciente, Lacan subverte a
lógica de Ferdinand Saussure (abaixo) em que o significado de todo
significante é arbitrário. Algoritmo Saussureano:
= significado = conceito
CADEIRA
significante
som
―Lacan vai inverter essa relação, colocando o significante em cima e
o significado embaixo (S/s) Por quê? Porque o inconsciente se
interessa muito mais pelo significante do que pelo significado, ele é
constituído por cadeias de significantes.‖ (QUINET, 2008, p.29)
A ―cadeira‖ pela qual a Psicanálise se interessa não é o som acústico
enquanto tal, mas sim a ―cadeira significante‖ que se associa a um significado.
Portanto, Lacan propõe que há uma primazia do significante sobre o
significado. Então, de acordo com Lacan, as leis da linguagem são submetidas
ao significante:
Significante = Algoritmo Lacaniano
Significado
A teoria do significante foi introduzida por Lacan no escrito, ―Função e
campo da fala e da linguagem em psicanálise‖ (1953), no qual ele ainda não
19
aborda o deslizamento do significado sob o significante. Foi em ―A instância da
letra no inconsciente ou a razão desde Freud‖ (1957), que ele detalhou seu
estudo sobre o significante, realçando a teoria da ―primazia do significante‖:
Para além da fala, é toda a estrutura da linguagem que a experiência
analítica descobre no inconsciente (...) A linguagem com sua
estrutura preexiste à entrada de cada sujeito num momento de seu
desenvolvimento mental. (...) Também o sujeito se pode parecer
servo da linguagem, o é ainda mais num discurso em cujo movimento
universal seu lugar já está inscrito em seu nascimento. (LACAN,1957,
p.498)
Ou seja, cada ser humano é portador, desde a infância, das fantasias
relacionadas com o filho que ele deseja ter. As brincadeiras de boneca são
apenas uma dessas manifestações. Existe, a priori, um lugar simbólico para o
bebê. Dessa forma, o bebê é antecipado no tempo. Mas é devido aos sonhos,
antecipações e idealizações do Outro que existimos. As palavras em torno do
berço contornam o bebê que, a priori, é puramente falado pelo Outro.
O sujeito é produzido dentro da linguagem que o aguarda. É nesse
contexto que Lacan nos aponta o único lugar possível ao sujeito: no
significante, que está no campo do Outro.
2.2 – O Estádio do espelho e o narcisismo.
Lacan aposta na construção do sujeito (e não na sua existência a priori)
e explora as condições necessárias para tal. Uma primeira referência é
encontrada quando ele descreve o estádio do espelho como formador da
função do eu.
O que é o estádio do espelho? É o momento em que a criança
reconhece sua própria imagem. Mas o estádio do espelho está bem
longe de apenas conotar um fenômeno que se apresenta no
desenvolvimento da criança. Ele ilustra o caráter de conflito da
relação dual. Tudo o que a criança aprende nessa cativação por sua
própria imagem é, precisamente, a distância que há de suas tensões
20
internas, aquelas mesmas que são evocadas nessa relação, à
identificação com essa imagem... Não é na via da consciência que o
sujeito se reconhece, existe outra coisa e um mais além‖ (LACAN,
1956, p.15)
Lacan constata que a criança manifesta um interesse particular por um
objeto privilegiado: sua imagem especular. É uma curiosidade intensa que
pode ser confirmada por qualquer pessoa que tenha experiência com crianças.
De fato, são frequentes as brincadeiras nas quais, valendo-se dessa
curiosidade, um adulto diverte uma criança colocando-a diante do espelho para
que ela possa apreciar sua imagem.
Dessa forma, Lacan se detém nos possíveis efeitos que a imagem
produz na estruturação da criança.
O bebê humano, ainda que nasça a termo, é eminentemente prematuro.
Essa prematuridade o impede de vivenciar seu corpo como uma unidade.
Apesar de o seu corpo biológico ser unificado e não um amontoado de
membros disjuntos, não é assim que a criança se experimenta. A
descoordenação motora, característica do início da vida, faz com que a criança
tenha um sentimento de despedaçamento em relação a seu corpo. Com isso, a
consciência de um corpo, como uma totalidade, deverá ser construída.
O bebê, porém, sem a vivência da unidade corporal, verifica no espelho
ou nos seus semelhantes, o corpo do outro como uma totalidade. É
exatamente por isso que sua imagem refletida exerce um enorme fascínio
sobre a criança. Ela antecipa a conquista da unidade funcional de seu corpo. É
o que Lacan chama de um espetáculo:
Um espetáculo cativante de um bebê que, diante do espelho, ainda
sem ter o controle da marcha ou sequer da postura ereta, mas
totalmente estreitado por algum suporte humano artificial (o que
chamamos, na França, um trotte-bebé), supera, numa azáfama
jubilatória, os entraves desse apoio, para sustentar sua postura numa
posição mais ou menos inclinada e resgatar, para fixá-lo, um aspecto
instantâneo da imagem (Lacan, 1949/1998, p. 97).
21
Através dessa imagem que captura a libido, a criança constitui a
primeira forma do eu. Nessa operação, denominada por Freud de narcisismo, a
libido investe a imagem do corpo como um objeto e, através da identificação
com essa forma, constitui o eu como objeto (de seu investimento). Portanto,
tanto em Freud como em Lacan, o eu tem a mais estreita relação com o corpo.
Para ambos, o eu é corporal. Assim, o corpo de que se trata em psicanálise
não é o corpo biológico, mas o corpo construído ao ser objeto de investimento
libidinal.
Cabe realçar que essa imagem com a qual a criança se identifica está
num descompasso com o que criança experimenta. A criança, que se localiza
num estádio de descoordenação motora, detém a imagem no espelho como
uma imagem ideal, a ser alcançada, já que essa imagem aparece a ela como
completa. Por ser ideal, embora seja a sua imagem, a criança a vivencia como
a imagem de um outro. É, portanto, em relação a uma alteridade (da imagem
especular) que o eu se constitui.
Lacan perfilhou a dependência do eu quanto à sua origem em relação
ao outro, nas situações confusas em que as crianças pequenas confundem
suas ações com as de uma outra. Num fenômeno nomeado como transitivismo,
choram ao ver uma outra cair, batem e afirmam terem sido batidas. O
transitivismo, que se difere numa época em que a fronteira entre o eu e o outro
é mais frágil, nunca desaparece por completo das relações humanas. Isso se
deve ao fato de o eu carregar consigo as marcas dessa origem e, para sempre,
haver a possibilidade de nos perdermos no outro.
A imagem especular, ao constituir a unidade do eu, o constitui como
diferente dos objetos do mundo. Assim, essa imagem é crucial na constituição
do eu como objeto e do campo dos objetos do mundo. Anterior à apreensão
dessa imagem, não havia o eu e nem o objeto. A própria imagem do corpo, a
rigor, só se constitui como um objeto no ato mesmo de sua assunção. Por isso,
não há possibilidade de haver relação com qualquer objeto antes do
narcisismo. Uma vez que não há eu, até mesmo seu despedaçamento não é
22
possível de ser experienciado. Portanto, o fato de a criança constituir um eu é
de fundamental importância, para que ela efetivamente possa estar no mundo
e apoderar-se dele, caso contrário, a relação com o mundo fica extremamente
empobrecida e, talvez, até mesmo inexistente.
2.3 – PSICANÁLISE: UMA PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO SOCIAL DO
SUJEITO
O outro está sempre em nossas vidas, seja como modelo, objeto,
auxiliar ou adversário, por isso não se deve segregar o sujeito do outro,
ensina-nos Freud. Dessa forma, a psicologia individual se assemelha à
psicologia social, como descreve Freud (1921) em ―Psicologia das massas e
análise do eu‖:
O contraste entre a psicologia individual e a psicologia social ou de
grupo, que à primeira vista pode parecer pleno de significação, perde
grande parte de sua nitidez quando examinado mais de perto. É
verdade que a psicologia individual relaciona-se com o homem
tomado individualmente e explora os caminhos pelos quais ele busca
encontrar satisfação para seus impulsos pulsionais, contudo, apenas
raramente e sob certas condições excepcionais, a psicologia
individual se acha em oposição de desprezar as relações desse
indivíduo com os outros. Algo a mais está invariavelmente envolvido
na vida mental do indivíduo, como um modelo, um objeto, um auxiliar,
um oponente, de maneira que, desde o começo, a psicologia
individual, nesse sentido ampliado mais inteiramente justificável das
palavras, é, ao mesmo tempo, também psicologia social. (FREUD,
1921, p.81)
Assim sendo, Freud nos mostra que todas as relações do indivíduo com
seus pais, irmãos, relacionamentos amorosos ou profissionais são fenômenos
socias referentes ao principal tema das pesquisas psicanalíticas.
Ainda em seu texto Psicologia das massas e análise do eu, de 1921,
Freud elege um capítulo para abordar a identificação. Segundo ele, a
identificação consiste no mais remoto laço afetivo entre duas pessoas e
desempenha papel fundamental no ―desenrolar‖ do complexo de Édipo. Nesse
momento, o teórico articula a identificação ao Complexo de Édipo; e usa o
23
Édipo do menino como referencial, mas diz que o mesmo também se aplica,
com substituições necessárias, à menina. Ao falar do menino, ele nos diz que a
identificação é ambivalente desde o início – pode tornar-se expressão de
ternura com tanta facilidade quanto um desejo de afastamento de alguém.
Freud posteriormente diz que é fácil enunciar numa fórmula a distinção
entre a identificação com o pai e a escolha deste como objeto. No primeiro
caso, o pai é o que gostaríamos de ser; no segundo caso, o que gostaríamos
de ter, ou seja, a distinção depende de o laço se ligar ao sujeito ou ao objeto do
eu. Portanto, o primeiro tipo de laço é possível antes que qualquer escolha
sexual de objeto tenha sido feita, mostrando que a identificação esforça-se
para moldar o próprio eu de uma pessoa, segundo o aspecto daquele que foi
tomado como modelo. (FREUD, 1921, p.134)
O psicanalista busca desemaranhar a identificação tal como ocorre na
estrutura de um sintoma neurótico e, assim, pode-se compreender melhor suas
conclusões a respeito do sonho de sua paciente da ceia de salmão defumado
(A bela açougueira), em que fala da identificação por meio da criação de um
sintoma. Freud exemplifica assim:
Suponhamos que uma menininha (e, no momento, ateremo-nos a
ela) desenvolva o mesmo penoso sintoma que sua mãe; a mesma
tosse atormentadora, por exemplo. Isso pode ocorrer de diversas
maneiras. (FREUD, 1921: 134)
Segundo Freud (1921), a identificação pode provir do Complexo de
Édipo e há três formas de identificação. Nesse exemplo citado acima, significa
um desejo hostil, por parte da menina, de tomar o lugar da mãe. E o seu
sintoma expressa seu amor objetal pelo pai; ocasionando realização de seu
desejo de assumir o lugar da mãe – sob a influência do sentimento de culpa.
Para Freud, esse é o mecanismo completo da estrutura de um sintoma
histérico e diz sobre sua reflexão sobre a identificação da menininha: Você
queria ser sua mãe e agora você a é – pelo menos, no que concerne a seus
sofrimentos. (FREUD, 1921:134)
24
Na segunda forma, a identificação pode aparecer no lugar da escolha de
objeto, em que a escolha de objeto regride para a identificação. Toma-se, como
exemplo, Dora – a paciente de Freud que imita a tosse do pai; ela estava
completamente identificada com a mãe. Ela imitava a tosse do pai, mas a sua
identificação era com o objeto dele, a sua mãe.
Já a terceira forma de identificação seria o mecanismo no qual a
identificação é baseada na possibilidade ou no desejo de colocar-se na mesma
situação.
Suponha-se, por exemplo, que uma das moças de um internato
receba de alguém por quem está secretamente enamorada uma
carta que lhe desperta ciúmes e que ela reaja por uma crise de
histeria. Então, algumas de suas amigas que são conhecedoras do
assunto pegarão a crise, por assim dizer, através de uma infecção
mental. (FREUD, 1921:135)
Ou seja, as outras moças também gostariam de ter um caso amoroso
secreto, baseado nesse mecanismo de identificação, sob a influência do
sentimento de culpa, em que aceitam também o sofrimento envolvido nele. Um
ego através de mimetismo copia o outro ego em um determinado ponto.
Portanto, Freud nos apresentou as três fontes da identificação:
Primeiro, a identificação constitui a forma original de laço emocional
com o objeto; segundo, de maneira regressiva, ela se torna
sucedâneo para uma vinculação de objeto libidinal, por assim dizer,
por meio de introjeção do objeto no ego; e, terceiro, pode surgir com
qualquer nova percepção de uma qualidade comum partilhada com
alguma outra que não é objeto de pulsão sexual (FREUD,1921,
p.136)
Após essa apresentação sobre a teoria de Freud a respeito da
identificação, é importante acrescentar também o percurso de Lacan (1990),
que através de seus escritos, mostra-nos que a identificação do sujeito começa
em seus primeiros anos de vida, através das experiências perspectivas da
criança, o que pode ser explicado através do estádio do espelho. A criança
nasce em um estado de prematuração neurológica e só se configura a partir da
25
apreensão de sua imagem quando vista no espelho, passando a constituir-se
como uma totalidade. A imagem do corpo como unidade é um precipitado. A
criança tem que subjetivar para se constituir como uma unidade, unificando,
assim, o seu próprio corpo. Há sempre um ―buraco‖ entre a imagem e o próprio
corpo, que tem que ser preenchido com a subjetividade.
O corpo real é fragmentado e necessita do olhar do Outro para se
constituir. O sujeito se identifica com aquilo que o Outro diz que ele é. A partir
da primeira identificação é que ocorrem todas as outras identificações, por isso
é que estamos sempre ―condenados‖ ao olhar do Outro.
A primeira identificação se dá no momento da formação do eu que se
forma no decorrer das identificações imaginárias. As imagens constitutivas do
eu imaginário não são imagens quaisquer. O eu só se identifica com as
imagens em que se reconhece: a parte imaginária do Outro que atrai a atenção
do eu, levando-o à identificação – são imagens constituídas da figura do Outro.
Essa parte do Outro que atrai é o traço sexual desse Outro.
Freud, então, analisa a constituição do eu e nos ensina o quão é
fundamental o processo de identificação para a constituição e manutenção dos
grupos. Ele conclui que o homem é um animal de horda, sempre reunido e sob
comando do líder. Cada membro tem uma ligação com o líder e cada ligação
mantém a relação entre eles:
26
Freud recorre a Le Bon para ler sobre sociologia e verifica que Le Bon
defende a ideia de ―alma coletiva‖. Para ele ―os dotes particulares dos
indivíduos se apagam num grupo e que, dessa maneira, sua distintividade se
desvanece.‖ (FREUD, 1921, p.85). Ou seja, o que explica a existência do grupo
é uma alma coletiva. O sujeito reage de maneira bem distinta quando sozinho e
quando em grupo. Um grupo é impulsivo, irritável, emotivo e o amor o constitui
e o mantém. O grupo não possui a faculdade crítica, a reflexão, nem a razão do
sujeito sozinho.
Nesse contexto, então, evidenciamos o texto de Freud, ―Totem e Tabu‖
(1913), para relacionar com ―Psicologia das massas e análise do eu‖ (1921),
afinal, neste, tem-se a união pelo amor e em Totem e Tabu, a união se dá pelo
ódio.
Em Totem e Tabu, o assassinato do pai é um ato necessário, fundador
da civilização, ato que instaura a lei que nos separa do mundo da natureza e
nos introduz na cultura, o que possibilita a internalização dos interditos
paternos. Freud nos ensina, dessa forma, que o assassinato do pai é essencial
para a internalização da lei pelos filhos, com a metáfora paterna.
―O mal estar na civilização‖, texto de Freud, apresenta-nos como a
cultura e a civilização produzem um mal estar humano devido ao antagonismo
existente entre a civilização e as exigências da pulsão. Pois, para que a
civilização se desenvolva, faz-se necessária uma renúncia da satisfação
pulsional,
causando,
possivelmente,
frustrações,
na
vida
sexual,
e
agressividade.
Freud (1915), em ―A pulsão e seus destinos‖, sublinha os caminhos da
pulsão em: o retorno ao próprio eu (o sujeito maltrata a si próprio), o recalque
(produzindo o sintoma), a sublimação (a pulsão encontra a satisfação no
inesperado) e a transformação em seu contrário (toma-se, como exemplo, o
amor transformado em ódio).
27
Segundo Freud (1915), a pulsão constitui-se de quatro elementos:
- Drang (pressão): a pulsão é contínua, não para, busca satisfação
constantemente. Uma força para alcançar a meta.
- Ziel (meta): nunca alcançada totalmente, sempre parcial.
- Objekt (objeto): é o objeto que permite à pulsão encontrar satisfação.
- Quelle (zonas erógenas): o ponto de origem é sempre uma zona erógena.
Portanto, a pulsão encontra-se de um lado e a cultura do outro lado.
Todo percurso desenvolvido neste capítulo nos mostra que o sujeito é um
sujeito da cultura, isto é, nasce imerso num banho de linguagem. Já existimos
antes mesmo de nascer. Ou seja, o sujeito se constitui a partir do Outro – o
sujeito se constitui na cultura e precisa dela para viver. Toma-se como
exemplo, as próprias palavras em torno do berço que nos apontam que, a priori
o bebê é falado pelo Outro. De quem são as palavras que, neste trabalho,
propusemos a pesquisar em torno do LEITO? Adianto que nos capítulos
posteriores destacaremos as palavras do médico e dos pais em torno da
criança com síndrome de down internada no hospital.
28
3 – DEFICIÊNCIA
A noção de deficiência vai-se modificando historicamente, à medida que
as condições sociais são alteradas pela própria ação do homem, gerando
novas necessidades na sua relação com o meio social.
É possível intentar uma análise dessa condição no âmbito dos diferentes
modos de produção social (comunidade primitiva, sociedade escravista, feudal
e capitalista), na busca da compreensão dos mecanismos sociais construídos,
ao longo dos tempos, para identificar e assumir posições diante de sujeitos
diferentes, ou que não atendam às exigências de seu tempo.
Segundo Bianchetti (1995), na comunidade primitiva, a satisfação das
necessidades
humanas
estava
na
dependência
do
que
a
natureza
proporcionava como abrigo em cavernas e alimentos. Estando a natureza fora
do controle dos homens, o nomadismo era condição para sobrevivência, e
cada homem teria de buscar a manutenção de sua vida. Sendo um ―peso
morto‖ para seu grupo social, e não havendo por parte deste qualquer
compromisso com a sua manutenção, os deficientes seriam, provavelmente,
abandonados à própria sorte.
Com a sociedade escravista na Grécia Antiga, a satisfação das
necessidades básicas do homem livre era garantida pelos escravos. Não tendo
mais que prover a própria subsistência, ele podia pensar de forma
sistematizada.
De acordo com Bianchetti (1995), em Atenas, a vida da polis, a
valorização da retórica, da capacidade de argumentação e a contemplação
possibilitaram, a partir da obra de Platão, que se estabelecesse uma cisão
entre corpo e mente. À mente caberia mandar e governar, atividades dignas
realizadas pelos homens livres; ao corpo, caberiam as tarefas degradantes,
realizadas pelos escravos.
29
Segundo Pessotti (1984), Platão propunha que pessoas imperfeitas
fossem abandonadas à própria sorte. Para Aristóteles, essa prática seria
legítima mesmo para o controle demográfico. É fácil concluir que essa era uma
condição fatal para as pessoas com deficiência, particularmente quando
implicava dependência econômica.
Ainda de acordo com Pessotti (1984), essa prática só se modificou a
partir da transformação do modo de organização social. Na Idade Média, sob a
influência teológica, a dicotomia corpo/mente transformou-se em corpo/alma. A
partir da instituição de uma moral cristã, sendo todos os homens possuidores
de uma alma, passou a ser intolerável a prática do abandono, socialmente
aceita e justificada na sociedade escravista.
Diante do conflito moral, que impedia deixar à mercê da sorte esses
homens dotados de alma, a sociedade encontrou no asilamento a solução
alternativa, uma resposta pouco onerosa que oferecia dupla conveniência:
assegurava cuidados exigidos pela moral cristã vigente e removia o incômodo.
Pessotti (1984) ainda nos explica que, com a agudização das
contradições da sociedade feudal, teve início um longo período de crise,
marcado por guerras, insurreições, fome, crise ideológica. Era a transição a um
novo modo de produção, o capitalismo. Rompendo com a visão predominante
na sociedade feudal, que se baseava na visão teológica, o divino passou a ser
substituído pelo natural. O homem, a sociedade e o mundo passaram a ser
concebidos como realidades individuais imanentes, dotadas de uma lógica
particular, em vez de serem determinados por forças divinas.
Com base nessas transformações, passou-se à compreensão de que os
comportamentos
humanos,
suas
capacidades
e
incapacidades
foram
determinadas por leis naturais. A deficiência seria, então, compreendida a partir
dessa perspectiva.
30
A questão do ―natural‖ foi explicitada por Locke, no seu ―Segundo tratado
sobre o governo civil‖, publicado em 1692:
―Os homens são definidos como proprietários de si mesmos, de seus
corpos, de sua força de trabalho, livres e iguais, podendo realizar no
mercado a troca de suas mercadorias, sendo limitados apenas por
suas incapacidades naturais‖ (LOCKE, 1978, p.11)
Dessa forma, se não podiam realizar sua condição de igualdade, as
pessoas com deficiência eram enviadas às instituições, tuteladas pelo Estado,
junto com outras pessoas nas mesmas condições (os doentes, os loucos, os
miseráveis, os incapazes), proscritas pela sociedade.
De acordo com Pessotti (1984), era segregado todo aquele que, em
virtude de suas incapacidades naturais, ainda que, possuindo seu corpo, não
era livre da dependência do outro e tampouco participava do processo de
produção e acumulação de riqueza. Não sendo capaz de se realizar como
força produtiva, passou a se inscrever na sociedade como alheio às relações
concretas estabelecidas entre os homens.
E à medida que as contradições do capital, ao longo do século XX,
impuseram novas exigências, ampliou-se a margem daqueles considerados
divergentes do modelo social. As transformações sociais imprimiram a
demanda por novas habilidades, entre elas, a capacidade de ler, escrever e
calcular em níveis básicos.
Se, a partir da Idade Média, a questão orgânica era definidora da
condição da deficiência, isso se modificou no século XX. De acordo com
Pessotti (1984), aqueles sujeitos incapazes de aquisições acadêmicas foram,
também, incorporados à categoria dos deficientes, por não atenderem às
expectativas culturais emergentes. Assim, no século XX, a incompetência
escolar passou a ser compreendida como deficiência mental leve, associada
aos quadros anteriormente reconhecidos, como o cretinismo, a idiotia, a
imbecilidade e a debilidade mental, legados pelo saber do século XIX.
31
Bueno (1997) assinalou que, se há alguma continuidade histórica na
identidade social do anormal, é que em todas as épocas a sociedade
identificou, por algum critério, aqueles que possuem características divergentes
das encontradas na maior parte de seus membros. Argumentou que essa
identificação é pautada não pela presença da diferença, mas sim por suas
consequências nas possibilidades de participação desse homem na construção
coletiva da sobrevivência e reprodução social. Dessa forma, uma pessoa é
considerada deficiente quando não corresponde a um padrão considerado
normativo, e há um homem de referência para cada tempo.
Dessa
forma,
o
conceito
de
anormalidade
social
vai
sendo
historicamente construído, complexificando-se na mesma medida em que as
condições sociais vão sendo transformadas pela relação do homem com o
meio. Dessa maneira, com base na ciência, observam-se mudanças no perfil
daqueles identificados como deficientes.
3.1- O que é a Síndrome de Down
De acordo com o dicionário Aurélio, ―deficiência‖ refere-se à falta, carência e
insuficiência . Já ―síndrome‖ refere-se a um conjunto de sintomas ligados a uma
entidade mórbida. Segundo Cavalcante (2003), faz-se necessário também distiguir a
deficiência do termo ―desvantagem‖ que, conforme o dicionário, trata-se de falta de
vantagem, inferioridade e, devemos diferenciar também de ―incapacidade‖, que
refere-se a falta de capacidade legal.
Segundo Mustacchi (1990), a Síndrome de Down decorre de um acidente
genético que ocorre em média em 1 a cada 800 nascimentos, aumentando a
incidência com o aumento da idade materna. Atualmente, é considerada a alteração
genética mais freqüente e a ocorrência da Síndrome de Down entre os recém
nascidos vivos de mães de até 27 anos é de 1/1.200. Com mães de 30-35 anos é de
1/365 e depois dos 35 anos a frequência aumenta mais rapidamente: entre 39-40
anos é de 1/100 e depois dos 40 anos torna-se ainda maior. Acomete todas as
32
etnias e grupos socioeconômicos igualmente. É uma condição genética conhecida
há mais de um século, descrita por John Langdon Down e que constitui uma das
causas mais frequentes de deficiência mental (18%). No Brasil, de acordo com as
estimativas do IBGE realizadas no censo 2000, existem 300 mil pessoas com
Síndrome de Down. Seus portadores apresentam, em consequência, retardo mental
(de leve a moderado) e alguns problemas clínicos associados.
O mesmo autor nos ensina que, diferentemente dos 23 pares de
cromossomos que constituem, na maioria das vezes, o nosso genótipo, no
caso da Síndrome de Down, há um material cromossômico excedente ligado
ao par de número 21 e, por isso, também é chamada ―trissomia do 21‖. Não
existem graus de Síndrome de Down, o que existe é uma leitura desse padrão
genético em cada indivíduo, como ocorre com todos nós. Assim, como existem
diferenças entre a população em geral também existem diferenças entre os
portadores de Síndrome de Down. Existem 3 tipos de Síndrome de Down:
A trissomia livre (92% dos casos), quando a constituição genética desses
indivíduos é caracterizada pela presença de um cromossomo 21 extra em
todas as suas células. Nesses casos, o cromossomo extra tem origem no
desenvolvimento anormal do óvulo ou do espermatozóide onde ocorre uma
não-disjunção durante a meiose, na gametogênese, sem razões conhecidas.
Em consequência desse fato, quando eles se encontram para formar o óvulo
fecundado estão presentes, em um dos gametas, três cromossomos 21 no
lugar de dois. Ao longo do desenvolvimento embrionário, o cromossomo
adicional permanece acoplado a todas as células do indivíduo em função da
divisão celular.
Diante dessa explicação biológica sobre a síndrome, recordo-me da
questão exposta por Vorcaro (2000), no texto ―Doenças Graves na Infância‖ :
―se a saúde é a fiadora da sustentação do ideal do qual um filho é a promessa,
o efeito da doença orgânica pode atingir a subjetivação da criança?‖
De acordo com Vorcaro (2000), apesar de a estruturação do sujeito não
depender do orgânico, uma doença grave pode interferir na estruturação do
33
sujeito quando se torna um traço prevalente, como se o sujeito fosse
reconhecido apenas por um único traço: ―o down‖, por exemplo, destituindo ―O
João, A Maria‖. Dessa forma, a impotência associada à doença apaga a
criança idealizada pelos pais, ―já que não pode responder de onde é esperada,
não pode alimentar a ficção que a sustém na posição que lhe foi atribuída‖
(Vorcaro, 2000, p.335)
Realçada e constatada uma insuficiência interpretada pelos pais em
seus filhos, o desejo do filho ideal cai por terra. A autora Elsa Coriat nos
apresenta um caso clínico em que os pais questionam: ―os bebês com
Síndrome de Down podem dizer ‗agu‘???‖ Os pais acrescentam que,
ultimamente, ouviram o filho balbuciar ‗agu‘, mas não deram importância a isso,
pois lhe disseram que as crianças que têm Síndrome de Down não dizem ‗agu‘
e, dessa forma, ficaram inseguros quanto à certeza com o que pensaram ter
escutado. Nas palavras de Coriat:
Um pai ou uma mãe que não acredita no que seus olhos e seus
ouvidos lhe informam acerca da significação da conduta do bebê,
porque não coincide com o que os outros garantem que tem que ser;
um pai ou uma mãe que acredita ter visões quando seu filho com
problemas comporta-se como qualquer outra criança; esse pai e essa
mãe, ao invés de responder ao ―agu‖ buscando repeti-lo ou ampliá-lo,
procurará não voltar a escutá-lo, retirando-se da cena, uma vez que,
se o escutasse, iria supor que é apenas uma ilusão. O ―agu‖ de seu
filho, em vez de enchê-lo de alegria, irá trazer-lhe a lembrança de que
lhe disseram que isso é impossível; possivelmente, seus olhos irão
encher-se de lágrimas, cortando a incipiente comunicação. (Coriat,
1997, p.170)
Vorcaro (2000) acrescenta que a doença grave provoca mudanças na
identidade atribuída à criança e também altera a posição dos pais que se
sentem destituídos de saber para reconhecer e cuidar dessa criança.
Deslocam, assim, essas funções para os especialistas ou agentes de saúde
sublinhando uma insuficiência dos pais:
Nessa lacuna do saber parental, o diagnóstico, em sua função de
instrumento classificatório etiológico e nosográfico, compreende o
que é irreconhecível pelos pais e indica terapêuticas que
reconduzirão ou adaptarão a criança à normalidade, condenando,
aliviando ou salvando os pais do mal estar que a doença produz aos
ideais. (Vorcaro, 2000, p. 104)
34
De acordo com Vorcaro (2000), quando esses pais localizam no médico
um discurso de mestre, será ele, o médico, quem antecipará o adulto que essa
criança vai ser, pois sua palavra prognosticadora orientará o laço dos pais com
a criança. E o diagnóstico pode até adquirir um tom de identidade social
destituindo o nome da criança: ―meu filho é Down‖, ―ele é PC‖, ―aquele
Asperger‖.
3.2 – O discurso médico
Os discursos, lembramos aqui, são
formas de tratar o impossível, o real
ou aquilo que escapa à simbolização.
(MUCIDA, 2001, p.124)
O legado de Lacan, por meio do qual se pode verificar as diferentes
posições assumidas por um sujeito no laço social é uma teoria fundamental
para todo psicanalista que trabalha em uma instituição. Trata-se da chamada
―Teoria dos quatro discursos‖, desenvolvida entre 1969 e 1970 por Lacan no
Seminário XVII, intitulado ―O avesso da psicanálise‖, em que ele aponta a
existência de quatro discursos que regulam o laço social.
São quatro elementos que constituem a estrutura de todo discurso:
- S 1: significante mestre,
- S 2: cadeia dos significantes constituídos S2, S3, S4...representada pela
abreviação S2,
- a: mais gozar
- $: sujeito barrado pelos significantes que o constituem.
O sujeito, na teoria lacaniana, é representado por dois significantes: um
significante é o que representa um sujeito para outro significante e o sujeito é
aquilo que o significante representa, ou seja, o sujeito é efeito do significante.
35
Os lugares que os elementos citados acima podem ocupar são os quatro
seguintes:
o agente ,
outro .
a verdade
produção
O que organiza esse discurso? O que desempenha o papel de agente?
Qual é a sua verdade? Qual é o outro ao qual esse discurso se dirige? Qual é o
produto que tal discurso comporta?
Todas essas questões permitem situar da melhor maneira as condições
de representação, isto é, as condições do laço social nas quais o sujeito
precisa produzir seu registro, suas identificações. Os discursos nada mais são
do que lugares lógicos decorrentes do apelo fálico, que convoca o eu a se
representar, lugar que Lacan (1969) aborda como aquele que não cessa de
não se escrever, responsável pela busca da construção de um representante
que possa tornar-se suporte simbólico para amparar os laços discursivos.
De acordo com Lacan (1969), pode-se dizer que os discursos, esses
lugares lógicos, definem uma forma de gozo. Então, vê-se um deslocamento do
próprio sujeito da fala para um sujeito do discurso que não, necessariamente,
fala. Mas é um sujeito implicado no seu gozo.
Lacan (1969) ainda sublinha que esses lugares são responsáveis pela
produção de todos os nossos atos de repetição, desde atos enunciativos a atos
sintomáticos ou sublimatórios, ou seja, atos nos quais o sujeito se precipita em
um
objeto
pulsional,
na
fronteira
determinada
pela
articulação
alienação/separação da relação ao Outro.
Então, cada discurso tem um agente, que é aquele que coloca o
discurso para funcionar.
O agente é sempre um ator sustentado numa
verdade, particular para cada um dos quatro discursos. Tem-se um agente que,
embasado em uma verdade, agirá sobre alguém (o outro), para se obter uma
produção. O outro é o lugar do trabalho, a produção (mais valia) é o excesso, o
36
resto, objeto (mais de gozar) e a verdade é aquilo que desvelando vela, o que
não se diz por inteiro, o que faltam palavras, é o enigma.
É importante lembrar que é a rotação dos quatro elementos nos quatro
lugares que vai configurar a estrutura de cada discurso, o que fornece as
seguintes possibilidades discursivas:
Discurso do Mestre (governar): S1
→
$
S2
a
Encontra-se o discurso do mestre como o discurso da instituição do
sujeito enquanto tal. Teremos um agente que chamaremos de senhor (S1) que
agirá sobre o escravo (S2), fazendo-o produzir. Tem-se como produto o objeto
que terá um valor a que o escravo renuncia para o gozo do senhor como
sujeito.
Então, esse discurso, ao instaurar essa identificação do sujeito, faz com
que ele se represente, tenha uma identidade: ―eu sou isso‖, ou seja, o sujeito
fica identificado ao seu próprio significante. Assim, tem-se o sujeito alienado
entre dois significantes (S1 e S2), isto é, alienado ao seu inconsciente.
Lacan (1969) identifica esse discurso do mestre ao discurso do próprio
inconsciente que é uma cadeia de significantes cuja existência se manifesta
através de suas formações, como os chistes, sintomas, atos falhos, sonhos e
revelam a verdade, o desejo do sujeito. O inconsciente é um operário que
trabalha em tempo integral, é incansável.
Já o Discurso Universitário implica uma subversão discursiva em relação
ao discurso do mestre: (educar)
S2
→
S1
a
$
Esse discurso mudou a relação do homem com o saber. O saber que se
sustentava,
meramente,
no
próprio
significante
mestre,
no
discurso
37
universitário, esse saber equivale a outro, pois são as publicações, citações e
títulos universitários que garantem o valor de um saber. Dessa forma, o saber
se conta em títulos acadêmicos e o próprio sujeito torna-se instrumento de
gozo.
Discurso Histérico: (fazer desejar)
$
a
→
S1
S2
O discurso histérico denuncia o discurso do mestre; o sujeito histérico
faz objeções à instituição do sujeito como tal, ele interroga o discurso do
mestre, há sempre algo escapando e se manifestando, demonstrando que o
sujeito não é inteiro. Há uma revelação da castração do mestre que é barrado.
Nesse discurso, tem-se um sujeito dividido, mergulhado num ‗não saber‘,
sempre apontando o furo do Outro, pois esse discurso é o laço que mostra a
articulação do sujeito com o Outro através do desejo. Um desejo sempre
insatisfeito.
Discurso do Analista:
a
S2
→
$
S1
Na análise, o objeto mais de gozar situa-se na função de agente para
que o sujeito barrado produza os significantes primordiais, que o alienam como
sujeito, tendo esse laço o saber depositado na experiência como a sua
verdade.
O discurso do analista demonstra que o sujeito é descentrado em
relação a ele mesmo, é dividido. A psicanálise mostra que o significante, no
caso: ―eu sou isso‖, é incapaz de se significar a si mesmo. O sujeito jamais
poderá ser definido por ele mesmo, pois depende da sua localização na cadeia
de significantes e o sujeito não é aquilo que o representa.
A função do objeto aparece na renúncia ao gozo. Na relação com o
outro, há um mais de gozar que se estabelece e será captado por alguns.
Lacan (1969) refere-se ao objeto ‗a‘ enquanto perdido, sendo um ‗mais de
38
gozar‘. Gozar para o Outro, uma vez que a fantasia que implica a relação do
sujeito com esse objeto ‗a‘ que é sempre um objeto do Outro, na medida em
que o sujeito o supõe ser do Outro. Mas o processo analítico pretende levar o
sujeito a saber que esse Outro tampouco detém o objeto que lhe falta, pois o
outro é furado, perdido.
Para além desses 4 discursos que fazem laço social, Lacan não deixou
de fazer referência a outros contextos nos quais não se produzem laços
sociais, isto é, não há relação entre o agente e o outro. O discurso capitalista.
Uma variação, um deslizamento do discurso do mestre:
$
S1
S2
a
Trata-se da forclusão do laço social. E a psicopatologia trata-se de uma
estratégia para combater essa forclusão. O mais gozar não advém mais do
laço social, mas dos objetos. Há um desvanecimento do mestre, um declínio
dos significantes mestres em prol dos objetos; no lugar da verdade, a oferta de
Um para todos.
Nesse sentido, Ribeiro (2010) nos recorda que os produtos postos no
mercado, objetos ‗a‘, produzidos pela ciência, são postos para gozar – ofertas
de satisfação garantida e imediata. Tomam-se, como exemplo, as latusas
(termo utilizado por Lacan), para expressar celulares, computadores, dentre
outros produtos, que estão sempre obsoletos, fazendo com que o consumidor
não pare de comprar em busca de uma satisfação.
Outro exemplo importante são as drogas. Seu uso é efeito do discurso
capitalista, pois o usuário de drogas não pode parar de consumir. As drogas
forcluem o sujeito do laço social assim como o discurso capitalista.
Dessa forma, o discurso capitalista que forclui o laço social transforma o
agente em ―palhaço consumidor‖, como se tudo dependesse da sua vontade e,
assim, induz às patologias ligadas ao gozo do Outro, e o sujeito faz sintomas.
39
Podemos pensar aqui como o discurso capitalista apropria-se da
Síndrome de Down? Porque propagandas (o marketing), novelas e espetáculos
de arte (como, por exemplo, o ballet) têm divulgado tão, frequentemente, as
pessoas portadoras da síndrome como se fosse bom ter a Síndrome de Down?
Portanto, o discurso capitalista reduz o sujeito a um mero consumidor e
incrementa as patologias. Mas cabe realçar que o analista é o sujeito suposto
saber e deve saber como se sustentar nesse lugar, ater-se ao que diz respeito
ao não-todo do inconsciente, pois o discurso do analista é o que dá lugar de
sujeito ao Outro. O sujeito está na posição do outro e o psicanalista é mero
objeto ‗a‘, está na posição de agente do discurso. Daí a ética que rege seu
trabalho.
Já o discurso médico, segundo Cavalcante (2003), tenta responder,
prontamente, aos pedidos do paciente na tentativa de minimizar seu
sofrimento. A medicina trata o corpo do paciente como biológico e
deserogeneizado, foca-se na doença e na semiologia que reflete um saber já
pré-estabelecido para extrair o diagnóstico e a prescrição terapêutica
adequada.
O olhar médico não encontra o doente, mas a sua doença, e em seu
corpo não lê uma biografia, mas uma patologia na qual a
subjetividade do paciente desaparece atrás da objetividade dos sinais
sintomáticos que não remetem a um ambiente ou a um modo de viver
ou a uma série de hábitos adquiridos, mas remetem a um quadro
clínico onde as diferenças individuais que afetam a evolução da
doença desaparecem naquela gramática de sintomas, com qual o
médico classifica a entidade mórbida como o botânico classifica as
plantas. (ROTELLI, 1990, p.93)
De acordo com Filho (1992), o discurso da medicina é claro ao vincular
seu objetivo à cura, ao bem estar e ao progresso do tratamento. Sua tarefa e
função social consistem na recuperação da saúde do paciente como um bem
produtivo e pela possibilidade de inseri-lo no mercado do sistema capitalista.
40
O mesmo autor ainda nos transmite que, nos dois últimos séculos, o
avanço da ciência trouxe uma diversidade de contribuições e benefícios para o
campo da medicina, facilitando a produção de um saber objetivo sobre o corpo,
seu funcionamento e seus sistemas. Consequentemente, tais avanços também
foram responsáveis por alterações nos hábitos e costumes da sociedade que,
hoje, exige do médico uma propedêutica e um tratamento eficaz, rápido a fim
de aliviar o mal estar do doente.
E, na mesma proporção em que o
conhecimento avançou, fez-se necessário promover a divisão do saber sobre o
organismo, pois cada parte do corpo tornou-se uma nova área de investigação
específica. Dessa forma, o médico da contemporaneidade desenvolve sua
abordagem de modo focal, tratando da doença e visando à recuperação do
corpo ou da função desse corpo adoecido.
O discurso médico, quando nomeia uma patologia para alguns
pacientes, constitui um elemento identificatório. Assim, frequentemente, a
pessoa deixa de ser o Diogo, a Aline, para ser o diabético, o amputado. Mas
cada sujeito respoderá a isso de forma singular.
De acordo com Mucida (1998), não saber o diagnóstico pode causar
diversas
reações.
Alguns
pacientes,
ao
se
descobrirem
―doentes‖,
especialmente, de modo súbito, sentem-se angustiados. Enquanto o que ele
sente não tem nome, enquanto as causas das suas sensações são
desconhecidas, a angústia permanece intensa. Ela presentifica o real, o sujeito
fica à deriva, desprendido da palavra, fora da simbolização, fica doente
penalizado por um mal estar interno o qual não consegue aliviar. Esse mal
estar pode, muitas vezes, minimizar quando o médico nomeia a doença. Porém
pode também promover uma espécie de cortes nos projetos de vida do
paciente, adquirindo um sentido de perda que abala a estrutura psíquica
desses doentes. Esses sentimentos de perda, desencadeados nesse
momento, podem fazer com que a pessoa invista em cuidados extremos com
sua saúde.
41
Mucida (1998) constata que o discurso da medicina oferece ao paciente
hospitalizado um atrelamento do sujeito à doença. Dessa forma, parafraseando
Mucida: o que tem o discurso analítico a oferecer ao paciente hospitalizado?
Como descolar do ―Down‖ e escutar o ―Diogo‖?
Se as doenças surgem, as síndromes existem e, se há mudanças
corporais e mudanças na relação com o outro, advindos de um abalo das suas
identificações, torna-se indispensável um trabalho de reconstrução, pois a falta
de significantes, para nomear esse momento na história do sujeito, pode fazer
persistir o real como silêncio de um vazio impronunciável.
A psicanálise, no hospital, trabalha com esses pacientes na dialética:
alienação – separação (ser a doença – estar doente), para possibilitar ao
sujeito o caminho da interseção entre esses dois pólos, oferecendo um outro
campo.
De acordo com Clavreul (1983), a ―Psicanálise é, antes, o avesso da
Medicina‖. Jorge (1983) afirma que, no discurso médico, há uma objetividade
científica que retira a subjetividade do sujeito, tanto daquele que o enuncia
como daquele que o escuta. A fala do sujeito é ouvida para ser descartada,
depreendendo-se daí a função silenciadora do discurso médico, que, ao se
valer apenas de seus próprios elementos, anula tudo o que nele não possa se
inscrever. Dessa forma, o discurso médico reduz o sentido dos diferentes ditos
do sujeito àquilo que é passível de ser neste inscrito. Uma "falta de ar‖,
juntamente com uma ―dor no peito‖ e ―uma angústia por dentro‖ são reduzidos
ao sinal clínico da dispnéia. Do mesmo modo, ―um peso na cabeça‖, ―uma
ardência na testa‖ e ―um latejamento na cabeça‖, ―um pensamento que não
pára de martelar‖ são reduzidos e nomeados de cefaléia.
Jorge (1983) acrescenta que a receita médica é, também, uma ordem
médica, afinal prescreve um enunciado dogmático: coma isso, não beba aquilo,
não fume, repouse, faça exercícios.
O discurso médico, então, refere-se a um discurso dominante, utiliza o
42
outro para impor seus ditames e seus ideais – posição de mestria. É
justamente aí que pode-se destacar a distinção entre a psicanálise e a
psiquiatria, pois a psicanálise não propõe esse discurso de mestria, portanto,
não decide ou impõe o que é melhor para cada sujeito em particular.
No decorrer de sua obra, Freud passa a valorizar, não mais a sugestão
hipnótica, mas a escuta do sujeito em sua associação livre, regra fundamental
da psicanálise. É a passagem de uma posição de compreensão para a de
interpretação, e ainda de um ―sujeito que sabe‖, própria do médico, para a do
sujeito suposto saber, lugar do psicanalista. Lugar este, que pretendemos, no
próximo capítulo, destacar como a posição ocupada pelo analista, também no
hospital.
4 – PSICANÁLISE E HOSPITAL
Freud (1918), nas Linhas de Progresso na Terapia Psicanalítica, já nos
alertava que, futuramente, defrontaríamos ―com a tarefa de adaptarmos nossa
técnica às novas condições‖. Ele antecipava a inserção da Psicanálise no
âmbito da Saúde Pública:
É possível prever que, mais cedo ou mais tarde, a consciência da
sociedade despertará, e lembrar-se-á de que o pobre tem
exatamente tanto direito a uma assistência à sua mente, quanto o
tem, agora, à ajuda oferecida pela cirurgia, e de que as neuroses
ameaçam a saúde pública não menos que a tuberculose, de que,
como esta, também não podem ser deixadas aos cuidados
impotentes de membros individuais da comunidade. Quando isto
acontecer, haverá instituições ou clínicas de pacientes externos, para
as quais serão designados médicos analiticamente preparados, de
modo que homens que de outra forma cederiam à bebida, mulheres
que praticamente sucumbiriam ao seu fardo de privações, crianças
para as quais não existe escolha a não ser o embrutecimento ou a
neurose, possam tornar-se capazes, pela análise, de resistência e
trabalho eficiente. Tais tratamentos serão gratuitos. Pode ser que
passe um longo tempo antes que o Estado chegue a compreender
como são urgentes esses deveres. (FREUD, S. [1918] - Linhas de
progresso na terapia psicanalítica).
43
Há noventa e dois anos, Freud antecipava essa inserção da psicanálise
no âmbito da saúde. O escrito de 1918 é notável no que tange a esse ponto
tanto pela precisão descritiva do cenário em que hoje nos situamos quanto pelo
rigor ético que orienta os psicanalistas dessa época futura, que ora
constatamos nos tempos atuais.
Neste presente trabalho, não vamos nos ater a discussões sobre a
saúde pública ou a privada, mas realçaremos essa citação de Freud com a
intenção de refletir sobre o que se convencionou chamar de setting analítico.
Justamente, por ser umas das justificativas que barraria a entrada de um
psicanalista na instituição hospitalar, como se o analista não pudesse fazer
psicanálise, ultrapassando as quatro paredes da clínica.
4.1 – Setting analítico.
Todo aquele que espera aprender o nobre jogo de xadrez nos livros,
cedo descobrirá que somente as aberturas e os finais de jogos
admitem uma apresentação sistemática exaustiva e que a infinita
variedade de jogadas que se desenvolvem após a abertura desafia
qualquer descrição desse tipo. Esta lacuna na instrução, só pode ser
preenchida por um estudo diligente dos jogos travados pelos mestres.
As regras que podem ser estabelecidas para o exercício do
tratamento psicanalítico acham-se sujeitas a limitações semelhantes.
(Freud, 1911, p.139)
A psicanálise de Freud nasceu dentro dos hospitais acerca dos estudos
para tentar compreender os fenômenos histéricos. E Lacan desenvolveu seu
trabalho no hospital Sainte-Anne. Dessa forma, como surgem as regras que
constituem o setting analítico?
Freud (1911) evidencia que o instrumento de trabalho do psicanalista é a
palavra que desliza na associação livre num contexto transferencial. Mas ele
descreve um conjunto de regras que facilitariam a intervenção analítica: tempo,
local, postura, dentre outras.
44
Segundo Quinet (1991), Lacan introduz o ato psicanalítico para deslocar
a ―psicanálise do âmbito das regras, para situá-la na esfera da ética. O conceito
de ato desvela que o dito contrato do início da análise exime o analista da
responsabilidade do seu ato – trata-se de um contra-ato‖ (Quinet, 1991, p.10).
O que autoriza, então, o analista neste ato? O ato analítico é, por
primazia, a passagem de analisante a analista. Ainda de acordo com Quintet
(1991), aprendemos que só é possível encontrar-se o ato analítico no início da
análise de cada paciente, caso ele tenha se realizado para aquele analista no
final de sua própria análise. Ao dirigir uma análise, os atos do analista trazem a
marca dessa passagem, mesmo quando a travessia fracassa, segundo Quinet
(1991).
Sendo o setting analítico um ―contrato‖ que determina o tempo das
sessões, a freqüência e etc, como propor ao paciente um tipo de ‗concretização
do Outro‘, sendo que o caminho da análise se direciona, justamente, para o
confronto com a falta do Outro? Dessa forma, é a formação do analista que
permite o ato analítico. Aprendemos que, a própria análise do analista é a
condição para seu exercício.
Portanto, o que se contrata na psicanálise se resume: o paciente associa
livremente e seu analista presta atenção flutuante. Esse é o compromisso
primordial na relação transferencial entre paciente e analista. Dessa forma, o
setting analítico não é um argumento que impossibilitaria a entrada da
psicanálise numa instituição hospitalar. Não se pode abordar o setting como
um espaço real, afinal é psíquico, trata-se de uma construção simbólica para o
desenvolvimento da análise.
45
4.2 – Não há psicanálise sem transferência.
Na psicanálise, o termo ―transferência‖ foi introduzido por Sigmund
Freud e Santor Ferenczi, entre 1900 e 1909 para conceituar:
―Um processo constitutivo do tratamento psicanalítico mediante o
qual os desejos inconscientes do analisando passam a se repetir, no
âmbito da relação analítica, na pessoa do analista, colocado na
posição desses diversos objetos.‖ (ROUDINESCO,1998, p.766)
A transferência é um dos conceitos cruciais elaborados por Freud no
decorrer da sua obra, a partir da sua clínica com pacientes histéricos e
considerada uma condição sine qua non num processo anatítico. Mas Freud
realça que o manejo desse trabalho – um caminho sinuoso e delicado – tratase de uma dificuldade séria que o analista deve enfrentar.
O Vocabulário de psicanálise Laplanche define:
―Designa em psicanálise o processo pelo qual os desejos
inconscientes se atualizam sobre determinados objetos no quadro de
um certo tipo de relação estabelecida com eles e, eminentemente, no
quadro da relação analítica. Trata-se aqui de uma repetição de
protótipos infantis vivida com um sentimento de atualidade
acentuada. É a transferência no tratamento que os psicanalistas
chamam a maior parte das vezes de transferência, sem qualquer
outro qualificativo. A transferência é classicamente reconhecida como
o terreno em que se dá a problemática de um tratamento
psicanalítico, pois são a sua instalação, as suas modalidades, a sua
interpretação e a sua resolução que caracterizam este.‖
(LAPLANCHE E PONTALIS, 1994, p.514)
O paciente vê no analista o retorno, a reencarnação de alguma
importante figura de sua infância ou passado, transferindo para ele sentimentos
e reações que, sem dúvidas, aplicam-se a esse protótipo. Consequentemente,
a ambivalência dessa relação também será reproduzida pela transferência,
pois chegará o momento em que sua atitude positiva para com o analista se
transformará em negativa, adversa e agressiva. Enquanto é positiva, ela é de
grande utilidade para o tratamento, modificando toda a situação analítica e
46
realçando o objetivo racional que o paciente tem para ficar sadio. Mas, quando
negativa, torna-se um entrave ao tratamento, podendo levar à sua interrupção.
No texto, ―Sobre a dinâmica da transferência‖, Freud (1912) tenta
discernir a transferência positiva da negativa, descrevendo-as em detalhes:
É importante separar uma transferência ―positiva‖ de uma ―negativa‖,
a transferência de sentimentos afetuosos da dos sentimentos hostis,
e tratar separadamente os dois tipos de transferência para o médico.
A transferência positiva ainda se divide em transferência de
sentimentos amistosos ou afetuosos que são admissíveis à
consciência, e transferência de prolongamentos desses sentimentos
no inconsciente. Com referência aos últimos, a análise demonstra
que, de modo regular, remontam a fontes eróticas. E somos assim
levados à descoberta de que todas as relações emocionais acham-se
vinculadas geneticamente à sexualidade e se desenvolveram a partir
de desejos puramente sexuais. (...) A psicanálise demonstra-nos que
pessoas que em nossa vida real são simplesmente admiradas ou
respeitadas podem ainda ser objetos sexuais para nosso
inconsciente. Assim, a solução do enigma é que a transferência para
o médico só é adequada como resistência ao tratamento quando é
uma transferência negativa ou uma transferência positiva de impulsos
eróticos recalcados. (FREUD, 1912, p. 116)
Dessa forma, ele pontua que o fato de a transferência reanimar imagens
infantis pode aparecer em análise como ―a arma mais forte da resistência‖
(FREUD, 1912, p. 115), porque o paciente extrai dos conteúdos passados as
suas armas de defesa contra a evolução do tratamento – armas estas que
devem se arrancadas uma a uma. Quando fragmentos particularmente aflitivos
ou parte do material inconsciente dos complexos infantis estão a ponto de
serem transferidos para a figura do analista, a resistência aí se coloca. Assim,
a transferência é um paradoxo, pois é o ―motor da análise e o máximo da
resistência‖. Afinal, a lógica do inconsciente é paradoxal. (―é você e não é
você‖) – o paciente transfere a sua realidade sexual recalcada para sua
realidade atual, atualizando os clichês da vida amorosa. Cabe ao analista,
suportar esse lugar que lhe é dado, sem saber que lugar é esse.
Portanto, a transferência, em Freud, é uma força motriz que tanto serve
de trampolin que impulsiona o analisante ao deciframento de suas próprias
47
interpretações fundantes quanto serve de obstáculo à rememoração. O
importante será a posição do analista ao manejar a transferência com a
intenção de utilizá-la como o instrumento crucial, ―o motor do tratamento‖.
Lacan cria os matemas – notações breves sob a forma de letras e
números – para viabilizar a transmissão dos conceitos de maneira mais
objetiva do que os conteúdos imaginários. Dessa forma, resgato aqui o
algoritmo da transferência:
S
______________ → Sq
s1, s2.......sn
Ou seja, o significante da transferência é o significante que o analisante,
inconscientemente, apresenta para o analista. Sq é um significante ‗qualquer‘
atribuído ao analista, a partir do qual o analistante representa o analista.
‗Qualquer‘, pois não é o significante do analista, mas sim o significante do
sujeito em análise. Tanto que, se o paciente muda de analista, muda-se
também o significante.
No ensino de Lacan, a transferência ao analista refere-se a um saber
que o analisando supõe nele. Mas esse sujeito suposto saber não traz
nenhuma certeza ao analisando de que o analista saiba tudo. Pelo contrário,
esse saber é bem duvidoso. ―O estabelecimento da transferência no registro do
saber através de sua suposição é correlato à delegação àquele que é seu alvo
de um bem precioso que causa o desejo, causando, portanto, a própria
transferência.‖ (QUINET, 1991. p.34).
Dessa forma, acredito na importância de realçar, neste texto, a questão
da
transferência
quando
nos
referimos
caracterizada pelas situações de urgência.
a
uma
instituição
hospitalar
48
Lacan rompe com a setting analítico quando enfatiza que o que sustenta
um bom trabalho da psicanálise é o manejo da transferência, os fundamentos
éticos dos procedimentos técnicos e o desejo do analista.
No texto, ―A Direção do tratamento e os princípios de seu poder‖ (1958),
Lacan atenta para a direção do tratamento e conduz a ação analítica baseada
em três planos: a ―tática‖, a ―estratégia‖ e a ―política‖. Na tática, que consiste na
interpretação, o analista é livre para decidir quanto ao momento e ao número
de interpretações que fará ao longo desse processo. Contudo, tal tática está
subordinada a uma estratégia, que é o manejo da transferência. Lacan recorda
que o analista não é o seu dono, mas encontra-se alienado nela. Ele serve de
âncora no percurso da análise para a reconstrução da fantasia do paciente,
permitindo desdobrar-se sobre a sua pessoa o fenômeno da transferência,
tendo em mente que não é de sua pessoa que se trata. Por isso, deve ser bem
evidente para onde está dirigindo a análise – a política. Com efeito, a política
do analista é seu estilo em manejar a transferência e é isso que carimba o
próprio percurso da direção do tratamento. Essa política é a da falta-a-ser que
Lacan, naquela época, em 1958, definia o sujeito como tal.
É ainda nesse momento que ele aborda a transferência no marco do ser.
Pela dimensão de rompimento que o inconsciente suscita no ―ser pensante‖, o
sujeito surge como a falta-a-ser, isto é, como efeito do esvaziamento da
consistência do ser. Esse processo se refere ao efeito de linguagem sobre o
ser vivo. Na busca de sua verdade, o sujeito se dirige ao Outro. Portanto, a
transferência insere o analista atribuindo-lhe saber.
É nesse sentido que no escrito ―Função e campo da fala e da linguagem‖
(1953), Lacan sublinha que, no início da análise, pode acontecer um ―erro
subjetivo‖ (LACAN, 1953, p.309), em que o analisante situa o saber do lado do
analista: o Sujeito suposto Saber. Isso expressa o modo pelo qual o sujeito
mantém sua relação de objeto. O que só é possível porque logo de início, na
experiência psicanalítica, estabelece-se a dimensão da palavra que propicia
49
que o sujeito propriamente dito constitua-se por um discurso que a presença do
analista introduz. Dentro desse contexto, a abstinência do analista em
responder à demanda de amor do analisante é um elemento importante no
manejo da transferência, porque é através desse ―não-agir‖ que ele conduz o
tratamento de forma a provocar no sujeito o desejo de descobrir a sua verdade,
que nunca poderá ser inteiramente dita, denunciando o impossível da estrutura
do inconsciente. Nessa direção, sua função é propiciar o aparecimento da
significação do analisante, o que corrobora o pressuposto lacaniano de que
―nada fazemos a não ser dar à fala do sujeito sua pontuação dialética‖ (LACAN,
1953, p.311).
Ou seja, é a regra da abstinência do analista que leva o paciente a
encontrar a dimensão da ignorância, do seu não-saber que o conduz na busca
de sua fala verdadeira, fala de sujeito – sujeito do inconsciente. Por isso,
quando um paciente hospitalizado pergunta ao analista ‗por que comigo?‘, não
será função do analista responder a essa questão, mas sustentar, sob
transferência, tal enigma.
Na instituição hospitalar, a escuta do analista busca situar o que é vivido
pelo paciente e implicá-lo no percurso que faz na vida para além do adoecer.
Segundo Quinet (1991), ―...trata-se de introduzir o sujeito em sua submissão ao
desejo como desejo do Outro. A retificação subjetiva aponta que, lá onde o
sujeito não pensa, ele escolhe; lá onde pensa, é determinado, introduzindo o
sujeito na dimensão do Outro. (QUINET,1991, p.38)
Então, quando o paciente questionar ―por que comigo?‖, não será
função do analista fornecer respostas a esta pergunta, mas sim
sustentá-la para que esta possa transformar-se em um enigma
para o sujeito. O analista deve acolher esta demanda de amor,
sem, no entanto, satisfazê-la. Através da psicanálise, devemos
escutar o paciente, ou seja, saber no seu discurso, qual a posição
do sujeito em relação ao Outro da linguagem – dar espaço para
este paciente falar e ser escutado é de extrema importância para
advir o sujeito do desejo. (MOHALLEM, 1996, p. 32)
50
Dentro de uma Instituição Hospitalar, o analista trabalha com a angústia
e com a direção de seu paciente para que este se torne autor da sua própria
história, isto é, fale de um outro lugar; para, dessa forma, sair da posição de
objeto vitimizado pelo Outro. Essa função do analista se dá através da escuta,
pela transferência, proporcionando ao sujeito um outro lugar diferente do lugar
do sujeito alienado onde o desejo não aparece. Assim, o sujeito desenvolve a
capacidade de aprender sobre si mesmo e sobre o Outro, sempre deslizando
na cadeia de significantes. Afinal, a via privilegiada para o trabalho é a via do
simbólico.
Todo sujeito tem o direito da sua palavra para que ele possa dizer dele.
É onde vacila a alienação (―eu não sou exatamente aquilo que você disse‖). De
acordo com Marisa Decat1 ―do que herdaste de teu pai, transforme e faça seu‖
trata-se de uma dívida simbólica com os pais, ou seja, o sujeito é capaz de se
situar no discurso parental, apontando a própria demanda, da alienação à
separação. É como de despir da roupagem que lhe foi atribuída. ―Che
Voui?‖(Que queres?)
E a angústia emerge nesses momentos de separação, corte ou perda do
objeto, quando o sujeito é obrigado a ceder algo precioso, algo cuja perda lhe
ameaça de aniquilamento, queda. É nesse sentido que o dispositivo analítico,
que convoca o sujeito a falar através associação livre, necessariamente,
pressiona-o a um dizer para além dos seus ditos, cuja perda é impossível de
deter. O sujeito faz, então, a experiência do encontro com o real, real do qual a
angústia é sinal.
Com isso na condução de um tratamento, é preciso que o analista seja
capaz também de perceber o que cada sujeito pode suportar de angústia, ou
melhor, o quanto de angústia é possível de ser experimentada pelo analisante.
O manejo da angústia implica o analista operar um modo de sustentação da
1
Discussão com as psicólogas e psicanalistas Marisa Decat e Léa Mohallem no Hospital Mater Dei, Belo
Horizonte, MG.
51
palavra, incentivando o analisante a continuar a lidar com o impossível de
suportar – o real – através do simbólico.
Dessa forma, o psicanalista em ambiente hospitalar pode oferecer um
espaço para que o sujeito seja escutado de um lugar diferente da posição de
doente ou numerado pelo leito. É ir mais além, é deslizar na palavra que o
ajudará a suportar e suavizar a condição humana. Se o sujeito quer saber algo
sobre si mesmo, ele vai demandar isso seja na clínica ou no hospital e, dessa
forma, a transferência não está atrelada a um ambiente, mas mistura com o
próprio sujeito.
4.3 – Contribuição da psicanálise no hospital
Na clínica psicanalítica, o sofrimento do sujeito é central. De acordo com
Lacan (1964, p.158), ―até certo ponto, sofrer demais é a única justificativa para
nossa intervenção‖. Presenciar o sofrimento humano é fato frequente para
quem trabalha em uma instituição hospitalar, inclusive para o psicanalista. No
hospital, a dimensão do corpo fica escancarada, pois há sempre uma urgência
física que justifique uma internação. Porém o que se observa é que nem
sempre a causa do sofrimento se associa apenas ao adoecimento orgânico. A
escuta psicanalítica oferece um novo cenário dentro do contexto hospitalar,
uma vez que a psicanálise foca a escuta do inconsciente. Com essa
ferramenta,
o
psicanalista
contribui
na
elucidação
da
determinação
inconsciente para, assim, minimizar o sofrimento.
A contribuição da psicanálise no hospital está na própria origem, quando
os sintomas histéricos esbarravam no limite da Medicina. Freud (1893)
questionava as nevralgias, anestesias, contraturas, paralisias, ataques
histéricos, convulsões epileptoides, perturbações da ordem dos tiques, vômitos
crônicos, anorexia e várias formas de perturbação da visão, ou seja, sintomas
52
que desafiavam Freud e a medicina da época.
Freud (1888) realçou a etiologia desses sintomas, pois a medicina não
conseguia explicá-los, afinal não expressavam nenhuma relação física que
descrevesse sua existência. Pelo contrário, sua fenomenologia associava-se
ao saber médico sobre a fisiologia do corpo humano. Atualmente, as
discussões sobre essa contribuição vêm sendo ampliadas, e Lacan traz
importantes elucidações sobre o tema.
No texto ―A ciência e a verdade‖, Lacan (1966, p.870) define o ―sujeito
da Psicanálise como o sujeito do Inconsciente — ―aquele tomado numa divisão
constitutiva‖, entre o saber e a verdade. Lacan retoma a citação freudiana Wo
Es war, soll Ich werden como ―(...) lá onde isso estava, lá, como sujeito, devo
[eu], advir‖. Essa afirmação refere-se à definição do aparelho psíquico
realizada por Freud em 1923, no texto ―O Eu e o Isso‖, em que ele apresenta
as instâncias psíquicas do Isso, Eu e Supereu. Dessa forma, Freud e
posteriormente Lacan, nos dizem sobre a verdade do sujeito que se encontra
justamente nessa outra dimensão, a dimensão Inconsciente. Ou seja, entre o
que o sujeito diz e a verdade, há questões de outra ordem e, dentre elas, as
que se constituem nas demandas do sujeito àqueles que o tratam.
Numa internação hospitalar, pode acontecer de retornar para o sujeito a
dimensão do desamparo. Quando aflui numa internação o sofrimento físico e o
sofrimento psíquico, produz-se um estado de desamparo, produzindo uma
―urgência subjetiva‖. Essa urgência está ligada à dimensão do encontro com o
Real — como Lacan (1976-1977, lição de 16 nov. 1976) o define, ―o que não
cessa de não se escrever‖ —, em que o sentido escapa. É a dimensão sempre
traumática do encontro com o limite do saber, da vida e da morte.
É através da angústia que essas questões se manifestam, gerando
efeitos diversos e singulares para cada um. Enfim, o que se presentifica nessas
situações, em última instância, é a dimensão da castração, da finitude,
pois, como diz Lacan (1964), o encontro com o Real é sempre faltoso e
traumático. Dessa forma, para muitos sujeitos, a intensidade da vivência de
53
uma internação torna-se insuportável, causando sofrimento. Nem sempre as
defesas psíquicas que o sujeito dispõe para lidar com esse momento
contribuem para o seu tratamento. Alberti (1999, p.155) sublinha que ―O trauma
é precisamente o momento em que o sujeito que fala não dá conta de dizer,
não encontra representantes, significantes para designar uma experiência, seja
ela sexual, de dor, de morte ou de perda‖.
Ao analista, portanto, cabe escutar as fantasias e sentidos de cada
sujeito e acolhê-los sem deixar-se misturar neles. De acordo com Lacan,
(1962-1963) é de extrema importância saber que sempre o que é enunciado
comporta uma dimensão outra, a do Inconsciente. A clínica psicanalítica escuta
situações limites, graves, com histórias trágicas e, com isso, há um risco do
analista se deixar impactar por essas situações, comprometendo, assim, a sua
escuta. No hospital, esse risco fica ainda mais propício de acontecer. As
histórias construídas e as tentativas de atribuição de sentido são formas que o
sujeito encontra de dizer de seu desamparo, do encontro com o Real, com a
dimensão da castração. E, nesse cenário, uma escuta diferenciada que possa
acolher o sujeito e reconhecer sua existência já comporta em si uma dimensão
terapêutica do trabalho psicanalítico.
A experiência nas instituições hospitalares nos aponta que a psicanálise
pode acolher os sujeitos para que, desse encontro, possa advir alguma
vicissitude que torne sua angústia mais suportável e apontar para a equipe de
saúde que ali há um sujeito que sofre, e que a relação estabelecida por cada
um tem efeitos para o paciente e para o próprio profissional: esse é o trabalho
do analista no hospital. Dessa forma, para além de um drama na vida de um
sujeito, e por mais intenso que isso possa parecer, o analista deve sustentar a
dimensão ética a partir do desejo, cujo foco é sempre a escuta do sujeito do
inconsciente. Lacan (1959-1960) sublinha que, para além do que é dito no
discurso manifesto do paciente, existe uma outra cena, uma outra
determinação para as demandas e ações do sujeito: a determinação
inconsciente.
54
5 – Documentário: “Do luto à luta”
O documentário ―Do luto à luta‖, de Evaldo Mocarzel, lançado no ano de
2005, é uma das suas produções mais pessoais, afinal, ele mesmo reconheceu
que o ponto de partida foi o nascimento da sua filha Joana, com Síndrome de
Down. Em entrevistas, ele faz uma analogia à experiência do nascimento da
sua filha, como um desabamento de um prédio de sessenta andares sobre sua
cabeça. Ou seja, um enorme edifício de falta de informação, de ‗não saber‘, do
desconhecido de como conviver com uma pessoa deficiente.
―Do luto à luta‖ foi definido por Mocarzel como um filme a que gostaria
de ter assistido quando sua filha nasceu. Nenhum outro documentário tinha
ousado apresentar de forma tão escancarada os preconceitos, os desafios e
sutilezas do universo dos portadores da Síndrome de Down.
O documentarista Mocarzel dá voz a eles: convida dois jovens que têm a
Síndrome de Down, para representarem no mundo cinematográfico, o papel de
um casal de pais que recebem a notícia do nascimento de um filho com a
Síndrome. O casal de jovens, que expressa admiração às produções de
Spilberg, prepara, roda e discute o pequeno filme sobre o cenário da notícia de
um bebê com Síndrome de Down.
A inclusão no cinema metaforiza, assim, a batalha pela inclusão social
que está no núcleo de ―Do luto à Luta‖.
O triunfo de Mocarzel é inegável. Sem exagero, seu filme tocou de forma
intensa a conscientização pública em torno dos portadores de Síndrome de
Down. Representação disso foi a participação da sua filha, Joana, na
telenovela da Globo, ―Páginas da Vida‖ de Manoel Carlos.
6.1 – Luto e a magia das palavras.
No texto ―Luto e melancolia‖, Freud (1915) apresenta uma aproximação
55
entre os termos e sublinha algumas diferenças fundamentais. Descreve o luto
como ―uma reação à perda de um ente querido, à perda de uma abstração que
a represente, como a pátria, a liberdade ou ideal de alguém, e assim por
diante‖.
Freud realça que o luto não é, obrigatoriamente, um processo patológico,
pois, após elaborado o trabalho de luto – ―Trauerarbeit‖ – o sujeito, geralmente,
quer investir em outros objetos. O termo Trauerarbeit refere-se à possibilidade
de elaborar uma perda. Dessa forma, se o termo usado é ‗trabalho‘, supõe que
existe uma forma de reconstruir o objeto via linguagem. Ou seja, o trabalho de
luto é uma elaboração da perda significativa na vida do sujeito e a psicanálise
aposta na fala, reforçando que a palavra pode vir a realizar tal tarefa. ―Embora
o luto envolva graves afastamentos daquilo que constitui atitude normal para
com a vida, jamais nos ocorre considerá-lo como sendo uma condição
patológica e submetê-lo a tratamento médico‖. (Freud, 1915, p. 249)
Dessa forma, espera-se que, após algum tempo de trabalho de elaboração
do luto, o sujeito esteja pronto para dar continuidade ao investimento libidinal
em ―objetos substitutos‖. O trabalho de luto refere-se ao desligamento da libido,
até então vinculada a um determinado objeto, (sendo importante destacar a
dificuldade do abandono de uma posição libidinal), conforme assinala Freud: ―é
fato notório que as pessoas nunca abandonam de bom grado uma posição
libidinal, nem mesmo, na realidade, quando um substituto lhes acena‖ (Freud,
1915, p. 250) demandando um tempo específico, subjetivo e particular a cada
sujeito:
São executadas pouco a pouco, com grande dispêndio de tempo e de
energia catexial, prolongando-se psiquicamente, nesse meio tempo, a
existência do objeto perdido. Cada uma das lembranças e
expectativas isoladas através das quais a libido está vinculada ao
objeto é evocada e hipercatexizada, e o desligamento da libido se
realiza em relação a cada uma delas. (...) Contudo, o fato é que,
quando o trabalho de luto se conclui, o eu fica outra vez livre e
desinibido‖. (FREUD, 1915, p.251)
De acordo com Freud (1915), quando o sujeito consegue abandonar uma
posição libidinal, através do hiperinvestimento e do desligamento em relação
56
ao que o objeto reatualiza, ele começa, então, a investir, livremente, em outros
objetos. Isso nos permite dizer que o luto é um trabalho com início, meio e fim.
O tempo necessário para realizar um luto varia em cada sujeito e da
relação que se tinha com o objeto perdido. Freud considera que o ‗luto normal‘
é aquele que dura de um a dois anos no máximo, mas sabemos que não há um
tempo passível de delimitação, a priori, entre o que seria considerado um ‗luto
normal‘ e um ‗luto patológico‘.
Freud (1915) destaca que há uma certa disposição patológica que
algumas pessoas teriam diante de uma perda importante – perda de um ente
querido ou alguma abstração, como a pátria, a liberdade ou ideal de alguém –
e que resultaria, em vez de um luto, uma melancolia.
A melancolia, cuja definição varia inclusive na psiquiatria descritiva,
assume várias formas clínicas, cujo agrupamento numa única entidade não
parece ter sido estabelecido com certeza, sendo que algumas de suas formas
sugerem afecções mais somáticas do que psicogênicas. Freud (1915) limita-se
a um pequeno número de casos, nos quais a natureza psicogênica é
indiscutível. Caracterizada por um desânimo profundamente penoso, a
melancolia também é caracterizada pela cessação de interesse pelo mundo
externo, perda da capacidade de amar e inibição de toda a produtividade, a
ponto de o sujeito se recriminar e se degradar, culminando com uma
expectativa delirante de punição.
Neste trabalho, destacamos o conceito de luto, afinal o próprio nascimento
de um filho já implica, naturalmente, um trabalho de luto frente às diversas
perdas: a mulher deixa de ser filha para ser MÃE; o pai da recente mãe tornase AVÔ; o irmão da mãe torna-se TIO. E quando nasce um filho com Síndrome
de Down?
O nascimento de um filho é, certamente, um momento repleto de
expectativas na vida de uma família que se vê envolta nas próprias questões
narcísicas e edípicas.
57
De acordo com Mathelin (1999), o bebê que nascerá passa a ser
idealizado, produzindo nos pais, sonhos, desejos e uma imagem mental do
bebê ideal. E Freud (1969), como sempre, clareia nossas questões:
A criança terá a vida melhor que seus pais, ela não estará submetida
às necessidades que experimentamos como dominando a vida.
Doença , morte, renúncia de gozo, restrições à sua própria vontade
não valerão para a criança, as leis da natureza como as da sociedade
pararão diante dela, ela será realmente de novo o centro e o coração
da criação, his majesty the baby... O amor dos pais, tão tocante e no
fundo tão infantil, não é nada senão o narcisismo deles que acaba de
renascer. ( Freud, 1969, p. 96)
É esse narcisismo que é colocado à dura prova quando os pais de uma
criança com Síndrome de Down se veem diante do seu filho, internado num
hospital, devido às complicações de saúde que a síndrome pode provocar.
De acordo com Salgado (2000), pessoas com Síndrome de Down
possuem maior risco de sofrer cardiopatias, hipotireoidismo, doenças
respiratórias e alterações auditivas devido à frequência de otites serosas. A
Sindrome é caracterizada pela hipotonia, obstipação e convulsões. Ele está
sofrendo? Perguntam os pais aos médicos.
Onde foi parar o trono do bebê, apontado por Freud como ―Sua
majestade o bebê‖, a quem são atribuídas todas as perfeições e negados os
defeitos? O bebê das promessas e das ilusões? Como investir esse corpo que
fere o narcisismo parental? Cabe, então, perguntarmos, como AS PALAVRAS
EM TORNO DO LEITO podem dificultar a construção psíquica desses pais? O
que essas crianças com Síndrome de Down, quando estão internadas no
hospital, têm a nos dizer?
De acordo com Winnicott (1988), o psicólogo pode ajudar as mães na
sua capacidade de dar cuidados, suficientemente, bons (good enough care).
―Basta se ocupar delas de uma maneira que reconheça a natureza essencial
58
de sua função. Para as mães que não têm isso nelas, não é instruindo-as que
as tornaremos aptas a fazê-lo‖ (Winnicott, 1988, p. 121)
A presente pesquisa sobre a psicanálise no hospital não pretende
antecipar uma necessidade de tratamento analítico para aquela criança com
Síndrome de Down internada e seus pais. Porém a psicanálise aposta que a
criança ―sujeito‖ deve ser acolhida como portadora de uma história que precede
em muito o momento da hospitalização. Essa história cuja estada numa
internação será apenas um episódio continuará depois, apesar de... Clarice
Lispector, no Livro ―Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres‖ nos transmite
uma poética que lhe é própria:
―...uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar
de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve
morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos
empurra para a frente. Foi o ‗apesar de‘ que me deu uma angústia
que insatisfeita foi a criadora de minha própria vida...‖ (Lispector,
1998, p.26)
Frente à experiência de uma longa internação num hospital, uma
simbolização deve ser possível para que os pais continuem a imaginar essa
criança, para que ela não se torne para eles, um doente a reanimar – objeto da
medicina – mas que permaneça uma criança: SUA criança.
O tratamento dos médicos, portadores do desejo de vida, nem
sempre é suficiente também, é preciso para viver inscrever-se numa
palavra; na falta disso, o ser humano morre e se ele inscreve-se
numa palavra louca, ele torna-se louco. (Wanderley, 1997, p. 131)
Duas crianças nascidas com o mesmo peso, com sintomatologia
similar, não evoluirão de maneira idêntica, mesmo se elas se
beneficiam da mesma qualidade de tratamento. (Wanderley, 1997, p.
131)
É exatamente essa a proposta da psicanálise no hospital com crianças
com Síndrome de Down: cada corpo é inscrito numa palavra diferente e, por
isso, é diferente. E a medicina defronta-se com a verdade do corpo particular
de cada um. Cada palavra dita toma um sentido diferente para cada sujeito,
pois cada palavra reenvia a uma outra diferente da primeira. E é essa ligação
59
de verdade entre palavra e corpo que o analista, no hospital, vem questionar
num serviço de medicina. Psicanálise, medicina e hospital, um trabalho
possível em torno do leito da criança com Síndrome de Down, falando-lhes
delas, da sua família, dos tratamentos aos quais estão submetidas e das
razões da sua hospitalização.
60
6 – RELATO DOS PAIS APAIXONADOS.
―...entre as aleluias e as agonias de ser.‖
(Clarice Lispector, 1998, p.154)
Neste capítulo, apresentaremos livros preciosos, em que os pais
expressam, num relato autobiográfico, a experiência com os filhos com
Síndrome de Down.
Cristovão Tezza é um dos mais conceituados escritores brasileiros
contemporâneos e ―O filho eterno‖ é uma prova disso. O livro é um corajoso e
interessante relato da sua história desde o nascimento do seu filho, narrado em
terceira pessoa. Ele inicia, descrevendo sua agonia na sala de espera do
hospital.
Entre um cigarro e outro, o protagonista está prestes a ter seu
primeiro filho:
É um papel que representamos, o pai angustiado, a mãe feliz, a
criança chorando, o médico sorridente, o vulto desconhecido que
surge do nada e nos dá parabéns, a vertigem de um tempo que,
agora, se acelera em desespero, tudo girando veloz e
inapelavelmente em torno de um bebê, para só estacionar alguns
anos depois – às vezes nunca. Há um cenário inteiro montado para o
papel e nele deve-se demonstrar felicidade. Orgulho também. Ele
merecerá respeito. Há um dicionário inteiro de frases adequadas para
o nascimento. (Tezza, 2008, p.10)
Ao ver o médico, ele pergunta se está tudo bem, mas não tem dúvidas
da resposta positiva. Em sua cabeça, já imagina o filho com cinco anos, a cara
dele. Enquanto ainda tenta se acostumar com a novidade de ter- se tornado
pai, ele tem que se habituar com outra idéia: seria pai de uma criança com
síndrome de Down. A notícia o desnorteia e provoca uma enxurrada de
emoções contraditórias. ―Um filho é a ideia de um filho; uma mulher é a ideia de
uma mulher. Às vezes, as coisas coincidem com a idéia que fazemos dela, às
vezes, não.‖
Súbito, a porta se abre e entram os dois médicos... Todos se
mobilizam – uma tensão elétrica, súbita, brutal, paralisante, perpassa
as almas, enquanto um dos médicos desenrola a criança sobre a
cama. Todos esperam. Há um início de preleção, quase religiosa, que
ele, entontecido, não consegue ainda sintonizar senão em fragmentos
61
da voz do pediatra: ‗- algumas características importantes, vamos
descrever. Observem os olhos, que têm a prega nos cantos e a
pálpebra oblíqua... o dedo mindinho das mãos, arqueado para
dentro... achatamento da parte posterior do crânio... a hipotonia
muscular... a baixa implantação da orelha e...‖ (Tezza, 2008, p.30)
A partir desse momento, Tezza escreve com uma dose de agressividade
e crueldade para transmitir a vergonha de seu filho e prevê a vertigem de um
inferno em cada minuto subsequente de sua vida. Ele acrescenta que ninguém
está preparado para um primeiro filho, ―ainda mais para um filho assim, algo
que ele simplesmente não consegue transformar em filho‖.
No hospital, em torno do leito, Tezza antecipa um futuro trágico para seu
filho – ―uma criança que só balbuciará, não terá autonomia nenhuma, o
equilíbrio do andar sempre incerto e lento, e se os pais se distraem, eles
engordarão como tonéis. Caturros, teimosos, pequenos ogros de boca aberta‖.
A criança horrível já ocupava todos os poros da sua vida.
Cruel a leitura. Principalmente, quando Tezza expressa entusiasmo nos
problemas de saúde e nas internações de seu filho. Ele, mais uma vez,
antecipa tragédias. Para ele, um simples resfriado podia se transformar numa
pneumonia e evoluir para morte. Ele calculava a morte em questão de horas. E
a malformação de origem nessa criança lhe dava uma expectativa de vida
muito curta, o que tranqüilizava Tezza, secretamente, por alguns segundos.
Os presentes, os pacotinhos, um bonequinho azul na porta do quarto, os
enfeites, os chocalhos pendurados, brinquedos, sapatinhos, roupas e babados
entram nesse cenário como o investimento narcísico para encobrir a síndrome ―
Em casa, na rotina, Tezza ralata o quanto sente dificuldades: casa? Para
ele, as informações ainda são poucas e se sente preso aos hospitais, médicos,
enfermeiros, tratamentos, remédios, plano de saúde, bulas e farmácias. E nas
visitas ao pediatra confirma. Para Tezza, foi necessário, mais uma vez:
Nenhuma dúvida. O cariótipo deu mesmo a trissomia do 21. Pai e
mãe são tomados pelo silêncio. É preciso esperar para que a pedra
pouse vagarosamente no fundo do lago, enterrando-se mais e mais
62
na areia úmida, no limo e no limbo, é preciso sentir a consistência
daquele peso irremovível para todo o sempre, preso na alma, antes
de dizer alguma coisa. A gente já sabia. (Tezza, 1998, p.66)
Tezza acrescenta que, futuramente, pensaria que não bastava a
presença da criança e todas as suas evidências? Foi preciso um documento
oficial, um papel, um carimbo, uma comprovação ―de um saber inatingível, uma
fotografia ilegível‖.
Assim, um pai e um filho com Síndrome de Down descobrem, juntos, as
dificuldades inúmeras e as saborosas vitórias dessa relação. Tezza aproveita
as questões que aparecem pelo caminho nesses 26 anos de seu filho, Felipe,
para ressignificar sua própria vida.
- Hoje tem jogo, filho!
- Hoje tem?!
- Tem! Atlético e Fluminense!
- Então vamos chamar o Christian!!
O Christian é o vizinho atleticano que sempre constrói na casa uma
arquibancada de fanáticos.
- Sim, ele também vem!
- Isso, vamos ganhar de 4 a 0 – e ele mostra a mão esplanada, olha
para os dedos, ri e acrescenta: - Opa! Errei! Cinco a zero!
- Vai ser um jogo muito difícil – o pai pondera. – Que tal dois a um?
O menino pensa. Ergue a mão novamente, agora com três dedos.
- Três a zero, só! Que tal?
- Tudo bem. Mas vai ser duro. Você está preparado?
63
- Estou! Eu sou forte! – Ele ergue o braço, punho fechado: - Nós vamos
conseguir!!!
- Vamos ver se a gente ganha.
O menino faz que sim e completa, braço erguido, risada solta:
- Eles vão ver o que é bom pra tosse!!!
O pai sorri também. Tezza nos conta que é a primeira metáfora da vida
de seu filho. E para que a imagem não reste arbitrária demais, Felipe dá três
tossidinhas marotas. ―Bandeira rubro negra devidamente desfraldada na janela,
guerreiros de brincadeira na frente da televisão. O jogo começa, mais uma vez.
Nenhum dos dois tem idéia de como vai acabar. E isso é muito bom!‖
Outro livro autobiográfico em que um pai narra a experiência de ter um
filho com a síndrome é: ―Síndrome de Down – Relato de um pai apaixonado‖.
Rafa é uma criança que nasce num momento em que todos da família
encontravam-se, literalmente, em torno dos leitos do hospital.
O pai de Rafa, Marcelo Nadur, vivia a dor da recente morte da sua
bisavó e, em paralelo, acompanhava sua mãe (a vovó Dayse) nas sessões de
quimioterapia. O nascimento de Rafa, nesse momento, ressignificava a vida
dessa família. A vovó Dayse o chama de ―remédio, a cura de todos os males‖.
O livro nos apresenta uma série de fotos da criança, inclusive no
hospital, quando Rafa se submeteu às sessões de luz contra a icterícia
diagnosticada. Em torno do leito da criança, o médico antecipava seu futuro:
―... vocês já sabem que o bebê é mongolzinho? Terá
comprometimento intelectual, hipotonia, fenda palpebral oblíqua,
aumento da vascularização retiniana, microcefalia, hiperextensão
articular, mãos largas e dedos curtos, baixa estatura, clinodactilia do
quinto dedo, problemas cardíacos, orelhas de implantação baixa...
- ―Escrevi tudo e não mostrei para Dani‖ (mãe do Rafa) – relata o pai
que, apesar do discurso médico trágico, nomeia esse momento como ―isso não
64
é um bicho de sete cabeças. Deus não me dará um fardo maior do que eu
possa carregar‖.
Dois livros escritos pelos PAIS que irão questionar, constantemente, o
diagnóstico e, desde o nascimento, o bebê irá tornar-se um paciente frequente
das clínicas médicas.
É a mãe quem vai levantar uma bandeira contra a indiferença social,
uma batalha cujo alvo é a saúde de seu filho deficiente. Se o pai se mostra
abatido, com uma certa lassidão, a mãe apresenta-se , na maior parte do
tempo, exageradamente, lúcida. O que é para a mãe o nascimento de um filho?
De acordo com Mannoni (1999), o nascimento de um filho é a repetição da sua
própria infância, ocupando um lugar entre seus sonhos perdidos: ―um sonho
encarregado de preencher o que ficou vazio no seu próprio passado, uma
imagem fantasmática que se sobrepõe à pessoa ‗real‘ do filho‖. E esse filho
tem a missão de reparar o que na história se perdeu.
E se esse filho nasce com Síndrome de Down? Os livros nos mostram
que a mãe viverá, no seu estilo próprio, um drama real que esbarra nas
experiências vividas anteriores, no plano fantasmático.
O ―Programa da Lurdinha‖ nos apresenta, exatamente, como essa mãe
elaborou o ‗doloroso amor materno‘ sobre seu filho Lúcio‘. O livro intitulado:
―Cadê a Síndrome de Down que estava aqui? O gato comeu... Programa da
Lurdinha‖ não é um manual com orientações de como cuidar das crianças que
têm a Síndrome. Lurdinha nos explica melhor:
Se você quer curar o seu filho ou alguém que tenha a Síndrome, não
leia este livro; ele não terá para você, a menor valia. Aqui você
encontra um apoio, uma orientação. Neste livro, relatamos uma
experiência possível de cuidados e educação de uma criança com
Síndrome de Down. Certamente, há muitas outras formas de
proceder. Sabemos que não há regras e procedimentos fixos e
padronizados para o trabalho de promoção do desenvolvimento das
crianças em geral. Acreditamos que o mesmo vale para as crianças
que apresentam a trissomia do cromossomo 21. A experiência aqui
relatada é apenas uma dentre inúmeras possibilidades.‖ (Tunes,
2006, p.11)
65
O livro nos apresenta um programa, desenvolvido pela própria mãe de
Lúcio, com atividades de estimulação e técnicas adaptadas e criadas dentro de
casa. Tomam-se, como exemplo, as fotos ilustradas no decorrer do livro, em
que Lúcio sobe no próprio carrinho, como se fosse uma escada, para
destrancar a porta ou acender a luz; fotos de Lúcio sentindo as diferentes
texturas no chão (liso, áspero, quente, frio) e o trabalho de equilíbrio no
material fabricado por sua mãe.
Dessa forma, a particularidade desse livro não é a validade dos
procedimentos ou técnicas desenvolvidas, mas o desejo e o investimento que
permitiram que essa mãe pudesse ver no seu filho, não a qualidade do tônus
ou as falhas, mas admirar-se, como qualquer mãe faz, com as descobertas e
gracinhas de cada dia, com a individualidade de Lúcio. Assim, a criança
desfruta do trono que lhe cabe sustentado pelo desejo da mãe.
66
7 – NAP (Núcleo de Atendimento ao Paciente): uma construção.
Motivada pela presente pesquisa bibliográfica do Mestrado, há um ano,
desenvolvi e implementei um Projeto para inserção da Psicologia num hospital
privado. Focada na idéia de que, através da oferta, criamos uma demanda, a
Psicologia, hoje, se apresenta como um novo setor desse hospital: o NAP –
Núcleo de Atendimento ao Paciente.
Trata-se de um Hospital Geral que, como qualquer outra instituição
hospitalar, tem como clientes sujeitos que apresentam algum acometimento no
corpo e que necessitam de diagnóstico e de tratamento médicos (clínico e/ou
cirúrgico). O hospital em questão é da rede de hospitais particulares do Rio de
Janeiro e vivenciou, recentemente, uma mudança de nome para recolocação
no mercado da saúde e construiu cinquenta novos leitos de CTI.
Esse hospital é constituído por profissionais que têm diferentes vínculos
trabalhistas com a instituição, e ainda, o hospital é aberto a qualquer médico
que queira internar seu paciente para a realização de cirurgias ou internações
clínicas — chamado de ‗médico assistente‘.
A responsabilidade pela internação do paciente é um dos aspectos
claramente determinado pela instituição. O hospital entende que essa
responsabilidade é sempre: 1) de algum responsável do conhecimento do
paciente que assina a internação; 2) da instituição; 3) do médico que está
especificado na listagem diária dos pacientes. Então, em termos legais, tanto a
instituição quanto a figura de um médico responde técnica e juridicamente pelo
tratamento do paciente.
O hospital referido tem trinta anos de existência, sendo que há vinte
anos funcionava como clínica. Há dez anos tornou-se hospital geral. E há
apenas um ano, conta com um Serviço de Psicologia do qual faço parte. São
atendidos os pacientes internados e seus familiares em qualquer setor do
hospital — no quarto de internação, no CTI, na Unidade Coronariana, na
Unidade Semi-intensiva, na Emergência. Considera-se que o Serviço de
67
Psicologia adquiriu boa inserção na instituição e que o fato de se inserir na
inauguração do novo nome, com a nova Direção Médica e uma nova
administração, contribuiu para isso, pois não se teve que lidar com a
resistência para a implantação do Serviço tão frequentemente encontrada em
outras instituições nas quais a criação de um Serviço de Psicologia é realizada
a posteriori.
O adoecimento é um momento de muita intimidade, dor e sofrimento,
tanto para o paciente, quanto para sua família. Momento este que já é invadido
por muitos fatores inerentes à própria internação, como horários, regras
institucionais, procedimentos. Diante disso, é importante que o sujeito saiba
que a presença do psicólogo no hospital é uma oferta, e não mais uma
obrigação da rotina hospitalar. A dimensão da escolha precisa ser destacada.
Outro fator determinante na criação do Serviço de Psicologia nesse
hospital diz respeito ao que Freud nomeou como transferência, e que Lacan
define, inicialmente, como suposição de saber. Freud já alertava que ela está
presente nas relações para além da relação do sujeito com o analista, sendo
assim também estabelecida na relação médico-paciente. Lacan em O
Seminário, livro 11, os quatro conceitos fundamentais da Psicanálise, diz que a
cada vez que o sujeito deposita o suposto saber encarnado em alguém,
qualquer que seja, analista ou não, isso significa que a transferência já está
estabelecida. Então, quando um médico sugere a visita do psicólogo ao
paciente, a entrada no caso é facilitada, pois vem apoiada pela transferência
dessa relação. Sabe-se, ainda, com Freud (1912) que a transferência que se
estabelece em qualquer relação tem vicissitudes e efeitos importantes e pode
ser manejada de forma a favorecer o tratamento do sujeito. Portanto, uma das
funções do psicanalista no hospital é transmitir esse saber para a equipe —
saber sobre a importância e os efeitos da relação de cada profissional com o
paciente. Por isso, em todos os casos, busca-se discutir com o médico e com a
equipe questões relevantes e apontar algumas delas por meio de registro em
prontuário, visando esclarecer determinados aspectos da dinâmica psíquica do
paciente, ajudando, assim, o médico e todos os profissionais de saúde a
68
instrumentalizar esse saber. A confiança que as equipes médicas têm no
Serviço de Psicologia facilita os encaminhamentos e a aceitação dos pacientes
pela visita do psicólogo.
Apesar de a presente dissertação defender a importância da psicanálise
no hospital, para a abordagem de crianças com Síndrome de Down internadas,
sabemos que a criação do Serviço de Psicologia no hospital vai ‗para além
disso‘, afinal, a psicanálise não escuta o ―Down‖, nem o ―tuberculoso‖, nem o
―diabético‖, muito menos ―a criança‖ ou o ―idoso‘... A psicanálise escuta o
sujeito do inconsciente. Inclusive, o hospital referido não possui atendimento
pediátrico, porém desejo compartilhar com vocês o sucesso dessa minha
construção. Afinal, hoje, no final do curso do Mestrado Profissional, recebi o
convite para implementar o Serviço em mais três hospitais privados.
69
8 – CONCLUSÃO
―Um passado ainda recente...‖ é a frase citada pela autora RosenbergReiner (2003) para se referir ao ambiente hospitalar, na década de 70, na
França, onde os pais das crianças hospitalizadas são apenas tolerados nos
horários das visitas, os médicos não explicam muita coisa ou não dizem
palavras compreensíveis (eles não disseram nada ou eu não entendi o que
eles disseram). Isso nos recorda alguma coisa?
Ainda de acordo com a autora, o início do movimento de idéias
referentes à qualidade do atendimento às crianças hospitalizadas, na França, é
mais tardio que nos países anglo-saxões e escandinavos. Dessa forma,
baseado na experiência inglesa, o Ministério do Bem Estar Social Francês
publicou, em 1983, uma circular relativa à hospitalização de crianças. A circular
constata que a internação de crianças desenvolve problemas de ordem
psicológica e afetiva. Com isso, detalham as necessidades da criança e
propõem uma série de medidas concretas a fim de melhorar as condições da
internação das crianças nos hospitais.
A APACHE (Associação para melhoria das condições de hospitalização
da criança) é pioneira na batalha para melhorar o ambiente hospitalar para as
crianças. A história dessa associação não governamental defende que os
profissionais de diversas áreas podem trabalhar em conjunto e suavizar a
passagem da criança no hospital.
O livro ―Boi da cara preta: crianças no hospital‖ nos apresenta algumas
das idéias cruciais levantadas pela bandeira da APACHE que ratificam a
presente pesquisa bibliográfica: 1) ―dar lugar central à criança‖ trata-se de
considerar sua subjetividade, sua história e não somente sua doença ou
deficiência; 2) ―valorizar as experiências positivas‖ refere-se a respeitar as
necessidades das crianças, flexibilizando regras e hierarquias do hospital.
70
A especificidade da psicanálise no hospital está caracterizada pela
urgência subjetiva e, como aprendemos com Lacan, toda criação surge da
urgência. Dessa forma, cabe ao analista no hospital, ter capacidade criativa e
ética de amplo conhecimento teórico, espírito de equipe, destituição narcísica e
conhecimento das questões do seu processo de análise para construção de
uma práxis possível na instituição hospitalar, onde as complexidades são
aumentadas com a possibilidade de morte, dor e sofrimentos.
Dessa forma, o objetivo da APACHE é entender o ―acolhimento‖ da
criança hospitalizada num sentido mais amplo, incluindo todas as fases da
internação: a chegada, a permanência, a saída e o retorno da criança à sua
casa. Trata-se de entender a dor da criança, reconhecer seu medo, saber
sobre o sentimento de impotência que origina a culpabilidade dos pais, sua
angústia. A equipe, assim, tenta abordar a criança de uma forma que
ultrapasse a gentileza. E, para isso, a APACHE se preocupa com os pequenos
detalhes: a decoração familiar no leito, as visitas livres, os telefones à altura
das crianças, jogos na sala de atendimento e uma cartilha de informações para
as crianças.
A referida associação francesa lançou, em 1985, o livro ―Criança no
hospital – a terapia pelo jogo‖, propondo a colaboração da ludoterapia com as
equipes médicas e com cuidados com os pais. Trata-se de respeitar a criança
para os procedimentos a que vai se submeter: exame de sangue, exames
invasivos na garganta, sondas, lavagem, anestesias... Inclusive, hoje,
baseados nessa abordagem lúdica, alguns hospitais pediátricos do Rio de
Janeiro constroem, na recepção, uma mini-réplica de uma ambulância
equipada com brinquedos, oferecendo uma mistura de jogos, massinhas e
brinquedos que simulam injeção, remédios e equipamentos médicos.
A APACHE, portanto, aposta na idéia de preparar a hospitalização de
uma criança. Falar com ela sobre o hospital e escutá-la. Permitir que ela
exprima seus medos e elabore a SUA maneira de superar a experiência. A
psicanálise sustenta, exatamente, esta questão: escutar o horror de todos, na
71
particularidade de cada um. E este trabalho se propôs a apresentar que a dor,
o sofrimento e a urgência no hospital engendram uma superação pela palavra.
Assim, o psicanalista pode escutar as palavras dos médicos, dos
familiares, da equipe e do paciente em torno de um leito de hospital, apostando
que a palavra pode ajudar o ser falante a suportar melhor a condição humana.
72
9 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALBERTI, Sônia. Esse sujeito adolescente, Rio de Janeiro, Rios Ambiciosos,
1999.
BIANCHETI, L. (1995) Aspectos históricos da educação especial. Revista
Brasileira de Educação Especial, São Carlos, vol.2, n.3, p.7-19.
BUENO, C.L. A reabilitação profissional e a inserção da pessoa portadora
de deficiência no mercado de trabalho. Revista Integração, Brasília, n.13,
p.5-8
CAVALCANTE, Fátima Gonçalves. Pessoas muito especiais: a construção
social do portador de deficiência a reinvenção da família. Rio de Janeiro:
Editora Fiocruz, 2003.
CIRINO, Oscar (2001). Psicanálise e psiquiatria com
desenvolvimento ou estrutura. Belo Horizonte: Autêntica, 2001
crianças:
CLAVREUL, Jean. A ordem médica: poder e impotência do discurso
médico. Traduzido por: Colégio Freudiano do Rio de Janeiro. São Paulo:
Brasiliense: 1983.
CORIAT, Elsa. Psicanálise e Clinicas de bebês. Porto Alegre: Artes e Ofícios,
1997, p. 170-172
DECAT, Marisa de Moura. A criança – do mito à estrutura. In: DECAT, Marisa
de Moura (org.) Psicanálise e Hospital. Belo Horizonte: Revinter, 1996, p.
156.
FILHO, Julio de Melo. Relação estudanye de medicina-paciente. In:
Psicossomática hoje 2. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992,cap.4.
FREUD, Sigmund. Projeto para uma psicologia cientifica (1950[1895])
Edição Standart Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Rio de Janeiro:
Imago. Vol. I.
FREUD, Sigmund. A interpretação dos sonhos. Edição Standart Brasileira
das Obras Psicológicas Completas. Rio de Janeiro: Imago.1900. Vol. V, Cap. 7.
FREUD, Sigmund. (1926) A questão da análise leiga. Edição Standart
Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Rio de Janeiro: Imago. Vol. XX.,
p. 183.
73
FREUD, Sigmund. (1912) A dinâmica da transferência. Edição Standart
Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Rio de Janeiro: Imago. Vol. XII.
FREUD, Sigmund. (1921) Psicologia das massas e análise do eu. Edição
Standart Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Rio de Janeiro: Imago.
Vol.XVIII, p.80.
FREUD, Sigmund. (1915) Luto e Melancolia. Edição Standart Brasileira das
Obras Psicológicas Completas. Rio de Janeiro: Imago.
FREUD, Sigmund. (1913). Totem e Tabu. Edição Standart Brasileira das
Obras Psicológicas Completas. Rio de Janeiro: Imago. Vol.VIII.
FREUD, Sigmund. (1929). O mal estar na civilização. Edição Standart
Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Rio de Janeiro: Imago. Vol.XXI,
p.67.
FREUD, Sigmund. (1929) O futuro de uma ilusão. Edição Standart Brasileira
das Obras Psicológicas Completas. Rio de Janeiro: Imago. Vol.XXI, p.15.
FREUD, Sigmund. (1915). A pulsão e seus destinos. Edição Standart
Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Rio de Janeiro: Imago. Vol.XIV,
p.117.
FREUD, Sigmund. (1969). Sobre o narcisismo, uma introdução. Edição
Standart Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Rio de Janeiro: Imago.
Vol.XIV, p.83-125.
GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. Introdução à Metapsicologia Freudiana. Rio de
Janeiro:Jorge Zahar,2002, vol.2.
JORGE, Marco Antonio Coutinho. Discurso médico e discurso psicanalítico. In:
CLAVREUL, Jean. A ordem médica: poder e impotência do discurso
médico. Traduzido por: Colégio Freudiano do Rio de Janeiro. São Paulo:
Brasiliense: 1983.
LACAN, Jacques. A instância da letra no inconsciente ou a razão desde
Freud(1957). In:_____ Escritos. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1998.
LACAN, Jacques. Função e campo da fala e da linguagem em
psicanálise.(1953). In:_____ Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,
1998.
LACAN, Jaques. A relação de objeto(1956) Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor.
LACAN, Jaques. Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise.(1964) Rio de
Janeiro: Jorge Zahar.
74
LACAN, Jaques. O avesso da psicanalise.(1969) Rio de janeiro: Jorge Zahar,
seminario XVII.
LACAN, Jaques. Televisão. Ed Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.
LACAN, Jacques. O sujeito e o Outro (I): A alienação. IN: O Seminário. 4 ed.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990.
LACAN, Jacques. (1954-1955). Seminário II. O eu na teoria de Freud e na
técnica da psicanálise. Introdução do Grande Outro. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar. p.296-311.
LAPLANCHE & PONTALIS. Vocabulário de psicanálise. São Paulo: Martins
Fontes, 1998 .
LEITGEL-GILLE, Boi da cara preta: crianças no hospital. Salvador: Edufba,
Agalma, 2003.
LISPECTOR, Clarice. Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres. Rio de
Janeiro: Rocco, 1998.
LOCKE, J. Coleção Os Pensadores. 2ed. São Paulo, Abril Cultural.
MANNONI, Maud. A criança retardada e a mãe. São Paulo: Martins Fontes,
1999.
MATHELIN, Catherine. O sorriso da Gioconda: a clinica psicanalítica com
bebês prematuros.Rio de Janeiro; Companhia de Freud, 1999.
MOHALLEM, Léa Neves. Nas vias do desejo. In: DECAT, Marisa de Moura
(org.) Psicanálise e Hospital. Belo Horizonte: Revinter, 1996, p. 21-38.
MUCIDA, Angela M. A segregação do idoso e o discurso analítico. Revista
Curinga, Escola Brasileira de Psicanalise, 2001.
MUSTACCHI, Z.; ROZONT, G. Síndrome de Down: aspectos clínicos e
odontológicos. São Paulo: CID, 1990.
KELLES, Jacqueline Esteves. A criança e as estruturas clínicas. In: DECAT,
Marisa de Moura (org.) Psicanálise e Hospital. Belo Horizonte: Revinter.
QUINET, Antônio. A descoberta do inconsciente: do desejo ao sintoma. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar Ed.
QUINET, Antônio. As 4+1 condições da análise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Ed.
75
SALGADO, Mauro Ivan. VALADARES, Eugênia Ribeiro (orgs.) Para
compreender a deficiência. Belo Horizonte, Faculdade de Medicina da
UFMG, 2000.
NADUR, Marcelo. Síndrome de Down: relato de um pai apaixonado. São
Paulo: Gaia, 2010.
PESSOT, I. Deficiência mental: da supertição à ciência. São Paulo,
TAQ/Edusp.
RIBEIRO, Herval Pina. O hospital: história e crise. São Paulo: Hucitec, 2010.
ROSENBERG-REINER. O papel da associações para crianças hospitalizadas
na França e na Europa. IN: LEITGEL-GILLE, Boi da cara preta: crianças no
hospital. Salvador: Edufba, Agalma, 2003.
ROTELLI, Franco. Desinstitucionalização. São Paulo: Hucitec,1990.
ROUDINESCO, Elisabeth e PLON, Michel. Dicionário de psicanálise. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998, p.659-660
VORCARO, Angela. A criança na clinica psicanalítica. Rio de Janeiro:
Companhia de Freud, 2004.
VORCARO, Angela. Crianças na psicanálise: clínica, instituição, laço
social. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 1999.
VORCARO, Angela. Doenças Graves na Infancia. Rio de Janeiro: Companhia
de Freud, 2000.
WANDERLEY, Daniele de Brito (org.) Palavras em torno do berço:
intervenções precoces bebê e família. Salvador, BA. Ágalma, 1997.
WINNICOTT. D. W. O bebê e suas mães. São Paulo: Martins Fontes, 1988.
WINNICOTT. D. W. Textos selecionados: da pediatria a psicanálise. Rio de
Janeiro: Francisco Alves, 1993.
TEZZA, Cristovão. O filho eterno. Rio de Janeiro: Record, 2008.
TUNES, Elizabeth. Cadê a Sindrome de Down que estava aqui? O gato
comeu... O programa da Lurdinha. Campinas, SP: Autores Associados, 2006.