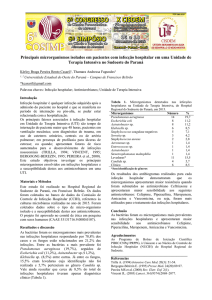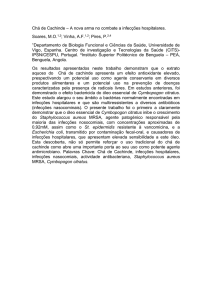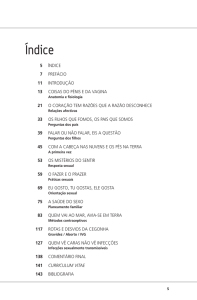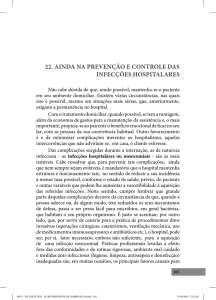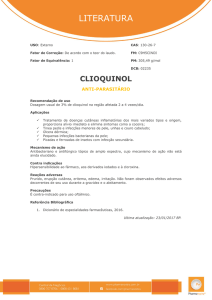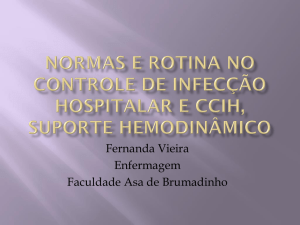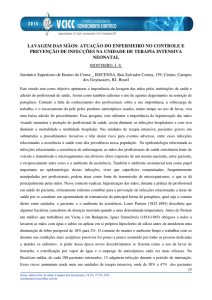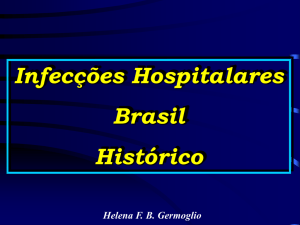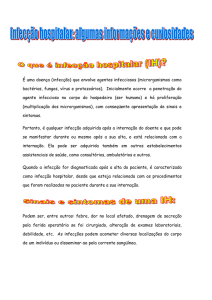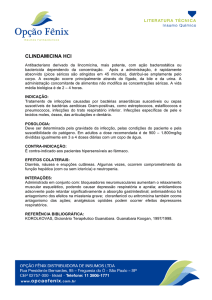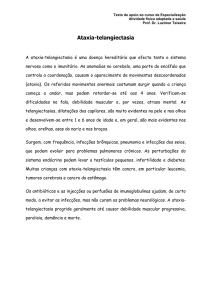UTI e infecções hospitalares
Márcia Siqueira Sayeg
Graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina FUABC
Rua João Crocomo, 116
Nova Piracicaba - Piracicaba - SP
CEP: 13405-023
Tel: (019) 9151-5776
e-mail: [email protected]
Artigo científico apresentado como exigência do
curso de Pós-Graduação para obtenção do titulo
de Especialista em Medicina Intensiva em face da
Faculdade Redentor em parceria com o Instituto
Terzius, sob orientação do Prof. Renato Giuseppe
Giovanni Terzi.
CAMPINAS – SP
2013
2
RESUMO
Sob o método da análise qualitativa de dados a serem bibliograficamente explorados em vasto
material impresso e digital, o presente artigo científico revisatará os principais aspectos do controle de
infecções hospitalares, especialmente presentes nos centros de Unidade de Tratamento Intensivo e
sob o prisma do comportamento ligado ao conceito da integralidade. A temática, esta a promover
intensa pesquisa pelo mundo das ciências médicas, mantém-se certamente viva por ser
imprescindível o interesse tendente à promoção de práticas a elas combatíveis, ocupando subtemas
como higienização, controle antibacteriano, sistemas preventivos e outros, sempre no caminho da
perpetuação da vida e elevação das chances de recuperação dos pacientes que se encontram nestas
unidades especiais, requerendo cuidados excepcionais. Concluiu-se que a mudança de conduta e a
educação em relação aos procedimentos adotados podem contribuir decisivamente - sempre - para o
embate técnico concernente às diversas infecções hospitalares.
Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva; Infecção Hospitalar: Enfrentamento; Integralidade.
SUMMARY
Under the method of qualitative analysis of data to be exploited bibliographically in large print and
digital, this scientific article revisatará the main aspects of the control of nosocomial infections,
especially in these centers and Intensive Care Unit through the prism of behavior linked to concept of
completeness. The theme of this intense research to promote the world of medical sciences, remains
alive because it is certainly compelling interest aimed at promoting practical combatíveis them,
occupying subthemes as hygiene, antibacterial control, preventive systems and others, always on the
path of perpetuation of life and increase the chances of recovery of patients who are in these special
units, requiring exceptional care. It was concluded that the change in behavior and education in
relation to the procedures adopted can contribute decisively - always - to clash technical concerning
the various hospital infections.
Keywords: Intensive Care Unit, Hospital Infection: Coping; Completeness.
Introdução
As infecções hospitalares, principalmente quando afetam unidades de tratamento intensivo
são consideradas como um dos mais graves e complexos problemas da saúde pública
mundial, com índices razoavelmente aceitáveis para uns no Brasil (DIAZ, 2007) e
intolerantes para outros (BRAGA, 2004).
Inúmeros fatores estão às infecções relacionados, dentre eles, a larga utilização de
procedimentos crescentemente mais invasivos, o uso de antibióticos de maneira
indiscriminada ou pouco criteriosa, e a resistência microbiana a variar de uma para outra
3
bactéria ou vírus, mas que, tem-se percebido, vem também aumentando e dificultando seu
combate.
Sua ocorrência alterca-se entre as entidades hospitalares de uma localidade para outra, em
conformidade com porte do hospital, as tecnologias utilizadas, as particularidades da
clientela atendida, as especialidades ofertadas, o sistema epidemiológico de vigilância
adotado e o efetivo alcance do Programa de Controle de Infecção Hospitalar em curso em
cada unidade (ECHER et al, 1990).
Sua incidência representa um enorme desafio não só para os estabelecimentos hospitalares
e para os profissionais de saúde, como, igualmente, para a comunidade em geral e os
indivíduos doentes, uma vez que, se ações adequadas são formalizadas e postas em
prática, é possível o arrefecimento das estatísticas relativas às infecções hospitalares e,
portanto, de agravos a elas relacionados (FINLAND, 1986).
A redução estatística, ressalta-se por ser questão patentemente inegável, concerne à
necessidade da combinação eficiente de recursos financeiros, tecnológicos e humanos
afeitos aos sistemas hospitalares de modo a bem contemplar programas de controle e
prevenção das infecções relacionados, o que caminha por trilhos sinuosos das dificuldades
inerentes e pontuais dos sistemas de saúde (DIAZ, 2007).
Diante da característica especificidade, a assistência hospitalar se distingue da atenção
básica em função de pôr à disposição atendimento a indivíduos que necessitam de
assistência de saúde mais complexa, como é o caso das Unidades de Terapia Intensiva,
gerada pela variedade de recursos materiais, humanos e tecnológicos (DIAZ, 2007). Ela se
conduz a recuperar ou a melhorar a condição de saúde da população doente que, sob
internação, comumente já se encontram debilitadas fisicamente, podendo colaborar para o
aparecimento de episódios decorrentes dos processos assistenciais mais críticos – é o caso
das infecções hospitalares (KAHVECI et al, 2009).
As infecções são evitadas por intermédio de medidas de controle e prevenção. Medidas
eficazes e simples, como o processamento adequado de superfícies e artigos médicos,
lavagem das mãos, utilização adequada de equipamentos de proteção individual e o
implemento (para correta observação) das regras de assepsia que visam a redução de sua
incidência (KAHVECI et al, 2009).
Esta dimensão, ignorada por muitos, incluindo autoridades públicas da área médica, deve
ter por caminho o elevar constante de conhecimentos, devendo envolver-se o profissional
médico e demais conexos à saúde sobre esta temática de modo inteligente e perspicaz.
4
Como defendem Nogueras et al (2001), os estudos exigem permanente amplitude da
perspectiva dos trabalhadores em saúde, estimulada pelo compromisso e responsabilidade
com a saúde dos utentes dos sistemas, sejam eles públicos ou privados, patentemente
devendo ser encarados de modo integral, amplo, contínuo, persistente.
E é o médico que primeiro deve imprimir importância a esta responsabilidade e
compromisso com o atendimento baseado no que se denomina integralidade, princípio
este defendido por este texto.
No que diz respeito aos hospitais, é de todos que atualmente trabalham no meioconhecido
que estes enfrentam no país dificuldades em estabelecer medidas altamente eficientes de
controle de infecção, seja pela multiplicidade de profissionais da saúde que ali atuam, seja
pela complexidade da assistência ou pelas ausência de investimentos constantes, em
especial quando se fala em “salários, equipamentos e treinamento”’ (OLIVEIRA et al,
2009, p. 09).
A falta de autonomia dos indivíduos doentes que se valem do sistemas e se encontra em
uma Unidade de Terapia Intensiva “colabora para o adensamento do processo por
diversas razões”, cabendo, talvez, maiores estudos também, não sendo agora o momento
(OLIVEIRA et al, 2009, p. 09).
Contudo, a carência de profissionais com perfeita
qualfiicação é outro fator a prejudicar o adequado controle das infecções hospitalares no
país. Parece ainda ficar adstrito aos grandes centros urbanos os cursos ligados à saúde,
comportando certa deficiência natural nas localidades mais distantes. Por outro lado, ainda
problematizando a questão, os grandes centros têm, a seu desfavor, a prória concentração
humana a compactuar enfermidades e infecções, perpassando aos demais as doenças
que cada um possui (OLIVEIRA et al, 2009).
Em meio a esta temática que surge o presente trabalho, pautando-se por estudar, mesmo
que rapidamente em função do formato de artigo acadêmico, a questão das infecções
hospitalares ocorridas nos diversos estabelecimentos deste gênero, mais gravemente
percebidas nas Unidades de Terapia Intensiva e a demandar mais este estudo a objetivar
evolução, progresso.
A metodologia escolhida é o da pesquisa qualitativa, exploratória e de tipo bibliográfica,
levando-se em conta número suficiente de fontes de consulta, abrangendo largo espaço
temporal.
Objetiva-se, com este trabalho, visitar novamente questões basilares sobre higienização e
procedimentos ligados à prevenção de infecções hospitalares nas Unidades de Terapia
Intensiva, aproveitando a nova oportunidade de lidar com o tema. Objetiva-se também
verificar a pertinência em permanente se estudar e aplicar os princípios da integralidade
5
neste campo, desejando sempre contribuir, mesmo que modestamente, com a
conscientização tendente à assunção de posturas eficazes em tal área do conhecimento e
da prática médica.
1 CONTEXTUALIZAÇÃO DAS INFECÇÕES HOSPITALARES
1.1 Visão geral
Os progressos no campo da bacteriologia desde o final do séc. XIX originaram descobertas
que possibilitaram a ação terapêutica não somente sobre os sintomas, todavia também
sobre as causas originárias dos diversos males (PEREIRA et al, 2000). Foi igualmente nesta
época em que a preocupação com as infecções contraídas pelas pessoas doentes a partir
da assistência hospitalar ganharam relevância, iniciando-se as medidas preventivas e de
controle neste campo (PEREIRA et al, 2000).
As infecções hospitalares fez nascer a necessidade, dentre outros motivos, de intervenções
dos órgãos governamentais de cada localidade, que passaram a adotar leis e outras
medidas normativas destinadas a prevenir e a combater os eventos infecciosos, bem como
foram surgindo estudos das ciências biológicas no sentido de igualmente combater os
índices de infecção (RIBAS, 2010).
No Brasil, múltiplos são os casos de infecção contraída nas Unidades de Terapia Intensiva,
carecendo de constante, conquanto ainda não tão eficaz quanto se deseja, implementação
de programas e fiscalização por parte dos responsáveis.
Um desses planejamentos foi batizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
brasileira (ANVISA) como Programa de Controle de Infecção Hospitalar, instituído pela
Resolução desse órgão sob o número 48. É Resolução que, juntamente com portarias e
outras resoluções, além de manuais próprios e programas especiais conduzidos
eventualmente por cada estabelecimento médico-hospitalar, tem servido de base para as
ações nesta área, como esclarecem Oliveira et al (2009). Mas, alerta-se, é campo de
constante atualização e pesquisa.
Ainda para Oliveira et al (2009), a deficiência dos indicadores atinentes às infecções
hospitalares no país levou a ANVISA a alargar suas políticas neste segmento, criando por
exemplo, o Controle de Infecção em Serviços de Saúde (conhecido pela sigla SINAIS).
6
O objetivo é sempre o de conhecer o quanto antes o perfil de cada evento epidemiológico e
as taxas dos hospitais neste quesito, querendo colaborar por perspectivas cada vez maiores
de padronização do evitar e do combater das infecções com eficiência, demandando
esforços gigantescos.
Nota-se que cabe às agências de vigilância sanitária monitorar a qualidade do atendimento
hospitalar no país, verificando os riscos que, embora inerentes à atividade, devem ser
permanentemente motivo de estudo e ação combativa, haja vista prejudicar e erradicar
vidas e mais vidas (CHAVEZ et al, 2008).
A prevalência exata no Brasil de infecções hospitalares, de maneira geral, ainda se mostra
desconhecida (CHAVEZ et al, 2008). Não existem dados disponíveis confiáveis e
recentes, além do conhecido inquérito nacional de 1994, este que revelou taxas de
infecção hospitalar aferidas entre de 12% a 15% em hospitais privados e públicos do país
(CHAVEZ et al, 2008).
É verdade que a atuação da ANVISA e a existência de dispositivos normativos para o seu
controle, por si só, não são bastante suficientes para afastar de muitas instalações a intensa
carência de ações efetivas quanto à prevenção e ao controle das infecções hospitalares.
Medidas são pelo país negligenciadas, originando mortes que, caso houvesse maior
empenho, provavelmente não ocorreriam, sem com isto desprezar aspectos metafísicos que
cada um carrega em suas próprias vidas.
É claro que no contexto das infecções hospitalares, o Ministério da Saúde se mostra
evidentemente preocupado, esforçando-se em determinar por regulações próprias,
posicionamtentos ativos nesta seara. Contudo, insista-se, como esclarece Braga et al
(2004), que com todo o aparato legal decidindo pela obrigatoriedade de medidas e mais
medidas prevencionsitas e contoladoras ds infecções, no dia a dia, muitos serviços,
incluindo os das Unidades de Terapia Intensiva, não há um ganho qualitativo de controle
em níveis esperados.
O controle sanitário de tais ações implica atitudes múltiplas, tais como o licenciamento, a
vistoria, a notificação, a aplicação de sanções a hospitais descumpridores de regulamentos,
educação permanente, sistema de comunicação interna eficiente, coleta e dejeção de lixos
hospitalares etc.
Os centros de verificação epidemiológica, ressalta-se, no Brasil, seguem hierarquias
normativas a envolver as instâncias municipais, estaduais e federal. A Política Nacional de
Controle de Infecção, pontua-se, acaba direcionando pela descentralização das ações
públicas, o que pode também significar, em parte, certa desarticulação, como supõe
Fontana (2000).
7
Neste contexto, as coordenadorias de vigilância sanitária têm procurado, pelo Brasil, debater
e democratizar informações acerca das infecções hospitalares no palco de sua incidência
mais aguda, como são os eventos em centros e as Unidades de Terapia Intensiva. Grupos
de estudos vêm sendo formados pelo país, e, no âmbito acadêmico e científico
(principalmente nos laboratórios das cidades mais importantes do Brasil e do mundo),
muitos são os trabalhos desenvolvidos constantemente para o combate das infecções a
sucumbir vidas e a frustrar tantos tratamentos, tornando-os, inclusive, mais custosos para
todos, como relatam em seu trabalho Pinheiro et al (2009).
Relata-se, deste modo, que há, evidentemente, esforços contínuos e grandes no sentido de
se controlar as infecções hospitalares. Há, outrossim, instrumentos a indicar as ocorrências,
monitorando as taxas de infecção hospitalares, com relatórios e levantamentos diversos,
além das normatizações já referidas, com momentos positivos e outros cenários não são
tão favoráveis ao ambiente das UTIs.
1.2 Conceituação
Parece ser possível dizer, como aduzem Wey et al (1998) e Turrini (2002), que a infecção
hospitalar é qualquer infecção contraída no período de internação hospitalar que, não
estando presente no momento da internação e não se relacionando a intervenções
anteriores em outros centros médicos, surge. Para a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (apud TURRINI, 2002, p. 23), a infecção hospitalar é “aquela adquirida após a
inserção do paciente à Unidade Hospitalar, sendo manifestada durante a internação ou logo
após a alta, relacionando-a com procedimentos hospitalares”.
Para a doutrina médica, como alude Nogueras (2001), é a infecção hospitalar caracterizada
pelo aparecimento, após o decurso de quarenta e oito horas da internação, o início da
colonização microbiana, causada por patógenos hospitalares.
Em praticamente todos os autores examinados, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), é o
ponto das instalações hospitalares onde a incidência é maior ou, de outro modo, mais
preocupante, uma vez conduzir a óbito muitos pacientes. Vezes há em que, tratado por
completo a motivação principal que levou o paciente à Unidade de Terapia Intensiva,
exsurge
a infecção
hospitalar
a
preocupar
e
mobilizar
múltiplos profissionais,
“desgastando-se parte dos tratamentos anteriormente oferecidos, desgastando-se tempo
nobre que poderia ser direcionado à plena recuperação daquela pessoa” (ECHER et al,
1990, p. 106).
8
1.3 Fatores de risco
Para que as infecções hospitalares ocorram são necessárias relações entre o hospedeiro
suscetível ao mal e o micro-organismo hábil a produzi-lo (KAHVECI et al, 2009). Nota-se
que os fatores que predispõem os indivíduos à infecção hospitalar ligam-se ao estado de
saúde de cada um, bem como aos métodos invasivos atinentes aos aparelhos e
procedimentos
de
tratamento,
envolvendo
transplantes,
transfusões,
fatores
imunodepressivos, uso de ventilação invasiva, nutrição parental, abuso da utilização de
antibióticos, betabloqueadores e histamínicos, uso de cateteres e outros equipamentos a
guardar, em suas dobras, extremidades ou curvas, ou mesmo pela simples questão de
assepsia indevida em qualquer de suas partes, possibilidades infindáveis de abrigo para a
disseminação de agentes microscópicos desencadeadores das infecções (KAHVECI et al,
2009).
Lembram ainda Kahveci et al (2009), como fator de risco proeminente, a elevada e gradual
resistência que os micro-organismos têm adquirido aos antibióticos, contribuindo
fortemente para as dificuldades em dissipar o mal.
Wensel et al (2005) relembram, como é obviamente unanimidade, da importância da
prevenção ter por início a lavagem das mãos, um dos aspectos cruciais quanto ao
decréscimo das infecções hospitalares, aliando-se a todos os procedimentos higienizadores
de máquinas e pessoas.
Os índices de morbi-mortalidade ligam-se profundamente à questão da higienização. Como
exemplo clássico, lembram Wensel et al (2005), está o conjunto da máquina responsável
pela ventilação mecânica de pacientes. Submetidos a tal procedimento, com aparelhos
inadequadamente higienizados, os doentes havidos nas Unidades de Terapia Intensiva
elevam em muito as chances de adquirirem infecção hospitalar, isto independentemente da
patologia inicialmente existente em cada paciente.
Aproveitando o exemplo da ventilação mecânica, são assim por Wensel et al (2005, p. 77)
elencados seguem os elementos que, associados à ventilação desta modalidade, portanto,
invasiva, contribuem para o surgimento das infecções:
“sonda nasogástrica,
duração do tratamento,
intubação emergencial,
pressão da cânula ou balonete,
mudança frequente de ventilador,
9
reintubação,
transporte do paciente para fora da UTI,
traqueostomia,
supina do paciente,
anterior tratamento com antibióticos,
cirurgia torácica,
aspiração de secreções”.
2 COMBATE ÀS INFECÇÕES HOSPITALARES
2.1 Lavagem das mãos
A infecção, que é causada pela entrada de algumas bactérias, fungos ou vírus no
organismo e causador de doenças, podem estar na água, alimentos contaminados,
materiais e principalmente nas mãos dos visitantes profissionais da área de saúde. A
prevenção fixa-se nas precauções de contato e remoção de micro-organismos com a
lavagem das mãos. Nota-se que o uso de luvas, como recomenda Wey et al (1998) não
substitui a necessidade de higienização das mãos, que devem ser lavadas com água e
sabão ou com produto à base de álcool, ou, ainda, outros indicados.
Existem barreiras que contribuem para a baixa adesão no controle das infecções pela falta
de lavagem das mãos, que, embora não sejam o ponto central deste artigo, merecem a
lista que se segue, como condições que podem diminuir a adesão no cuidado da lavagem
das mãos:
a) Produtos de higienização das mãos que provocam irritações e ressecamento da pele,
ensejadoras de ambente favorável às bactérias;
b) Falta de sabão e de papel toalha;
c) Falta de costume de higienização das mãos ou crença de que isso é desnecessário;
d) Falta de informação científica sobre o impacto dessa prática nas taxas de infecção
relacionadas ao cuidado em saúde;
e) Falta de participação ativa na promoção dessas práticas em nível individual ou
institucional;
f) Falta de prioridade institucional;
10
g) Pias em locais inconvenientes ou mesmo a falta delas;
h) Falta de tempo, esquecimento ou pressa;
i) Falta de ambiente de segurança institucional.
Mundialmente reverenciada, a lavagem das mãos não poderia ficar fora desta discussão,
uma vez ser procedimento básico e obrigatório, de implicação enorme quando se pensa
na reprodução e favorecimento, de modo geral e específico, à proliferação e ao contágio
por micro-organismos infectantes.
2.2 Uso de Equipamentos
Os equipamentos e aparelhagens cirúrgicas e médicas são também veículo para a
propagação das infecções hospitalares, demandando limpeza de técnica adequada, pois
entram em contato, em determinada hora, com os pacientes sob tratamento (ZAVASKY,
1999).
A higienização ineficiente de aparelhos médicos é causa direta de contaminação e também
da disseminação das infecções, carecendo os encarregados de sua limpeza e manutenção
serem sabedores do veículo de transmissão que tais objetos se transformam (ZAVASKY,
1999).
Devem estes ser submetidos a desinfetantes apropriados (como os fenólicos e hipoclóritos),
combinados com procedimentos higienizadores mecânicos ou manuais, a “depender de
cada recomendação do fabricante e da experiência percebida ao longo do tempo”
(PINHEIRO et al, 2009, p .04).
2.3 Antibioticoterapia
A escolha e aplicação de antibióticos deve passar por critérios rígidos; devem ser
sopesados os exames clínicos e notadamente os laboratoriais acerca do que se deve
combater, qual o agente infeccioso a ser guerreado, como recorda Turrini (2002) e Ribas
(2010).
Afora esta verificação, constata-se que a utilização inadequada de antibióticos no passado
por parte dos pacientes também agrava a condição propícia para a ocorrência das infecções
11
hospitalares, uma vez serem mais facilmente alvo de choques sépticos, infecções
sistêmicas etc. (RIBAS, 2010).
A resistência aos antibióticos carece de constante exame e estudo no sentido de
desenvolver antibióticos ainda mais poderosos no combate aos agentes bacterianos, virais
etc. (RIBAS, 2010).
Lembra-se também que a conduta médica deve ser condizente com cada caso, não sendo
recomendado o uso excessivo de antibióticos, algo basilar mas que, ao longo do tempo,
vem perdendo infortunadamente a devida atenção.
Assim, a administração de antibióticos deve ser, portanto, principalmente no ambiente da
Unidade de Terapia Intensiva “algo motivador de cuidadosa análise” (KAHVECI et al, 2009,
p. 41).
3 INTEGRALIDADE COMO PRÍNCIPIO COMBATIVO
3.1 Questão principiológica
A saúde, direito de todos, com previsão constitucional, pauta-se, no Brasil, por diversos
princípios, tendo o do atendimento integral como um a receber grande destaque. O princípio
da integralidade pertence ao Sistema Único da Saúde, implicando na atenção ao usuário a
abranger as ações de tratamento, promoção, prevenção, reabilitação, enfim, com garantia
de todas as atitudes tendentes a, concentrando-se no indivíduo, prover-lhe sua saúde,
desde as medidas mais simples às mais complexas.
Mas o princípio da integralidade compreende outras concepções, como é o caso, aqui
explanado, relativo ao comportamento e à conformação dos profissionais e das equipes de
saúde envolvidas em qualquer fase de atendimento, principalmente quando se pensa nas
Unidades de Tratamento Intensiva, a congregar de modo harmônico pessoas de formação
profissional de várias áreas, implicando no valor da interdicisplinaridade (NOGUERAS et al,
2001).
É um conceito que deve ser entendido também como a confluência e o esforço comum no
sentido de, pelo que se escolheu expor, prevenir e controlar as infecções hospitalares,
caminhando por estabelecer vínculos e comprometimentos com a mesma finalidade de
salvar vidas (NOGUERAS et al, 2001).
12
Assim, defende-se que a postura de todos os profissionais que direta ou indiretamente
perpassem pela UTI como sinal de seu exercício profissional, estejam conjuntamente
preparados e atentos aos detalhes tão diferenciadores no trato com os pacientes, com a
medicação, equipamentos, higienização etc., todos tendentes, claro, à cura, perfazendo, por
outro lado, fatores cada vez distantes da disseminação de infecções; é o posicionamento
integrador, sem desprezo de nenhum profissional, a colaborar para as erradicações
possíveis de fungos, vírus e bactérias (OLIVEIRA et al, 2009).
Conclusões
É possível concluir, com certa facilidade, que o estudo permanente, o preparo constante, e a
motivação atenta dos profissionais da saúde são elementos diferenciadores a prover, tanto
quanto possível, (uma vez ser a vida humana é a prioridade de todos), a prevenção e o
combate às infecções hospitalares, sabidamente mais preocupante nas Unidades de
Terapia Intensiva.
Deve-se o médico dedicar-se também, não obstante ao que sempre já tem por missão, à
perfeita observância e às práticas condizentes com a batalha por instalações cada vez mais
distantes das infecções hospitalares, valendo-se, como exposto, sem prejuízo de outros
princípios, pelo princípio da integralidade, valioso para supor sistemas sólidos de evitamento
das epidemias infecciosas, congregando todos os envolvidos com o compromisso
sistemático voltados para o conhecimento e práticas ensejadoras do bom combate
infectológico.
Referências Bibliográficas
BRAGA, K.A.M., SOUZA, L.B.S., SANTANA, W.J., COUTINHO, H.D.M. Microorganismos
mais frequentes em unidades de terapia intensiva. Curitiba: Rev. Méd. Ana Mônica,
2004.
CHAVEZ, Miguel C.; CARDOSO, Antonieta; Maragan, Lurdes Serafin. Infecções
hospitalares: diagnóstico, prevenção, e tratamento. Rio de Janeiro: Artes Médicas, 2008.
DAVID, C.M.N. Antibioticoterapia no paciente grave. In: DAVID CMN; GOLDWASSER RS
& NÁCUL FE, eds. Medicina intensiva: Diagnóstico e tratamento. Rio de Janeiro: Editora
Revinter, 1997.
13
DIAZ, F.P. Infecções em unidade de terapia intensiva, diagnóstico e tratamento. In:
FERRAZ, E. M. Infecção em Cirurgia. Rio de Janeiro: Artes Médicas, 2007.
ECHER, I.; ONZI, M.; HOEFEL, H. Rotina da Unidade de Tratamento Intensivo para
prevenção de infecções respiratórias. Rio de Janeiro: Rev. HCPA, 1990.
FINLAND, M.. Hospital Infections. Boston: Little, Brown and Company, 1986.
FONTANA, R.T. As infecções hospitalares e a evolução histórica das infecções.
Revista
Eletrônica
de
Enfermagem.
Goiânia,
2000,
out-dez.
Disponível
em:<http://www.revistas.ufg.br/index.php/fen>. Acesso em 04 de fevereiro de 2013.
KAHVECI, F., ÖZAKIN, C., et al. Influences of therapy protocol and continuous
infectious in ICU: disease consultation on antibiotic susceptibility. Washington:
Intensive Care Med Publisher, 2009.
NOGUERAS, M.; MARINSALTA, N.; ROUSSELL, M.; NOTARIO, R. Importance of hand
contamination in health-care workers as possible carriers of nasocomial infections. v.
43, n.3.São Paulo: Rev. Inst. Med. Trop., 2001.
OLIVEIRA, C.A.R.; SILVA, A.L., MIRANDA, C.S.V. Microorganismos prevalentes em
pacientes submetidos à ventilação mecânica na Unidade de Terapia Intensiva do
hospital regional de Caruaru-PE. Bibliomed, Caruaru-PE, 2009. Disponível em:
<http://bibliomed.uol.com.br/Thesis/emailorprint.cfm?id=196>. Acesso em 01 de fevereiro de
2013.
PEREIRA, M.S.; PRADO, M.A., SOUSA, J.T., TIPPLE, A.F.V., SOUZA, A.C.S. Controle de
infecção hospitalar em Unidade de Terapia Intensiva: desafios e perspectivas. Revista
Eletrônica
de
Enfermagem.
Goiânia,
2000,
out-dez.
Disponível
em:<http://www.revistas.ufg.br/index.php/fen>. Acesso em 01 de fevereiro de 2013.
PINHEIRO, M.B.; NICOLETTI, Boszczowski I.; PUCCINI, D.M.; RAMOS, S.R. Infecção
hospitalar em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal: há influencia do local de
nascimento? Vol. 27. São Paulo: Revista Paulista de Pediatria, 2009.
RIBAS, E. O cuidado integral na instituição hospitalar. 2010. Disponível In:
<http://www.pratein.com.br/prattein/dados/anexos/125_2.pdf>. Acesso em 30 de janeiro de
2013.
TURRINI, R.N.T. Infecção Hospitalar e Mortalidade. São Paulo: Rev. Esc. Enfermagem USP, 2002.
ZAVASKY, D.M.; PESTOTNIK, S.L.; LLOYD, J.F. Patterns of antibiotic use in
antimicrobial resistance in intensive care units of a tertiary care hospital. Program and
14
abstracts from the 39th ICAAC, September 26-29, 1999, San Francisco: Abstract Edition,
1999.
WENSEL, B.P.; DHOMPSHY, L.L. Hospital infections in intensive care unit patients:
emphasis on epidemics. San Francisco: Abstract Edition, 2005.
WEY, S.B.; LOMAR, A.V.; COSCINA, A.L. Infecção em UTI. In. KNOBEL, E. Condutas no
Paciente Grave. São Paulo: Atheneu, 1998.
Nome do arquivo:
UTI e Infecções Hospitalares
Diretório:
C:\Documents and Settings\Operador3\Configurações
locais\Temporary Internet Files
Modelo:
C:\Documents and Settings\Operador3\Dados de
aplicativos\Microsoft\Modelos\Normal.dotm
Título:
Assunto:
Autor:
a
Palavras-chave:
Comentários:
Data de criação:
25/4/2013 15:38:00
Número de alterações:2
Última gravação:
25/4/2013 15:38:00
Salvo por:
Marcia
Tempo total de edição:
1 Minuto
Última impressão:
30/4/2013 11:12:00
Como a última impressão
Número de páginas:
14
Número de palavras:
4.384 (aprox.)
Número de caracteres: 23.675 (aprox.)