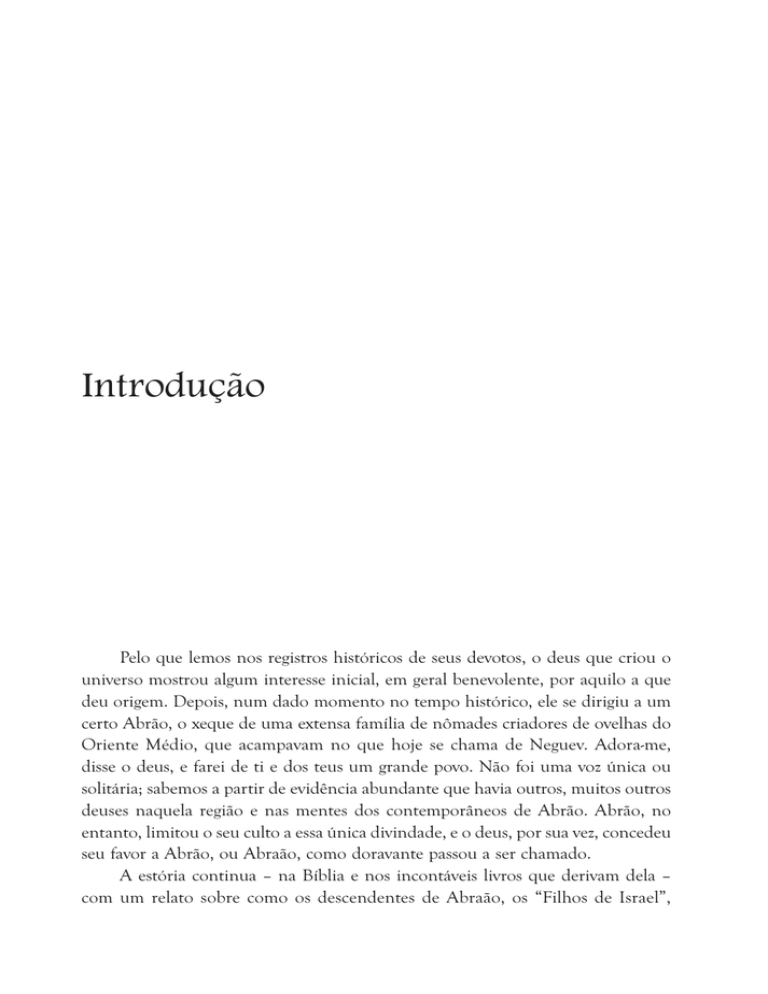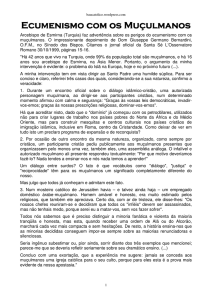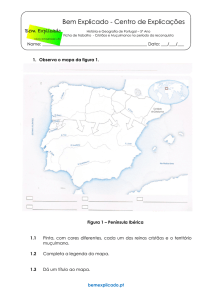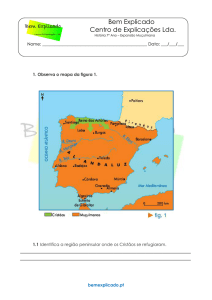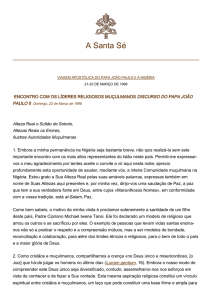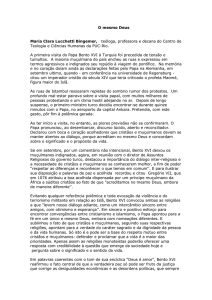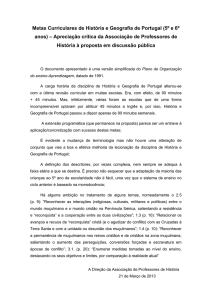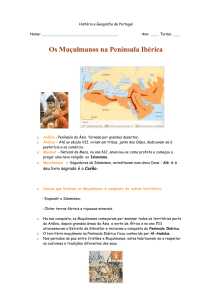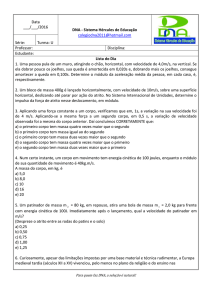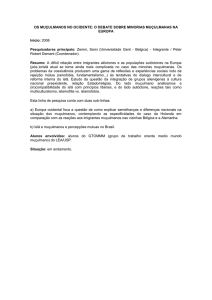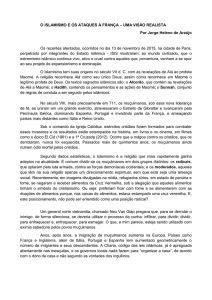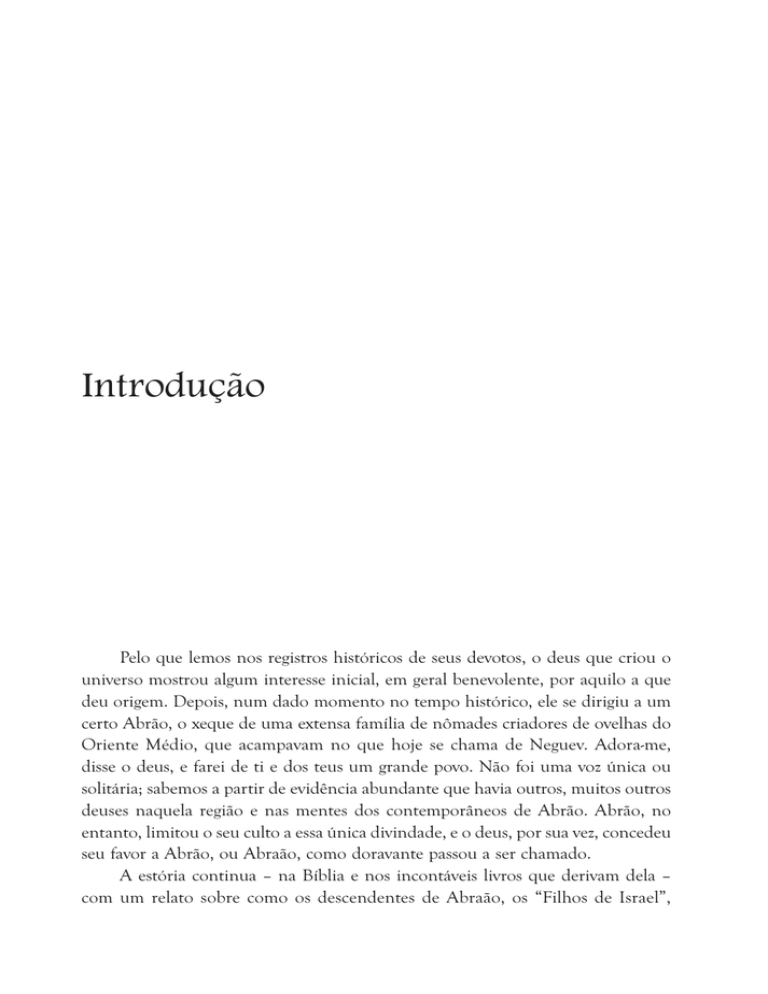
Introdução
Pelo que lemos nos registros históricos de seus devotos, o deus que criou o
universo mostrou algum interesse inicial, em geral benevolente, por aquilo a que
deu origem. Depois, num dado momento no tempo histórico, ele se dirigiu a um
certo Abrão, o xeque de uma extensa família de nômades criadores de ovelhas do
Oriente Médio, que acampavam no que hoje se chama de Neguev. Adora-me,
disse o deus, e farei de ti e dos teus um grande povo. Não foi uma voz única ou
solitária; sabemos a partir de evidência abundante que havia outros, muitos outros
deuses naquela região e nas mentes dos contemporâneos de Abrão. Abrão, no
entanto, limitou o seu culto a essa única divindade, e o deus, por sua vez, concedeu
seu favor a Abrão, ou Abraão, como doravante passou a ser chamado.
A estória continua – na Bíblia e nos incontáveis livros que derivam dela –
com um relato sobre como os descendentes de Abraão, os “Filhos de Israel”,
Os monoteístas
foram atraídos para o Egito, onde havia deuses em grande abundância, que
tinham a figura de quase todas as formas humanas e animais. Os israelitas
acabaram fugindo, guiados por Deus e pela astuta e corajosa liderança de Moisés.
Na sua longa caminhada através do Sinai, o deus deles, que revelou que seu
nome era Yahweh (Javé), manifestou sua vontade a Moisés e aos israelitas. Do
topo de uma montanha no Sinai, afirmou inequivocamente o que talvez já
estivesse implícito no diálogo com Abraão: Eu sou o teu Senhor; não adorarás
nenhum outro além de mim.
Essa era uma afirmação da supremacia divina; o deus era primus inter impares,
embora nesse caso Javé não explicasse em que consistia a sua supremacia, se as
outras divindades eram seus filhos, suas consortes, seus mensageiros ou, talvez,
secundários demais para terem importância. Simplesmente os ignorou, embora
seus adoradores, às vezes, não fizessem isso. O que era verdadeiramente
revolucionário na aliança oferecida a Abraão, e depois com mais detalhe a Moisés,
era a sua cláusula de exclusividade. A tribo de Israel não devia adorar nenhum
outro deus, pagar nenhum tributo, dar nenhum respeito, nenhuma honra ou
mesmo reconhecimento às divindades dos outros povos. Para nós, que definimos
o monoteísmo como a negação da crença em qualquer deus exceto um, isso parece,
quando muito, henoteísmo, o reconhecimento de um deus mais importante acima
de todos os outros. Na prática, no entanto, é um verdadeiro monoteísmo. Onde
realmente contava, no sacrifício e invocação, exigia-se que os israelitas se
comportassem como se houvesse só um deus. Levaria séculos para que esse
desrespeito litúrgico radical com relação aos outros deuses fosse plenamente
conceitualizado numa negação de sua própria existência, um processo imensamente
ajudado pelo fato de esse deus, espantosamente, não ter imagem ou efígie. Javé
podia apenas, de maneira audaciosa, ser imaginado.
E não poderia ser diferente. Javé, em suas próprias palavras, era um “deus
ciumento”, cujo primeiro mandamento a Moisés no Sinai tinha a ver com seus
direitos exclusivos sobre dons e rituais que eram devidos a um deus. Ciumento e
com fobias: no relato bíblico que estabelece as condições para todo aquele que o
adorasse, Javé mandou que todas as formas de “impureza” fossem mantidas a uma
distância segura dele, longe de seu trono e de sua casa, longe de sua cidade, longe
de seu país. Ficamos perplexos pela natureza dessa impureza terrificante que
perpassa amplamente e de modo um tanto irregular toda a criação de Javé, a qual
antes ele chamara de “boa”. Mas a “abominação das abominações”, a mãe de todas
as impurezas, foi um altar erigido a um desses outros deuses no próprio santuário
de Javé em Jerusalém. Finalmente, e com conseqüência extraordinária, o que era
24
Introdução
abominável a Javé passou a ser também abominável aos israelitas, que assim se
tornaram moralmente identificados com o seu deus.
Esse foi o início do monoteísmo, uma maneira de agir para com a divindade,
de pensar sobre ela e, finalmente, de crer nela, divindade conhecida como (mas
não imediatamente chamada) Yahweh pelos israelitas, como Deus Pai por outros
e como Allah (Alá) por outros ainda. Seja qual for o nome, é o mesmo Deus
adorado por judeus, cristãos e muçulmanos como o criador e sustentador do
universo, a Divindade suprema e única da qual tudo procede e na qual tudo
termina. Por que há três comunidades distintas de crentes desse Deus, como e
por que o adoram e como pensam acerca dele (e um do outro): esse é o assunto
das páginas que se seguem.
As três comunidades tiveram uma história longa, complexa e profundamente imbricada, e aqui a dividi, para dar um intervalo entre dois volumes.
O primeiro, Os povos de Deus, descreve como as três comunidades se originaram,
evoluíram, identificaram-se e organizaram-se. O primeiro volume tem muito a
ver com os aspectos externos da formação da comunidade, ao passo que o
segundo, As palavras e a vontade de Deus, dedica-se ao que se pode chamar de
vida interior ou espiritual dos monoteístas, o cumprimento da vontade de Deus
nas vidas, corações e mentes de seus fiéis. Folhear os dois volumes é de enorme
interesse e a questão sempre mais vital é como judeus, cristãos e muçulmanos
se tratam mutuamente. Em outro livro usei a metáfora da família para descrever
essa relação – eles são os “filhos de Abraão” – e essa figura ainda é útil para
entendê-los, como tentei detalhar nos pensamentos finais de cada volume.
Antes de começar, algumas observações são necessárias. Seja lá o que se
pense dele, o cristianismo é atualmente a moeda intelectual e espiritual comum
no Ocidente, e o judaísmo quase isso. No entanto, para muitos leitores ocidentais,
“islam” (islã) e “muslim” (muçulmano) ainda são termos e conceitos exóticos e
um tanto confusos. As noções sobre o islã serão desenvolvidas em detalhe nas
páginas seguintes, mas algumas notas sobre os próprios vocábulos ajudarão já
desde o início. “Islam” é uma palavra árabe que, em termos amplos, significa
“submissão”, e neste contexto, submissão a Deus; assim, um “muslim”, uma palavra
derivada da mesma raiz, é “alguém que se submeteu”. Embora “islam” e “muslim” –
bem como “Alcorão” – sejam todos arábicos na origem, nem todos os muçulmanos
são árabes; muitos são turcos, iranianos e afegãos, além de milhões e milhões de
paquistaneses, indianos e indonésios que ficam aborrecidos quando são vistos
como árabes pelo fato de serem muçulmanos. Se nem todos os muçulmanos são
árabes, tampouco todos os árabes são muçulmanos. Muitos árabes palestinos
25
Os monoteístas
são cristãos, por exemplo, assim como muitos árabes libaneses. Os cristãos
também podem ser de qualquer etnia, e a maneira de os judeus se identificarem
a si mesmos aparecerá mais adiante.
Alguns sem dúvida notarão que expressões escrupulosas como “entendese” ou “acredita-se”, ou a menos polida e mais direta “é você quem diz”, serão
em geral omitidas – embora o leitor possa usá-las se julgar necessário. As
declarações descritivas e argumentativas no texto serão apresentadas, a não ser
que se observe outra coisa, como são aceitas e entendidas pela comunidade
monoteísta em questão.
Esta obra trata mais da fé do que da história, mais acerca das comunidades
de fé do que das várias tribos de historiadores que as estudaram. Em causa está
aqui não o que realmente aconteceu, mesmo que fosse possível averiguar isso, mas
sim o que judeus, cristãos e muçulmanos acreditam que aconteceu. Não renuncio
à análise; de fato, há bastante análise aqui. A análise será usada principalmente
para deduzir as semelhanças e diferenças entre as três fés e assim tornar a sua
comparação inteligível e não, à maneira do historiador crítico, para avaliar e verificar
ou descartar. Algumas coisas são ignoradas aqui por economia ou, talvez, simples
inadvertência; nada é descartado. O conteúdo de cada página deste livro, como
cada linha das Escrituras e tradições nas quais se baseiam, foi assunto de intenso
exame crítico e igualmente intensa disputa entre historiadores com fé e historiadores
sem fé e, no meio, gerações de pessoas com fé que ficam entre os dois.
Finalmente, em tudo o que se segue, “Bíblia” sempre significa a Bíblia hebraica
ou judia. Embora os cristãos certamente considerem suas próprias Escrituras como
parte da Bíblia, elas sempre serão chamadas aqui de “Novo Testamento” ou
“Evangelhos”. “Antigo Testamento”, que é mais uma questão de rivalidade que
um nome, será reservado para a versão bastante diferente das Escrituras judias,
preferidas e usadas pelos cristãos.
Nota: É meu dever lamentável mas inevitável dizer algo acerca dos calendários,
visto que foram fonte de muita discórdia e desentendimento. Judeus, cristãos e
muçulmanos contam o tempo de maneiras diferentes, por isso aqui todos os anos
serão registrados como a.e.c. (antes da era comum) e e.c. (era comum). Deve-se
distinguir entre onde as pessoas começam a contar o tempo e como o contam. Os
judeus começam com a Criação, que datam em 3760 a.e.c., e contam diretamente
sem nenhuma interrupção. Assim, nosso solene ano 2000 caiu entre os inócuos
anos de 5760-5761 do calendário hebraico. Os cristãos também começam com a
Criação, com a diferença de que sua data tradicional para esse acontecimento é
4004 a.e.c. Contam de maneira decrescente desde aí até o fim do ano 1 a.C.
(antes de Cristo), ano que é a linha divisória por ser o ano do nascimento de
26
Introdução
Cristo (a.D., anno Domini) que marca o começo da era cristã. A partir daí o
tempo é contado de maneira crescente até o fim do mundo, cujo dia e hora
ninguém conhece (d.C., depois de Cristo). Para os muçulmanos, os anos desde
a Criação até a Hégira – a migração de Maomé de Meca para Medina, em 622
e.c. – são simplesmente ajuntados como “a era da ignorância” (al-jahiliyya). Em
622 começa a era propriamente muçulmana, em geral designada por a.H., anno
Hegirae, “ano da Hégira”.
Como essas três comunidades calculam o tempo é outra questão. Judeus e
muçulmanos usam os calendários lunares compostos de 12 meses de 29 dias e
algumas horas, num total de 354 dias. Isso coloca o ano lunar 11 dias atrás do
ciclo solar de nosso calendário. Os judeus resolvem a discrepância (e por isso
conservam seus festivais em compasso com as estações) por intercalação – prática
de acrescentar um mês extra sete vezes em cada ciclo de 19 anos e adicionar um
dia em outros intervalos mais curtos. O Alcorão (9,36-37) proíbe estritamente os
muçulmanos de intercalarem (como faziam nos dias pré-islâmicos), e por isso seu
ano lunar cai 11 dias atrás do ciclo solar cada ano. Pela contagem deles, o ano
solar de 2000 e.c. ocupa os anos lunares de 1421-1422 a.H. Os cristãos seguem o
calendário solar comumente usado no Ocidente.
27