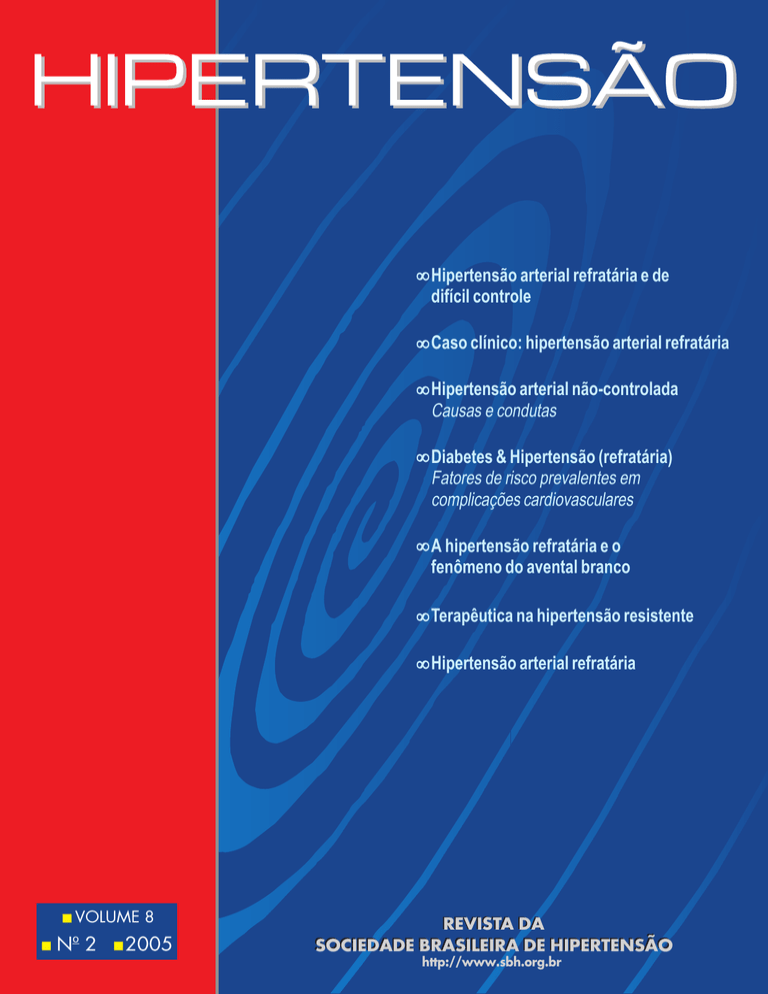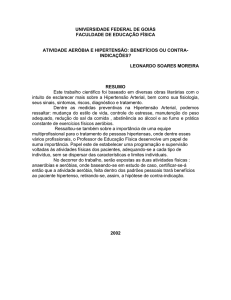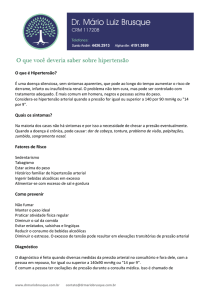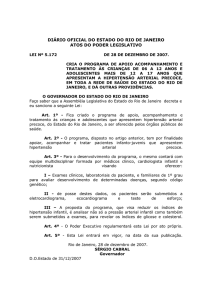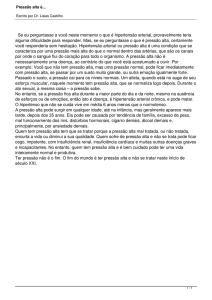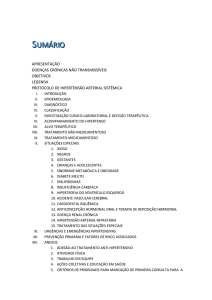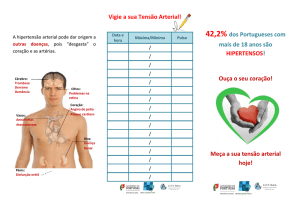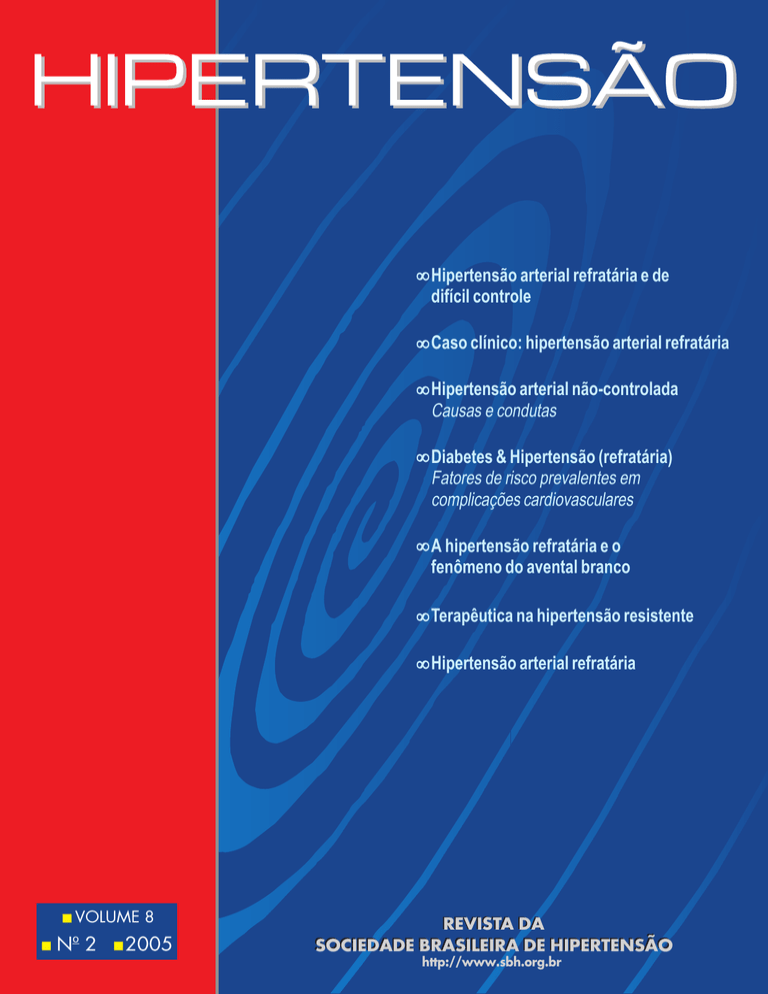
• Hipertensão arterial refratária e de
difícil controle
• Caso clínico: hipertensão arterial refratária
• Hipertensão arterial não-controlada
Causas e condutas
• Diabetes & Hipertensão (refratária)
Fatores de risco prevalentes em
complicações cardiovasculares
• A hipertensão refratária e o
fenômeno do avental branco
• Terapêutica na hipertensão resistente
• Hipertensão arterial refratária
■
■
VOLUME 8
o
N 2
■
2005
REVISTA DA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO
http://www.sbh.org.br
EDITORIAL
EDITORIAL
Hipertensão Arterial Refratária
um problema em busca de solução
Como está bem estabelecido em trabalhos inseridos na presente
edição, a Hipertensão Arterial Refratária é conceituada como a
hipertensão resistente (considerando-se o uso do termo resistente com o
mesmo significado de refratária) que evolui com valores pressóricos acima
de 140/90 mmHg em pacientes utilizando regularmente doses plenas ou
máximas de pelo menos três ou mais agentes de classes terapêuticas antihipertensivas distintas, incluindo-se entre eles diuréticos em doses
igualmente adequadas.
Entre as causas mais freqüentemente citadas, incluem-se desde a
tomada da PA de forma inadequada até a presença de certas comorbidades
(obesidade e resistência à insulina, por exemplo) até situações mais
específicas, como hipervolemia e formas secundárias de hipertensão.
Os dados sobre a prevalência do problema não são definitivos, mas os
resultados do estudo ALLHAT – “Antihypertensive and Lipid Lowering
Treatment to Prevent Heart Attack” (Am J Hypertens, 1998, 11: 17A),
mostraram que entre 14.722 pacientes, com mais de 55 anos,
47% permaneciam resistentes ao tratamento, cerca de um ano após a
randomização. Trata-se certamente de uma informação restrita a uma faixa
da população em idade mais avançada, mas que revela a grandeza do
desafio, sobretudo por se referir a um subgrupo de indivíduos que quase
sempre evolui com comorbidades que acentuam o risco de complicações
cardiovasculares. O diabetes, entre outros, constitui um fator de risco de
extrema importância, uma vez que sua concomitância com quadros
hipertensivos multiplica o risco de eventos cárdio e cerebrovasculares,
aumentando significativamente as taxas de morbimortalidade.
Controlar a hipertensão arterial resistente ou refratária constitui,
portanto, uma tarefa a ser bem executada, a despeito dos fatores adversos
e das dificuldades que possam ser encontradas. Daí a importância maior
das diversas matérias que compõem o número atual de nossa revista
HIPERTENSÃO.
Dra Maria Helena Catelli de Carvalho
Editora
Volume 8 / Número 2 / 2005
43
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
ÍNDICE
ÍNDICE
○
○
○
○
○
○
Hipertensão arterial refratária e
de difícil controle ...................................................................................... 46
○
○
○
○
○
○
Caso clínico:
Hipertensão arterial refratária .................................................................. 52
○
○
○
○
Hipertensão arterial não-controlada
Causas e condutas ..................................................................................... 56
Diabetes & Hipertensão (refratária):
Fatores de risco prevalentes em
complicações cardiovasculares ................................................................. 59
A hipertensão refratária e o
fenômeno do avental branco ...................................................................... 62
HIPERTENSÃO
Terapêutica na hipertensão resistente ........................................................ 67
Hipertensão arterial refratária .................................................................... 72
Revista da Sociedade
Brasileira de Hipertensão
EDITORA
DRA. MARIA HELENA C. DE CARVALHO
EDITORES SETORIAIS
Referência Internacional
em resumo ................................................................................................. 78
Agenda 2005 ............................................................................................. 82
MÓDULOS TEMÁTICOS
DR. EDUARDO MOACYR KRIEGER
DR. ARTUR BELTRAME RIBEIRO
CASO CLÍNICO
DR. DANTE MARCELO A. GIORGI
EPIDEMIOLOGIA/PESQUISA CLÍNICA
DR. FLÁVIO D. FUCHS
DR. PAULO CÉSAR B. VEIGA JARDIM
FATORES DE RISCO
DR. ARMÊNIO C. GUIMARÃES
AVALIAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL
DRA. ANGELA MARIA G. PIERIN
DR. FERNANDO NOBRE
DR. WILLE OIGMAN
EXPEDIENTE
Produção Gráfica e Editorial - BestPoint Editora
Rua Ministro Nelson Hungria, 239 - Conjunto 5 - 05690-050 - São Paulo - SP
Telefax: (11) 3758-1787 / 3758-2197. E-mail: [email protected].
Médico / Jornalista Responsável: Benemar Guimarães - CRMSP 11243 / MTb 8668.
Assessoria Editorial: Marco Barbato.
Revisão: Márcio Barbosa.
As matérias e os conceitos aqui apresentados não expressam necessariamente
a opinião da Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda.
TERAPÊUTICA
DR. OSVALDO KOHLMANN JR.
BIOLOGIA MOLECULAR
DR. JOSÉ EDUARDO KRIEGER
DR. AGOSTINHO TAVARES
DR. ROBSON AUGUSTO SOUZA SANTOS
PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
CARMELINA DE FACIO
44
HIPERTENSÃO
SBH
Sociedade
Brasileira de
Hipertensão
DIRETORIA
Presidente
Dr. Robson A. Souza dos Santos
Vice-Presidente
Sociedade Brasileira de Hipertensão
Tel.: (11) 3284-0215
Fax: (11) 289-3279
E-mail: [email protected]
Home Page: http://www.sbh.org.br
Dr. Artur Beltrame Ribeiro
Tesoureiro
Dr. José Márcio Ribeiro
Secretários
Dr. Dante Marcelo A. Giorgi
Dr. Elisardo C. Vasquez
Presidente Anterior
Dr. Ayrton Pires Brandão
Conselho Científico
Dra. Andrea Araujo Brandão
Dra. Angela Maria G. Pierin
Dr. Armênio Costa Guimarães
Dr. Artur Beltrame Ribeiro
Dr. Ayrton Pires Brandão
Dr. Carlos Eduardo Negrão
Dr. Celso Amodeo
Dr. Dante Marcelo A. Giorgi
Dr. Décio Mion Jr.
Dr. Eduardo Moacyr Krieger
Dr. Elisardo C. Vasquez
Dr. Fernando Nobre
Dr. Hélio César Salgado
Dr. Hilton Chaves
Dr. José Eduardo Krieger
Dr. José Márcio Ribeiro
Dra. Lucélia C. Magalhães
Dra. Maria Claudia Irigoyen
Dra. Maria Helena C. Carvalho
Dr. Osvaldo Kohlmann Jr.
Dr. Robson A. S. Santos
Dr. Wille Oigman
Volume 8 / Número 2 / 2005
45
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Hipertensão arterial refratária
e de difícil controle
Bases fisiopatológicas da terapêutica
Resumo
Autores:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
MÓDULO TEMÁTICO
○
Heitor Moreno Júnior*
○
○
Cardiologista e Farmacologista, Professor Adjunto da
Faculdade de Ciências Médicas – UNICAMP, SP,
Coordenador do Ambulatório de Hipertensão
Refratária – HC-UNICAMP
Juan Carlos Yugar Toledo
Cardiologista do Setor de Farmacologia
Cardiovascular e Hipertensão do HC –
FCM-UNICAMP
Samira Ubaid Giriogi
Cardiologista do Setor de Farmacologia
Cardiovascular e Hipertensão do HC –
FCM-UNICAMP
Pelas Diretrizes do VII JNC – 2002 (EUA), a hipertensão
arterial refratária (HAR) ou resistente é definida quando os
níveis pressóricos permanecem acima de 140 mmHg (PAS) e
90 mmHg (PAD), mesmo sob uso de três ou mais classes de
anti-hipertensivos em doses plenas, sendo um diurético, a despeito de boa adesão ao tratamento. Devem ser descartadas
ainda “hipertensão do avental branco”, não-adesão ao tratamento, influência do uso concomitante de fármacos ou drogas, condições associadas, além de pseudo-hipertensão e
pseudo-refratariedade. As bases farmacológicas para o tratamento da HAR devem ser assentadas nos conhecimentos fisiopatológicos da síndrome e de cinética e dinâmica dos antihipertensivos. Mesmo em face das frustrações impostas pelo
diagnóstico, devemos considerar que, sem êxito total no controle da PA, pressupõe-se que a ocorrência de eventos cardiovasculares, sobrevida e mortalidade seja favoravelmente alterada. “O impossível, fizemos ontem. Podemos repetir hoje”.
Leoní Adriana de Souza Barbosa
Farmacêutica do Setor de Farmacologia
Cardiovascular e Hipertensão do HC –
FMC-UNICAMP
Introdução
*Endereço para correspondência:
Farmacologia Cardiovascular e Hipertensão
Departamento de Farmacologia – HC/FCM-UNICAMP
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Distrito de Barão Geraldo, Campinas, SP
13081-550 – Campinas – SP
Tels.: (19) 3788-9538/40/50 (Lab. de Farmacologia Cardiovascular),
(19) 3788-7283 (HC/FCM-UNICAMP)
E-mail: [email protected]
Site: http://www.farmacocv.com
46
HIPERTENSÃO
O controle adequado da pressão arterial é imprescindível
à manutenção da pressão de perfusão tecidual nos diversos
órgãos e sistemas em mamíferos, colaborando para a homeostase cardiovascular. No entanto, a refratariedade ao tratamento da hipertensão permanece como grande desafio na prática médica. Apesar da otimização terapêutica com medidas
não-farmacológicas, adesão rigorosa, exclusão de possíveis
causas associadas e causas secundárias de hipertensão arterial, cerca de 3 - 10% (assistências primária e secundária) e
até 30% (assistência terciária) dos hipertensos são considerados refratários ou resistentes. Embora seja possível que esses
números, pela difícil uniformidade de definição, superestimem
a prevalência dessa síndrome, pacientes com pressão arterial
elevada de difícil controle ou refratária ao tratamento freqüentemente buscam assistência do especialista. Para padronização e com fim didático, nesta revisão consideraremos ambas
as condições hipertensão arterial refratária (HAR).
Definição
TABELA 1
De acordo com as diretrizes do “VII Joint National
Committee” (JNC-VII, EUA), a hipertensão arterial refratária
(HAR) ou resistente é definida quando os níveis pressóricos
permanecem acima de 140 mmHg para pressão arterial sistólica (PAS) e 90 mmHg para pressão arterial diastólica (PAD),
mesmo sob uso de três ou mais classes de anti-hipertensivos
em doses plenas, sendo um diurético, a despeito de boa adesão ao tratamento não-farmacológico e farmacológico1.
Fisiopatologia
CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS
l Não-redução da PA
(sistólica < 140 e/ou diastólica < 90)*
l Pacientes aderentes ao tratamento
l Uso de dois ou mais anti-hipertensivos de classes
diferentes e um diurético em doses adequadas
* VII Joint National Committee on Prevention, Detection and Treatment of High Blood
Pressure e IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão
As alterações fisiopatológicas da HAR estão relacionadas especialmente aos seguintes mecanismos, que, entre outros, regulam a pressão arterial:
n tono do músculo liso vascular e volemia aumentados;
n exacerbação da atividade do sistema simpático;
n hiperatividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona.
A sensibilidade aumentada ao sódio pode ser a pedra angular na compreensão da fisiopatologia dessa síndrome não
só por integrar os mecanismos anteriores, mas também por
justificar, em parte, a variabilidade da resposta terapêutica
em pacientes com HA refratária ou de difícil controle2.
O sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) é primordial para o sistema regulatório de controle do sódio corporal total, bem como os fatores peptídeo atrial natriurético e receptores atriais e renais de pressão. A retenção de sódio e
água pode levar a refratariedade a fármacos anti-hipertensivos.
Nos últimos dez anos, também a disfunção endotelial tem
sido vista como importante fator fisiopatológico nessa síndrome. Sabe-se que indivíduos com predisposição genética
ao desenvolvimento de HA apresentam disfunção endotelial e
menor biodisponibilidade vascular de óxido nítrico (NO) como
provável gênese do processo hipertensivo. Padrão semelhante
de disfunção endotelial é encontrado em hipertensos de difícil
controle3. Assim, ao lado de outros mecanismos já discutidos
anteriormente, a disfunção endotelial contribui para o desequilíbrio do tono nos territórios de resistência vascular (arteríolas e meta-arteríolas) induz hipertrofia e hiperplasia da musculatura lisa vascular e aumento da matriz extracelular com
conseqüente redução da complacência vascular, perpetuando
e agravando o quadro hipertensivo. Simultaneamente, a biodisponibilidade miocárdica reduzida de NO é responsável pela
exacerbação dos mesmos fenômenos proliferativos que causam aumento de volume dos cardiomiócitos, resultando em
remodelamento cardiovascular.
FIGURA 1
FISIOPATOLOGIA DA HA REFRATÁRIA OU DE DIFÍCIL CONTROLE
Volume 8 / Número 2 / 2005
47
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
n dosagem de renina e aldosterona para hiperaldosteronismo primário;
Diagnóstico
Diagnóstico diferencial
n dosagem de matanefrinas urinárias para feocromocitoma;
n dosagem de eletrólitos, uréia, creatinina, “clearance” de
creatinina e proteinúria de 24 horas para doenças parenquimatosas renais;
n Doppler de artérias renais, cintilografia renal com captopril e arteriografia renal para hipertensão renovascular.
Quando descartadas a não-adesão e as causas conhecidas
de resistência ao tratamento com persistência dos níveis
elevados da pressão arterial (PA > 140/90 mmHg), diagnostica-se hipertensão arterial refratária.
○
○
○
○
○
Poe outro lado, o vasto conhecimento científico adquirido nas últimas duas décadas criou a expectativa de que variações genéticas (polimorfismos) possam afetar as respostas a
fármacos. Assim, a expressão de determinados polimorfismos
genéticos relacionados a sistemas enzimáticos ou a receptores
de superfície celular poderia explicar a dificuldade individual
no controle da pressão arterial. Desta forma, sabe-se que polimorfismos de enzimas do citocromo P450 mudam a resposta
da pressão arterial (farmacodinâmica) por modificarem a
cinética dos anti-hipertensivos. Em particular, polimorfismos
da CYP 2C9 afetam as respostas aos antagonistas de receptores do tipo I da angiotensina II; polimorfismos da CYP 2D6 e
da CYP 3A4, a metabolização de betabloqueadores e dos bloqueadores de canais de cálcio respectivamente.
Recomenda-se o encaminhamento de pacientes com alto
grau de suspeição de hipertensão refratária a serviços terciários
somente após a realização de investigação diagnóstica básica.
A monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) proporciona importantes dados diagnósticos e terapêuticos sobre
o comportamento da pressão arterial em hipertensos resistentes e permite:
n descartar a hipertensão do avental branco;
n avaliar a eficácia da terapia;
n identificar indivíduos potencialmente pseudo-resistentes;
n identificar causas secundárias, como a apnéia do sono;
n identificar e estratificar os pacientes quanto ao risco cardiovascular. Com relação a esse último aspecto, pacientes
com pressão arterial diastólica (medida pela MAPA) com
níveis > 97 mmHg apresentam maior progressão de dano
em órgãos-alvo quando comparados a outros com níveis
diastólicos mais baixos. As principais limitações para seu
uso são arritmias cardíacas, hipercinesia, braços que não
permitam o perfeito ajuste do manguito e hiato auscultatório. Além da importância diagnóstica, a MAPA também é
útil para detectar ausência de queda de pressão arterial no
período noturno em pacientes com hipertensão refratária,
achado que implica maior risco cardiovascular e reavaliação
posológica dos anti-hipertensivos em uso4.
Descartadas a hipertensão do avental branco e a pseudoresistência deve-se investigar hipertensão secundária por
meio de:
Pseudo-hipertensão e
hipertensão do avental branco
Pseudo-hipertensão é a condição clínica em que ocorre
discrepância entre os valores pressóricos obtidos na avaliação
com manguito braquial (os quais de encontram elevados) e os
registrados de forma invasiva, através de cateterismo intraarterial (invariavelmente menores). As causas mais comuns
associadas a essa situação são ateromatose arterial difusa e/ou
hiperplasia da camada média das artérias.
A hipertensão do avental branco é identificada quando a
pressão arterial medida no consultório é maior que a obtida
fora do ambiente médico-hospitalar e deve ser suspeitada na
ausência de lesões em órgãos-alvo. Esse efeito pode levar o
médico a aumentar o número de anti-hipertensivos ou sua dosagem, podendo ocasionar aumento dos efeitos colaterais e
dos custos. Recomenda-se para a confirmação diagnóstica a
MAPA e as medidas domiciliares5.
TABELA 2
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
l Pseudo-hipertensão
• Hipertensão do avental branco
• MAPA
• Medidas domiciliares
• Idosos com aterosclerose
l Não-adesão ao tratamento
l Uso concomitante de fármaco e drogas
n avaliação da função tireoidiana;
l Patologia e condições associadas
n dosagem de insulina plasmática para síndrome metabólica;
l Hipertensão arterial secundária
n testes funcionais para síndrome de Cushing;
48
HIPERTENSÃO
l Urgências e emergências hipertensivas
Não-adesão ao tratamento
É uma das maiores dificuldades no controle da hipertensão arterial e as razões alegadas por pacientes são “normalização da pressão arterial”, efeitos colaterais, uso irregular e/ou
alto custo do medicamento, receio de uso concomitante de
álcool, ignorância da necessidade da continuidade do tratamento, terapias alternativas, receio de intoxicação ou hipotensão e de associação com outras drogas ou fármacos. Algumas
medidas simples podem ser utilizadas na avaliação da adesão,
como a contagem de comprimidos auto-relatos. É necessário
otimizar a adesão ao tratamento utilizando-se anti-hipertensivos com o menor efeito colateral possível, terapia combinada
de baixa dose, diminuindo o número de tomadas diárias, controlando precocemente a pressão arterial, evitando a
polifarmácia, diminuindo o custo do tratamento e educando o
paciente a respeito de sua doença e seu tratamento5.
Uso concomitante de outros fármacos
O uso concomitante de anti-hipertensivos com outros fármacos pode contribuir para elevar os níveis pressóricos. Como,
por exemplo, aqueles metabolizados pela mesma isoforma 3A4
do citocromo CYP 450, podem sofrer diminuição da meia vida
plasmática e redução do efeito anti-hipertensivo, como ocorre
com uso de anticonvulsivantes e rifampicina, que são indutoras
da atividade enzimática hepática. A hipertensão arterial é duas
a três vezes mais freqüente em mulheres que tomam contraceptivos orais, especialmente em obesas e tabagistas. A suspensão do uso desses medicamentos normaliza a pressão arterial em alguns meses. O uso das aminas simpatomiméticas
(fenilpropanolamina) e outras drogas vasoativas (efedrina e
anfetamina) aumentam a resistência vascular periférica por
aumento da excitação direta de receptores adrenérgicos e liberação de noradrenalina, elevando a pressão arterial. O uso
de antiinflamatórios não-esteroidais e esteroidais dificultam
o controle da pressão sangüínea por promoverem retenção de
água e sódio5. A cocaína pode elevar a pressão arterial por sua
ação no sistema nervoso simpático por inibir a resposta barorreflexa vagal e induzir vasoconstrição coronariana6.
Condições clínicas associadas
n Etilismo e tabagismo
O consumo de álcool é considerado uma causa de aumento da pressão arterial, quando consumido em doses superiores a 30 mL de etanol/dia. Os efeitos diretos do álcool sobre a pressão arterial são mediados por alterações vasculares
funcionais reversíveis com a participação do sistema nervoso
simpático e substâncias vasoativas, bem como pelo transporte
celular de eletrólitos5.
O aumento dos níveis pressóricos e da freqüência cardíaca que acompanham o tabagismo é proporcional aos índices
de nicotina consumidos por dia, mesmo na vigência de tratamento anti-hipertensivo adequado e em condições ideais. Esse
aumento está relacionado com a liberação de catecolaminas
responsáveis pela vasoconstrição sistêmica e do aumento da
contratilidade miocárdica, com conseqüente aumento do volume sistólico e do fluxo nos músculos esqueléticos. A nicotina também é responsável por disfunção endotelial, pela diminuição da disponibilidade de óxido nítrico em artérias e veias7. Níveis elevados de tromboxano são observados em hipertensos leves tabagistas comparados com fumantes normotensos e não-tabagistas8. Outros componentes gasosos da fumaça
do cigarro causam efeitos vasculares semelhantes por mecanismos pró-oxidantes. O tabagismo passivo, a terapia de reposição de nicotina e o uso da bupropiona (coadjuvantes na cessação do hábito) devem ser consideradas como possíveis causas de pseudo-refratariedade, embora o uso de nicotina transdérmica (NT, 21 mg) em hipertensos leves fumantes seja seguro9. Efeitos de doses maiores do fármaco, e em hipertensos
classificados em outros graus da doença, não foram totalmente investigados.
Assim, apesar do uso seguro da terapia de reposição de
nicotina, os efeitos do fármaco sobre a pressão arterial podem
levar a falsos diagnósticos de HA e de HA refratária.
n Obesidade, resistência insulínica e apnéia do sono
A obesidade é quase sempre acompanhada de resistência
à insulina, principalmente a obesidade centrípeta. A
hiperinsulinemia aumenta a atividade do sistema nervoso simpático, promovendo vasoconstrição, elevação da pressão arterial, da freqüência cardíaca e por estímulo direto dos receptores α-adrenérgicos do aparelho justaglomerular aumentam a
secreção de renina e aldosterona. Tanto o aumento da concentração de insulina, a hiperatividade adrenérgica e a elevação
dos níveis de renina e aldosterona promovem reabsorção renal de sódio e elevação da pressão arterial10.
A apnéia obstrutiva do sono está presente em cerca de
40% dos pacientes hipertensos refratários e freqüentemente
não-diagnosticada. Por esse motivo, é importante a realização
de anamnese dirigida na presença de sintomas de sonolência e
cansaço excessivo durante o dia. A solicitação do exame
polissonográfico confirma o diagnóstico, assim como determina o grau de severidade. Vários mecanismos foram propostos para explicar a relação entre apnéia do sono e hipertensão
refratária: aumento do tono simpático com elevação das
catecolaminas séricas, aumento da angiotensina II e aldosterona plasmáticas devido a hipoxia e hipercapnia, elevação da
pressão negativa intratorácica durante o esforço inspiratório
contra vias aéreas fechadas, interrupções constantes do sono,
diminuição reversível da responsividade vascular à bradicinina e diminuição da sensibilidade barorreceptora5, 11, 12. Associada à terapia medicamentosa anti-hipertensiva, a “Nasal
Continuous Positive Airway Pressure” (CPAP) tem mostrado
bons resultados na diminuição dos níveis pressóricos13.
Hipertensão arterial secundária
Causas secundárias de hipertensão incluem hiperaldosteronismo primário, hipertensão renovascular, feocromocitoma, doenças da tireóide e doença parenquimatosa renal5.
Volume 8 / Número 2 / 2005
49
○
○
○
○
○
○
○
○
orientação utilizada para a hipertensão de outros graus, não
havendo bases científicas para seu emprego preferencial
na HA de difícil controle ou refratária.
○
○
TABELA 3
n A abordagem racional é efetuada considerando o perfil hemodinâmico e os níveis de atividade da renina plasmática,
que permite dividir esse grupo de pacientes em volume-dependente e renina-dependente, podendo-se assim, direcionar
melhor a escolha dos anti-hipertensivos para cada subgrupo.
Ressalte-se que a idade é um indicador de diminuição da atividade da renina a ser considerado durante a escolha de fármacos
anti-hipertensivos. Predomínio de hiperatividade simpática encontrada em hipertensos jovens e elevação dos níveis de atividade da renina orientam para a utilização preferencial de betabloqueadores em associação com tiazídicos15, 16.
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Abordagem terapêutica
Uma boa relação médico–paciente–equipe multidisciplinar
deve ser a base não-farmacológica da terapêutica, pois tem reflexos evidentes na melhora da qualidade de vida do paciente e adesão ao tratamento proposto. Além da conscientização sobre a
doença e a importância do tratamento farmacológico, a valorização da auto-estima é fundamental na abordagem desses pacientes. Algumas medidas não-farmacológicas devem ser adotadas:
reeducação alimentar com dieta hipossódica, redução do peso,
cessação do tabagismo, limitação de bebidas alcoólicas e prescrição de atividades físicas por profissional habilitado, além
de apoio psicoterápico, freqüentemente necessário14. É importante salientar que a não-adoção rigorosa dessas medidas pode
implicar diagnóstico de pseudo-refratariedade.
O esquema terapêutico deve ser otimizado com as diferentes classes dos anti-hipertensivos que forem necessários,
incluindo um diurético, todos em doses plenas e não-tóxicas.
Duas estratégias diferentes podem ser utilizadas na tentativa
de encontrar o esquema terapêutico mais apropriado para cada
paciente, além de se basear nos conhecimentos fisiopatológicos expostos anteriormente:
n A abordagem empírica baseada na rotatividade sistemática de fármacos anti-hipertensivos com a utilização de associações de dois, três ou quatro classes farmacológicas
diferentes juntamente com diuréticos tiazídicos em dose
plena. A utilização de diuréticos de alça segue a mesma
50
HIPERTENSÃO
Se disponível, a quantificação de renina plasmática pode
direcionar o tratamento medicamentoso. Caso o paciente apresente atividade plasmática de renina elevada (> 0,65 ng/mL/h),
inicia-se o tratamento com medicamentos que inibem o sistema renina-angiotensina-aldosterona como os inibidores da enzima conversora (IECA), os bloqueadores dos receptores AT1
da angiotensina II e os betabloqueadores. Se a atividade plasmática de renina for baixa (< 0,65 ng/mL/h), o paciente é classificado como volume-dependente e deverá ser tratado preferencialmente com diuréticos e bloqueadores dos canais de cálcio. Entretanto, durante o curso terapêutico, a associação de
várias classes de anti-hipertensivos é necessária5. Assim, podem ser associados alfabloqueadores, como a prazosina e a
doxazosina; drogas de ação central, como a alfametildopa e a
clonidina; vasodilatadores diretos, como a hidralazina e o minoxidil. Em pacientes com índices plasmáticos elevados de aldosterona, o uso associado de antagonista desse mineralocorticóide (em especial, a espironolactona) pode ser eficaz na redução da pressão arterial, além de retardar as alterações estruturais que caracterizam o remodelamento cardiovascular17. Os
efeitos adversos desses fármacos sugeridos como alternativos
limitam o seu uso18. Em nosso serviço, a subdivisão dos hipertensos refratários em renina-dependente (87%) e volume-dependente (13%), associada à individualização do tratamento
por especialista em hipertensão, determinaram os seguintes
percentuais de prescrição de anti-hipertensivos: diuréticos tiazídicos (89%); inibidores da ECA (34%); bloqueadores de receptores AT1 (50%); betabloqueadores (54%); bloqueadores dos
canais de cálcio (73%); antagonistas de aldosterona (9%); bloqueadores centrais (18%); e vasodilatadores diretos (5%). Esses procedimentos reduziram, após oito meses, a pressão arterial nesse grupo (n = 87) de forma significativa (PAS 172,5 ±
24 e PAD 106,4 ± 16 mmHg vs. PAS 159,2 ± 21 e PAD 99,5 ±
10 mmHg; p < 0,001), com normalização da função endotelial
avaliada através do estudo da reatividade vascular da artéria
braquial com ultra-som de alta resolução.
Estudo realizado na Clínica Mayo (EUA) com 104 pacientes hipertensos refratários demonstrou haver melhor controle da pressão arterial e redução da resistência vascular quando o tratamento farmacológico foi baseado em medidas hemodinâmicas não-invasivas (bioimpedância torácica; tabela 2).
quando comparado com a escolha
empírica de classes de anti-hipertensivos e ajustes de doses a critério do
especialista em hipertensão arterial19.
Em nosso ambulatório, adotamos a escolha de fármacos a critério médico,
porém baseada na fisiopatologia e no
perfil hemodinâmico do paciente com
diagnóstico clínico de hipertensão arterial de difícil controle ou refratária.
TABELA 4
PERFIL HEMODINÂMICO EM HA RESISTENTE E RECOMENDAÇÕES TERAPÊUTICAS
MEDIDAS HEMODINÂMICAS E HUMORAIS
RECOMENDAÇÕES
↑ Débito cardíaco
Betabloqueadores
Antagonista de Ca++ (não-diidropiridínicos)
↑ Resistência periférica
Inibidores da ECA, ARAII
Antagonista de Ca++ (diidropiridínicos)
Minoxidil
Hidralazina
↑ Volume plasmático
Diuréticos
Considerações finais
Restrição rígida de sódio
Exames complementares de alto
custo, às vezes indisponíveis em servi↑ Catecolaminas plasmáticas
Clonidina
ços de assistência médica primária e seα-bloqueadores
cundária, justificam o encaminhamen↑ Renina plasmática ativa
Inibidores da ECA, ARA II
to de hipertensos de difícil controle ou
β-bloqueadores
refratários a centros especializados. No
↑ Aldosterona urinária/plasmática
Espironolactona
entanto, isso deve ocorrer apenas após
Amilorida
a identificação diagnóstica “de certeza”.
Parece-nos razoável considerar
que, mesmo sem êxito na obtenção de
níveis adequados e desejáveis de pressão arterial, a ocorrência de
ciente como passível de controle, “o impossível, fizemos oneventos cardiovasculares, a sobrevida e a mortalidade sejam fatem. Podemos repetir hoje”.
voravelmente alteradas a médio e longo prazos.
Agradecimentos: Alunos e funcionários (Farmacologia
Finalmente, a nosso ver, a melhor postura profissional
Cardiovascular e Hipertensão – HC-FCM, UNICAMP);
em face da hipertensão refratária deve ser considerar todo paFAPESP, CNPq, CAPES e FAEP-UNICAMP.
Referências bibliográficas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
The Seventh Joint National Committe on Prevention, Detection, Evaluation And Treatment Of High Blood Pressure. JAMA, v. 289, n.
19, p. 2560–2572, 2003.
REINHARDT HW, SEELIGER E. Toward an integrative concept of
control of total body sodium. News Physiol Sci, v. 15, p. 319–325,
2000.
YUGAR-TOLEDO JC, TANNUS-SANTOS JE, SABHA M, SOUSA
MG, CITTADINO M, TÁCITO BLH, MORENO H JR. Uncontrolled
hypertension, uncompensated type II diabetes and smoking have
different patterns of vascular dysfunction. Chest, v. 125, p. 823–
830, 2004.
MION JR D, OIGMAN W, NOBRE F. Monitorização Ambulatorial da
Pressão Arterial. 3 Ed. São Paulo: Atheneu, 2004.
YUGAR-TOLEDO JC, FERREIRA-MELO SE, TORETTA LIM,
MORENO H JR . Hipertensão refratária: diagnóstico e tratamento.
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo, v. 1, p. 164–175, 2003.
VONGPATANASIN W, MANSOUR Y, CHAVOSHAN B, ARBIQUE
D, VICTOR RG. Cocaine stimulates the human cardiovascular
system via a central mechanism of action. Circulation, v. 100, n. 5,
p. 497–502, 1999.
SABHA M, TANUS-SANTOS JE, TOLEDO JC, CITTADINO M,
ROCHA JC, MORENO H JR. Transdermal nicotine mimics the
smoking induced endothelial dysfunction. Clin Pharmacol Ther, v.
68, n. 2, p. 167–174, 2000.
TANUS-SANTOS JE, TOLEDO JCY, CITTADINO M, SABHA M,
ROCHA JC, MORENO H JR. Cardiovascular effects of transdermal
nicotine in mildly hypertensive smokers. Am J Hypertens, v. 14, 7 Pt
1, p. 610–614, 2001.
TANUS-SANTOS JE, TOLEDO JCY, CITTADINO M, SABHA M,
ROCHA, JC, MORENO H JR. Cardiovascular effects of transdermal
nicotine in mildly hypertensive smokers. In: The Year Book of
Cardiology, United States, 2002, p. 35–36.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
EGAN BM. Insulin resistance and sympathetic nervous system. Curr
Hypertens Rep, v. 5, n. 3, p. 247–254, 2003.
GOODFRIEND TL, CALHOUN DA. Resistant hypertension, obesity,
sleep apnea, and aldosterone: theory and therapy. Hypertens, v. 43,
n. 3, p. 518–524, 2004.
LATTIMORE JD, CELERMAJER DS, WILCOX I. Obstrutive sleep
apnea and cardiovascular disease. JAMA, v. 290, n. 14, p. 1905–
1914, 2003.
DUCHNA HW, GUILLEMINAULT C, STOOHS RA, PAUL JL,
MORENO H, HOFFMAN BB, BLASCHKE TF. Vascular reactivity
in obstrutive sleep apnea syndrome. Am J Respir Crit Care Med, v.
161, p. 187–191, 2000.
IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. Rev. Soc. Bras.
Hipertens, v. 5, n. 4, 2002.
SACKS FM, SVETKEY LP, VOLLMER WM, APPEL LJ, BRAY GA,
HARSHA D, OBARZANEK E, CONLIN PR, MILLER ER 3RD,
SIMONS-MORTON DG, KARANJA N, LIN PH. DASH–Sodium
Collaborative Research Group. Effects on blood pressure of reduced
dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension
(DASH) diet. N Engl J Med, v. 344, n. 1, p. 3–10, 2001.
VIDT D. Contributing factors in resistant hypertension. Postgraduate
Med, v. 107, n. 5, p. 57–70, 2000.
NISHIZAKA MK, ZAMAM MA, CALHOUN DA. Efficacy of lowdose spironolactone in subjects with resistant hypertension. Am J
Hypertens, v. 16, p. 925–930, 2003.
HOLLENGER, NK, WILLIAMS GH, ANDERSON R, AKHRAS KS,
BITTMAN RM, KRAUSE SL. Symptoms and the distress:
comparison of an aldosteron antagonist and a calcium channel
blocking agent in patients with systolic hypertension. Arch Intern
Med, v. 163, n. 13, p. 1543–1548, 2003.
TALER SJ, TEXTOR ST, AUGUSTINE JE. Comparing hemodynamic
management to specialist care. Hypertens, v. 39, n. 5, p. 982, 2002.
Volume 8 / Número 2 / 2005
51
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Relato de caso
○
○
○
○
○
LÍNICO
○
C
ASO
Hipertensão arterial
refratária
Comentários:
Leoní Adriana de Souza
Barbosa,
Samira Ubaid-Girioli,
Juan Carlos Yugar-Toledo,
Heitor Moreno Jr.
Farmacologia Cardiovascular e
Hipertensão HC/FCM UNICAMP
Identificação
Exame físico
M.J.B.S., feminino, branca, 53 anos,
casada, natural de Leme e procedente de
Pirassununga, SP.
•
História da moléstia atual: paciente refere hipertensão arterial iniciada
após gestação, há 31 anos, sem controle,
tendo apresentado freqüentes episódios
de crises hipertensivas, acompanhadas de
tontura, dispnéia paroxística noturna e
dispnéia aos grandes esforços. Relata já
ter feito uso de várias associações de antihipertensivos, sem sucesso. Foi encaminhada em 2003 ao Ambulatório de Farmacologia Cardiovascular e Hipertensão
do HC/FCM-UNICAMP por apresentar
níveis pressóricos elevados e dificuldade no controle da pressão arterial, após
ter sido acompanhada durante 29 anos
em centros primários e secundários.
Antecedentes familiares: pai era
hipertenso, falecido por AVE. Mãe, um
irmão e uma irmã hipertensos.
*Endereço para correspondência:
Farmacologia Cardiovascular e
Hipertensão, HC/FCM-UNICAMP.
Departamento de Farmacologia
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Distrito de Barão Geraldo
13081-550 – Campinas – SP
Tels.: (19) 3788 9538 / 40 / 50
(Lab. de Farmacologia Cardiovascular),
(19) 3788 7283 (HC/FCM-UNICAMP)
E-mail: [email protected]
Site: http://www.farmacocv.com
52
HIPERTENSÃO
Antecedentes pessoais: nega diabetes, dislipidemia, tabagismo e etilismo. Sedentária.
•
•
•
•
•
•
•
•
Avaliação no Ambulatório HAR –
HC/FCM-UNICAMP
A paciente deu entrada em nosso
ambulatório referindo mal-estar geral, cefaléia constante, insônia, náuseas, tensão
nervosa, dor precordial atípica e visão turva, em uso de: hidroclorotiazida 50 mg/
dia, captopril 25 mg 8/8 h, propranolol 40
mg 8/8 h e nifedipina 20 mg 12/12h.
Paciente em REG, corada, hidratada,
acianótica, anictérica, afebril e
eupnéica.
Peso: 78 kg; Altura: 1,60m; IMC:
30,4; Cintura: 112 cm; Quadril: 118
cm; C/Q: 0,95; Prega cutânea: 12 cm;
Circ. Braquial: 32 cm.
Cabeça e pescoço: Simétrico, ausência de ptose palpebral, tireóide palpável sem aumento de volume e consistência elástica.
Ap. cardiovascular: Ritmo cardíaco
regular em 2 tempos com A2 hiperfonética e B4 presente. FC: 80 bpm.
PA: MSD: 180/120 mmHg e 190/120
mmHg; MSE: 180/120 mmHg e 180/
110 mmHg.
Ap. respiratório: Murmúrio vesicular
preservado sem ruídos adventícios.
Abdome: Ausência de visceromegalias, massas sólidas ou pulsáteis e
sopros.
SNC: Paciente consciente, contactuante e eutímica. Sem déficits motores.
FO: Artérias com reflexo luminoso
aumentado (retinopatia hipertensiva
leve).
Membros inferiores: Pulsos periféricos presentes e simétricos. Edema +/
4+ bilateral, mole e indolor.
Exames complementares
•
•
•
•
Laboratoriais
Glicose: 95 mg/dL;
HbGlic: 4,8%;
Hb: 15,5g%;
Ht: 46,7%;
FIGURA 1
TABELA 1
INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
l Pseudo-hipertensão
• Hipertensão do avental branco
• MAPA
• Medidas domiciliares
• Idosos com aterosclerose
l Não-adesão ao tratamento
l Uso concomitante de fármaco e drogas
l Patologia e condições associadas
l Hipertensão arterial secundária
l Urgências e emergências hipertensivas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Colesterol total: 189 mg/dL; LDL:
110 mg/dL; HDL: 53 mg/dL; VLDL:
26 mg/dL; Triglicérides: 86 mg/dL;
Sódio: 142 mEq/L; Potássio: 4,1
mEq/L;
Ácido úrico: 4,3 mg/dL;
Uréia: 31 mg/dL; Creatinina: 0,77
mg/dL;
Urina I: Normal
Eletrocardiograma: Rítmo sinusal,
freqüência 76 bpm, alterações na
repolarização ventricular.
Raio X tórax: aorta alongada, tortuosa, com calcificações. Traquéia e
mediastino centrados. Seios costofrênicos livres.
iniciou-se o acompanhamento da paciente. Outras condições foram abordadas
para o diagnóstico diferencial (tabela 1).
Primeiro retorno
•
•
•
PA consultório: MSD: 220/120
mmHg e 218/118 mmHg; MSE: 220/
122 mmHg e 216/120 mmHg.
MRPA: 180/120 mmHg.
MAPA: PAS-24h: 181; PAD-24h:
116; PAS-durno: 182; PAD-diurno:
119; PASn: 179; PAD-noturno:109;
PPulso-24h: 65; PPulso-diurno: 63;
PPulso-noturno: 70; PAM-24h: 141;
PAM-diurno:142; PAM-noturno:
137.
Seguimento
O processo de triagem para exclusão de causas secundárias, correção de
co-morbidades, ajuste inicial da terapia
não farmacológica e medicamentosa foi
realizado no período de seis meses (figura 1).
Descartadas a pseudo-resistência, a
síndrome do avental branco, a hipertensão secundária e as causas associadas,
•
•
•
•
Relação Aldosterona/APR: 13;
VMA: 10,8 mg/24h;
Insulina: 7,3 µUI/mL;
ECO: AE: 51 mm; AO: 37 mm; SIV:
16 mm; PP: 16 mm; FE(T): 63%;
HVE concêntrica importante.
Doppler de artérias renais: dentro da
normalidade, baixa probabilidade de
hipertensão renovascular.
Cintilografia Miocárdica: negativa
para isquemia.
Pesquisa da função endotelial (Vasodilatação Mediada pelo Fluxo –
VMF; vasodilatação independente do
endotélio/nitroglicerina - NTG):
VMF – 11,0%; NTG – 13,0%.
Espessura Íntima-Média (EIM) das
carótidas: CIE 0,7 ± 0,1 mm; CID
0,68 ± 0,09mm.
Terminada a fase de triagem primária, iniciou-se protocolo de adesão não
farmacológica e farmacológica.
Evolução após seis meses
Exames complementares
especializados (HA Refratária)
•
•
•
•
•
Sódio urinário: 223 mEq/24h; Potássio urinário: 71 mEq/24h;
Cortisol: 16,7 µg/dL;
TSH: 1,34 µUI/mL; T4: 1,46 ng/dL;
Atividade plasmática de renina 1,2
ng/ml/h;
Aldosterona plasmática: 15,2 ng/ml;
A paciente apresentou melhora dos
sintomas iniciais, exceto a turvação visual.
•
•
•
PA consultório: MSD: 160/100
mmHg e 158/98 mmHg; MSE: 150/
90 mmHg e 152/88 mmHg.
MRPA: 171/100 mmHg.
MAPA: PAS-24h: 180; PAD-24h:
Volume 8 / Número 2 / 2005
53
122; PAS diurna: 181; PAD diurna:
123; PAS noturna: 181; PAD noturna:121; PP 24h: 66; PP diurna: 58;
PP noturna: 60; PAM 24h: 145;
PAM diurna: 145; PAM noturna:
147.
Balanço da ingestão de sódio e
potássio
•
•
•
Sódio: 141 mEq/L; potássio: 4,1
mEq/L;
Sódio urinário: 115 mEq/24h; potássio urinário: 69 mEq/24h.
Ajuste terapêutico: hidroclorotiazida
25 mg/dia, atenolol 50 mg 12/12h,
olmesartana 20 mg/dia, amlodipina
10 mg 12/12h, AAS 100 mg/dia,
oxazepan 2 mg/dia.
n descartar a síndrome do avental branco;
n avaliar a eficácia da terapia;
n identificar indivíduos potencialmente
pseudo-resistentes;
n identificar e estratificar os pacientes
quanto ao risco cardiovascular;
n identificar causas secundárias, mediante:
•
avaliação da função tiroidiana;
•
dosagem plasmática de insulina
para síndrome metabólica;
•
dosagem plasmática de cortisol
para síndrome de Cushing;
•
dosagem plasmáticas de renina
e aldosterona para hiperaldosteronismo primário;
•
dosagem de metanefrinas urinárias para feocromocitoma e ácido vanilmandélico;
•
dosagem de eletrólitos, uréia,
creatinina, “clearance” de creatinina e proteinúria de 24 horas
para doenças parenquimatosas
renais;
Adesão farmacológica
•
A paciente obteve um índice de adesão de retornos de 100%, e 89,5%
de adesão ao tratamento farmacológico.
Discussão
O quadro clínico dessa paciente,
o diagnóstico e a evolução refletem as
complicações tardias de lesão em órgãos-alvo observadas em pacientes
com hipertensão arterial, refratária ou
não. No entanto, chamamos a atenção
para a necessidade do rigor no diagnóstico preciso (inclusive diferencial)
dessa síndrome. A necessidade da caracterização da síndrome de HA refratária é fundamental, pois a freqüente
não-adesão às medidas não-farmacológicas e farmacológicas constituem obstáculos para a complexa e dispendiosa
investigação de hipertensão secundária, pseudo-refratariedade e condições
de hiperreatividade pressórica.
O conceito da síndrome de hipertensão arterial refratária adotado por nosso grupo difere da definição preconizada por diretrizes e consensos (IV Diretrizes SBH; VII JCN Report, 2003), à
medida que, além das cifras pressóricas
estipuladas, utilizamos critérios mais rígidos para afastar pseudo-hipertensão
arterial refratária e falta de adesão. O
processo de triagem visa a:
54
HIPERTENSÃO
•
Doppler de artérias renais, cintilografia renal com captopril e
arteriografia renal para hipertensão renovascular (Yugar-Toledo, 2003).
Os pacientes triados como possíveis
hipertensos refratários são, então, submetidos ao protocolo de adesão não-farmacológica e farmacológica, avaliando-
se a qualidade de vida, a ingestão de sódio e a adesão ao tratamento sob orientação farmacêutica. Cessação do tabagismo, limitação de bebidas alcoólicas e
prescrição de atividades físicas por prof issional habilitado, além de apoio
psicoterápico, freqüentemente são necessários. É importante salientar que a
não-adoção rigorosa dessas medidas
pode implicar diagnóstico de pseudorefratariedade. Por outro lado, o diagnóstico de HA refratária exige o acompanhamento por período mínimo de
seis meses.
Os níveis pressóricos são avaliados
por enfermeira especializada, durante as
consultas médicas, registro domiciliar
diário da PA com esfigmomanômetro
aneróide e avaliação ambulatorial da PA
(MAPA) semestral. A abordagem do paciente deve ser multidisciplinar, porém
mantendo-se empatia médico–paciente–
equipe para o estabelecimento do diagnóstico definitivo de HA refratária (tabela 2).
Tratamento farmacológico
O esquema terapêutico deve ser
otimizado com as diferentes classes de
anti-hipertensivos, incluindo um diurético, todos em doses plenas e não-tóxicas. Duas estratégias, teoricamente diferentes, podem ser utilizadas no esquema
terapêutico mais apropriado para cada
paciente:
n A abordagem empírica baseada
na rotatividade sistemática de
fármacos anti-hipertensivos,
TABELA 2
CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS
l Não-redução da PA
(sistólica < 140 e/ou diastólica < 90)*
l Pacientes aderentes ao tratamento
l Uso de dois ou mais anti-hipertensivos de classes
diferentes e um diurético em doses adequadas
* VII Joint National Committee on Prevention, Detection and Treatment of High Blood
Pressure e IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão.
com a utilização de associações
de duas, três ou quatro classes
farmacológicas diferentes, juntamente com diuréticos tiazídicos em dose plena. A utilização
de diuréticos de alça segue a
mesma orientação utilizada para
a hipertensão de outros graus,
não havendo bases científicas
para seu emprego preferencial
na HA de difícil controle ou refratária.
n A abordagem racional considerando o perfil hemodinâmico e
os níveis de atividade da renina
plasmática que permite dividir
este grupo de pacientes em volume-dependente e renina-dependente, podendo assim, direcionar melhor a escolha dos
anti-hipertensivos para cada
subgrupo (Taller S, 2002). Se
disponível, a quantificação de
renina plasmática pode direcionar o tratamento medicamentoso. Caso o paciente apresente
atividade plasmática de renina
elevada (> 0,65 ng/mL/h), inicia-se o tratamento com medicamentos que inibam o sistema
renina-angiotensina-aldosterona
como os inibidores da enzima
conversora (IECA), os bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina II e os beta-bloqueadores. Se a atividade plasmática de renina for baixa (< 0,65
ng//mL/h), o paciente é classi-
ficado como volume-dependente devendo ser tratado, preferencialmente, com diuréticos e bloqueadores de canais de cálcio.
Ressalte-se que a idade é um
indicador de diminuição da atividade da renina a ser considerado durante a escolha de fármacos anti-hipertensivos. Predomínio de hiperatividade simpática
encontrada em hipertensos jovens e elevação dos níveis de atividade da renina orientam para
utilização preferencial de betabloqueadores em associação a
tiazídicos.
Entretanto, como exposto acima, a
associação de várias classes de anti-hipertensivos é freqüentemente necessária.
Assim, podem ser associados:
n alfa-bloqueadores, como a prazosina e a doxazosina;
n drogas de ação central, como a
alfa-metildopa e a clonidina;
n vasodilatadores diretos, como a
hidralazina e o minoxidil. Freqüentemente, efeitos colaterais
e desenvolvimento de tolerância
a estas classes de fármacos limitam o seu uso no tratamento
crônico. Em pacientes com índices plasmáticos elevados de
aldosterona, o uso associado de
antagonista desse mineralocorticóide (em especial, a espirono-
lactona) pode ser eficaz na redução da pressão arterial, além
de retardar as alterações estruturais que caracterizam o remodelamento cardiovascular.
Recentemente, demonstramos que
a disfunção endotelial presente em pacientes caracterizados como refratários
pode ser revertida pela otimização do tratamento farmacológico, não necessariamente pelo acréscimo de classes de antihipertensivos. A disfunção endotelial,
avaliada pelo estudo da reatividade vascular (ultra-som de alta resolução da
artéria braquial) pode ser normalizada
após seis meses com a proposta terapêutica supracitada (Yugar-Toledo e
col., 2004). Outros marcadores bioquímicos de disfunção endotelial também
podem ser normalizados por combinações de anti-hipertensivos mesmo sem
que se atinja valores ideais de PA
(Cittadino, 2003)
A hipertensão refratária, por definição, não é passível de controle, e
embora sem sustentação científica adequada ainda, certamente a hipótese de
que reduzir os níveis pressóricos mesmo não os normalizando, é razoável
supor que a diminuição dos eventos
cardiovasculares, a sobrevida e a mortalidade sejam positivamente alteradas.
Interferir ainda na evolução da disfunção endotelial que acompanha a síndrome com fármacos ou outras medidas
(Sousa e col., 2005) também parecer
ser uma vertente factível. “O impossível fizemos ontem”.
Referências bibliográficas
1.
2.
3.
YUGAR-TOLEDO JC, TANUS-SANTOS JE, SABHA M,
SOUSA MA, CITTADINO M, TACITO LHB, MORENO H
JR. Uncontrolled hypertension, uncompensated type II diabetes and smoking have different patterns of vascular
dysfunction. Chest, v. 125, n. 3, p. 323–830, 2004.
CITTADINO M, SOUSA MG, YUGAR-TOLEDO JC, ROCHA
JC, TANUS-SANTOS JE, MORENO H JR. Biochemical
endothelial markers and cardiovascular remodeling in
refractory arterial hypertension. Clinical and Experimental
Hypertension, v. 25, p. 25–33, 2003.
YUGAR-TOLEDO JC, FERREIRA-MELO SE, TORETTA
4.
5.
LIM, MORENO H JR. Hipertensão Refratária: Diagnóstico
e Tratamento. Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 164–175, 2003.
TALER SJ, TEXTOR ST, AUGUSTINE JE. Comparing
Hemodynamic
Management to Specialist Care.
Hypertension, v. 39, n. 5, p. 982, 2002.
SOUSA MG, YUGAR-TOLEDO JC, RUBIRA MC, FERREIRA-MELO SE, PLENTZ R, BARBIERI D, CONSOLIM-COLOMBO FM, IRIGOYEN MC, MORENO H JR. Ascorbic
acid improves impaired venous and arterial endotheliumdependent function. Acta Pharmacol Sin, v. 26, 2005.
Volume 8 / Número 2 / 2005
55
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Hipertensão arterial
não-controlada
Causas e condutas
Autores:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
EPIDEMIOLOGIA
○
○
○
Sandro Cadaval Gonçalves,
Erlon Oliveira de Abreu Silva,
Carolina Bertoluci,
Waldomiro Manfroi,
Flávio Danni Fuchs*
Unidade de Hipertensão Arterial, Serviço de
Cardiologia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Hipertensão arterial sistêmica (HAS) está na raiz das
doenças cardiovasculares. Quando definida por valores iguais
ou superiores a 140/90 mmHg explica 25% das mortes por
doença arterial coronariana (DAC) e 40% daquelas decorrentes de doença cerebrovascular1. O risco cardiovascular duplica para cada aumento em 20 mmHg na PA sistólica (acima de
115 mmHg) e 10 mmHg na diastólica (a partir de 75 mmHg)2.
Pressão arterial acima de 115/75 mmHg explica 49% dos eventos coronarianos e 65% dos cérebro-vasculares.
A prevalência de HAS chega a 25% a 30% dos indivíduos adultos, e esta é uma das causas mais freqüentes de consultas ambulatoriais3-5. Estima-se que existam cerca de um
bilhão de hipertensos no mundo1.
A redução da pressão arterial é certamente o principal
mecanismo pelo qual se promove a prevenção da doença cardiovascular6. O tratamento pode reduzir a incidência de infarto do miocárdio, acidentes vasculares encefálicos e insuficiência cardíaca em, respectivamente, 25%, 40% e 50%7. A mag-
*Endereço para correspondência:
Serviço de Cardiologia – Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Rua Ramiro Barcelos, 2350
90035-903 – Porto Alegre-RS
Telefax: (51) 2101-8420
E-mail: [email protected]
56
HIPERTENSÃO
nitude deste benefício é proporcional à intensidade de elevação da pressão arterial e ao risco basal dos indivíduos6.
Apesar dessas considerações, a prevalência de HAS nãocontrolada, definida como a manutenção da PA em níveis superiores a 140/90 mmHg em vigência de tratamento, é muito
elevada. Em estudos observacionais nos quais foram verificados registros de atendimentos ambulatoriais8-12 ou em ensaios
clínicos randomizados13-15, a prevalência de HAS não-controlada situou-se em torno de 40%. No estudo ALLHAT13 dentre
14.722 participantes acima de 55 anos randomizados para diferentes esquemas terapêuticos escalonados, visando um adequado controle pressórico, 47% deles ainda apresentavam HAS
não-controlada ao final de um ano em acompanhamento.
Dentre os casos de HAS não controlada, define-se como
HAS resistente aqueles em que não se atinge níveis pressóricos inferiores a 140/90 em vigência de três ou mais fármacos
anti-hipertensivos em doses plenas, incluindo-se um diurético1. Estima-se uma prevalência de HAS resistente em torno
de 15 a 20% dos casos de HAS não-controlada16 .
Motivos para o mau controle pressórico
Inércia
Berlowitz et al.8 avaliaram o atendimento a 800 homens
hipertensos durante dois anos nos ambulatórios de atendimento
a veteranos americanos. Verificou que 40% apresentavam PA
superior a 160/90 mmHg a despeito de terem feito em média
seis visitas médicas para o manejo da HAS e que em apenas
sete por cento das visitas houve alteração na conduta médica
adotada. Oliveria S et al.17 avaliaram em Detroit, nos Estados
Unidos, registros de 270 visitas médicas de hipertensos com
PA superior a 140/90 mmHg há pelo menos seis meses. Em
apenas 38% dessas consultas houve recomendação médica de
alteração no tratamento. Foram enviados questionários aos
médicos responsáveis e, dos 86% que responderam, 46% informaram estar satisfeitos com aqueles valores pressóricos.
Estes estudos sugerem que um importante fator na alta
prevalência de HAS não controlada deva-se à inércia dos médicos, que por diferentes razões, não alteram o tratamento dos
pacientes nessa situação.
Má adesão
Uma das causas mais citadas de hipertensão não-controlada é a má-adesão do paciente ao tratamento3,8,12. Trata-se de
uma situação que se apresenta com várias causas, como a márelação médico-paciente, a complexidade do esquema terapêutico prescrito, o aparecimento de efeitos adversos do tratamento,
limitações financeiras ou de acesso aos serviços de saúde18,19.
O grande problema da má adesão ao tratamento consiste
na sua identificação, pois costuma ser facilmente confundida
por resistência ao tratamento. Um estudo avaliou 41 pacientes
com HAS resistente, com PA em média de 156/106 mmHg,
durante dois meses20. Foram mantidas as mesmas medicações
em uso, porém, passaram a ser administradas em dispositivos
eletrônicos que registravam a abertura do frasco. Apenas com
essa medida isolada, um terço dos pacientes passou a apresentar níveis satisfatórios de PA, enquanto a má adesão ficou documentada (pelos registros do dispositivo eletrônico) em outros 20%. Em uma análise de 945 hipertensos da coorte ambulatorial do Hospital de Clínicas,, identificou-se que 533 (56%)
interromperam o tratamento. Os principais fatores associados
à interrupção foram: tabagismo atual, escolaridade inferior a
cinco anos de estudo e diagnóstico de HAS há menos de cinco
anos. Os autores sugerem que medidas para o aumento da adesão sejam dirigidas principalmente a esses pacientes21.
Causas secundárias de HAS
Várias diretrizes recomendam a investigação de causas
“identificáveis” de HAS em determinadas situações como nos
casos de HAS não controlada. Conforme o JNC-71, as causas
identificáveis de HAS são: apnéia do sono, HAS induzida ou
relacionada a fármacos, doença renal crônica, hiperaldosteronismo primário, doença renovascular, corticoterapia crônica e
síndrome de Cushing, feocromocitoma, coartação da aorta,
doença da tireóide ou paratireóide. Tais situações devem ser
apropriadamente avaliadas na presença de HAS não controlada. Duas destas situações tem merecido destaque recente, a
apnéia do sono e o hiperaldosteronismo primário.
Apnéia do sono é uma síndrome caracterizada pela interrupção do fluxo aéreo devido ao colapso da via aérea superior, gerando episódios repetidos de apnéia e hipopnéia durante o sono (síndrome da apnéia-hipopnéia do sono,
SAHOS)22. A associação entre SAHOS e HAS é bastante clara23. Alguns estudos observacionais encontraram alta prevalência de SAHOS em pacientes com HAS resistente24. Além
disso, estudos com o emprego de C-PAP para o tratamento da
SAHOS produziram redução da PA, sugerindo que possa haver benefício na investigação e tratamento dessa síndrome25.
Recentemente tem-se atribuído um papel maior do hiperaldosteronismo primário na origem da HAS e da HAS não
controlada. Alguns estudos encontraram prevalência de até
32% deste diagnóstico em hipertensos26-27, indicando que esta
possa ser a mais freqüente das situações de HAS com causa
identificável.
Situações associadas
Algumas situações podem dificultar o manejo da hipertensão, devendo ser ativamente investigadas, como a síndrome do
avental branco e a má adesão a medidas não-farmacológicas.
A síndrome do avental-branco, caracterizada pela ocorrência de HAS apenas quando aferida a PA por médico, pode
ser diagnosticada pela MAPA (monitorização ambulatorial da
PA em 24 horas) ou por aferições de PA pelo próprio paciente
em seu domicílio. A proporção de pacientes com o diagnóstico de HAS em consultório e com MAPA com valores normais
varia em torno de 30% até 40%28-31, indicando que esta situação deva ser considerada no manejo da HAS não controlada,
porém, apenas nos pacientes sem lesão em órgão-alvo1.
O consumo exagerado de sal é o desencadeante ambiental
mais importante na HAS. Embora vários pequenos estudos
sobre o efeito da restrição salina sobre a PA tenham produzindo resultado apenas discreto6,32. A ingestão de bebidas alcoólicas pode ser outro fator importante na ocorrência de HA nãocontrolada. A partir do consumo diário médio de 30 g de etanol
há claro e exponencial aumento da PA33. O controle da obesidade é uma orientação baseada em ensaios clínicos e estudos
observacionais que demonstraram importante eficácia na perda de peso sobre a redução da PA. Porém, o grande problema
reside na efetividade desta medida, uma vez que a manutenção
do peso em longo prazo apresenta dificuldades peculiares6,34.
Alternativas para mudanças
Este cenário de mau controle pressórico se mantém há algum tempo, apesar de diferentes estratégias já terem sido estudadas na tentativa de manejar a hipertensão não-controlada.
Bogden et al.35 e Denver et al.36 demonstraram a efetividade
de uma equipe multidisciplinar no manejo de hipertensos não-controlados. O primeiro formou uma equipe de médicos e farmacêuticos, enquanto que o segundo compôs um grupo de médicos e enfermeiros que trabalhou junto a pacientes hipertensos com diabetes melito tipo-2. Ainda que em ambos os estudos os grupos com
manejo multidisciplinar tenham realizado mais consultas e recebido mais medicações anti-hipertensivas, não permitindo a avaliação
da eficácia isolada desta intervenção, ficou sugerida a possível efetividade desta abordagem para se atingir o controle pressórico.Talvez, em regime multidisciplinar, seja mais fácil identificar e combater a má adesão e a inércia no manejo da HAS.
Conclusões
Muitos pacientes com hipertensão têm controle inadequado dos valores pressóricos, o que os coloca em um patamar de risco mais elevado. Um melhor tratamento da HAS
exige uma melhora no entendimento e na avaliação do manejo
desta situação.
A equipe assistencial deve:
n estar atenta ao diagnóstico de HAS não-controlada;
n informar o paciente sobre a importância do tratamento e os seus valores-alvo da PA;
n buscar a identificação dos casos de má adesão para
melhor manejá-los;
n identificar casos de síndrome do avental branco ou outras situações associadas ao mau controle pressórico;
n identificar casos de HAS secundária para manejo específico.
Volume 8 / Número 2 / 2005
57
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Além disso, deve-se evitar a “inércia” quando em frente
a um caso de HAS não controlada. Recomenda-se:
Referências bibliográficas
1.
2.
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
n não desperdiçar consultas sem ajuste no tratamento;
n evitar o subtratamento;
n não atrasar o ajuste farmacológico aguardando por
várias visitas o resultado de intervenções não-farmacológicas.
Independentemente da terapia utilizada, é necessário entender que a individualização do tratamento é parte crucial no
manejo de níveis pressóricos não-controlados, já que os motivos do mau controle variam em cada indivíduo.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
58
THE SEVENTH REPORT OF THE JOINT NATIONAL COMMITTEE
ON PREVENTION, Detection, Evaluation and Treatment of High
Blood Pressure. JAMA, v. 289, p. 2560–2572, 2003.
Prospective Studies Collaboration. Age-specific relevance of usual
blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual
data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet, v. 360,
p. 1903–1913, 2002.
HYMAN DJ, PAVLIK VN. Characteristics of patients with uncontrolled
hypertension in the United States. N Engl J Med, v. 345, p. 479–486, 2001.
WHELTON PK, ADAMS-CAMPBELL LL, APPEL LJ et al. High Blood
Pressure Education Program Working Group report on primary
prevention of hypertension. Arch Intern Méd, v. 153, p. 186–208, 1993.
FUCHS FD, MOREIRA LB, MORAES RS, BREDEMEIER M,
CARDOZO SC. Prevalência de hipertensão arterial sistêmica e fatores associados na região urbana de Porto Alegre. Arq Bras Cardiol,
v. 63, p. 473–479, 1994.
FUCHS FD. Hipertensão arterial sistêmica. In: Duncan B, Schmidt
MI, Giugliani ERJ. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. 3.ed. – Porto Alegre: Artmed 2004.
NEAL B, MACMAHON S, CHAPMAN N. Effects of ACE inhibitors,
calcium antagonists, and other blood pressure-lowering drugs.
Lancet, v. 356, p. 1955–1964, 2000.
BERLOWITZ DR, ASH AS, HICKEY EC et al. Inadequate control of
blood pressure in a hypertensive population. N Engl J Méd, v. 339,
p. 1957–1963, 1998.
DEGLI ESPOSTI E, DI MARTINO M, STURANI A et al. Risk factors
for uncontrolled Hypertension in Italy. J Hum Hypertens, v. 18, p.
207–213, 2004.
AMAR J, CHAMONTIN B, GENES N et al. Why is hypertension so
frequently uncontrolled in secondary prevention? J Hypertens, v.
21, p. 1199–1205, 2003.
SALAKO BL, AYODELE OE. Observed factors responsible for
resistant hypertension in a teaching hospital setting. Afr J Med Med
Sci, v. 32, p. 151, 2003.
KNIGHT EL, BOHN RL, WANG PS et al. Predictors of uncontrolled
hypertension in ambulatory patients. Hypertension, v. 38, p. 809–
814, 2001.
The ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative
Research Group. Major outcomes in high-risk hypertensive patients
randomized to angiotensina-converting enzyme inhibitor or calcium
channel blocker vs. diuretic. The Antihypertensive and Lipid Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). JAMA, v.
288, p. 2981–2997, 2002.
STAESSEN JA, FAGARD R, THIJS L, CELIS H, ARABIDZE GG,
BIRKENHAGER WH et al. Randomized double-blind comparison
of placebo and active treatment for older patients with isolated
systolic hypertension. The Systolic Hypertension in Europe (SystEur) Trial Investigators. Lancet, v. 350, p. 757–764, 1997.
LINDHOM LH, IBSEN H, DAHLOF B et al. Cardiovascular morbidity
and mortality in patients with diabetes in the Losartan Intervention
For Endpoint reduction nin hypertension study (LIFE): a randomized
trial against atenolol. Lancet, v. 359, p. 1004–1010, 2002.
VIDT DG. Pathogenesis and treatment of resistant hypertension.
Minerva Med, v. 94, p. 201–214, 2003.
OLIVERIA SA, LAPUERTA P, MCCARTHY BD et al. Physicianrelated barriers to the effective management of uncontrolled
hypertension. Ach Inter Med, v. 162, p. 413–420, 2002.
HIPERTENSÃO
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
MILLER NH, HILL M, KOTTKE T et al. The multilevel compliance
challenge: recommendations for a call to action: a statement for
healthcare professionals. Circulation, v. 95, p. 1085–1090, 1997.
HAYNES RB, MCKIBBON, KANANI R. Systematic review of
randomised trials of interventions to assist patients to follow
prescriptions for medications. Lancet, v. 348, p. 383–386, 1996
BURNIER M, SCHNEIDER MP, CHIOLERO A et al. Electronic compliance monitoring in resistant hypertension: the basis for rational
therapeutics decisions. J Hypertens, v. 19, p. 335–341, 2001.
BUSNELLO RG, MELCHIOR R, FACCIN C, VETTORI D, PETTER
J, MOREIRA LB, FUCHS FD. Characteristics associated with the
dropout of hypertensive patients followed up in an outpatient referral
clinic. Arq Bras Cardiol, v. 76, p. 349–354, 2001.
MALHOLTRA A, WHITE P. Obstructive sleep apnoea. Lancet, v. 360,
p. 237–245, 2002.
LAVIE P, HOFFSTEIN V. Sleep apnea syndrome: a posible contributing
factor to resistant hypertension. Sleep, v. 24, p. 721–725, 2001.
LOGAN AG, PERLIKOWSKI SM, MENTE A et al. High prevalence
of unrecognized sleep apnoea in drug-resistant hypertension. J
Hypertens, v. 19, p. 2271–2277, 2001.
LOGAN AG, TKACOVA R, PERLIKOWSKI SM et al. Refractory
hypertension and sleep apnoea: effect of CPAP on blood pressure
and baroreflex. Eur Respir J, v. 21, p. 241–247, 2003.
GALLAY BJ, AHMAD S, XU L, TOIVOLA B, DAVIDSON RC.
Screening for primary aldosteronism without discontinuing
hypertensive medications: plasma aldosterone-renin ratio. Am J
Kidney Dis, v. 37, p. 699–705, 2001.
CALHOUN
DA, NISHIZAKA M, ZAMAN MA et al.
Hyperaldosteronism among black and white subjects with resistant
hypertension. Hypertension, v. 40, p. 892–896, 2002.
VEGLIO F, RABBIA F, RIVA P et al. Ambulatory blood pressure
monitoring and clinical characteristics of the true and white-coat
resistant hypertension. Clin Expert Hypertens, v. 23, p. 203–211, 2001.
MUXFELDT ES, BLOCH KV, NOGUEIRA AR et al. Twenty-four
hour ambulatory blood pressure monitoring pattern of resistant
hypertension. Blood Press Monit, v. 8, p. 181–185, 2003.
BROWN MA, BUDDLE ML, MARTIN A. Is resistant hypertension
really resistant? Am J Hypertens, v. 14, p. 1263–1269, 2001.
BURNIER M, SANTSCHI V, FAVRAT B et al. Monitoring compliance in resistant hypertension: an important step in patient management.
J Hypertens Suppl, v. 21, p. S37–42, 2003.
FUCHS FC, FUCHS FD. Hipertensão arterial: síndrome hidrodinâmica
dependente de sobrecarga salina. Hipertensão, v. 7, p. 58–60, 2004.
MOREIRA LB, FUCHS FD, MORAES RS, BREDEMEIER M,
DUNCAN BB. Alcohol intake and blood pressure: the importance of
time elapsed since last drink. J Hypertens, v. 16, p. 175–180, 1998.
Effects of weight loss and sodium reduction intervention on blood
pressure and hypertension incidence in overweight people with highnormal blood pressure. The Trials of Hypertension Prevention
Collaborative Research Group. Arch Int Med, v. 157, p. 657–667, 1997.
BOGDEN PE, ABBOTT RD, WILLIAMSON P et al. Comparing standar
care with a physician and pharmacist team approach for uncontrolled
hypertension. J Gen Intern Med, v. 13, p. 740–745, 1998.
DENVER EA, WOOLESON RG, BARNARD M, EARLE KA.
Management of uncontrrolled hypertension in a nurse-led clinic
compared with conventional care for patients with type 2 diabetes.
Diabetes Care, v. 26, p. 2256–2260, 2003.
FATORES DE RISCO
Diabetes & Hipertensão (refratária)
Fatores de risco prevalentes em complicações cardiovasculares
Autora:
Dra. Maria Helena Catelli de Carvalho
Departamento de Farmacologia, Laboratório de
Hipertensão Arterial – Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo
No decorrer da programação científica da 65a Sessão
Científica Anual da Associação Americana de Diabetes, realizada em San Diego, Ca, EUA, em junho/2005, as implicações
associadas de diabetes e hipertensão como fatores de risco de
complicações cardiovasculares foram amplamente valorizadas
por muitos estudos clínicos (Temas Livres) apresentados no
evento. Eles reúnem, em conjunto, uma série de informações
que podem justificar, pelo menos em parte, as dificuldades
encontradas no manejo de hipertensos que respondem mal ou
até não respondem às medidas anti-hipertensivas instituídas.
n HISTÓRIA DO IMPACTO DE HIPERTENSÃO
E DIABETES NO RISCO DE INCIDÊNCIA E
MORTALIDADE POR ACIDENTE VASCULAR
CEREBRAL
•
Pekka Jousilathi, GaNG Hu, Markku et al.
Helsink, Finlândia
A hipertensão e o diabetes são comprovadamente fortes
preditores do risco de acidente vascular cerebral (AVC), mas
somente poucos estudos têm avaliado seu efeito associado
sobre o risco de AVC. O objetivo da presente pesquisa foi avaliar a presença de hipertensão e diabetes já na fase basal e sua
subseqüente repercussão tanto na incidência como na mortalidade por AVC.
Endereço para correspondência:
Departamento de Farmacologia, Laboratório de Hipertensão
Arterial – Instituto de Ciências Biomédicas
Av. Prof. Dr. Lineu Prestes, 1.524 - 2o andar, sala 213
Cidade Universitária – Butantan
05508-000 – São Paulo – SP
Telefax: (11) 3091-7433
E-mail: [email protected]
A casuística considerada foi um grupo de 49.680 finlandeses, de ambos os sexos, entre 25 e 74 anos, sem história
prévia de AVC, doença arterial coronária e diabetes do tipo 1,
no período basal.
História de diabetes com o uso concomitante de agentes
anti-hipertensivos, hipertensão e outros parâmetros de interesse foram determinados antes do início do estudo. Dados
adicionais sobre a ocorrência de diabetes e o uso de anti-hipertensivos foram obtidos do registro nacional do país por meio
de recursos computadorizados.
Um evento vascular cerebral incidente foi definido como
o primeiro quadro de AVC ou de óbito, fundamentado em registro de alta hospitalar ou do registro de mortalidade.
Durante o período médio de acompanhamento de 17,2 anos,
foram documentados 2.564 eventos cerebrais incidentes, 812 fatais. As relações ajustadas de risco para AVC em relação a sexo e
fatores variados (idade, ano de estudo, índice de massa corporal,
nível de colesterolemia, atividade física e tabagismo) foi de 1,28
Volume 8 / Número 2 / 2005
59
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
2,75 (IC 95%, 2,19 – 3,47), 277 (IC 95%, 1,02 – 7,55), 5,49
(IC 95%, 2,93 – 10,3) e 8,64 (IC 95%, 5,92 – 12,6), respectivamente.
Conclusões principais
Hipertensão arterial e diabetes aumentam o risco de AVC,
de forma independente. Uma proporção significante de risco de
AVC diretamente relacionado à hipertensão é, na verdade, decorrente da presença concomitante de diabetes. (Resumo 985-P).
○
○
○
○
○
○
(IC 95%, 1,13 – 1,44) em relação com hipertensão arterial I (PA
> 140/90 < 160/95 mmHg), 1,90 (IC 95%, 1,70 – 2,13) para indivíduos com hipertensão arterial II (> 160/95 mmHg, ou utilizando anti-hipertensivos), de 2,52 (IC 95%, 1,55 – 4,09) com apenas
diabetes, de 3,30 (IC 95%, 2,22 – 4,91) para pacientes com hipertensão I e diabetes, e de 4,06 (IC 95%, 3,20 – 5,16) entre indivíduos com hipertensão II e diabetes.
As relações de risco em relação à mortalidade por AVC
nos subgrupos assinalados, foram: 1,59 (IC 95%, 1,24 – 2,04),
○
○
○
○
○
n RESISTÊNCIA À INSULINA E FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR
EMERGENTES SÃO MODIFICADOS PELA PRESENÇA DE DOENÇA RENAL
○
•
Ana de Prado, Rosa Toll, M. Angels Ortiz et al.
Barcelona, Espanha
A doença cardiovascular (DCV) é sabidamente a causa
principal de morbidade e mortalidade em pacientes já na fase
terminal da insuficiência renal. Assim, o objetivo do presente
trabalho de pesquisa foi avaliar o efeito da nefropatia em quatro fatores considerados de risco cardiovascular:
•
hiperinsulinismo,
•
resistência à insulina,
•
função endotelial,
•
índice de massa corporal,
•
fatores inflamatórios.
•
circunferência da cintura,
•
tipo de diálise, mas não com os diferentes estágios da
nefropatia.
Os pacientes não-diabéticos foram estratificados pela
classificação K-DOQI:
•
Estágio 5:55: pacientes em hemodiálise (n = 27) ou
em diálise peritoneal (n = 28).
•
Estágio 4:66
•
Estágio 3:45.
Foram também avaliados 57 casos controle.
Em termos laboratoriais, foram determinados:
•
resistência à insulina,
•
secreção insulínica
(Métodos de HOMA e Cederholm),
•
fatores inflamatórios, endoteliais e de coagulação (níveis plasmáticos de Proteína C-Reativa, Fibrinogênio,
PAI-1 e TGF-beta1). Foram igualmente analisados todos os fatores de risco de natureza aterosclerótica.
O tempo de seguimento foi de 29 meses e durante tal
período foi também estudada a ocorrência de novos eventos
cardiovasculares.
60
O hiperinsulinismo e a resistência à insulina foram constados não somente em pacientes no estágio 5, mas também em
enfermos nos estágios 3 e 4.
Pacientes sob diálise peritoneal apresentaram sensibilidade mais baixa à insulina do que os nefropatas em hemodiálise.
O índice de sensibilidade insulínica foi também correlacionado com:
HIPERTENSÃO
Altos níveis plasmáticos de proteína C-reativa, PAI-1 e
de fibrinogênio foram observados em todos os estágios da insuficiência renal. Baixos níveis de TGF - beta1 foram registrados somente entre pacientes em estágio 5.
A prevalência de doença cardiovascular foi relacionada a:
•
idade,
•
tempo de diálise
•
dislipidemia,
•
níveis de albumina,
•
circunferência da cintura,
•
hipertensão.
Altos níveis de proteína C-reativa, de PAI-1 e de fibrinogênio constituíram fatores de risco cardiovascular relevantes
nos três grupos estudados da classificação K-DOQI, mas níveis baixos de TGF-beta1 e resistência insulínica também representaram fatores de risco para a saúde cardiovascular nos
pacientes em estágio 5 (sob diálise).
No decorrer do estudo, somente os níveis basais de proteína C-reativa (em todos os grupos) e os de TGF-beta1(nos
pacientes em estágio 5) foram significativamente relacionados a novos eventos cardiovasculares como fatores de risco
independentes.
Conclusões objetivas
A resistência à insulina pode ser envolvida nos mecanismos etiopatogênicos da doença cardiovascular. Entretanto, os
níveis plasmáticos basais de proteína C-reativa e de TGF-beta1
também se comportaram como fatores de risco independentes
para o desenvolvimento de complicações cardiovasculares.
(Resumo 644-P).
n RELAÇÃO DO 5-HT PLAQUETÁRIO E A OCORRÊNCIA DE COMPLICAÇÕES CÁRDIO E
CEREBROVASCULARES EM PACIENTES COM DIABETES DO TIPO 2 E HIPERTENSÃO ARTERIAL
•
Shaoda Lin, Meiyn Guo, Chujia Lin e Xingcai Liu
Shantou, Guangdong, China
Nos dois subgrupos, o nível de 5-HT revelou-se mais
O nível plasmático de 5-hidroxitriptamina (5-HT) mosbaixo nos pacientes com complicações cárdio-cerebrovascutra-se em geral aumentado em pacientes com hipertensão arlares do que no subgrupo sem tais complicações.
terial e/ou doença arterial coronária. Isso ocorre porque a
A liberação de 5-HT plaquetário promoveu elevação das
plaqueta ativa libera 5-HT endógeno, o que leva a menor concifras pressóricas e aumentou o risco de complicações cárdiocentração de 5-HT nas plaquetas e maior no plasma.
cerebrovasculares em pacientes com diabetes + hipertensão.
Diante de tal constatação, procuramos estudar a relação
(Resumo 2254-PO).
de alterações metabólicas do 5-HT plaquetário com os fatores
de risco cardiovascular de pacientes com diabetes
do tipo 2 e hipertensão.
QUADRO
Foram considerados:
1
•
grupo controle: 35 indivíduos sadios,
•
59 pacientes com diabetes do tipo 2,
•
57 diabéticos com hipertensão arterial.
Todos os candidatos selecionados foram submetidos a determinação do 5-HT plaquetário e da
concentração plasmática de seu subproduto 5hidroxindoles/5-HIS (envolvendo 5-HIAA e 5-HT),
por técnica de fluoroespectrofotometria – quadro 1.
Os números obtidos em relação à ocorrência de
complicações cárdio-cerebrovasculares ou não estão
registrados no quadro 2.
Os níveis de 5-HT plaquetário em pacientes com
diabetes do tipo 2 ou com diabetes do tipo 2 + hipertensão arterial mostraram-se significativamente diminuídos, parecendo se relacionar com a ativação
de plaquetas e a liberação endógena de 5-HT.
As alterações plasmáticas de 5-HIS foram ambíguas, sugerindo que a ativação de plaquetas e a
liberação de 5-HT foram mais importantes do que a
ação do 5-HT no plasma.
Ao que parece, a redução dos níveis de 5-HT
plaquetário foi mais significativa no subgrupo de pacientes com DM2 + Hipertensão do que no subgrupo de pacientes que apresentava apenas diabetes do
tipo 2.
NÍVEIS DE 5-HT PLAQUETÁRIO E DE 5-HIS (MÉDIA ± DP)
GRUPO
n
5-HT(ng 10 –9)
5-HIS (ng/ml)
Controles
35
618,36 ± 194,06
183,67 ± 41,33
DM2
59
514,86 ± 153,69*
168,01 ± 52,79
DM2 + hipertensão
57
323,09 ± 180,38**
177,36 ± 5,09
Em comparação aos controles normais: *P < 0,05, **P < 0,01; em comparação com DM2:
***P < 0,001
QUADRO 2
COMPARAÇÃO DE COMPLICAÇÕES
CÁRDIO-CEREBROVASCULARES (CC)
GRUPO
DM2
CC(n = 20)
5-HT(ng/10-9)
5-HIS (ng/mL)
545,87 ± 161,69
169,91 ± 49,03
Não-CC (n = 39) 454,39 ± 118,30* 164,33 ± 60,66
DM2 + Hipertensão
CC (n = 29)
374,81 ± 169,71
161,00 ± 39,80
Não-CC (n = 28) 269,46 ± 178,33** 194,34 ± 62,18
Comparação entre os subgrupos CC e Não-CC em DM2: *< 0,05.
Comparação entre os subgruposCC e Não-CC em DM2 + hpertensão: **P < 0,05
Volume 8 / Número 2 / 2005
61
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
A hipertensão refratária e o
fenômeno do avental branco
A hipertensão refratária:
conceito e prevalência
Autora:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
AVALIAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL
○
○
Angela Maria Geraldo Pierin
Professora Livre-Docente do Departamento de
Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola de
Enfermagem da Universidade de São Paulo
Endereço para correspondência:
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo
Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 419
05403-000 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3066-7564
E-mail: [email protected]
62
HIPERTENSÃO
A hipertensão arterial refratária, também denominada
hipertensão resistente, caracteriza-se pela obtenção de níveis
da pressão arterial não-controlados (> 140/90 mmHg) na vigência de tratamento medicamentoso com três ou mais agentes anti-hipertensivos de classes farmacológicas distintas, sendo um deles representado por diurético e todos em dose máxima ou submáxima1,2. Em termos práticos pode ser definida
como a condição de uso concomitante de três ou mais medicamentos anti-hipertensivos prescritos em doses farmacologicamente eficazes. Essa definição possui vantagens de não
excluir pacientes intolerantes aos diuréticos, não requerer o
emprego de doses máximas que podem acarretar efeitos indesejáveis e permite a avaliação da prevalência em estudos recentes3.
Considerando a definição do uso concomitante de três ou
mais agentes anti-hipertensivos verifica-se que a hipertensão
refratária é bastante freqüente, afetando em torno de 20% a
30% dasa populações de diferentes estudos. No estudo
ALLHAT (“Antihypertensive and Lipid-LoweringTreatment to
Prevent Heart Attack Trial”) que envolveu mais de 33 mil hipertensos, após cinco anos de seguimento 34% não tinham atingido o controle da hipertensão, e do total 27% estavam sob
tratamento com três ou mais anti-hipertensivos4. No estudo
LIFE (“Losartan Intervention for Endpoint Reduction”) realizado com hipertensos com hipertrofia de ventrículo esquerdo,
somente 46% a 49% dos participantes atingiram valores de
pressão arterial abaixo de 140/90 mmHg após cinco anos de
tratamento intensivo5. Também confirmando que a hipertensão
refratária é freqüente, o estudo CONVINCE (“Controlled Onset
Verapamil Investigation of Cardiovascular End Points Trial”)
mostrou que 33% dos participantes não atingiram o controle almejado da pressão arterial e 17% a 18% receberam três ou mais
medicamentos anti-hipertensivos6. Desse modo verifica-se que a
hipertensão refratária é freqüente e merece atenção por parte dos
profissionais de saúde na identificação adequada desses hipertensos a fim de que eles tenham assistência específica.
Várias causas são apontadas para justificar a hipertensão
refratária e dentre elas destaca-se o fenômeno do avental branco, que na realidade seria uma pseudo-refratariedade e não
uma causa propriamente dita, e o presente artigo se propõe
discutir esse aspecto.
O fenômeno do avental branco:
hipertensão do avental branco e
efeito do avental branco
A medida indireta da pressão arterial está sujeita a possibilidades de erro ligadas a equipamento, paciente, procedimento, ambiente e observador. O local, o consultório médico
e o observador podem gerar elevação na pressão arterial, levando à situação descrita como hipertensão do avental branco
e efeito do avental branco. Essa situação não é um fato novo
dentre os profissionais da área da saúde. Em 1738 e 1756
Christoph Hellwig e Théophile de Bordeu, respectivamente,
observaram alteração do pulso na presença do médico e naquela época já recomendavam para o médico sentar e conversar com o paciente antes de avaliar o pulso e realizar o procedimento mais de uma vez. Riva Rocci, considerado o pai da
esfigmomanometria moderna, em seu artigo publicado em
1896 dizia: “O estado mental do paciente tem um efeito transitório, mas considerável, na pressão sangüínea. Falar com o
paciente, convidá-lo a ler ou olhar de repente para ele, assim
como um barulho repentino, fazem a pressão subir”7.
A definição mais aceita para hipertensão do avental branco é quando há hipertensão na medida da pressão arterial pelo
médico no consultório, com valor da pressão sistólica acima
ou igual a 140 mmHg e/ou pressão diastólica maior ou igual a
90 mmHg, e normotensão na média do período de vigília pela
monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) ou
medida domiciliar, com valores geralmente definidos por pressão sistólica menor que 135 mmHg e pressão diastólica menor que 85 mmHg.
O efeito do avental branco se caracteriza pela elevação
dos níveis pressóricos quando a medida da pressão é realizada
pelo médico no consultório e os valores são comparados com
os registrados pela MAPA ou na medida domiciliar, independentemente do diagnóstico de normotensão ou hipertensão.
Desse modo, no efeito do avental branco não há mudança no
diagnóstico do paciente. O critério mais presente na literatura
para caracterizar o efeito do avental branco considera diferenças entre a pressão de consultório e MAPA acima de 20 mmHg
para a pressão sistólica e 10 mmHg para a pressão diastólica.
Os reais determinantes da hipertensão do avental branco
não são conhecidos. Pickering8 levanta a hipótese de que a
hipertensão do avental branco ocorre devido a uma reação de
alerta. Porém, a persistência do fenômeno em visitas subseqüentes não poderia ser explicada somente por este mecanismo. A medida da pressão arterial não é simplesmente um ato
mecânico, reveste-se de características especiais, dentre as
quais a presença do médico; e talvez outros aspectos relativos
ao ambiente do consultório e às reações provocadas pelo procedimento de medida estejam associados ao medo e à ansiedade, gerando estímulos com resposta condicionada de elevação tensional. Entretanto, é interessante enfatizar que Siegel
et al.9 demonstraram que traços de personalidade não são determinantes da hipertensão do avental branco. Nessa mesma
linha Cardillo et al.10 verificaram que hipertensos do avental
branco não apresentaram comportamento distinto dos normo-
tensos e hipertensos em testes de reatividade ao estresse mental e físico.
Com o advento da monitorização ambulatorial da pressão arterial, a prevalência da hipertensão do avental branco
pode ser melhor estudada. Verdecchia et al.11 compararam
quatro diferentes limites adotados para caracterizar a hipertensão do avental branco: 136/87, 134/90, 146/91, 150/95
mmHg, e verificaram prevalências de 12,1%, 16,5%, 28,9%,
53,2% respectivamente. Os achados na literatura12–15 de um
modo geral indicam prevalência em torno de 20%, inclusive
para estudo realizado em nosso meio16.
Além da prevalência de efeito e hipertensão do avental
branco, estudiosos do assunto também têm procurado elucidar melhor esse fenômeno, associando-o a diversas variáveis.
Com relação a sexo e idade, estudos têm apontado que a hipertensão do avental branco é mais freqüente em mulheres do
que em homens e nas faixas etárias mais elevadas17–21. A história familiar para hipertensão arterial também apresenta relação positiva para a hipertensão do avental branco22–24.
A gravidade da hipertensão relacionada à hipertensão do
avental branco também tem sido estudada. Verdecchia et al.25
verificaram que a prevalência da hipertensão do avental branco diminuiu acentuadamente à medida que os níveis de gravidade da doença aumentaram, enquanto o efeito do avental branco aumentou com os níveis de gravidade da doença.
A relação entre a hipertensão do avental branco e lesão
em órgãos-alvo também tem sido muito estudada. Alguns estudos mostraram que a hipertensão do avental branco estaria
associada a maiores índices de hipertrofia de ventrículo esquerdo e alterações lipídicas, enquanto outros não chegaram
às mesmas conclusões. Gosse et al.12 verificaram correlação
significativa da massa de ventrículo esquerdo com elevações
da pressão sistólica diurna em hipertensos, independentemente
do efeito do avental branco. Da mesma forma, Cavallini et
al.13 verificaram índice de massa de ventrículo esquerdo mais
elevado em hipertensos, não havendo diferença entre os normotensos e os pacientes com hipertensão do avental branco.
Por outro lado, Kuwajima et al.26 verificaram que pacientes
idosos com hipertensão do avental branco apresentam índice
de massa de ventrículo esquerdo significativamente maior do
que os normotensos e similar aos hipertensos propriamente
ditos. Verdecchia et al.21 verificaram maior prevalência de hipertrofia ventricular esquerda em hipertensos do avental branco
do que em relação aos normotensos. Em relação à lesão renal,
Hoegholm et al.27 identificaram que os pacientes com hipertensão do avental branco tinham menor envolvimento renal
do que os hipertenso, porém maior do que os normotensos.
Quanto ao metabolismo lipídico, Julius et al.28 mostraram que tanto os hipertensos sustentados quanto os do avental
branco tinham elevação nos níveis de triglicérides, insulina
plasmática e índice de hipertrofia vascular. Esses achados estão na mesma linha dos de Weber et al.29 que mostraram que
os pacientes com hipertensão do avental branco apresentaram
mais alterações lipídicas do que os normotensos. Karter et al.30
avaliaram extensamente lesão de órgãos- alvo, alterações metabólicas e hemodinâmicas em hipertensos do avental branco
comparados com grupos de normotensos e hipertensos e conVolume 8 / Número 2 / 2005
63
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
cluíram que os hipertensos se colocavam em uma condição
intermediária entre os outros dois grupos. Por outro lado,
Pierdomenico et al.31 não verificaram diferença no perfil lipídico dos normotensos e dos hipertensos do avental branco, o
que também foi verificado por Del Rey et al.32, com exceção
do colesterol total, que se apresentou mais elevado nesses últimos. Em um estudo de coorte que acompanhou hipertensos
do avental branco por dez anos, os pesquisadores concluíram
que os achados indicaram condição de relativa benignidade
para esses pacientes, quando comparados com os hipertensos33. Nessa mesma linha outra investigação que acompanhou
uma amostra de homens por duas décadas verificou que aos
70 anos tanto os hipertensos do avental branco quanto os hipertensos sustentados apresentaram aumento de resistência à
insulina, elevação da glicemia e nível sérico de insulina em
comparação com os normotensos, mas a massa de ventrículo
esquerdo e a excreção de albumina urinária estavam aumentadas só nos hipertensos sustentados34.
Em nosso meio, um estudo sobre hipertensão e efeito do
avental branco mostrou valor médio de espessura de parede
posterior de ventrículo esquerdo, evidenciado pelo ecocardiograma, significativamente maior (p < 0,05) nos pacientes que
apresentaram efeito do avental branco (10,4 ± 1,9 vs. 9,7 ± 1,7
mm). A análise multivariada mostrou que os melhores preditores da existência do efeito do avental branco foram a presença da hipertensão arterial, média do período de vigília da
pressão sistólica na MAPA, pressão sistólica de consultório e
espessura de parede posterior do ventrículo esquerdo16.
Diante do exposto conclui-se que a hipertensão do avental branco seria uma condição intermediária entre a situação
de normotensão e hipertensão propriamente dita e que esses
pacientes devem ser seguidos. Inclusive existe grande possibilidade de se tornarem hipertensos verdadeiros, pois estudo
mostrou que 37% de um grupo de hipertensos do avental branco
tornaram-se hipertensos35. Outro aspecto que merece destaque é o fato de que pode ocorrer tratamento medicamentoso
desnecessário nos hipertensos do avental branco e hipertratamento na vigência do efeito do avental branco36.
Avaliação do fenômeno do avental
branco: papel da monitorização
ambulatorial da pressão arterial
Parati et al.37 mostraram que o efeito do avental branco
pode ser confirmado pelo método de fotopletismografia, método indireto de medida da pressão arterial. Mostraram ainda
que o efeito medido com esse método tem magnitude muito
maior do que aquele medido pela diferença entre a monitorização ambulatorial da pressão arterial e a pressão de consultório. Os autores concluem que a monitorização ambulatorial
da pressão arterial subestima a magnitude do efeito do avental
branco; o valor do efeito do avental branco obtido considerando esse método foi 30% menor do que o realizado por fotopletismografia. Na prática clínica o que se usa para avaliar tanto
o efeito quanto a hipertensão do avental é um desfecho substituto ao se comparar a pressão arterial de consultório com a
64
HIPERTENSÃO
medida pela MAPA ou medida residencial realizada com aparelho automático pelo paciente. A presença do médico determina maiores elevações do que o desfecho substituto, porém,
não se verificaram diferenças significativas, entre os dois métodos de avaliação do efeito com relação à presença de lesão
em órgãos-alvo ou outros fatores de risco cardiovascular38-39.
A monitorização ambulatorial da pressão arterial, por
possibilitar a medida intermitente da pressão arterial durante
24 horas, é utilizada para detectar a hipertensão e o efeito do
avental branco porque permite avaliação da pressão arterial
na ausência do médico, enquanto o paciente realiza as suas
atividades rotineiras. Dentre as indicações da MAPA destacase ainda, a avaliação do tratamento em hipertensos resistentes. Nesse aspecto a MAPA tem grande utilidade, pois diante
do desenvolvimento tecnológico e aplicabilidade da MAPA
atuais não se deve avaliar a hipertensão refratária considerando-se somente a medida da pressão arterial em consultório.
Outro ponto que merece consideração é que esse método provê dados que apresentam correlação com lesão de órgãos-alvo
mais consistentes do que a mensuração da pressão em consultório, além de evitar erros do observador, como a preferência
por dígitos terminais com o uso de técnica auscultatória de
medida da pressão arterial40.
A hipertensão refratária e o
efeito do avental branco
A avaliação da literatura sobre esse assunto resultou em
poucos trabalhos, porém com resultados que merecem consideração por evidenciar a importância da avaliação da pressão
arterial em pacientes com hipertensão refratária para distinção dos reais níveis tensionais e eliminação do efeito do avental branco.
Mezzetti et al.41 estudando um grupo de 250 hipertensos,
verificaram que 27 mantinham a pressão elevada apesar do
tratamento medicamentoso. Após avaliação da MAPA verificaram que apenas sete eram hipertensos refratários e os demais apresentavam efeito do avental branco.
Muxfeld et al.42 usaram a MAPA para avaliar em 286 pacientes com hipertensão refratária, o efeito do avental branco
e os resultados mostraram que 43,7% deles apresentaram efeito
do avental branco. Nessa linha de estudo, Brown et al.43 além
de realizarem a MAPA nos pacientes, estabeleceram que a pressão arterial fosse avaliada também pela enfermeira. Os resultados evidenciaram que o efeito do avental branco esteve presente em 28% dos hipertensos refratários e outro achado interessante foi que, no grupo desses pacientes, a medida feita
pela enfermeira ocasionou efeito do avental branco menos
acentuado em comparação com a medida do médico, com magnitude para a pressão sistólica/distólica variando de 16 – 26/
12 – 14 mmHg vs. 9 – 17/4 mmHg, p < 0,05.
Na tentativa de se identificarem características que pudessem distinguir a refratariedade da hipertensão em relação
ao efeito do avental branco, Veglio et al. realizaram estudo
com 49 hipertensos que, apesar da terapêutica anti-hipertensiva com três drogas próxima à dose máxima havia pelo menos
três meses, mantinham-se não-controlados. Desse grupo de
pacientes, 19 tinham efeito do avental branco e apresentavam
idade mais elevada (p < 0,05). Os reais hipertensos resistentes
(n = 20) em relação aos que apresentaram efeito do avental
branco mostraram significância estatística (p < 0,05) para as
seguintes características: nível mais elevado de sódio, ingestão de bebida alcoólica, atividade de renina plasmática, aldosterona, média da vigília e do período de sono da MAPA e da
freqüência cardíaca. Os autores concluem que os dados encontrados permitem supor que o aumento da atividade simpática pode ser responsável pela situação de refratariedade da
hipertensão e que a MAPA é uma forte aliada na identificação
dos hipertensos refratários. Em outra investigação, Hernandez
DelRey44 et al. também avaliaram hipertensos resistentes por
meio de MAPA, além da realização de ecocardiograma. Os
resultados mostraram que do total de 1.200 hipertensos, 60
apresentaram hipertensão resistente (pressão > 160/95
mmHg), e destes 32% tinham efeito do avental branco. A
hipertensão refratária se associou com múltiplos fatores de
risco cardiovascular (diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, hipoalfalipoproteinemia) e hipertrofia ventricular esquerda e a proporção de pacientes com lesão de órgãos-alvo
foi maior nos hipertensos refratários do que naqueles com efeito do avental branco.
Considerando que a caracterização do efeito do avental
branco é realizada pela MAPA pelo fato de o método possibilitar avaliação da pressão arterial longe da influência do observador e do ambiente onde se realiza a medida da pressão
arterial, a monitorização residencial da pressão arterial seria
um recurso a ser usado com a mesma finalidade? A busca na
literatura não identificou investigação que tenha utilizado a
medida residencial em hipertensos refratários como método
de avaliação tensional. Porém, em publicação de 1999
Pickering45 já falava sobre a importância de avaliar a pressão
arterial fora do consultório e aponta como alternativas, além
do uso da MAPA, a medida residencial. Diante de tais considerações acredita-se que nesse contexto a medida residencial
poderá ser de grande utilidade para caracterizar hipertensos
refratários e a resposta ao tratamento medicamentoso.
Conclusão
Apesar de o diagnóstico da hipertensão arterial basear-se
quase exclusivamente na medida de consultório, não se pode
ignorar o fenômeno do avental branco, que também é freqüente
na condição da hipertensão refratária. A adoção de recursos
para avaliar a pressão arterial fora do ambiente do consultório
como a MAPA e a medida residencial pode ser útil nesse sentido.
Referências bibliográficas
1.
2.
3.
4.
5.
Diretrizes de Hipertensão Arterial, 4. Campos do Jordão, Sociedade Brasileira de Hipertensão, Sociedade Brasileira de
Cardiologia, SSociedade Brasileira de Nefrologia, 2002.
The Seventh Report of the Joint National Committee on
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High
Blood Pressure. JAMA, v. 289, p. 2560–2572, 2003.
CALHOUN DA. Resistant hypertension. In: Oparil S, Weber
MA. Hypertension. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2 ed,
p. 616–623, 2005.
Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent
Heart Attack Trial (ALLHAT) Major outcomes in high risk
hypertensive patients randomized to angiotensina-covering
enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs. diuretic.
JAMA, v. 288, p. 2981–2997, 2002.
KJELDSEN SE, DAHLÖF B, DEVEREUX RB et al. Effects
of Losartan on cardiovascular morbidity and mortality in
patients with isolated systolic hypertension and left ventricular hyperthrophy. A Losartan Intervention for Endpoint
Reduction (LIFE) substudy. JAMA, v. 288, p.1491–1498,
2002.
6.
BLACK HR, ELLIOT WJ, GRANDITS G et al. CONVINCE
Research Group. Principals results of Controlled Onset Verapamil Investigation of Cardiovascular End Points Trial.
JAMA, v. 289, p. 2073–2082, 2003.
7. ZANCHETTI A, MANCIA G. The centenary of blood pressure
measurement: a tribute to Scipione Riva-Rocci. J Hypertens,
v. 14, p. 2–12, 1996.
8. PICKERING TG. Ambulatory monitoring and blood pressure
variability. London, Science Press, 1991.
9. SIEGEL WC, BLUMENTHAL JA, DIVINE GW. Physiological,
psychological and behavioural factors and white coat
hypertension. Hypertension, v.16, n. 2, p. 140–146, 1990.
10. CARDILLO F, FALCÃO RP, ROSSI MA et al. Psychophysiological reactivity and cardiac end-organ changes in white coat
hipertension. Hipertension, v. 21, p. 836–844, 1993.
11. VERDECCHIA P, SCHILLACI G, BOLDRINI F et al.
Variability between current def initions of ‘normal’
ambulatory blood pressure. Implications in the assessment
of white coat hypertension. Hypertension, v.20, n. 4, p. 555–
562, 1992.
Volume 8 / Número 2 / 2005
65
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
12. GOSSE P, PROMAX H, DURANDET P, CLEMENTY J.
‘White Coat’ hypertension. No harm for the heart.
Hypertension, v. 22, n. 5, p. 766–770, 1993.
13. CAVALLINI MC, ROMAN MJ, PICKERING TG. Is White coat
hypertension associated whit arterial disease os left ventricular hypertrophy? Hipertension, v. 26, n. 3, p 413–419, 1995.
14. PIERDOMENICO SD, MEZETTI A, LAPENNA D et al. ‘White
Coat’ hypertension in patients with newly diagnosed
hypertension: evaluation of prevalence by ambulatory monitoring
and impact on cost of health care. Eur Heart J, v. 16, p. 692–
697, 1995.
15. VERDECCHIA P, SCHILLACI G, BORGIONI C et al. White
coat hypertension and white coat effect: similarities and
differences. Am J Hypertens, v. 8, n. 8, p. 790–798, 1995.
16. SEGRE CA, UENO RK, WARDE KRJ et al. Efeito, hipertensão e normotensão do avental branco na Liga de Hipertensão
do Hospital das Clínicas, FMUSP. Prevalência, características clínicas e demográficas. Arq Bras Cardiol, v. 80, n. 2, p.
117–121, 2003.
17. MYERS GM, REEVES RA. White coat effect in treated
hypertensive patients: sex differences. J Hum Hypertens, v.
9, n. 9, p. 729–733, 1995.
18. PICKERING TG et al. How common is white coat
hypertension? JAMA, v. 259, n. 2, p. 255–228, 1998.
19. KHOURY S, YAROWS SA, O’BRIEN TK, SOWERS JR.
Ambulatory blood pressure monitoring in a non-academic
setting. Effects of age and sex. Am J Hypertens, v. 5, p. 616–
623, 1992.
20. STAESSEN JA, O’BRIEN ET, ATKINS N, AMERY AK. Short
report; ambulatory blood pressure in normotensive compared
with hypertensive subjects. J Hypertens, v. 11, p. 1289–1297,
1993.
21. KUWAJIMA I et al. Pseudohypertension in the elderly. J
Hypertens, v. 8, n. 5, p. 429–432, 1990.
22. RAVOGLI A, TROZZI S, VILANI A et al. Early 24 hour blood
pressure elevation in normotensive subjects with parenteral
hypertension. Hypertension, v. 16, n. 5, p. 491–497, 1990.
23. JULIUS S, MEYIA A, JONES K et al. White coat vs sustained
borderline hypertension in Tecumseh, Michigan.
Hypertension, v. 16, n. 6, p. 671–673, 1990.
24. JAMERSON KA. Effect of home blood pressure and gender
on estimates of the familial aggregation of blood pressure.
Hypertension, v. 20, p. 314–418, 1992.
25. VERDECCHIA P, SCHILLACI G, BORGIONI C et al. White
coat hypertension and white coat effect: similarities and
differences. Am J Hypertens, v. 8, n. 8, p. 790–798, 1995.
26. KUWAJIMA I et al. Pseudohypertension in the elderly. J
Hypertens, v. 8, n. 5, p. 429–432, 1990.
27. HOEGHOLM A, BANG LE, KRISTENSEN KS et al.
Microalbuminuria in 411 untreated individuals with
established hypertension, white coat and normotension.
Hypertension, v. 24, n. 1, p. 101–105, 1994.
28. JULIUS S, MEYIA A, JONES K et al. White coat vs. sustained
borderline hypertension in Tecumseh, Michigan.
Hypertension, v. 16, n. 6, p. 671–673, 1990.
29. WEBER MA, NERITEL JN, SMITH DHG, GRAETTINGER
WF. Diagnosis of mild hypertension by ambulatory blood
pressure monitoring. Circulation, v. 90, n. 5, p. 2291–2298,
1994.
66
HIPERTENSÃO
30. KARTER Y, GURGUNLU A, ALTINISIK S et al. Target organ
damage and changes in arterial compliance in white coat
hypertension. Is white coat innocent? Bood Press, v.12, n. 12, 2003.
31. PIERDOMENICO DS, LAPENNA D, GUGLIELMI MD et al.
Target organ status and serum lipids in patients with white
coat hypertension. Hypertension, v. 26, n. 5, p. 801–807, 1995.
32. DEL REY HR,
ARMARIO P, SÁNCHEZ P,
CASTELLSAGUE J et al. Frequency of white coat arterial hypertension in mild hypertension. Profile of cardiovascular risk and early organic involvement. Med Clin
(Barc), v.106, n. 18, p. 690–694, 1996.
33. KHATTAR RS, SENIOR R, LAHIRI A. Cardiovascular
outcome in white coat versus sustained mild hypertension. A
10 year follow up study. Circulation, v. 98, n. 3, p. 1892–
1897, 1998.
34. BJORKLUND K, LIND L, VESSBY B et al. Different
metabolic predictors of white coat and sustained hypertension
over 20-years follow-up period: a population based study of
elderly men. Circulation, v. 106, n. 1, p. 63–68, 2002.
35. VERDECCHIA P. White coat hypertension in adults and
children. Blood Press Monit, v. 24, p 175–179, 1999.
36. LIBÓRIO AB, SILVA GV, MION D. Efeito do avental branco
como causa da refratariedade da hipertensão. Rev Bras
Hipertens, v. 11, n. 4, 2004.
37. PARATI G, ULIAN L, SANTUCCIU C, OMBONI S,
MANCIA G. Difference between clinic and daytime blood
pressure is not a measure of the white coat effect.
Hypertension, v. 31, p. 1185–1189, 1998.
38. PICKERING TG, COATS A, MALLION JM, MANCIA G,
VERDECCHIA P. Blood Pressure Monitoring. Task Force
V: White Coat Hypertension. Blood Press Monit, v. 4, p. 333–
341, 1999.
39. LANTELME P, MILON H, VERNET M, GAYET C. Difference
between office and ambulatory blood pressure or real white
coat effect: does it matter in term of prognosis? J Hypertens,
v. 18, p. 383–389, 2000.
40. PIERIN A, MION D. Hipertensão, normotensão e efeito do avental branco. In: Pierin AMG (ed.) Hipertensão arterial: uma
proposta para o cuidar. São Paulo: Manole, 2004. cap. 4, p.
49–70.
41. MEZZETTI A, PIERDOMENICO SA, CONSTANTINI F et
al. White coat resistant. Am J Hypertens, v. 10, n. 11, p.1302–
1307, 1997.
42. MUXFELD ES, BLOCK KV, NOGUEIRA A, SALLES GF.
Twenty-four hour ambulatory blood pressure monitoring
pattern of resistant hypertension. Blood Press Monit, v. 8, n.
5, p. 181–185, 2003.
43. BROWN MA, MEGAN L, BUDDLE L, MARTIN A. Is
resistant hypertension really resistant? Am J Hypertens, v.
14, n. 12, 2001.
44. DELREY H, ARMARIO P, SÁNCHEZ P et al. Target-organ
damage and cardiovascular risk prof ile in resistant
hypertension. Influence of the white coat effect. Blood Press
Monit, v. 3, n. 6, p. 331–337.
45. PICKERING TG. 24 Hour Ambulatory Blood Pressure
monitoring: is it necessary to establish a diagnosis before
instituting treatment of hypertension? J Clin Hypertens, v. 1,
n. 1, p. 33–40, 1999.
TERAPÊUTICA
Tratamento
Terapêutica na
hipertensão resistente
Autores:
Eduardo Cantoni Rosa*
Médico Assistente-Doutor da Disciplina de Nefrologia
– UNIFESP/EPM
Osvaldo Kohlmann Junior
forma sinérgica, e de acordo com a condição clínica e fisiopatológica subjacente. A otimização do uso de diuréticos é
particularmente indicada na HR, é prevalecente a sobrecarga
volumétrica mediada por diversos mecanismos, e em grupos
selecionados de pacientes, como os obesos, diabéticos, idosos e portadores de disfunção renal. Embora não tão freqüentes, a hipertensão renovascular, a doença renal e o hiperaldosteronismo figuram como as causas mais prevalecentes de
hipertensão secundária resistente.
Professor Adjunto da Disciplina de Nefrologia –
UNIFESP/EPM
Introdução
Trabalho realizado junto ao Setor de Hipertensão e Diabetes da Disciplina de Nefrologia da UNIFESP- Hospital do Rim e Hipertensão.
Resumo
A hipertensão resistente (HR) é condição relativamente
comum, na medida em que os alvos pressóricos almejados e
tidos como ideais para proteção cardiovascular têm sido mais
estreitos, em particular para com os pacientes de alto risco. A
terapêutica da HR requer inicialmente a identificação dos
pacientes não-aderentes às medicações, assim como a exclusão do efeito do avental branco, da pseudo-hipertensão e de
drogas que interfiram no controle pressórico. A partir daí, a
estratégia de tratamento visa a otimizar o regime terapêutico
habitual, empregando drogas de primeira e segunda linha, de
*Endereço para correspondência:
Hospital do Rim e Hipertensão – Ambulatório de Hipertensão
Rua Borges Lagoa, 960
04038-002 – São Paulo – SP
Telefax: (11) 5087-8039
E-mail: [email protected]
A hipertensão resistente, definida pela falha em se obter
um controle pressórico adequado mediante o uso de três ou
mais agentes anti-hipertensivos, incluindo um diurético, é um
problema clínico relativamente freqüente, chegando a acometer até 30% de populações selecionadas1.
Estudos recentes, entre eles o NHANES, têm mostrado
que uma parcela significativa de hipertensos (50% – 80%)
não atingem adequadamente o controle pressórico, e parte
desses indivíduos serão classificados como portadores de hipertensão resistente2.
Tal tendência parece refletir, em parte, a falha em se atingir alvos pressóricos preconizados mais estreitos, potencialmente mais favoráveis à redução de risco cardiovascular2. Isso
é particularmente relevante nas populações de mais alto risco,
como diabéticos e nefropatas, nos quais a necessidade média
de anti-hipertensivos, de acordo com dados recentes, ultrapassa três drogas3, 4.
A hipertensão resistente é na maioria das vezes multifatorial e o seu manuseio adequado requer a habilidade clínica
do especialista, a fim de determinar a melhor estratégia terapêutica no intuito de reduzir o risco cardiovascular inerente a
essa situação5.
Embora não existam estudos amplos acerca da prevalência de cada um dos fatores responsáveis pela manutenção do
quadro de hipertensão resistente, dados recentes apontam que,
na maioria das vezes, o problema recai sobre a subotimização
do regime terapêutico com as drogas administradas6. Nesse
contexto, o conhecimento da fisiopatologia do quadro em questão, mediante eventuais condições clínicas associadas, assim
como a escolha adequada e otimizada do regime de drogas,
são fundamentais para o sucesso terapêutico.
Volume 8 / Número 2 / 2005
67
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Identificação de não-aderência,
efeito do avental branco e
pseudo-hipertensão
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
No entanto, antes que se proceda o “melhor ajuste terapêutico“, é necessário que sejam identificadas prontamente
outras possíveis causas implicadas no descontrole pressórico,
como a não aderência ao esquema terapêutico, o efeito de avental branco, a pseudohipertensão e o uso inapropriado de substâncias pró-hipertensoras7.
Qualquer que seja o esquema terapêutico proposto, o
mesmo não será válido caso as medicações não sejam tomadas adequadamente. Custos elevados de medicações, regimes
terapêuticos complicados, baixo nível intelectual e socioeconômico, déficits cognitivos, assim como a ocorrência de efeitos colaterais subjetivos, são causas freqüentes de não aderência aos esquemas terapêuticos. Em estudo recente, a não-aderência foi responsável por cerca de 16% dos casos de hipertensão resistente e aparece com segunda principal causa desta
condição6. Portanto, a identificação destes pacientes através
de interrogatório apropriado na consulta, é fundamental, pois
apresenta um valor preditivo positivo adequado8.
A identificação de pacientes com hipertensão de consultório, ou portadores de efeito do avental branco, também é
fundamental para que se prossigam as etapas subseqüentes no
tratamento da hipertensão resistente. Tal condição, também
apropriadamente chamada de “hipertensão resistente do avental
branco”9, tem sido relatada em 6% a 28% dos casos de hipertensão resistente6, 10, a depender das populações selecionadas.
A suspeita recairá sobre pacientes com relatos de medidas “normais” a nível ambulatorial, indivíduos ansiosos, estressados,
sem evidências de lesões de órgãos alvo e que em geral, não
se beneficiam da otimização do regime de drogas10. A avaliação requer visitas sucessivas para avaliação dos níveis pressóricos, envolvendo outros profissionais de saúde, aliada à utilização de diagnóstico complementar com a MRPA e MAPA.
A correta mensuração dos níveis pressóricos, através da
escolha de manguitos adequados à circunferência braquial ou
uso de tabelas de correção, também evita erros de interpretação da resposta clínica ao tratamento anti-hipertensivo. A possibilidade de pseudo-hipertensão também deve ser considerada, particularmente nos pacientes mais idosos, com hipertensão sistólica isolada e que não apresentem evidências de lesões de órgãos alvo. Eventuais sintomas de hipotensão na ausência de redução da pressão mensurada também poderão estar presentes11.
Identificação do uso de
substâncias hipertensoras
Embora o uso de substâncias que possam interferir com
o controle pressórico não seja causa prevalente de hipertensão
resistente6, a identificação e suspensão temporária das mesmas, pode auxiliar no controle pressórico.
A tabela 1, ilustra as principais medicações e substâncias
exógenas implicadas neste contexto. Os antiinflamatórios não
hormonais apresentam um impacto maior em relação às demais, dados o número prevalente das prescrições e seu potencial em antagonizar o efeito dos demais anti-hipertensivos,
com resultante aumento médio nos níveis pressóricos em torno de 5 mmHg7.
TABELA 1
HIPERTENSÃO ARTERIAL INDUZIDA POR AGENTES EXTERNOS
FÁRMACOS
• Esteróides
• Estrógenos
- Contraceptivos
- TRH
• Antiinflamatórios não-hormonais
• Antidepressivos
- Tricíclicos
- IMAO
• Venlafaxina
• Descongestionantes nasais (PPA)
• Anoréticos – anfepramona
• Ciclosporina / Tacrolimus
• Eritropoetina
• Carbamazepina
• Bromocriptina
• Metoclopramida
• Buspirona
68
DROGAS
Otimização da
terapia farmacológica
ALIMENTOS / METAIS
• Cocaína
• Sal
• Anfetaminas
• Alcaçuz
• Anabolizantes
• Tiramina na alimentação
• Erva de São João
de usuários de IMAO
• Retirada de narcóticos
• Cobre
• Álcool
• Mercúrio
• Lítio
HIPERTENSÃO
Além disso, é importante destacar o uso de álcool, como
causa importante e comum de quadros de hipertensão mantida, estando sua retirada associada à melhora dos níveis pressóricos12.
Avaliação do regime anti-hipertensivo
A avaliação do regime anti-hipertensivo requer
a revisão cuidadosa do número de anti-hipertensivos utilizados, da posologia administrada, do
sinergismo entre as drogas em questão, da inclusão
de diuréticos e dos efeitos colaterais relacionados.
De forma geral, observa-se que não é o número de medicações, mas sim a escolha correta das
mesmas, que oferecerá um controle adequado da
pressão arterial. Neste sentido, a participação médica é fundamental, pois a “inércia” em se alterar os
regimes terapêuticos é altamente responsável pela
refratariedade aos esquemas empregados13.
Dados recentes, apontam que a otimização da
terapia com três ou mais drogas no paciente com
hipertensão resistente, têm mostrado seus benefícios em prover controle pressórico em mais de 50% dos pacientes6. As
mudanças mais freqüentes (administração e posologia) foram
com os diuréticos (> 70%), seguidos dos BRAII, IECA e ACC6.
O racional na hipertensão resistente, é que se sejam usadas drogas de primeira e segunda linha em combinações sinérgicas. No geral, estes pacientes terão vários mecanismos implicados na gênese da sua hipertensão e assim, deve-se equacionar a combinação de drogas que atuam simultaneamente
bloqueando o SRAA (IECA; BRAII; BBloq), com aquelas envolvidas na regulação da sobrecarga hidrossalina e reatividade
vascular subjacente, (diuréticos e ACC)14. Eventualmente
simpatolíticos de ação central e periférica, assim como vasodilatadores, serão necessários na complementação terapêutica.
A otimização do uso de diuréticos em pacientes com hipertensão resistente, têm sido amplamente debatida e recomendada5-7, visto que tais pacientes, na grande maioria das
vezes, tem seus mecanismos de natriurese prejudicados, em
vista de uma série de condições que discutiremos a seguir.
Portanto, a não ser que haja uma contra-indicação formal ao
uso dos mesmos (ex: gota; intolerância), é fundamental que
num esquema de três drogas esteja presente um diurético, cuja
dosagem ou classe, será ajustada de acordo com a condição
clínica do paciente. Além disso, é importante salientar que na
maioria das vezes os diuréticos são sinérgicos (IECA; BRAII)
ou necessários para aliviar a retenção hidrossalina causada por
alguns anti-hipertensivos (vasodilatadores; simpatolíticos).
Partindo destes conceitos, teríamos de forma lógica, num
esquema tríplice de drogas, as seguintes opções preferenciais:
diurético + IECA + ACC ; diurético + BRAII + ACC; diurético + BBloq + ACC.
É importante salientar que o uso de combinações fixas
no paciente que necessitará de três ou mais drogas para seu
controle pressórico tem se mostrado superior em relação ao
uso das drogas utilizadas de forma isolada15.
Eventualmente, determinadas situações clínicas permitirão a utilização de combinações não tradicionais, como é o
caso do uso de IECA+ BRAII e dos diuréticos tiazídicos +
alça em pacientes com insuficiências renal e cardíaca16. A utilização de ACC cardioseletivos + dihidropiridínicos também
têm sido relatada17.
Além disso, a utilização da espironolactona, em doses
baixas, adicionais ao uso de IECA, BRAII e diuréticos, tem se
mostrado útil no bloqueio do “escape de aldosterona” que ocorreria com estas medicações, e portanto, eficaz no ajuste pressórico18.
Avaliação da sobrecarga volumétrica
Conforme já mencionado, a sobrecarga de volume é um
mecanismo fisiopatológico importante, freqüente e geralmente
não aparente nos quadros de hipertensão resistente19, embora
não único.
Na maioria das vezes, estarão sendo avaliados pacientes
com hipertensão de mais longa duração, idosos, negros, obesos, diabéticos, com algum grau de disfunção renal ou usuários de simpatolíticos/ vasodilatadores, todas estas condições
subjacentes (ver a seguir) que corroboram com o desvio da
natriurese pressórica, e estabelecimento de um “set point” em
níveis mais altos de pressão arterial20. Tal fato, implica no aumento na sensibilidade ao sal, com conseqüente expansão do
intravascular e aumento do reatividade vascular.
Assim, medidas como a restrição de sal, monitorada através na excreção de sódio em urina de 24 horas, bem como a
otimização do emprego de diuréticos e antagonistas dos canais de cálcio2, 21, são extremamente úteis para contrapor estes
mecanismos.
A avaliação complementar destes pacientes, através de
medidas hemodinâmicas não invasivas (bioimpedância)19 ou
através da análise do perfil de renina e sódio urinário22, podem
ser eventualmente úteis para a condução destes pacientes, mas
não necessariamente superiores ao bom senso clínico.
Avaliação das condições clínicas subjacentes
A avaliação das diversas condições subjacentes que predispõe à hipertensão resistente é de importância na individualização do tratamento empregado.
Obesidade e apnéia do sono
A obesidade aparece como causa freqüente de hipertensão resistente , em particular a obesidade visceral, onde os
mecanismos hipertensores relacionados à ativação dos sistemas neurohormonais (simpático, SRAA), a hiperinsulinemia e
a conseqüente retenção hidrossalina, encontram-se exacerbados20, 23. O entendimento destes mecanismos na obesidade passam assim, a ser importantes do ponto de vista preventivo e
terapêutico. A atuação no sentido de orientação na perda
ponderal, através da reeducação alimentar e programas de exercícios físicos, apresentam impacto direto sobre a redução dos
fatores de risco e controle pressórico24. A esta, devem somar-se
ações no sentido de controle dos distúrbios metabólicos, assim
como o tratamento da hipertensão, que deve incluir preferencialmente as drogas bloqueadoras do SRAA, diuréticos e ACC.
Além disso, evidências adicionais suportam que os mecanismos de apnéia do sono, prevalentes nesta população, possam estar altamente implicados na ocorrência da hipertensão
em obesos, incluindo os quadros de hipertensão resistente. A
ausência do descenso noturno à MAPA é indicador de alerta
para a investigação de apnéia25 e confirmado o diagnóstico, o
emprego de medidas corretivas, como CPAP nasal, assim como
a eventual associação de simpatolíticos ao esquema terapêutico serão úteis no auxílio do controle pressórico.
Diabetes
A hipertensão resistente é condição prevalente na população de diabéticos, dada a associação dos componentes fisiopatológicos presentes na obesidade visceral20, 23 e da maior dificuldade em se atingir um controle pressórico mais estreito nesta população (<130/80 mmHg), controle este, potencialmente
capaz de diminuir a ocorrência de eventos cardiovasculares3.
Volume 8 / Número 2 / 2005
69
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
No geral, todas as drogas de primeira linha podem ser
utilizadas nos diabéticos tipo I e II, não parecendo haver superioridade de uma droga em relação à outra sobre os desfechos
cardiovasculares3. A maioria certamente necessitará em média de três ou mais drogas para ter a pressão sob controle.
Os IECA/ BRAII em vista dos seus efeitos favoráveis
sobre a hemodinâmica glomerular e proteção cardiovascular
em indivíduos de alto risco, têm sido recomendados para indivíduos com risco cardiovascular mais elevado, como os portadores de nefropatia4 (ver a seguir). Os diuréticos poderão ser
utilizados e a associação com os bloqueadores do SRAA é
sinérgica e recomendável.
O uso dos beta-bloqueadores, particularmente os agentes cardioseletivos terão sua indicação no paciente diabético
com doença coronariana. A piora na sensibilidade à insulina
não é contra-indicação absoluta. Os ACC também têm demonstrado diminuir os eventos cardiovasculares em populações diabéticas e podem fazer parte da terapia combinada, em vista da
dificuldade em se atingir alvos pressóricos almejados nesta
população.
Doença renal
O declínio da função renal em hipertensos apresenta correlação contínua com os níveis pressóricos e com o tempo de
hipertensão. Além disso, distúrbios metabólicos e neuro-hormonais parecem predispor ao prejuízo dos mecanismos de filtração glomerular. Assim, populações de pacientes idosos,
negros, obesos e diabéticos estarão mais sujeitas à disfunção
renal e às repercussões negativas vinculadas à retenção hidrossalina26, 27, com conseqüente predisposição a quadros de hipertensão resistente.
Soma-se a isto, o fato de estudos recentes apontarem repercussões favoráveis sobre nefroproteção quando instituída
a terapia anti-hipertensiva almejando-se alvos pressóricos mais
estreitos (PAS < 130 mmHg e PAD < 80 mmHg), tanto em
populações de hipertensos, quanto em populações de diabéticos4. Haverá portanto, necessidade freqüente de maior número de drogas utilizadas e para tal, os IECA, os BRAII, os diuréticos tiazídicos e eventualmente os diuréticos de alça (clearence de creatinina < 30 ml/min), associados ou não aos tiazídicos, estarão recomendados21.
Hipertensão secundária
A investigação de hipertensão secundária nos pacientes
com hipertensão resistente deverá ser realizada quando excluídas as outras possíveis causas, a não ser que hajam evidências clínicas contundentes que levem à suspeita sobre determinada etiologia (tabela 2).
Embora a prevalência de casos de hipertensão secundária seja baixa nas séries de pacientes com hipertensão resistente6, os diagnósticos de doença renovascular e doença parenquimatosa renal primária7 devem ser particularmente considerados, em especial a primeira condição, que muitas vezes
aparece em sobreposição à hipertensão essencial, em grupos
de indivíduos predispostos, como idosos, diabéticos e arteriopatas.
TABELA 2
HIPERTENSÃO SECUNDÁRIA
SUSPEITA
EXAMES
DIAGNÓSTICO
Mapeamento renal;
USG doppler renal;
Tomografia helicoidal;
Angiorresonância;
Angiografia
Doença renovascular
Relação aldosterona/renina;
Teste supressão com fludocortisona;
Tomografia; Ressonância supra renal
Aldosteronismo
Elevação da creatinina; sedimento urinário alterado
Clearance de creatinina
Doença renal parenquimatosa
Obesidade de tronco; intolerância à glicose; estrias
Cortisol (urina 24h);
Teste de supressão com dexametasona
Síndrome de Cushing
Diminuição da pressão arterial em membros inferiores;
ausência de pulsos femorais
Tomografia helicoidal; Angiorresonância
Coarctação da aorta
HAS lábil; paroxismos de cefaléia, palpitações; palidez
cutânea e perspiração
Catecolaminas/metanefrinas (urina 24h)
Teste de glucagon;
Teste clonidina
Feocromocitoma
Início HAS < 30 anos ou > 55 anos; sopro abdominal;
HAS acelerada; HAS resistente; edema pulmonar;
insuficiência renal; etiologia não determinada;
insuficiência renal precipitada por IECA ou BRA II
Hipocalemia
70
HIPERTENSÃO
Afora isto, o diagnóstico de hiperaldosteronismo, tem sido
relatado como mais prevalente em populações selecionadas
de hipertensos mal controlados, com relatos chegando a até
20% dos casos28, quando o diagnóstico não é apenas presumi-
do com base no achado de hipocalemia. O tratamento destes
pacientes com espironolactona em doses acima das convencionais têm mostrado êxito terapêutico.
Referências bibliográficas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
CALHOUN DA, ZAMAN MA, NISHIZAKA MK. Resistant
hypertension. Curr Hypertens Reports, v. 4, p. 221–228,
2002.
CHOBANIAN AV, BAKRIS GL, BLACK HR, CUSHMAN
WC, GREEN LA, IZZO JL JR et al. The Seventh Report of
the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7
Report. JAMA, v. 289, p. 2560–2572, 2003.
ZANCHETTI A, RUILOPE LM. Antihypertensive treatment
in patients with type 2 diabetes mellitus: what guidance from
recent controlled randomized trials? J Hypertens, v. 20, p.
2099–2110, 2002.
BAKRIS GL, WILLIAMS M, DWERKIN L, ELLIOTT WJ,
EPSTEIN M, TOTOR P et al. Preserving renal function in
adults with hypertension and diabetes: a consensus approach.
National Kidney Foundation Hypertension and Diabetes
Executive Committees Working Group. Am J Kidney Dis, v.
36, p. 646–661, 2000.
MCALISTER FA, LEWWANCZUK RZ, TEO KK. Resistant
hypertension: an overview. Can J Cardiol, v. 12, p. 822–828,
1996.
GARG JP, ELLIOT WJ , FOLKER A, IZHAR M, BLACK HR.
Resistant hypertension revisited: a comparison of two
University- based cohorts. Am J Hyper, v. 18, p. 619–626,
2005.
O‘RORKE JE , RICHARDSON WS. Evidence based
management of hypertension: what to do when blood pressure
is difficult to control. BMJ, v. 322, p. 1229–1232, 2001.
STEPHENSON BJ, ROWE BH, HAYNES RB, MACHARIA
WM, LEON G. Is this patient taking the treatment as
prescribed? JAMA, v. 269, p. 2779–2781, 1993.
MEZZETTI A, PIERDOMENICO SD, COSTANTINI F, ROMANO F, BUCCI A, GIOACCHINO M, CUCCURULLO F.
White- Coat Resistant Hypertension. Am J Hyper, v. 10, p.
302–307, 1997.
BROWN MA, BUDDLE ML, MARTIN A. Is resistant
hypertension really resistant? Am J Hyper, v. 14, p. 1263–
1269, 2001.
ZUSCHKE CA, PETTYJOHN FS. Pseudohypertension. South
Med J, v. 88, p. 1185–1190, 1995.
MACMAHON S. Alcohol consumption and hypertension.
Hypertension, v. 9, p. 111–121, 1987.
BERLOWITZ DR, ASH AS, HICKEY EC, FRIEDMAN RH,
GLICKMAN M, KADER B, MOSKOWITZ MA. Inadequate
management of blood pressure in a hypertensive population.
N Engl J Med, v. 329 n. 27, p. 1957–1963, 1998.
BROWN MJ, CRUICKSHANK JK, DOMINICZAK AF,
MACGREGOR GA, POUTER NR, RUSSEL GI, THOM S,
WILLIAMS B. Executive Committee, British Hypertension
Society. Better blood pressure control: how to combine drugs.
J Hum Hypertens, v. 17, n. 2, p. 81–86, 2003.
15. SICA DA. Rationale for fixed-dose combinations in the
treatment of hypertension: the cycle repeats. Drugs, v. 62, p.
443–462, 2002.
16. NAKAO N, YOSHIMURA A, MORITA H, TAKADA M,
KAYANO T, IDEURA T. Combination treatment of
angiotensin II receptor blocker and angiotensin converting
enzyme inhibitor in non-diabetic renal disease
(COOPERATE): a randomized controlled trial. Lancet, v. 361,
p. 117–124, 2003.
17. SASEEN JJ, CARTER BL, BROWN TE, ELLIOTT WJ,
BLACK HR. Comparison of nifedipine alone and with diltiazem or verapamil in hypertension. Hypertension, v. 28, p.
109–114, 1996.
18. NISHIZAKA MK, ZAMAN MA, CALHOUN DA. Efficacy
of low-dose spironolactone in subjects with resistant
hypertension. Am J Hyper, v. 16, p. 925–930, 2003.
19. TALER SJ, TEXTOR SC, AUGUSTINE JE. Resistant
Hypertension. Comparing hemodynamic management to
specialist care. Hypertension, v. 39, p. 982–988, 2002.
20 HALL JE, BRANDS MW, DIXON WN, SMITH MJ. Obesityinduced hypertension: renal function and systemic
hemodynamics. Hypertension, v. 25, p. 994–1002, 1995.
21. SHAH SU, ANJUM S, LITTER WA. Use of diuretics in cardiovascular disease: hypertension. Postgrad Med J, v. 80, p.
271–276, 2004.
22. BLUMENFELD JD, LARAGH JH. Renin system analysis: a
rational method for the diagnosis and treatment of the individual patient with hypertension. Am J Hypertens, v. 11, p.
894–896, 1998.
23. ROSA EC, ZANELLA MT, RIBEIRO AB, KOHLAMN JR, O.
Obesidade visceral, hipertensão arterial e risco cardio-renal:
uma revisão. Arq Bras Endocrinol Metab, v. 49, p. 196–204,
2005.
24. National Institutes of Health. Clinical guidelines on the
identification, evaluation and treatment of overweight and
obesity in adults: the evidence report. Obes Res, v. 6, n. 2,
p. 51–209, 1998.
25. WOLK R, SHAMSUZZAMAN ASM, SOMERS VK. Obesity,
sleep apnea and hypertension. Hypertension, v. 42, p. 1067–
1674, 2003.
26. WEINBERGER MH, FINEBERG NS. Sodium and volume
sensitivity of blood pressure. Age and pressure change over
time. Hypertension, v. 18, p. 67–71, 1991.
27. JOHSON RJ, RODRIGUEZ-ITURBE B, NAKAGAWA T,
KANG DUK-HEE, FEIG DI, HERRERA-ACOSTA J. Subtle
renal injury is likely a commom mechanism for salt- sensitive
essential hypertension. Hypertension, v. 45, p. 326–330, 2005.
28. CALHOUN DA, NISHIZAKA MK, ZAMAM MA,
THAKKAR RB, WEISSMANN P. Hyperaldosteronism
among black and white subjects with resistant. Hypertension,
v. 40, p. 892–896, 2002.
Volume 8 / Número 2 / 2005
71
○
○
○
○
○
○
○
○
Hipertensão arterial refratária
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
BIOLOGIA MOLECULAR
○
○
○
○
○
Definição e prevalência
Autores:
○
○
Luiz Aparecido Bortolotto*
○
Médico Assistente da Unidade de Hipertensão do
Instituto do Coração do HC-FMUSP
Fernando Almeida
Titular de Nefrologia da Faculdade de Medicina
da PUC-Sorocada, SP
Introdução
O controle pressórico inadequado é possivelmente o fator de maior impacto sobre a alta prevalência de complicações
clínicas da hipertensão arterial, daí o grande interesse pelo
assunto1. Os dados mais recentes nos Estados Unidos da América (EUA) indicam que, embora tenha havido progressos consideráveis nas últimas décadas, o controle pressórico adequado só é alcançado por 34% dos indivíduos portadores de hipertensão arterial2. Em recente avaliação realizada em pacientes portadores de hipertensão arterial, atendidos no programa
de hipertensão das Unidades Básicas de Saúde (UBS), identificamos que apenas 39% dos indivíduos tinham a pressão arterial controlada (PA < 140/90 mmHg) e que 33% dos pacientes, apesar de estarem em tratamento, tinham valores pressóricos nos estágios 2 ou 3 (PA > 160/100 mmHg)3. Várias são
as causas desta dificuldade de controle adequado da pressão
arterial, desde a má aderência ao tratamento até a existência
das raras formas secundárias de hipertensão arterial. Neste
artigo abordaremos os aspectos principais da hipertensão resistente ou refratária, destacando a sua prevalência, as principais causas e a melhor abordagem terapêutica para o controle
adequado.
*Endereço para correspondência:
InCor – Unidade de Hipertensão
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44
05403-000 – São Paulo – SP
E-mail: [email protected]
72
HIPERTENSÃO
De acordo com as últimas diretrizes americanas de hipertensão arterial (JNC VII) conceitua-se a hipertensão resistente (o termo resistente é habitualmente utilizado com o mesmo significado de refratária) como a presença de valores pressóricos > 140/90 mmHg em pacientes utilizando regularmente doses máximas de pelo menos três ou mais classes terapêuticas de anti-hipertensivos, incluindo dose adequada de diuréticos2, 4. Estudos mais antigos estimaram a prevalência de hipertensão refratária em centros de referência terciária entre
5% e 18%5. Em um estudo de coorte com grande número de
indivíduos, Alderman6 encontrou uma prevalência de 2,9% de
hipertensão resistente ao tratamento, mas ensaios clínicos recentes têm mostrado que a hipertensão resistente é mais comum7, 8. No estudo Syst-Eur (“Systolic Hypertension in Europe
Study”)7, observou-se 43% de resistência, enquanto no estudo
ALLHAT8, entre 14.722 pacientes acima de 55 anos 47% permaneciam resistentes ao tratamento um ano após a randomização. Cabe ressaltar que esses resultados podem estar superestimando a prevalência de hipertensão resistente na população hipertensa geral, pois eles estão limitados a pacientes idosos e de risco mais elevado.
Causas de hipertensão resistente
As causas mais comuns de refratariedade ao tratamento
anti-hipertensivo são apresentadas no quadro 1. Yakovlevitch
e Black9 relataram que o regime subótimo de medicações foi a
causa mais comum (43%), seguido por intolerância a medicação (22%), má aderência (10%), e hipertensão secundária
(11%). Embora sejam apresentadas em tópicos, o mais comum é que estejam associadas.
Medida inadequada da pressão arterial
A pressão arterial deve ser determinada com a técnica
correta, respeitando-se todos os passos descritos nas IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial10. Além disso, devese utilizar o tamanho do manguito adequado para a circunferência do braço, principalmente em indivíduos mais obesos,
nos quais a dificuldade do controle pressórico é mais freqüentemente observada. Por fim, deve-se averiguar rotineiramente
se o esfigmomanômetro está calibrado.
Causas relacionadas ao
tratamento anti-hipertensivo
Uma das principais causas de hipertensão resistente é a
utilização de regimes terapêuticos subótimos. Isso pode ser
resultado do uso inadequado da medicação anti-hipertensiva
pelo paciente ou falta de manipulação adequada da medicação pelo médico. Freqüentemente a medicação não é modificada ou associações não são feitas pelo médico, a despeito de
falha em se atingir os níveis de pressão-alvo. Um estudo realizado em um serviço de atenção terciária identificou que o
uso inadequado dos agentes anti-hipertensivos, na seleção ou
nas doses, era responsável por 43% dos casos de hipertensão
refratária9. É lógico que a não-aderência, intencional ou inadvertida, aumenta em proporção à complexidade e aos custos
do regime farmacológico11. Regimes que envolvem múltiplas
drogas deveriam incluir drogas de diferentes classes, e com
uma delas sendo sempre um diurético. Mais da metade dos
pacientes “refratários” pode ser controlada por ajuste cuidadoso do regime anti-hipertensivo ou pela adição de um diurético, se este não estiver sendo usado. Também deve ser questionado se o paciente segue adequadamente uma dieta com restrição de sódio, pois a maior ingestão de sal dificulta a ação
da maioria dos anti-hipertensivos, sobretudo dos diuréticos.
QUADRO 1
CAUSAS MAIS COMUNS DE
HIPERTENSÃO ARTERIAL REFRATÁRIA
l Medida inadequada da pressão arterial
l Relacionadas ao tratamento antihipertensivo (Má adesão ao
tratamento, doses inadequadas não considerando a duração
de ação de cada medicamento, combinação de drogas
inapropriadas, uso inapropriado ou falta de uso de diuréticos)
l Uso de medicamentos com efeito hipertensor
(AINE, inibidores COX-2, pílula anticoncepcional, corticóides,
anfetaminas → anorexígenos, antidepressivos, ciclosporina,
tacrolimus, eritropoetina, descongestionantes, cocaína)
l Obesidade e resistência insulínica
l Ingestão excessiva de álcool
l Efeito do avental branco
l Pseudo-hipertensão
l Distúrbios do sono (apnéia obstrutiva e ronco)
l Hipervolemia (ingestão excessiva de sódio ou retenção de
volume pela insuficiência renal)
l Hipertensão arterial secundária
Uso de medicamentos com efeito hipertensor
Durante a anamnese, o uso concomitante de medicamentos com efeito hipertensor, que contribui com freqüência para
elevar a pressão arterial e promover resistência aos agentes
anti-hipertensivos, deve ser questionado. As drogas que mais
freqüentemente podem ter tal efeito estão listadas no quadro
1, em ordem de importância. Os antiinflamatórios nãoesteróides (AINE) não-seletivos e os inibidores da cicloxigenase 2 (COX-2), pelo uso indiscriminado, sejam prescritos por
médicos ou utilizados por iniciativa dos próprios pacientes ou
oferecidos em farmácias, constituem os medicamentos de
maior risco para os pacientes portadores de hipertensão arterial, pois provocam retenção de sódio e água com evidentes
efeitos adversos para o sistema cardiovascular12. Mesmo o uso
intermitente dos antiinflamatórios, principalmente quando o
paciente tem dor crônica, pode provocar a inibição da produção de prostaglandinas e a manifestação dos efeitos adversos12. Todos os AINEs, mesmo os seletivos (inibidores da COX2), paralelamente à ação antiinflamatória e analgésica apresentam os mesmos efeitos adversos: retenção de sódio e água,
elevação da pressão arterial, predominantemente sistólica,
sobrecarga cardíaca (aumento da pré-carga e pós-carga),
nefrotoxicidade, hiperpotassemia e inúmeras outras alterações
digestivas12. Estudos recentes sugerem que os indivíduos que
estão usando agentes anti-hipertensivos que bloqueiam o
SRAA (inibidores da ECA, bloqueadores dos receptores da
angiotensina – BRA e betabloqueadores) são os que apresentam maiores elevações da pressão arterial durante o uso de
AINEs13,14. Já os pacientes que utilizam bloqueadores dos canais de cálcio (BCCa) ou diuréticos apresentam elevações pressóricas de menor intensidade quando utilizam os AINEs13,14.
Os autores especulam que tal diferença decorre de retenção
de sódio e água e conseqüente redução da atividade do
SRAA13,14. O uso de pílula anticoncepcional pode também ser
um fator determinante de refratariedade ao tratamento antihipertensivo4. Outras medicações que podem ter como possível efeito adverso a elevação da pressão arterial são os corticosteróides, derivados de anfetaminas (anorexígenos), ciclosporina, tacrolimus, eritropoetina, descongestionantes, antidepressivos e cocaína. Sempre que possível devem ser retirados
do esquema terapêutico. Quando a interrupção não for possível, deve-se tentar reduzir a dose administrada para minimizar o efeito hipertensor 4.
Obesidade e resistência insulínica
A obesidade e a resistência insulínica são certamente fatores de grande importância na resistência ao tratamento medicamentoso. Um estudo muito elegante realizado recentemente na Espanha observou que os pacientes com hipertensão arterial refratária “verdadeira” (excluídos os indivíduos com hipertensão secundária e com efeito do avental branco) apresentam maiores valores de insulina plasmática e índices mais
elevados de resistência insulínica15. Na figura 1 apresentamos
o exemplo de uma paciente de 55 anos com hipertensão grave
e refratária que vinha recebendo três agentes anti-hipertensivos de forma regular e em doses adequadas. Identificou-se
que a provável causa da resistência ao tratamento deve ser a
obesidade (IMC = 36,5 kg/m2). A orientação adequada (dieta
hipossódica, hipocalórica e exercícios físicos regulares) e a
motivação da paciente fizeram com que apresentasse redução
Volume 8 / Número 2 / 2005
73
○
○
○
○
○
○
○
○
EFEITO DA PERDA DE PESO EM UMA PACIENTE COM
HIPERTENSÃO REFRATÁRIA E OBESIDADE IMPORTANTE
liares significativamente mais baixos que os valores medidos
no consultório. Como essa entidade é relativamente comum,
todos os pacientes com hipertensão devem ser encorajados a
medir a sua pressão em casa ou fora do ambiente hospitalar.
Nessa situação, a monitorização ambulatorial de pressão arterial (MAPA) de 24 horas e a residencial são úteis em estabelecer o diagnóstico. Embora as diferentes diretrizes de tratamento
não tenham definido a conduta mais adequada para esses pacientes, um seguimento cuidadoso associado a modificações
do estilo de vida é recomendado. Em casos particulares, principalmente na presença de lesão de órgãos-alvo, o tratamento
farmacológico é recomendado.
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
FIGURA 1
○
○
○
○
○
○
Pseudo-hipertensão
IECA = inibidores da enzima conversora; BCCa = bloqueadores de canais de cálcio.
de aproximadamente 14 kg de peso ao final de nove meses de
acompanhamento. Isto foi suficiente para se alcançar o adequado controle pressórico, mantendo-se a mesma medicação
que utilizava anteriormente. No estudo em que avaliamos uma
amostra de 232 indivíduos com hipertensão arterial atendidos
nas UBS observamos que 81,5% deles têm índice de massa
corporal superior a 25 kg/m2 e, na maior parte, a pressão arterial não está controlada3.
Ingestão excessiva de álcool
A ingestão excessiva de álcool (mais de duas doses diárias) pode dificultar o controle pressórico e deve ser desencorajada4.
Efeito do avental branco
O efeito do avental branco ocorre quando os valores de
pressão arterial medidos pelo profissional de saúde no consultório ou no hospital são significativamente elevados comparados com os valores obtidos em outros locais fora do ambiente médico hospitalar (por exemplo, por MAPA ou medida
domiciliar)16. Esse efeito tem sido relatado em 21% a 39%
dos pacientes com hipertensão não-tratada16. Estudos prospectivos não tem definido a história natural ou morbi-mortalidade associadas com hipertensão do avental branco não-tratada,
mas estudos seccionais cruzados17 sugerem que, quando comparados com indivíduos normotensos, os pacientes com hipertensão do avental branco têm maior hipertrofia ventricular, índices mais altos de LDL-colesterol e maior rigidez arterial, podendo ser considerados potencialmente de maior risco
cardiovascular. A hipertensão do avental branco deve ser suspeitada em pacientes que permanecem resistentes ao tratamento na ausência de lesões de órgãos-alvo, que manifestam sintomas de supermedicação (sintomas ortostáticos, fadiga persistente) e/ou que relatam valores de pressão arterial domici-
74
HIPERTENSÃO
É uma pressão arterial falsamente elevada obtida por medida indireta pelo esfigmomanômetro, secundária a perda de
complacência arterial, necessitando uma maior pressão de
insuflação do manguito para comprimir a artéria18. Essa perda
da complacência arterial é geralmente secundária a aterosclerose e encontrada em pacientes idosos. O estudo SHEP determinou que 7% dos idosos selecionados para o estudo tinham
pseudo-hipertensão19. Diagnosticar hipertensão resistente,
quando o paciente tem na verdade pseudo-hipertensão, pode
levar a uma supermedicação desnecessária e eventualmente
prejudicial ao paciente. A pseudo-hipertensão deve ser suspeitada em pacientes mais idosos cujos níveis de pressão arterial
permanecem elevados a despeito da terapia adequada, e que
apresentam pouca ou nenhuma evidência de lesão de órgãosalvo, ou que manifestam sintomas de supermedicação. No entanto, o diagnóstico dessa situação é problemático. A manobra
de rastreamento mais utilizada, a manobra de Osler, que consiste na palpação da artéria radial ou braquial quando o manguito
está insuflado acima da pressão sistólica auscultada, tem um
valor diagnóstico discutível20. O diagnóstico definitivo de
pseudo-hipertensão requer medida direta da pressão intra-arterial, mas como é um procedimento muito invasivo, pode-se
medir alternativamente a pressão arterial no dedo com um equipamento pletismográfico como o Finapres, que tem mostrado
uma correlação significativa com a pressão intra-arterial21.
Distúrbios do sono (apnéia obstrutiva e ronco)
A pressão arterial (PA) em pacientes com distúrbios de sono
está elevada durante o dia e à noite. Porém, a maior variabilidade
noturna da PA e da freqüência cardíaca podem representar um
indício de apnéia obstrutiva do sono22. Os distúrbios do sono, em
particular a apnéia obstrutiva e o ronco, têm sido responsabilizados
por um grande número de casos de hipertensão refratária, como
revisto por Silverberg e cols.23. Do ponto de vista clínico, a anamnese detalhada com o paciente e seus familiares sobre a qualidade do sono, a presença de cansaço excessivo no decorrer do dia e
a ocorrência freqüente de sonolência ou cochilos em situações
passivas do cotidiano (lendo, assistindo televisão, em espetáculos, conversando, no carro ou em lugares públicos) são fortes
indicativos de distúrbios do sono e, quando presentes, o estudo
do sono deve ser realizado23.
Hipervolemia (ingestão excessiva de sódio ou
retenção de volume pela insuficiência renal)
A hipervolemia é um importante componente da resistência aos agentes anti-hipertensivos, particularmente os que
têm em seu mecanismo de ação o bloqueio do sistema renina
angiotensina aldosterona (SRAA) pois, na presença de hipervolemia, a atividade do SRAA está reduzida4, 24. A hipervolemia é observada com freqüência em pacientes que ingerem
quantidades excessivas de sal ou que têm déficit de função
renal e, por conseqüência, apresentam dificuldade em excretar mesmo uma ingesta normal de sódio. Nem sempre a hipervolemia é expressa clinicamente pela presença de edema, por
isso, o médico deve estar atento às pequenas variações de peso
que podem indicar o acúmulo de volume extra-celular. Nestes
casos a restrição de sódio ou o uso de doses apropriadas de
diuréticos tiazídicos ou de alça (quando houver déficit de função renal) é a abordagem adequada. Lembrar que em idosos a
função renal está reduzida mesmo com valores normais de
creatinina plasmática (fórmula a seguir), pois a massa muscular, matéria prima para a produção da creatinina, está reduzida. Avaliação da função renal, através da creatinina plasmática, e de possível lesão estrutural renal (urina tipo I) é indispensável. Com o valor da creatinina plasmática é muito útil
podermos determinar o clearance de creatinina calculado por
uma série de fórmulas, sendo mais utilizada a de CrockroftGault, que leva em consideração a idade, sexo e peso, apresentada abaixo25. Em mulheres o resultado deve ser multiplicado por 0,85 que corrige para a menor massa muscular no
sexo feminino.
Clearance de creatinina = (140 – idade) X
Peso (Kg) / creatinina plasmática (mg/dL) X 72
Hipertensão arterial secundária
Formas secundárias de hipertensão, incluindo hipertensão renovascular, nefropatia primária, aldosteronismo primário e feocromocitoma, tem sido apontadas como causas importantes de refratariedade ao tratamento antihipertensivo2,15.
Em estudo espanhol citado anteriormente, onde os indivíduos
com hipopotassemia ou com sinais clínicos ou exames complementares sugestivos de hipertensão renovascular tinham
sido previamente excluídos, observou-se a presença de hiperaldosteronismo com valores de potássio normais em 14% dos
pacientes e de feocromocitoma em 4%15. Em outro estudo,
envolvendo 91 pacientes com hipertensão resistente, os autores detectaram hipertensão renovascular em 6% e aldosteronismo primário em 4% dos pacientes. Os principais indícios
de hipertensão secundária além da hipertensão resistente são:
início de hipertensão antes dos 30 anos e após os 50 anos,
tríade de feocromocitoma (palpitações, sudorese e cefaléia em
crises), fácies ou biotipo de doenças endócrinas, presença de
sopros ou massas abdominais, assimetria de pulsos femorais,
aumento de creatinina sérica, hipopotassemia espontânea, exame de urina anormal. Um rastreamento básico para paciente
com hipertensão resistente poderia incluir ultra-som de rins,
doppler de artérias renais ou cintilografia renal com DTPATc, dosagem de atividade de renina plasmática, aldosterona
plasmática e metanefrinas urinárias.
Abordagem do paciente
e esquemas terapêuticos
A “verdadeira hipertensão resistente” deveria ser diagnosticada apenas após a eliminação dos fatores contribuintes
mencionados acima. Deveria ser lembrado que múltiplos fatores exógenos podem coexistir com uma causa secundária. O
tratamento da hipertensão resistente inclui eliminação dos fatores exógenos e o uso de máximas doses toleradas de múltiplos agentes incluindo um diurético de longa ação, além de
realizar todas as medidas necessárias para melhorar a aderência do paciente ao tratamento. A terapia mais efetiva prescrita
pelos médicos mais cuidadosos irão controlar a pressão arterial apenas se o paciente estiver motivado para tomar as medicações prescritas e para realizar e manter um estilo de vida mais
saudável. A empatia é um importante motivador e a motivação
melhora quando os pacientes têm experiências positivas e confiam em seus médicos. Os médicos , por sua vez devem levar em
conta as diferenças culturais, crenças e prévias experiências com
o sistema de saúde para estabelecer uma boa relação médicopaciente e atingir a melhor aderência, e consequentemente o
melhor controle da pressão arterial. A figura 2 apresenta um
fluxograma para a avaliação do paciente com hipertensão resistente baseado nas possíveis causas já discutidas acima.
Após identificar e corrigir as eventuais causas da resistência ao tratamento anti-hipertensivo, e mesmo enquanto as
causas estão sendo identificadas, o tratamento farmacológico
mais adequado deve ser instituído. A figura 3a sugere uma
abordagem terapêutica inicial para o uso de uma combinação
lógica para atingir os níveis de pressão arterial alvo. Como
tem sido descrito, o controle ótimo de pressão arterial pode
requerer o uso de múltiplas drogas, principalmente em populações especiais como diabéticos hipertensos com insuficiência renal. Neste esquema o paciente inicia com uma das quatro principais classes de drogas. Quando há intolerância aos
inibidores da enzima conversora, os bloqueadores de receptores da angiotensina podem ser usados. Quando uma segunda
droga é necessária, o que ocorre na maioria dos pacientes com
hipertensão resistente, as combinações mais úteis devem ser
utilizadas (conectadas por linhas sólidas – figura 3). Se com
este esquema da Etapa inicial, o controle não for atingido,
sugere-se o esquema apresentado na figura 3b, com a combinação de bloqueadores de canais de cálcio dihidropiridínicos
(amlodipina) com não dihidropiridinicos (verapamil, diltiazem), ou o uso de alfa beta bloqueadores (labetalol, carvedilol), ou associação de antagonistas centrais (clonidina), ou
mesmo a espironolactona, especialmente útil em pacientes com
níveis de aldosterona plasmática elevada. Um recente estudo26 mostrou que espironolactona adicionado a terapia tripla
ou quádrupla em pacientes com hipertensão resistente, foi
segura e efetiva, havendo redução significativa do número
Volume 8 / Número 2 / 2005
75
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
FIGURA 2
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
FLUXOGRAMA PARA AVALIAÇÃO E CONDUTA EM
HIPERTENSÃO ARTERIAL RESISTENTE
de drogas utilizadas. No entanto estes
achados necessitam ser confirmados em
estudos com maior numero de indivíduos.
Em casos muito resistentes a estas abordagens, vasodilatadores periféricos, incluindo o potente vasodilatador direto minoxidil (5 a 20 mg/dia) podem ser adicionados. Em um artigo recentemente publicado24 os autores sugerem um tratamento de hipertensão resistente baseado
em valores hemodinâmicos obtidos através da bioimpedância (tabela 1). Assim,
os ajustes da medicação e o uso de diferentes classes são baseados nas medidas de
débito cardíaco, resistência vascular sistêmica e na bioimpedância corpórea total.
Apoiados nesta abordagem hemodinâmica,
os autores conseguiram um controle muito
melhor dos pacientes com hipertensão resistente do que aqueles sob os cuidados de
tratamento apenas especializado.
TABELA 1
ALGORITMO DE TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO RESISTENTE
BASEADO EM VARIÁVEIS HEMODINÂMICAS E DE BIOIMPEDÂNCIA
INDICE
CARDÍACO
ÍNDICE DE RESISTÊNCIA
VASCULAR SISTÊMICA
ESCOLHAS DE MEDICAÇÃO
Baixo
Alto
1. Adicionar ou aumentar bloqueador de canais de cálcio dihidropiridínicos
2. Reduzir beta-bloqueadores
3. Avaliar variação TBI: se reduzido, intensificar ou adicionar doses de diuréticos
Alto
Baixo
1. Adicionar beta-bloqueador ou agonista central
2. Reduzir vasodilatadores
3. Avaliar variação TBI: se reduzido, intensificar ou adicionar doses de diuréticos
Normal
Normal
1. Avaliar variação TBI: se reduzido, intensificar ou adicionar doses de diuréticos
TBI = impedência fluído torácico
Adaptado ref. 11.
FIGURA 3
ESQUEMA DE TRATAMENTO SUGERIDO PARA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL NA HIPERTENSÃO RESISTENTE
Etapa 1 (a) e Etapa 2 (b).
IECA = inibidores da enzima conversora da angiotensina;
76
HIPERTENSÃO
BRAs = bloqueadores dos receptores da angiotensina II;
BCC = bloqueadores de canais de cálcio;
Tiaz = tiazídicos;
SNC = sistema nervoso central
Referências bibliográficas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
HYMAN DJ, PAVLIK VN. Characteristics of patients with
uncontrolled hypertension in the United States. N Engl J Med,
v. 45, p. 479–486, 2001.
CHOBANIAN AV, BAKRIS GL, BLACK HR, CUSHMAN
WC, GREEN LA, IZZO JL JR, JONES DW, MATERSON
BJ, OPARIL S, WRIGHT JT JR, ROCCELLA EJ and
National High Blood Pressure Education Prog ram
Coordinating Committee. The Seventh Report of the Joint
National Committee on Prevention, Detection, Evaluation,
and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 report.
JAMA, v. 289, p. 2560–2572, 2003.
ALMEIDA FA, SANTANA IMC, FARIA CSD, ALMEIDA
JPG, REIS MA, CAMARGO MN, ALMEIDA JR, ROCHA
MCP, CADAVAL RAM, D’ÁVILA R, RODRIGUES CIS.
O conhecimento sobre a doença do paciente com hipertensão arterial das Unidades Básicas de Saúde (UBS). IX Encontro Paulista de Nefrologia, J Bras Nefrol, v. 24, Supl 1,
p. 41 (abstract), 2003.
VIDT DG. Resistant hypertension. In: OPARIL S, WEBER MA.
Hypertension: A companion to brenner and rector’s the
kidney. Philadelphia: Saunders, 2000. p.564–572.
SWALES JD, BING RF, HEAGERTY A, POHL J, RUSSEL
GI, THURSTEN H. Treatment of refractory hypertension.
Lancet, v. 1, p. 894–896, 1982.
ALDERMAN MH, BUDNER N, COHEN H, LAMPORT B,
OOI WL. Prevalence of drug resistant hypertension.
Hypertension, v. 11, Suppl 2, p. II71–II75, 1988.
STAESSEN JÁ, FAGARD R, THIJS L et al. for the Systolic
Hypertension in Europe (Syst-Eur) Trial Investigators.
Randomised double-blind comparison of placebo and active
treatment for older patients with isolated systolic
hypertension. Lancet, v. 350, p. 757–764, 1999.
CUSHMAN WC, BLACK HR, PROBSTFIELD JL et al. for
the ALLHAT Group. Blood pressure control in the
Antihypertensive and Lipid Lowering treatment to Prevent
Heart Attack (ALLHAT). Am J Hypertens, v. 11, p. 17A, 1998.
YAKOVLEVITCH M, BLACK HR. Resistant hypertension in
a tertiary care clinic. Arch Intern Med, v. 151, n. 9, p. 1786–
1792, 1991.
IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. Sociedade
Brasileira de Hipertensão, Sociedade Brasileira de Cardiologia e Sociedade Brasileira de Nefrologia. Rev Bras
Hiperten, v. 9, p. 359–408, 2002.
BURNIER M, SANTSCHI V, FAVRAT B, BRUNNER HR.
Monitoring compliance in resistant hypertension: an
important step in patient management. J Hypertens, v. 21,
Suppl 2, p. S37–S42, 2003.
ARMSTRONG EP, MALONE DC. The impact of nonsteroidal
anti-inflammatory drugs on blood pressure, with an emphasis
on newer agents. Clin Ther, v. 25, n. 1, p. 1–18, 2003.
MORGAN TO, ANDERSON A, BERTRAM D. Effect of
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
indomethacin on blood pressure in elderly people with
essential hypertension well controlled on amlodipine or enalapril. Am J Hypertens, v. 13, n. 11, p. 1161–1167, 2000.
WHELTON A, WHITE WB, BELLO AE, PUMA JA, FORT
JG; SUCCESS-VII Investigators. Effects of celecoxib and
rofecoxib on blood pressure and edema in patients > or =65
years of age with systemic hypertension and osteoarthritis.
Am J Cardiol, v. 90, n. 9, p. 959–963, 2002.
MARTELL N, RODRIGUEZ-CERRILLO M, GROBBEE DE,
LOPEZ-EADY MD, FERNANDEZ-PINILLA C, AVILA M,
FERNANDEZ-CRUZ A, LUQUE M. High prevalence of
secondary hypertension and insulin resistance in patients with
refractory hypertension. Blood Press, v. 12, n. 3, p. 149–154,
2003.
PICKERING TG, JAMES GD, BODDIE C, HARSHFIELD
GA, BLANK S, LARAGH JH. How commom is white coat
hypertension? JAMA, v. 259, p. 225–228, 1988.
GLEN SK, ELLIOT HL, CURZIO JL, LEES KR, REID JL.
White coat hypertension as a cause of cardiovascular
dysfunction . Lancet, v. 348, p. 654–657, 1996.
TAGUCHI JT, SUWANGOOL P. “Pipe-stem” brachial arteries.
A cause of pseudohypertension. JAMA, v. 228, p. 733, 1974
WRIGHT JC, LOONEY SW. Prevalence of positive Osler´s
manoeuver in 3387 persons screened for the Systolic
Hypertension in the Elderly Program (SHEP). J Hum
Hypertens, v. 11, p. 285–289, 1997.
MESSERLI FH, VENTURA HO, AMODEO C. Osler’s
manoeuver and pseudohypertension. N Engl J Med, v. 312,
p. 1548–1551, 1985
ANZAL M, PALMER AJ, STARR J, BULPIT CJ. The
prevalence of pseudohypertension in the elderly. J Hum
Hypertens, v. 10, p. 409–411, 1996
ISAKSSON H, SVANBORG E. Obstructive sleep apnea
syndrome in male hypertensives, refractory to drug therapy.
Nocturnal automatic blood pressure measurements-an aid to
diagnosis? Clin Exp Hypertens A, v. 13, n. 6-7, p. 1195–1212,
1991.
SILVERBERG DS, OKSENBERG A, IAINA A. Sleep related
breathing disorders are common contributing factors to the
production of essential hypertension but are neglected,
underdiagnosed, and undertreated. Am J Hypertens, v. 10, n.
12, Pt 1, p. 1319–1325, 1997.
TALER SJ, TEXTOR SC, AUGUSTINE JE. Resistant
hypertension: comparing hemodynamic management to
specialist care. Hypertension, v. 39, n. 5, p. 982–988, 2002.
COCKROFT DW, GAULT MH. Prediction of creatinine
clearance from serum creatinine. Nephron, v. 16, p. 31-41,
1976.
OUZAN J, PERAULT C, LINCOFF AM, CARRE E, MERTES
M. The role of spironolacone in the treatment of patients with
refractory hypertension. Am J Hypertens, v. 15, p. 333–339, 2002.
Volume 8 / Número 2 / 2005
77