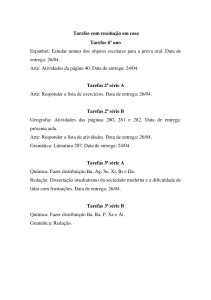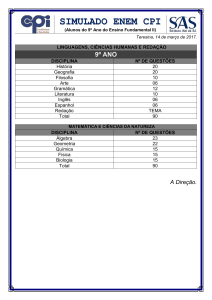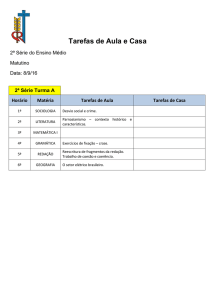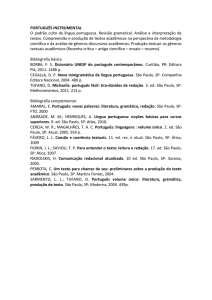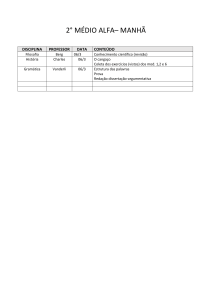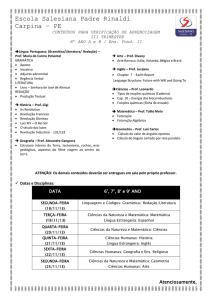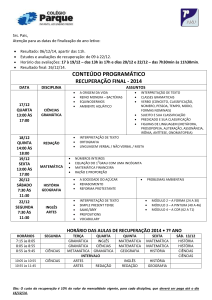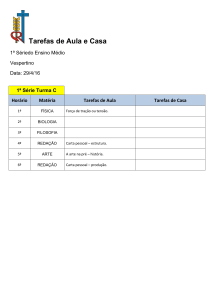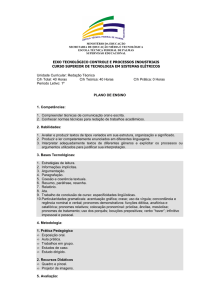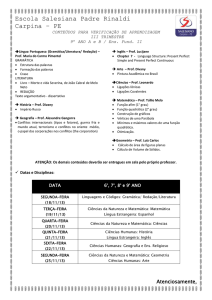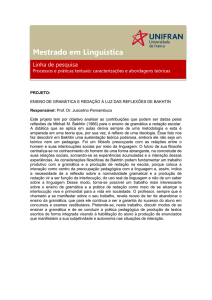2
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
REVISTA DO TCEMG
MANUAL DE
REDAÇÃO E ESTILO
Belo Horizonte
2014
ISBN 978-85-68149-00-3
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CONSELHEIROS
Adriene Barbosa de Faria Andrade (Presidente)
Sebastião Helvecio Ramos de Castro (Vice-Presidente)
Cláudio Couto Terrão (Corregedor)
Wanderley Geraldo de Ávila
Mauri José Torres Duarte (Ouvidor)
José Alves Viana
Gilberto Pinto Monteiro Diniz
CONSELHEIROS SUBSTITUTOS
Licurgo Joseph Mourão de Oliveira
Hamilton Antônio Coelho
PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS
Daniel de Carvalho Guimarães (Procurador-Geral)
Elke Andrade Soares de Moura Silva (Subprocuradora-Geral)
Glaydson Santo Soprani Massaria
Maria Cecília Mendes Borges
Marcílio Barenco Corrêa de Mello
Sara Meinberg Schmidt de Andrade Duarte
Cristina Andrade Melo
de
Manual
edação e Estilo
R evista do TCEMG
COORDENADORIA DA REVISTA
Juliana Mara Marchesani
- COORDENAÇÃO DA OBRA -
Diego Felipe Mendes A. de Melo
- EDIÇÃO E REVISÃO -
Flávia Azevedo Maksud
Maria Lúcia Teixeira de Melo
- COLABORAÇÃO -
Célia Rosa
Maria José de Araújo Rios
- PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO -
Lívia Maria Barbosa Salgado
- EQUIPE TÉCNICA -
Eliana Sanches Engler
Regina Cássia Nunes da Silva
SUMÁRIO
PREFÁCIO, 13
COMO USAR ESTA OBRA, 15
O CERTO E O ERRADO, 16
O PROCESSO EDITORIAL NA REVISTA DO TCEMG, 17
Artigos, 19
Recebimento e avaliação prévia, 19
Avaliação duplo-cega (sistema peer review), 23
Revisão de texto, 23
Primeira conferência, 24
Aprovação do texto final pelo autor, 24
Diagramação, 25
Pareceres e decisões, 26
Seleção/solicitação de pareceres e decisões, 26
Preparação de cópias para revisão, 26
Revisão, 27
Primeira conferência, 27
Outras fases, 27
Diagramação, 27
Fechamento da revista, 28
REDAÇÃO OFICIAL E REDAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA, 29
Princípios norteadores, 31
Impessoalidade, 32
Norma-padrão da língua portuguesa e correção, 32
S UMÁRIO
S
Clareza, 33
Concisão e objetividade, 33
Coesão e coerência, 34
Precisão, 35
ESTILO E PADRONIZAÇÃO, 37
Estilística e a redação oficial, 39
Estilo, 39
Polidez, 39
Concisão e adjetivações, 39
Padronização e gramática, 42
a + infinitivo, 42
À baila / à bailha / à balha, 42
A colação, 43
À custa de / às custas de, 43
A distância / à distância, 43
A fls. / à fl. / de fls. / das fls. / Ø fls., 44
A mancheias, 45
À medida que / na medida em que, 45
A mim me parece, 46
A nível (de) / em nível (de), 46
A par de / ao par de, 46
A partir de, 47
A posteriori / a priori, 48
A princípio / em princípio, 49
A teor de, 49
Abaixo assinado / abaixo-assinado, 51
Abordar, 51
Abreviaturas, acrônimos, unidades e siglas, 52
Acerca de / há / há cerca de, 54
Ademais / de mais / de mais a mais / demais, 54
Adentrar o / no, 54
Aderir, 55
Administração Pública, 55
Advérbios terminados em –mente, 56
Aludir, 56
Ambiguidade, 57
Principais mecanismos geradores de ambiguidade, 57
Ambos, 58
Anexo / Em anexo, 59
Ano-calendário / Anos-calendário (plural), 60
Ao que sei, 60
Apenar e penalizar, 60
Apor / opor veto, 61
Aposentar-se, 61
Artigo científico e artigo original (estrutura), 61
Resumo, 61
Resumo em língua estrangeira, 63
Elementos textuais, 63
Citações, 63
Referências, 63
Artigos definidos (a, as, o, os), 63
Aspas, 64
Assim, 65
Assim como / bem como / bem assim, 65
S UMÁRIO
S
Atender, 66
Atinente, 66
Através de, 67
Bacharel / bacharela, 68
Bastante, 68
Cacofonia, 68
Cada, 69
Clichê, frase feita e lugar-comum, 69
Colchetes, 70
Colocação, 71
Com vista(s) a /com vista(s) em, 71
Compelir / gerir, 71
Computar, 71
Condenar, 72
Configurar, 72
Conselheiro presidente, 73
Conselheiro relator, 73
Considerando (que...), 73
Consistir, 74
Constar, 74
Constatar, 74
Constituir, 75
Continuação / continuidade, 75
Cujo, 76
Cumprir, 77
Dado / visto, 77
Datas, 77
Primeiro dia do mês, 77
Zero à esquerda, 77
Ano, 78
Separação por barra ou ponto, 78
Datas de leis e atos normativos, 78
Acento grave em datas, 78
Convenção da Revista do TCEMG, 78
De forma que / de modo que / de maneira que / de forma a / de modo
a / de maneira a, 79
De/em férias, 79
Desapercebido / despercebido, 80
Descriminação / descriminalização / discriminação, 80
Designar, 80
Despender / dispêndio, 81
Deste/do ponto de vista, 81
Digno / digníssimo, 81
Doutor, 82
Dupla negativa, 82
Ecoação, 82
Eis que, 82
Ele é suposto saber, 83
Elipse, 83
Em conformidade com / na conformidade de / em consonância a, 83
Em face de / em face a / face a, 84
Em função de, 85
Em que pese a / em que pesem as, 85
Em sede de, 86
Em vez de / ao invés de, 87
E-mail, 88
S UMÁRIO
S
Enquanto / enquanto que, 88
Entre / dentre, 89
Erário, 89
Esquecer, 90
Este, esse, aquele, isto, isso, 90
Etc., 91
Fazer, haver (correlação temporal), 92
Gerundismo, 93
Grosso modo, 93
Haja vista, 94
Hora extra, 94
Horas, 94
Abreviatura, 94
Hora abreviada ou por extenso, 95
Abreviatura ou dois pontos, 95
Acento grave, 95
Hífen, 95
Ibidem, 95
Ilustríssimo, 96
Implicar, 96
Inclusive, 96
Inobstante / nada obstante / não obstante, 96
Inversão de frases, 97
Itálico / negrito / sublinha, 97
Itálico, 98
Negrito, 98
Sublinha, 98
Junto a / junto de, 99
Latim, 99
Mais bem / melhor, 99
Mal-empregado / Mal empregado, 100
Mestre / Mestra, 100
Multa-sanção (plural), 100
n. / nº, 100
Nem, 100
No sentido de / no sentido de que, 101
O mesmo / a mesma, 101
O(a) qual, 102
Obrigado, 102
Oficiar / oficializar, 102
Onde / aonde, 103
Operacionalizar, 103
Pagado, 104
Pertinente / pertinência, 104
Pontuação em listas, 104
Por unanimidade / à unanimidade, 104
Por via de regra / via de regra, 105
Posto que, 105
Precisar, 105
Proceder, 106
Pronome “se” + infinitivo, 106
Propor-se (fazer alguma coisa), 106
Protocolar / protocolizar, 107
Qualquer, 107
Quanto antes / o quanto antes, 107
“Que” — pronome relativo, 107
S UMÁRIO
S
“Queísmo”, 109
Quem / que — pronome relativo, 109
Quite (particípio passado do verbo quitar), 109
Quorum / Quórum, 109
Quota/cota, 110
Regência e transitividade, 110
Ressalte-se, 110
Restar, 111
Resultar, 111
Sendo que, 112
Ser (omissão), 112
Sob o ponto de vista, 112
Sobrestar, 113
Soer, 113
Stricto sensu, 113
“Sujeito preposicionado”, 113
Superavit / deficit / défice, 114
Tratar-se (de) / tratar de, 114
Verbos abundantes, 115
Verbos em coordenação com regências diferentes, 115
Vez que / de vez que, 116
Visar, 116
Vossa Excelência, 117
Voz passiva (excesso), 118
GLOSSÁRIO, 120
REFERÊNCIAS, 123
PREFÁCIO
Nos últimos dez anos, a Revista do TCEMG tem passado por diversas mudanças
sempre com a finalidade de oferecer aos jurisdicionados — seu público-alvo —
uma publicação da melhor qualidade possível e, além disso, inserir o periódico no
meio acadêmico, conferindo-lhe mais objetividade e caráter científico.
Nesse contexto, assume papel relevante a equipe de editores textuais, que envidam
esforços para, sem prejudicar o estilo dos autores, tornar os textos mais claros, concisos, acordes com a norma-padrão da língua e normalizados conforme as regras
aplicáveis.
Alguns pensam que a revisão de textos é uma mera correção de ortografia ou de
um aspecto pontual, como concordância e regência. Tal pensamento não poderia
ser mais errôneo: a preparação e a revisão intervêm em diversos níveis textuais. A
competência em gramática é apenas uma das várias que o revisor deve possuir. Isto
é, um (bom) texto, meta ideal do autor e do revisor, não é dotado apenas de gramaticalidade, mas também de inteligibilidade e textualidade.
Assim, no exercício de suas atribuições, os editores fazem uma revisão minuciosa
— mais do que simples correção gramatical —, demandando, muitas vezes, a preparação de textos, copidesque e identificação com os mecanismos de tessitura textual
adotados pelos autores.
Na Revista do TCEMG, os editores lidam com textos de diversos tipos: narrativo,
injuntivo, dialogal, dissertativo expositivo e, principalmente, dissertativo argumentativo. Este se sobressai em relação aos demais, pois a maior parte das seções do
periódico refere-se a textos científicos e a decisões do Tribunal de Contas.
Considerando a natureza e as peculiaridades do trabalho da equipe de revisão, surgiu a necessidade de elaborar um manual de redação com o objetivo de orientar a
escrita técnica e de elucidar dúvidas atinentes à redação científica e à oficial. Este
manual propõe orientar os editores da Revista do TCEMG e os autores de doutrina a elaborarem textos condizentes com a norma-padrão, compreensíveis pelos
cidadãos (por quem e para quem exercemos nosso trabalho) e livres das “afetações” comuns em textos técnico-científicos — principalmente os redigidos pelos
cientistas do Direito — e das contaminações de registros linguísticos estranhos ao
assunto do texto.
Em outras palavras, este manual pretende, sem caráter impositivo ou normativo,
13
P REFÁCIO
P
auxiliar aqueles que, no dia a dia, trabalham com a gênese e a edição textuais.
Por fim, salientamos que esta obra é fruto de discussões e troca de sugestões entre
os seus autores e se baseou no exame detalhado dos textos constantes dos corpora da
Revista do TCEMG.
Belo Horizonte, 16 de abril de 2014.
Diego Felipe Mendes de Melo
14
C OMO CONSULTAR
ESTE MATERIAL
Com o intuito de deixar a leitura mais agradável, utilizamos símbolos (imagens e
emoticons) para sinalizar os exemplos ou destacar algum trecho relevante.
Legenda:
Apesar de gramaticalmente correto, o texto não está na sua “melhor
construção”.
O texto está gramaticalmente correto e na sua “melhor construção”.
Embora reconhecido pela maioria dos linguistas contemporâneos,
trata-se de texto com construção mal vista pela gramática prescritiva
ou vedada em redação oficial.
O texto do exemplo está correto.
O texto do exemplo está incorreto.
Sinaliza um resumo, recomendação ou comentário feito pela redação.
Introduz um alerta ou uma exceção sobre a informação dada.
Recomenda literatura complementar sobre os temas em análise.
15
O CERTO E O
ERRADO
O vocábulo “gramática” vem do grego grammatiké e corresponde ao conjunto de regras para determinado uso da língua. Ou seja, a gramática varia conforme a situação
e o meio em que as pessoas do discurso se comunicam.
Hoje não mais se justifica uma gramática dogmática impondo leis sem um raciocínio
reflexivo ou até mesmo um mínimo de cientificidade. Como alternativa à rigidez
— quase imutabilidade — da gramática tradicional, baseada em autores cujas obras
remontam a um século ou mais, muito se tem propagado a necessidade de uma grammatiké pragmática, funcional e condizente com a realidade dos falantes e escreventes
da língua.
Negar a dinamicidade e a evolução da língua apontando uma gramática de “bons
usos” implicaria ir contra o fluxo natural do discurso e contradizer a própria formação da língua portuguesa. Por isso diz-se que não há necessariamente um discurso
certo ou errado se o co(n)texto não for considerado.
Tratando-se de textos científicos e oficiais, tanto o autor quanto o revisor devem
ponderar as circunstâncias e os destinatários de sua mensagem, sem fugir à “norma
culta” exigida pelos cânones jurídicos e acadêmicos.
Dessa forma, o presente manual não se presta a impor regras gramaticais rígidas
nem a determinar o estilo dos autores, mas sim a descrever as principais inadequações referentes à propriedade vocabular e ao uso da norma-padrão da língua portuguesa do Brasil.
“Para quem gosta de certezas e seguranças, tenho más notícias: a gramática não está pronta. Para quem gosta de desafios, tenho boas notícias: a gramática não está pronta. Um mundo de questões e problemas
continua sem solução, à espera de novas ideias, novas teorias, novas
análises, novas cabeças.”
Mário Alberto Perini
16
“JURIDIQUÊS”
RODRIGUES (2013)
“O CERTO E O ERRADO” E PRECONCEITO LINGUÍSTICO
BAGNO (2000); BAGNO (2003); SCHERRE (2005); SCHERRE (2008)
O
processo
editorial na
Revista
18
ARTIGOS
Esquema do trâmite de artigos
Recebimento
Avaliação prévia
Decisão
editorial
Preparação de
cópias para
revisão
Revisão
Aprovação pelo
autor
Diagramação
Recebimento e avaliação prévia
O artigo recebido para provável publicação é registrado no banco de dados da Revista e encaminhado para avaliação prévia, que analisa os critérios básicos de classificação de um texto de caráter técnico-científico e a pertinência com a linha editorial
do periódico.
A avaliação prévia consiste em analisar:
1. estrutura textual (introdução, desenvolvimento e conclusão);
2. classificação do artigo na linha editorial da Revista;
3. estrutura lógica da argumentação;
4. observância às normas da ABNT;
5. existência e pertinência do resumo, palavras-chave, abstract e keywords;
6. adequabilidade do título ao texto;
7. referenciação de todas as citações.
19
A RTIGOS
A
1 Estrutura textual (introdução, desenvolvimento e conclusão)
Para que se crie um texto, não basta atender apenas aos ditames da “norma culta
padrão”, mas também aos caracterizadores de textualidade. Vários períodos e parágrafos “soltos” — sem conectivos e sem coerência entre as ideias expostas — não
formam uma trama de ideias, ou seja, não constituem um texto.
Ademais, toda a estrutura textual, a fim de que seja compatível com o gênero texto científico, deve conter introdução, desenvolvimento e conclusão. Os títulos das
seções introdução e conclusão devem respectivamente ser esses mesmos nomes
explicitados.
Se o arquivo encaminhado não for um texto ou não pertencer ao gênero
texto científico, será rejeitado pelo editor-chefe e devolvido ao autor.
2 Classificação do artigo quanto à linha editorial da Revista
Até a data de publicação desta obra, a linha editorial da Revista do TCEMG é a descrita na Resolução TCEMG n. 16, de 2010, a saber: Direito Público, Filosofia do
Direito, História do Direito, Teoria Geral do Direito, Ciência Política, Sociologia
Jurídica, Administração Pública, Contabilidade Pública, Ciências Econômicas, Ciências Atuariais e Psicologia aplicada aos Recursos Humanos.
Caso o artigo não se enquadre na linha editorial, ele será rejeitado e
devolvido ao autor, interrompendo sua tramitação.
3 Estrutura lógica da argumentação
Em análise superficial, o editor pode verificar se a argumentação, do ponto de vista
da lógica formal, constitui falácias. Nesse caso, se o autor tiver observado os demais
critérios da avaliação prévia, as informações falaciosas serão anotadas no formulário
de avaliação prévia com anuência do editor-chefe, e dar-se-á continuidade ao processo editorial do artigo.
4 Observância às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
As normas da ABNT (tabela 1) pertinentes a textos publicados em periódicos científicos devem ser observadas.
20
Tabela 1 — Normas técnicas da ABNT relacionadas com periódicos científicos
NORMA
TÍTULO
DATA
NBR 5892
Norma para datar
ago. 1989
NBR 6021
Informação e documentação – Publicação periódica científica impressa – Apresentação
maio 2003
NBR 6022
Informação e documentação – Artigos em publicação
periódica impressa – Apresentação
maio 2003
NBR 6023
Informação e documentação – Referências – Elaboração
ago. 2002
NBR 6024
Informação e documentação – Numeração progressiva
das seções de um documento – Apresentação
mar. 2012
NBR 6025
Informação e documentação – Revisão de originais e
provas
set. 2002
NBR 6027
Informação e documentação – Sumário - Apresentação
maio 2003
NBR 6028
Informação e documentação – Resumos – Apresentação
nov. 2003
NBR 6032
Abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas
ago. 1989
NBR 6033
Ordem alfabética
ago. 1989
NBR 6034
Informação e documentação - Índice – Apresentação
dez. 2004
NBR
10520
Informação e documentação – Citações em documentos
– Apresentação
ago. 2002
NBR
10525
Informação e documentação - Número Padrão Internacional para Publicação Seriada
mar. 2005
NBR
10719
Informação e documentação - Relatório técnico e/ou
científico – Apresentação
jun. 2011
NBR
12225
Informação e documentação – Lombada – Apresentação
jun. 2004
NBR
12676
Métodos para análise de documentos – Determinação de
seus assuntos e seleção de termos de indexação
ago. 1992
Fonte: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (2013, [online]).
21
A RTIGOS
A
Ressalvados os poucos casos que este manual aborda especificamente, aplicam-se
sempre as NBRs em sua integralidade.
Se o texto estiver em desalinho com as NBRs listadas na tabela 1, o editor anotará tal informação no formulário de avaliação prévia, dispensada
a ratificação pelo editor-chefe, e o paper continuará seu trâmite no processo editorial.
Diante de grave falta de normalização, o editor, em avaliação prévia, poderá suspender o processo editorial do artigo e devolvê-lo ao autor para
que faça as alterações necessárias.
Mesmo depois do aceite definitivo do artigo, a equipe de revisores, por
deliberação de sua maioria, pode solicitar ao editor-chefe que suspenda
o processo editorial do paper e o devolva ao autor para que faça a normalização conforme as NBRs listadas na tabela 1.
5 Existência e pertinência do resumo, palavras-chave, abstract e keywords
Todo artigo deve possuir resumo e palavras-chave em língua portuguesa e inglesa
(abstract e keywords). A estrutura e o texto do resumo e do abstract obedecem à NBR
6028.
Caso o arquivo enviado careça de quaisquer desses elementos (resumo,
palavras-chave, abstract e keywords), o editor, dispensada a ratificação pelo
editor-chefe, poderá suspender o processo editorial até que o autor providencie o(s) elemento(s) faltante(s).
Por despacho, o editor-chefe pode determinar que o artigo volte a tramitar no processo editorial, mesmo carecendo desses elementos pré e pós-textuais. Contudo,
não há possibilidade de publicação do paper enquanto o autor não criar o elemento
faltante.
Consulte Artigo científico.
22
6 Adequabilidade do título ao texto
Todos os artigos enviados para publicação devem conter título. Este obviamente
deve ser adequado ao conteúdo do texto.
Se o editor verificar que o título não é adequado ao texto, ele anotará tal
informação no formulário de avaliação prévia, e, desde que observados
os demais critérios, o artigo seguirá seu trâmite no processo editorial. Se
a inadequação for ratificada na avaliação definitiva, o autor será comunicado para que promova a alteração.
Caso o paper careça de título, a tramitação do artigo será suspensa, até que o autor
dê-lhe um.
7 Referenciação de todas as citações
Toda citação deve ser referenciada.
As citações e as referências devem estar em conformidade com as NBRs 6023 e
10520.
Caso haja citação sem a referência correspondente, o editor poderá suspender o processo editorial até que o autor promova as correções necessárias.
Avaliação duplo-cega (sistema peer review)1
Depois da avaliação prévia, são removidas todas as informações que podem evidenciar a autoria do artigo (propriedades do arquivo, identificação de autores, agradecimentos a pessoas, etc.), competindo ao editor-chefe o encaminhamento do trabalho
para a avaliação por pareceristas.
Revisão de texto
A equipe de revisores é responsável por normalizar o texto conforme as regras da
ABNT (incorreções simples); padronizar o paper conforme as regras de leiaute e
apresentação da Revista; revisar a ortografia, gramática, propriedade vocabular, etc.
do artigo; fazer copidesque e propor quaisquer tipos de mudanças textuais, quando
for conveniente.
1
Até a data de publicação deste manual, o sistema peer review ainda se encontrava em fase de estudos de viabilidade.
23
A RTIGOS
A
Todos os artigos são analisados por no mínimo dois revisores, conforme as orientações deste manual e deliberações da equipe de revisão. As alterações textuais por
eles propostas são discutidas em reunião de pelo menos três revisores (consenso).
Contudo, o quorum para consenso pode ser alterado pelo editor-chefe, por motivo de
necessidade de serviço.
No consenso, a deliberação quanto à retificação ou à manutenção do texto original é
feita por maioria absoluta. Depois do consenso, nenhum revisor pode alterar o texto
ou fazer nova revisão.
Princípios orientadores da revisão de textos
Princípio da alteridade do revisor de textos
O revisor de textos atua como um dublê, um “outro eu” do autor, fazendo o possível para que suas interferências não prejudiquem o estilo original do texto. Em outras palavras, o revisor não deve fazer correções ou copidesques conforme o próprio
estilo, e sim conforme o que mais se aproxima ao do autor.
Princípio da mínima interferência
A revisão de texto deve interferir minimamente no original do autor. Inversões de
frases, substituições, adições e reduções de texto devem ser feitas apenas em situações específicas, quando a correção e a clareza as exigirem. Dessa forma, o copidesque só é possível à equipe de revisores quando o texto tiver problemas de coesão e
coerência.
PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA REVISÃO DE TExTOS
COELHO NETO (2008)
Primeira conferência
A conferência é feita pelo leitor de prova e tem por finalidade verificar a fluidez da
leitura, problemas de padronização e erros não identificados pela equipe de revisores.
Os problemas suscitados e as soluções propostas na primeira conferência são submetidos à revisão para analisar aqueles ou referendar estas.
Aprovação do texto final pelo autor
Posteriormente à primeira conferência, a equipe de revisores envia ao autor o texto
revisado para fins de aprovação das modificações.
Após o envio, o autor tem o prazo de três dias úteis para contestar a revisão. Se
24
esse período transcorrer sem nenhuma manifestação contrária, o texto revisado será
considerado aceito.
No caso de contestação, cabe aos revisores, em consenso, aceitarem as reversões ou
as alterações enviadas pelo autor. Na hipótese de a revisão rejeitar o texto devolvido
pelo autor, esta será a versão publicada, constada da primeira página do artigo nota
de rodapé com a anotação “Texto revisado parcialmente”.
Diagramação
O editor de leiaute diagrama o artigo conforme o padrão estabelecido pela Revista.
25
PARECERES
E DECISÕES
Esquema do trâmite de pareceres e decisões
Seleção/solicitação de pareceres e decisões
O editor-chefe seleciona sugestões de pareceres e decisões a serem publicados e os
encaminha aos gabinetes para fins de aprovação. Caso não consiga encontrar decisão
ou parecer relevante de alguns dos órgãos que publicam na Revista, o editor-chefe
comunica o gabinete responsável e assina prazo para que seja encaminhado algum
texto ou desista da publicação.
Preferencialmente são escolhidas decisões cujo voto do relator teve aprovação unânime.
Preparação de cópias para revisão
Depois da seleção, o parecer ou decisão é encaminhado para o editor de leiaute (diagramador) a fim de que prepare cópias para revisão.
26
Revisão
Na revisão de pareceres e decisões, há primazia do princípio da mínima
interferência. Cabe aos revisores padronizar os textos conforme as
orientações deste manual e de outros quando for necessário.
Primeira conferência
A conferência é feita pelo leitor de prova e tem por finalidade verificar a fluidez da
leitura, problemas de padronização e erros não identificados pela equipe de revisores.
Os problemas suscitados e as soluções propostas na primeira conferência são submetidos à revisão para analisar aqueles ou referendar estas.
Outras fases
Elaboração de ementa e título; verificação do trânsito em julgado e de pacificidade
de entendimento.
Diagramação
O editor de leiaute diagrama o texto conforme o padrão estabelecido pela Revista.
27
F ECHAMENTO
DA REVISTA
Depois da diagramação de todas as seções do periódico, dá-se início ao processo
de “fechamento” da revista, cujos procedimentos principais são: aprovação de todo
o conteúdo pela Diretoria da Revista; segunda conferência; preparação da boneca;
terceira conferência; autorização de impressão.
28
LEGISLAÇÃO ATINENTE À REVISTA DO TCEMG
MINAS GERAIS (2010)
Redação
oficial e
redação
técnico-científica
30
PRINCÍPIOS
NORTEADORES
A redação oficial é o instrumento formal de comunicação utilizado pelo Poder Público para redigir seus textos. Comunga desse entendimento a professora Flávia Rafaela Lôbo e Silva (2012, p. 1), diferenciando a redação oficial da comercial:
Pode-se definir ‘Redação Oficial’ como o conjunto de normas que regem as comunicações escritas, internas e externas, de repartições públicas. Quando o mesmo tipo
de texto é praticado por particulares, será chamado de correspondência ou ‘Redação
Comercial’.
As correspondências oficiais orientam a feitura e a tramitação de documentos. Devido a isso, esse tipo de texto possui uma linguagem própria, formal e burocrática.
Sendo a publicidade e a impessoalidade princípios da administração pública (Constituição da República, art. 37), é evidente que esses princípios devem, do mesmo
modo, nortear a elaboração dos atos e comunicações oficiais.
São características da redação oficial e da redação técnico-científica:
• impessoalidade;
• padrão culto da língua portuguesa e correção;
• clareza;
• concisão;
• coesão;
• objetividade;
• precisão.
REDAÇÃO OFICIAL
BRASIL (2002); MINAS GERAIS (2007)
RITOS GENÉTICOS EDITORIAIS
SALGADO (2007)
REDAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
GOPEN; SWAN (1990); GARCIA (2010)
31
P RINCÍPIOS NORTEADORES
P
IMPESSOALIDADE
A impessoalidade consiste na ausência de impressões individuais e subjetivas,
pois é sempre em nome do serviço público que é feita a comunicação.
Não há dúvida de que os temas das comunicações oficiais se restringem a questões
que dizem respeito ao interesse público e, portanto, não cabe nessa redação nenhum
tom pessoal ou particular.
Assim, a redação oficial deve ser impessoal, evitando-se o uso de primeira pessoa e
de adjetivações desnecessárias.
O relator [...], com a convicção dos
cultores
das regras e princípios
constitucionais, assim concluiu seu
brilhante voto, que foi aprovado
pelo competente Colegiado daquela Corte.
O relator [...] concluiu seu voto, que
foi aprovado pelo Colegiado daquela
Corte.
Note-se que há uma grande diferença entre o uso de pronomes de tratamento ou
vocativos para demonstração de respeito (Vossa Excelência; Vossa Magnificência;
Senhor, etc.) e a predicação bajuladora (de escol; brilhante; ilustre; douto; digno;
luminar; etc.).
IMPESSOALIDADE
BRASIL (2004)
NORMA PADRÃO DA LÍNGUA
É imprescindível que o redator escreva de acordo com a ortografia oficial e se atenha
às regras da “norma culta”.
essa concepção política trás em
si[...]uma
profunda diferenciação filosófica [...].
[...] essa concepção política traz em
si uma profunda diferenciação filosófica [...].
Ao redigir um texto, deve-se observar a sintaxe em todos seus aspectos, o emprego
correto e apropriado das palavras, a pontuação, a colocação pronominal, a concordância, a regência e a melhor estruturação de períodos e parágrafos.
[...] o anexo I do edital, deve ser retifi cado
[...].
32
[...] o anexo I do edital Ø deve ser
retificado [...].
CLAREZA
De acordo com o dicionário (HOUAISS, 2001, p. 735), clareza é “[...] 2 qualidade do
que é inteligível [...] 6 compreensão, percepção, entendimento [...]”. Se aplicarmos
tais conceitos ao texto escrito, depreendemos que clareza textual é a transmissão
compreensível do pensamento do autor por meio da escrita, que consiste na boa
estruturação das sentenças, fácil entendimento e ausência de ambiguidades.
Torna-se óbvio, portanto, que a clareza tem forte afinidade com a coerência — encadeamento lógico de ideias — e que a escrita clara demanda do autor conhecimento
do assunto e reflexão sobre o que se quer redigir. Nesse aspecto, cabe ressaltar que
o empolamento e o emprego de termos rebuscados e desconhecidos tornam o texto
obscuro e de difícil compreensão.
Com isso deixamos de estar
inseridos no centro do universo: ao ter uma nova visão cosmológica, a antiga metafísica entra em
colapso justamente com a ética aristotélica (base do comunitarismo), pois não
somente estamos fora do centro do universo, como também os conceitos aristotélicos em que o modelo ptolomaico
se baseia era (cientificamente) incorreto.
Muito nos interessa que atoa
da exegese da história, nos segue o estudo das leis, das relações jurídicas entre os membros da sociedade e dos governantes e, o conjunto
de normas que envolvem o direito público, isto é, as relações jurídicas verticais entre o Estado e os particulares.
CLAREZA, COESÃO E COERÊNCIA
FÁVERO (2009); KOCH (2012); VAL (1991)
CONCISÃO E OBJETIVIDADE
Qualquer texto possui uma hierarquia de ideias, ou seja, há ideias principais (contém
a essência da mensagem a ser transmitida) e ideias acessórias (esclarecem o sentido
das ideias principais e lhes estabelecem circunstâncias). Contudo o excesso destas
últimas faz com que o texto tenha sua credibilidade reduzida e se torne prolixo,
confuso.
Assim, a concisão consiste em obter o máximo de efeito expressivo com menor
número de palavras.
33
P RINCÍPIOS NORTEADORES
P
O transporte de tais [necessidade e adequação] conceitos
ao disciplinamento da concessão das medidas cautelares perante os
órgãos de contas trará a concretude da
eficácia do garantismo constitucional,
afastando, assim, o arbítrio de uma violência que a própria sustação desarrazoada venha causar ao jurisdicionado; isto
sob a ótica meramente cautelar, mantendo-se ilegítimas as medidas coercitivas por instrumento de mera conveniência procedimental, sem demonstração
de flagrantes vícios insanáveis advindo
do agir estatal.
Ponderar a necessidade e adequação na concessão das medidas cautelares pelos órgãos
de contas concretizará o garantismo
constitucional, afastando o arbítrio de
uma violência que a sustação desarrazoada cause ao jurisdicionado. De qualquer forma, mantêm-se ilegítimas as
medidas coercitivas por mera conveniência procedimental, sem flagrantes vícios insanáveis advindo do agir estatal.
Ser objetivo é ir diretamente ao assunto que se quer abordar, escrever sem floreios,
evitar figuras de linguagem desnecessárias. A mensagem concebida precisa ser direta
para que se atinja a finalidade proposta.
Divagações, rodeios e modismos sem uma lógica mínima, em vez de resultarem
numa redação correta e elegante, surtem efeito contrário.
Sem dúvida, podem-se evitar os termos empolados e difíceis, as construções arrevesadas, eventuais citações em outros idiomas que se afigurem desnecessárias, longos
períodos que nada significam, extensas digressões que não explicam coisa alguma.
Isso se atribui a um estilo de redação, desenvolvido pelos operadores do Direito — e
de outras ciências que lidam com linguagem — e de um jargão fossilizado, os quais
levaram a crer que tais características demonstram uma cultura superior de quem
assim fala ou escreve.
A prolixidade, excesso de palavras inúteis empregadas para exprimir
poucas ideias, deve ser evitada. A redundância e o pleonasmo vicioso,
por exemplo, empobrecem o texto e tornam enfadonha a sua leitura
(CEGALLA, 2009; BECHARA, 2001; MORENO, 2010).
COESÃO E COERÊNCIA
A coerência, conforme Koch e Travaglia (2001, p. 21),
está diretamente ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido
para o texto, ou seja, ela é o que faz com que o texto faça sentido para
34
os usuários, devendo, portanto, ser entendida como um princípio de
interpretabilidade, ligada à inteligibilidade do texto numa situação de
comunicação e à capacidade que o receptor tem para calcular o sentido deste texto.
Quanto à coesão, ela é, ao mesmo tempo, uma propriedade textual e um fator de
textualidade que possibilita a formação de um texto bem organizado. Trata-se do
mecanismo que estabelece conexão entre as diversas partes do texto, dando-lhe continuidade e fluidez.
Um texto coeso é aquele que articula as sentenças e as ideias de forma que a coerência se materialize naturalmente. Obtém-se coesão por meio de certos termos ou
expressões (conectivos textuais), cuja função é, além de formar um texto articulado,
estabelecer relações de sentido (FÁVERO, 2009; KOCH, 2012).
O emprego criterioso dos conectivos textuais se incumbe de encadear as ideias facilitando a compreensão. Assim, um texto fragmentado, com vários períodos simples
ou termos de conexão mal escolhidos deixam vagas as relações sintáticas prejudicando a interpretação correta daquilo que se pretendeu comunicar.
Todavia, na lição de Jacoby, fazendo
uma interpretação sistemática,
como a Administração é parte integrante da Administração Pública,
seria possível a extensão além da esfera de governo. Assim, um órgão
municipal poderia, atendidos os demais requisitos, servir-se da Ata de
Registro de preços federal e viceversa.
Numa interpretação sistemática da
lição de Jacoby, poder-se-ia utilizar a
ata de registro de preços além da esfera de governo, uma vez que a Administração seria parte integrante da
Administração Pública.
COESÃO, COERÊNCIA E FATORES DE TExTUALIDADE
FÁVERO (2009); HALLIDAY; HASSAN (1976); KOCH (2012); VAL (1991)
PRECISÃO
Usar cada palavra no lugar certo é muito importante, pois os vocábulos precisam
ser contextualizados, isto é, usados adequadamente nas sentenças, pois uma mesma
palavra pode apresentar diversos significados (polissemia).
Em razão da polissemia, não se pode afirmar que determinadas palavras são sinônimos perfeitos. Uma palavra, embora sinônima, muitas vezes não é a mais apropriada,
35
P RINCÍPIOS NORTEADORES
P
em determinado contexto, e a escolha criteriosa do termo a ser empregado é que vai
conferir precisão àquilo que se deseja expressar.
Assim, embora os dicionários classifiquem certas palavras como sinônimas, há de
se ter sempre em mente que uma pode carregar uma sutil diferença de significação
em relação à outra. Abdicar de tal cuidado ao redigir pode incorrer em sacrifício da
precisão.
A polissemia é também resultado de um processo mental de associação metafórica,
por exemplo, casos de significado por extensão do pensamento. Os dicionaristas
costumam registrar o verbete com essa indicação. Vê-se, no entanto, empregos esdrúxulos de uma palavra por outra, requerendo um esforço de sucessivas associações
de ideias na tentativa de compreender o que o autor quer dizer.
O novo decreto tentou solucionar
as várias celeumas que circuncidavam o tema [...].
36
O novo decreto tentou solucionar as
várias celeumas que envolviam o
tema [...].
Estilo
e
padronização
ESTILÍSTICA E A
REDAÇÃO OFICIAL
ESTILO
Quando o homem ousa criar, a obra resultante tem sua marca de expressividade,
pois cada ser humano é único: traz consigo uma história, possui traços peculiares
de personalidade, comunga de um tipo de cultura, tem um constructo intelectual
próprio.
Assim como se manifesta na música, na pintura, no teatro e na dança, a expressividade também se manifesta na arte de redigir, com o nome de estilo. Dessa forma, o
modo peculiar de o escritor expressar os seus pensamentos num texto constitui seu
estilo de redação.
Logo, cada um tem o seu próprio estilo, que deve ser respeitado; porém não pode
esquecer-se de que estilo não implica necessariamente “licença poética”, uma vez
que a redação sempre está adstrita aos limites de formalidade e erudição exigidos
tanto pelo público-alvo a que o autor se dirige quanto pelo gênero textual.
ESTILÍSTICA
MONTEIRO (2004); PUC-RIO [2000?]
POLIDEZ
A polidez revela civilidade e cortesia, sendo essencial nas redações oficial e técnicocientífica. Isso não impede de forma alguma a crítica e a discordância, mas limita a
linguagem em que são manifestadas.
Cabe chamar atenção pelo despropositado costume de empregar termos típicos de bajulação e subserviência, resquícios do período imperial.
Exemplo: “altos protestos de elevada estima e distinta consideração”;
“Exmo. Sr. Doutor Delegado de Polícia”.
CONCISÃO E ADJETIVAÇÕES
Tendo em vista a impessoalidade — um dos princípios da administração pública —,
o público-alvo da Revista do TCEMG, a concisão e a clareza textuais, deve-se empregar com cuidado: palavras/termos com funções adjetivas e/ou adverbiais; vocábulos
pouco conhecidos ou que servem apenas para demonstrar uma erudição inútil; termos em língua estrangeira desnecessários; etc.
39
E STILÍSTICA E A REDAÇÃO OFICIAL
E
Assim, recomenda-se, conforme o caso:
Evitar
Substituir por
a reboque de
atrelado a; como consequência de
a teor de [consulte A teor de]
conforme; no teor de
ab ovo
desde o início
ad argumentandum tantum
somente para argumentar
ad mesuram
conforme a medida
apelo extreme
recurso extraordinário
apostura
postura ou elegância
aresto doméstico
nossa jurisprudência
autarquia ancilar
Instituto Nacional de Previdência Social
(INSS)
bona fide
boa-fé
caderno repressor
lei ou código
clareza solar
clareza Ø; com muita clareza
colendo Tribunal
Ø Tribunal
com espeque no artigo
com base no artigo
com fincas no artigo
com base no artigo
cônjuge [ou consorte] supérstite
viúvo (a)
cônjuge sobrevivente
viúvo (a)
Constituição Cidadã
Constituição Federal
Constituição Compromisso
Constituição Estadual [MG]
corifeu
campeão
data maxima venia
data venia ou Ø
datissima venia
data venia ou Ø
despiciendo
dispensável ou desnecessário
digníssimo
Ø
diploma provisório
medida provisória
douto [desembargador; conselheiro; juiz, etc.] Ø
40
doutor [usado como vocativo]
Ø
é mister salientar
é necessário salientar; é importante salientar; é forçoso salientar
egrégio Tribunal
Ø Tribunal
ergástulo
prisão
estipêndio funcional
salário
Excelso Sodalício
Supremo Tribunal Federal
exempli gratia
por exemplo
Fiscal da Lei
Ministério Público
Guardião da Constituição
Supremo Tribunal Federal
i.e.
isto é; ou seja; em outras palavras
id est
isto é; ou seja; em outras palavras
improbus litigator
litigante desonesto
in fraudem legis
em fraude da lei
Lex Mater
Constituição Federal
Mãe das Leis
Constituição Federal
Mãe de Todas as Leis
Constituição Federal
mala fide
má-fé
mandamus
mandado de segurança
Parquet de Contas
Ministério Público de Contas
peça atrial
peça ou petição inicial
peça autoral
peça ou petição inicial
peça de arranque
peça ou petição inicial
peça de ingresso
peça ou petição inicial
peça exordial
peça ou petição inicial
peça gênese
peça ou petição inicial
peça inaugural
peça ou petição inicial
peça incoativa
peça ou petição inicial
peça introdutória
peça ou petição inicial
peça preambular
peça ou petição inicial
peça prefacial
peça ou petição inicial
peça primeva
peça ou petição inicial
peça umbilical
peça ou petição inicial
peça vestibular
peça ou petição inicial
Pretório Excelso
Supremo Tribunal Federal
remédio heroico
mandado de segurança
sublime
Ø
teratológico
monstruoso ou absurdo
vistor
perito
Writ
mandado de segurança
41
PADRONIZAÇÃO
E GRAMÁTICA
Estão relacionadas, a seguir, expressões e palavras comumente empregadas, em determinados contextos, de forma equivocada, por descuido ou desconhecimento, que
por força da repetição foram se propagando de tal forma que, para muitos, passaram
a apresentar-se como corretas. São também citados alguns termos frequentemente
usados, mas de emprego controverso, e outros cuja regência, concordância ou falta
de padronização trazem dúvidas na hora de escrever.
A + INFINITIVO
Nessa construção, a tem como preposição equivalente para, traduzindo finalidade
(CEGALLA, 2009). Exemplo: “Ensine-os a usarem o software.”
É comum também utilizar a fórmula a + infinitivo em substituição ao gerúndio.
Entretanto, essa fórmula se trata de construção típica do português lusitano (CASTILHO, 2010).
Estaremos, então, desestimuEstaremos, então, a desestilando a valorização e a reciclamular a valorização e a recigem e incentivando apenas a
clagem e a incentivar apenas a
eliminação […].
eliminação [...].
A Revista do TCEMG prefere, quando for o caso, o emprego do gerúndio ao da construção a + infinitivo.
À BAILA / À BAILHA / À BALHA
A Academia Brasileira de Letras [online], o Aurélio (2010) e o Houaiss (2001) registram baila e sua forma variante balha. Ressalte-se que o Dicionário Houaiss classifica
o verbete como antigo.
Bailha não está registrado em nenhum dos dicionários consultados. Porém, no Dicionário Houaiss (2001), “bailh-” é registrado como antepositivo de mesmo valor semântico que “bail-”. Por isso, pode-se entender que baila, bailha e balha são formas
variantes.
No Direito, é comum a expressão trazer à baila/balha/bailha, que significa vir a
propósito, vir à discussão (COSTA, 2007).
São corretas e sinônimas as grafias: baila, balha e bailha.
42
A COLAÇÃO
Trata-se de locução que significa a propósito (HOUAISS, 2001).
Exemplo: “O relator traz a colação o art. 37 da Constituição da República”.
À CUSTA DE / ÀS CUSTAS DE
De acordo com Costa (2007), a locução à custa de (no singular) significa a expensas
de, com esforço de, com sacrifício de, e às custas de, na forma plural, se refere a despesas
processuais.
Entretanto, Cegalla (2009) e Neves (2003) reconhecem o uso generalizado de às
custas de com a acepção de a expensas de. Além disso, os dicionários Houaiss (2001) e
Caldas Aulete [online] registram à custa de e às custas de como locuções sinônimas.
[...] as despesas com as denominadas “merendeiras” poderia se enquadrar no conjunto
de despesas passíveis de realização às custas da parcela
remanescente de 40% do extinto Fundef [...].
[...] as despesas com as denominadas “merendeiras” poderia se enquadrar no conjunto de despesas
passíveis de realização à custa da
parcela remanescente de 40% do
extinto Fundef [...].
À custa de e às custas de são locuções sinônimas. Exceção: quando se referir a despesas processuais, deve-se usar apenas a locução às custas de.
A DISTÂNCIA / À DISTÂNCIA
Apesar de Costa (2007) diferenciar o sentido da expressão com ou sem acento grave,
Cegalla (2009) e os principais dicionários de língua portuguesa (AULETE [online];
FERREIRA, 2010; CEGALLA, 2009; HOUAISS, 2001) afirmam ser indiferente a
semântica de educação (a) à distância, em qualquer das duas formas.
Quando a distância for especificada numericamente, tratar-se-á de caso
obrigatório de crase. Exemplo: “O município fica à distância de 10 km
da capital.”
São igualmente corretas as expressões: educação a distância e educação à distância.
43
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
A FLS. / À FL. / DE FLS. / DAS FLS. / Ø FLS.
A locução a folhas (a fls.) e suas variações provavelmente derivaram da redução de
outra: a folhas tantas, que significa em dado momento, a certa altura, em certo trecho. Então,
dizer a folhas cinquenta e oito do processo é o mesmo que a cinquenta e oito folhas do início do
processo (ALMEIDA, 1981; PIACENTINI, 2012a).
Considerando que não há ocorrência de crase nas construções a + plural, inexiste
a expressão “à fls.”
Saliente-se que as seguintes construções são perfeitamente possíveis e aceitas:
•
“a folhas” (a fls.)
•
“das folhas” (das fls.);
•
“à folha” (à fl.);
•
“em folha” (em fl.);
•
“de folha” (de fl.);
•
“em folhas” (em fls.);
•
“de folhas” (de fls.);
•
“na folha” (na fl.);
•
“da folha” (da fl.);
•
“nas folhas” (nas fls.).
Se se levar em conta que a folhas é forma reduzida da locução adverbial a folhas
tantas, conclui-se que a fls. pode ser utilizada independentemente do número de
páginas (se uma ou mais), pois é expressão invariável.
Quanto à referenciação das “folhas” entre parênteses, apesar de não haver óbices,
não há sentido em escrever a locução completa, dispensando tanto a preposição (a
ou de) quanto o artigo definido.
às fls. 23
a fls. 20
a fl. 20
às fls. 20-25
de fls. 23
de fl. 115
de fls. 702-801
(fls. 27)
(fl. 25)
(fls. 20-25)
(às fls. 25-30) (de fls. 20)
(a fl. 21)
(de fls. 20-25)
(a fls. 21)
(a fls. 25-30)
(de fl. 20)
Consulte Abreviaturas, acrônimos, unidades e siglas.
Apesar de serem corretas várias combinações entre fl. ou fls. e preposições, é necessário que haja um padrão ao longo do texto. A fim de padronizar suas publicações,
a Revista do TCEMG adotou a forma a fls. e as duas possibilidade de referenciação
entre parênteses.
44
A MANCHEIAS
Trata-se de locução que significa liberalmente. Exemplo: “Fez concessões a mancheias”.
À MEDIDA QUE / NA MEDIDA EM QUE
À medida que é uma locução adverbial proporcional equivalente a conforme, à proporção que (HOUAISS, 2001; KASPARY, 2000). Saliente-se que é caso obrigatório de
crase (contração da preposição a com o artigo a).
Na medida em que é uma locução adverbial causal equivalente a porque, uma vez
que, tendo em vista que (HOUAISS, 2001; KASPARY, 2000).
Inexistem, bem como quaisquer outros cruzamentos canhestros (COSTA, 2007),
as locuções:
•
•
à medida em que;
na medida que;
•
•
a medida que;
a medida em que.
As interpretações são Essa norma teve sua [...] na medida em
compostas
por vários
constitucionalidade
que ele usufrui mais
níveis, a medida que
se retira uma camada,
outra é revelada, muito diferente da existente embaixo dela.
questionada [...] à
medida que [...]
rompeu com a sistemática anterior vigente.
de um bem coletivo,
deverá, proporcionalmente, arcar mais
com estes custos.
As interpretações são
compostas por vários
níveis, na medida
em que se retira uma
camada, outra é revelada, muito diferente
da existente embaixo
dela.
Essa norma teve sua
constitucionalidade
questionada [...] na
medida em que [...]
rompeu com a sistemática anterior vigente.
[...] à medida que
ele usufrui mais de
um bem coletivo, deverá, proporcionalmente, arcar mais
com estes custos.
SEMÂNTICA DAS PREPOSIÇÕES
Bechara (2001); Castilho (2010); Neves (2011)
45
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
A MIM ME PARECE
A mim me parece constitui um pleonasmo COSTA, 2007; KASPARY, 2000). Para
classificá-lo como mecanismo de ênfase — hipótese em que o pleonasmo é uma figura de linguagem — ou como vício de linguagem, deve-se atentar para o contexto.
Caso recaia nesta última classificação, prefira usar parece-me ou outra expressão de
mesmo valor semântico.
PLEONASMO ENFÁTICO VERSUS PLEONASMO VICIOSO
BECHARA (2001); CEGALLA (2009); MORENO (2010)
A NÍVEL (DE) / EM NÍVEL (DE)
A locução a nível significa à mesma altura de. No entanto, em nível de equivale a no
âmbito, no que se refere, na esfera.
[...] o Conselho Nacional do Controle Interno [...] apresentasse um
anteprojeto específico para o processo do controle interno a nível
nacional.
[...] o Conselho Nacional do Controle Interno [...] apresentasse um
anteprojeto específico para o processo do controle interno em nível nacional.
Fortaleza localiza-se ao nível do
mar.
Nenhuns dos mais consultados dicionários (AULETE, [online]; FERREIRA, 2010, HOUAISS, 2001) registram a locução a nível de. Conforme Brasil (2002), a nível é modismo cujo emprego deve ser evitado
em redação oficial.
SEMÂNTICA DAS PREPOSIÇÕES
BECHARA (2001); CASTILHO (2010); NEVES (2011)
A PAR DE / AO PAR DE
A par de é locução prepositiva e significa, conforme o emprego (HOUAISS, 2001;
KASPARY, 2000):
•
•
•
46
ao lado de;
igual em qualidade ou em merecimento;
em vista de;
•
•
•
comparado com;
atendendo a;
inteirado de.
Ao par de é locução adjetiva que possui significado próprio das áreas financeira e
comercial (CEGALLA, 2009). É empregada para indicar equivalência entre moedas.
[...] o Ministério Público, [...] ao
par de poder produzir provas e
impulsionar o processo, carece de
atribuição julgadora.
As moedas fortes mantêm o câmbio praticamente ao par.
[...] o Ministério Público, [...] a par
de poder produzir provas e impulsionar o processo, carece de atribuição julgadora.
A PARTIR DE
Alguns adeptos da gramática normativa afirmam que a partir de deve ser empregado apenas com a significação de deste ponto em diante, deste momento em diante (KASPARY, 2000). Eles argumentam que a locução a partir de tem como base o verbo
partir, sinônimo de iniciar, começar. Concluem que, como o verbo partir indica início
de ação, a expressão a partir de (equivalente a a começar de) apresentaria aspecto incoativo (de início).
Com o mesmo argumento, o Manual de Redação da Presidência da República (BRASIL,
2002, p. 71) limita o emprego desta locução em redações oficiais.
a partir de
A partir de deve ser empregado preferencialmente no sentido temporal: A cobrança do imposto entra em vigor a partir do início do
próximo ano. Evite repeti-la com o sentido de ‘com base em’, preferindo considerando, tomando-se por base, fundando-se em, baseando-se em.
(grifos originais)
Contudo, há abordagem pela gramática funcional-cognitiva que autoriza o emprego de a partir de como sinônimo de com base em; tomando-se por base; baseando-se em;
valendo-se de: considerar que é a partir de uma base (fundamento) de ideias que se
desenvolvem outras. Assim, a locução em apreço poderia assumir valor metafórico
com a significação de baseado em.
Ratifica a possibilidade desta acepção o iDicionário Caldas Aulete [online]:
A partir de
[...]
47
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
2. Com base em (informação, argumento, suposição, raciocínio mencionados ou aludidos); como consequência de (algo que foi mencionado ou aludido): A partir dos novos dados obtidos, poderemos completar a
análise. (grifos originais)
Considerando que a maioria dos dicionaristas não registram essa acepção para a
locução a partir de e que há certa resistência para reconhecer o processo de semanticização ora suscitado, deve-se preferir, em redação oficial, o emprego de a partir
de apenas com o sentido de deste ponto em diante; deste momento em diante.
[...] mas se transformou no principal responsável pela metamorfose
do endividamento estadual a partir do ano seguinte [...].
[...] a partir de uma interpretação sistemática das normas
constitucionais e legais afetas à
matéria, concluo que [...].
[...] surge a teoria do socialismo,
dominante a partir do século
XIX.
[...] com base numa interpretação sistemática das normas
constitucionais e legais afetas à
matéria, concluo que [...].
Em redação não oficial, nada obsta ao emprego de a partir de com a acepção de
baseado em, com base em.
A POSTERIORI / A PRIORI
A posteriori aplica-se ao raciocínio que se respalda nos fatos, remonta-se do efeito
à causa. É, portanto, uma conclusão indutiva (COSTA, 2007; KASPARY, 2000).
Designa um qualificativo do conhecimento: conhecemos algo a posteriori quando o
conhecemos recorrendo à experiência. É locução latina que significa pelos efeitos, pela
existência ou pela natureza dos efeitos (que são posteriores).
A priori indica o ato de discorrer independentemente dos fatos, partindo da causa
para o efeito. A priori é, pois, o argumento dedutivo, que parte do geral para o
particular. Conhecemos algo a priori quando o conhecemos sem necessidade de recorrer à experiência. Significa pela causa, pela existência ou pela natureza da causa
(que é anterior) (CHAUÍ, 2010; COSTA, 2007; DICIONÁRIOS EDITORA, 2001;
KASPARY, 2000).
48
Dessa forma, é inapropriado o emprego dessas expressões como meros sinônimos
de depois, posteriormente, preliminarmente, antes de.
Os documentos foram juntados a
posteriori.
Os documentos foram juntados
posteriormente.
Os advogados a priori constituídos não compareceram à sessão [...]
A priori, toda licitação segue a Lei
n. 8.666/93.
A priori e a posteriori, por serem expressões latinas com conceitos próprios da Filosofia (BUNGE, 1998), devem ser evitadas quando apresentarem sentido diverso dos
adotados por aquela ciência.
A PRINCÍPIO / EM PRINCÍPIO
A locução a princípio — formada pela preposição a (expressa dinamicidade e movimento) + princípio (lat. principium, “começo”) —, por se aproximar da ideia de começar de um ponto no tempo, se consagrou pelo uso com o significado de no início,
no começo. Já em princípio é expressão mais erudita, que significa em tese (FERREIRA, 2010; COSTA, 2007; HOUAISS, 2001; KASPARY, 2000; MORENO, 2009).
[...] o objeto não pode, a princípio, ser licitado, uma vez que se
trata de funções privativas de cargos de carreira [...].
[...] o objeto não pode, em princípio, ser licitado, uma vez que se
trata de funções privativas de cargos de carreira [...].
Apesar de o edital não estabelecer
concretamente qual seria o número de linhas de ônibus [...], a princípio, foram traçados parâmetros
que servirão de balizamento [...].
SEMÂNTICA DAS PREPOSIÇÕES
BECHARA (2001); CASTILHO (2010); NEVES (2011)
A TEOR DE
Trata-se de locução condenada por normativistas (COSTA, 2007), pois não está registrada em dicionários nem em gramáticas de renome e ser provável estrangeirismo
sintático da expressão espanhola “a tenor de”.
Ora, a mera ausência de registros não implica erro gramatical. A expressão deve ser
analisada à luz de uma análise semântica que a justifique ou a “condene”. Quanto à
alegação de estrangeirismo sintático, basta fazer os devidos ajustes para a sintaxe do
português brasileiro.
49
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
Conforme o registro de “teor” no Dicionário Aurélio (FERREIRA, 2010):
teor (ô) [Do lat. tenore, ‘andamento contínuo’; ‘disposição’; ‘teor’.]
S.m. 1. Texto ou conteúdo de uma escrita [...] 2. Fig. Norma, sistema,
regra [...] 3. Fig. Modo, maneira, gênero, qualidade. 4. Proporção, em
um todo, de uma substância determinada. (grifos originais)
Após consulta no Diccionario de la lengua española (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA,
[online])1, observa-se que o étimo de tenor é o mesmo de teor. Por que não poderia
integrar, mutatis mutandi, locução semelhante em português?
Na maioria dos textos jurídicos, teor, na expressão a teor de, tem a acepção n. 1
(texto ou conteúdo de uma escrita): “A teor do art. 5º, caput, da CF/88, os direitos
e garantias fundamentais são estendidos a toda pessoa natural.”
A alegação de estrangeirismo sintático procede, pois em a teor de, emprega-se a
preposição a em vez da preposição em para expressar sentido locativo (BECHARA,
2001; CUNHA; CINTRA, 2001; NEVES, 2011). Assim, a expressão mais apropriada na língua portuguesa seria no teor de.
De qualquer forma, a teor de não é locução conjuntiva conformativa. Logo, o seu
emprego com esse significado não tem respaldo, como alegam os normativistas, no
texto culto escrito.
O processo foi arquivado a teor
do art. 36 do Regimento Interno.
O processo foi arquivado nos termos do art. 36 do Regimento Interno.
O processo foi arquivado em conformidade com o art. 36 do Regimento Interno.
A teor do art. 5º, caput, da CF/88,
os direitos e garantias fundamentais são estendidos a toda pessoa
natural.
No teor do art. 5º, caput, da CF/88,
os direitos e garantias fundamentais são estendidos a toda pessoa
natural.
A teor de e no teor de não são locuções conjuntivas conformativas.
Por isso, não tem o mesmo significado de conforme.
A teor de é estrangeirismo sintático não reconhecido pelo português brasileiro. Porém é possível a construção no teor de.
1
50
“tenor
(Del lat. tenor, -ōris, de tenēre, tener).
[...]
a ~ de, o al ~ de.
1. locs. prepos. Según, conforme a.” (grifos originais)
ABAIxO ASSINADO / ABAIxO-ASSINADO
Abaixo-assinado é substantivo composto e significa “documento coletivo, de caráter público ou restrito, que torna manifesta a opinião de grupo e/ou comunidade, ou
representa os interesses do que o assinam” (HOUAISS, 2001, p. 6). A forma plural
de abaixo-assinado é abaixo-assinados, inadmitindo-se flexão para o feminino
(KASPARY, 2000).
Abaixo assinado (sem hífen) é um sintagma composto por abaixo (advérbio) e
assinado (particípio de assinar, com função adjetiva). Esse sintagma faz referência
à pessoa signatária de um documento e, por ser um adjetivo, assinado flexiona em
número e gênero.
Os abaixo assinados que pediam
a não demolição do parque foram
entregues ao prefeito.
Os abaixo-assinados que pediam
a não demolição do parque foram
entregues ao prefeito.
Nesta procuração, o advogado representa as pessoas abaixo-assinadas.
Nesta procuração, o advogado representa as pessoas abaixo assinadas.
Os vereadores fizeram um abaixo-assinado para que o Executivo
tomasse uma providência.
ABORDAR
A maior parte dos normativistas criticam o uso do verbo abordar como sinônimo
de surpreender alguém, tratar de um assunto ou explanar uma questão, considerando-o um
galicismo.
Porém dicionários de língua portuguesa (AULETE, [online]; HOUAISS, 2001) já registram essas acepções de abordar, ficando evidente o processo de lexicalização e
semanticização do verbo (CEGALLA, 2009; FERNANDES, 2005b; LUFT, 1995;
NEVES, 2003).
Ao abordar o tema [...], destacou a importância do fortalecimento [...] dos órgãos de controle [...].
O presente artigo visa abordar, sucintamente, o instituto
da adesão à ata de registro de
preços [...].
51
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
ABREVIATURAS, ACRÔNIMOS, UNIDADES E SIGLAS
Conforme o iDicionário Caldas Aulete [online], sigla é um “conjunto das letras iniciais
de uma denominação composta de duas ou mais palavras, formando ou não uma
palavra”.
Quando uma sigla for apresentada pela primeira vez no texto, deve estar entre parênteses e ser precedida do nome por extenso (FRANÇA; VASCONCELLOS, 2007).
Entretanto, para serem evitados problemas na tradução de títulos e resumos de trabalhos, recomenda-se que nestes não se empreguem abreviaturas e siglas.
TCEMG (Tribunal de Contas do
Estado Minas Gerais)
Tribunal de Contas do Estado Minas Gerais (TCEMG)
Caso possua mais de três letras e forme palavra (Unicef, Banerj, Unesco, etc.), a sigla
se trata de um acrônimo, e este deve ser grafado apenas com a inicial maiúscula. No
caso de ter menos de três letras, silabável ou não, a sigla deve ser grafada apenas
com maiúsculas (COSTA, 2005; MINAS GERAIS, 2007). Em qualquer caso, é dispensável o uso de ponto em siglas (MEC ou M.E.C.; DOC ou D.O.C.) (DAMIÃO;
HENRIQUES, 2010; COSTA, 2007).
Alguns revisores de texto e cientistas da linguagem se insurgem contra a pluralização de siglas com o acréscimo de “s” ao final. Porém não há nenhum sentido
em condenar tal construção. Ora, se a criação de siglas é reconhecida como um dos
processos de formação de palavras (BECHARA, 2001; CUNHA; CINTRA, 2001)
— tornando-se palavras primitivas e, portanto, passíveis de derivação: PT petista;
PSDB peessedebista —, não há lógica em argumentar que se deva escrever “as
ONG” em vez de “as ONGs”.
os TC
os TCs
as AF
as AFs
as NF
as NFs
Quanto às abreviaturas, a princípio, é necessário definir que são representações de
palavras por uma ou algumas letras, admitindo flexão. Preferencialmente, as abreviaturas devem terminar numa consoante (COSTA, 2012): geografia (geog., e não geo.);
página (p. ou pág., e não pag. ou pági.; etc.).
Não assiste razão àqueles que afirmam ser a pluralização de abreviaturas vedada
pelas normas da ABNT. A NBR 6032 é a única que trata de abreviaturas, e suas
regras normalizam apenas a abreviação de títulos de periódicos e publicações
seriadas. Ou seja, suas regras não atingem o conteúdo de artigos e trabalhos mo-
52
nográficos — exceto quando abreviam títulos de periódicos e publicações seriadas.
Além disso, não há menção alguma, nas demais NBRs, à aplicação subsidiária da
NBR 6032. Assim, quem afirma, com base nas normas da ABNT, ser incorreto fazer
plural de abreviaturas está enganado ou está enganando.
os art.
os arts.
as col.
as cols.
os cap.
os caps.
Sobre as unidades de medida, o Sistema Internacional de Unidades (2012, p. 43)
estabelece que:
Os símbolos das unidades são entidades matemáticas e não abreviações. Então, não devem ser seguidos de ponto, exceto se estiverem
localizados no final da frase. [Além disso, deve haver espaço entre o
valor numérico e a unidade]. Os símbolos não variam no plural e
não se misturam símbolos com nomes de unidades numa mesma expressão, pois os nomes não são entidades matemáticas. (grifo nosso)
90km
90 kms
90 km
10 km por hora
10 km/h
10 km h-1
Entre o valor numérico e o símbolo de unidade deve haver espaço.
Se a palavra abreviada vier em final de período, este não receberá outro
ponto.
O apóstrofo (‘) em língua portuguesa é utilizado apenas para marcar
contrações (caixa d’água, por exemplo). Por isso não deve ser utilizado
para sinalizar o plural de abreviaturas ou siglas (CDs, e não CD’s)
Consulte A fls./à fl./de fls./das fls./fls.
Consulte Horas.
Abreviatura: preferencialmente deve ser parte da palavra e terminar em consoante
(exceção das já consagradas, como dr. e sr.); é pluralizável.
Acrônimo: trata-se de sigla silabável com mais de três letras; grafa-se com letra maiúscula apenas a inicial; é pluralizável.
Sigla propriamente dita: formada por três ou menos letras ou por mais de três letras
sem formar sílabas; é pluralizável; grafa-se apenas com letras maiúsculas; dispensável
o uso de ponto.
Unidade: não é seguida de ponto; não pluralizável.
53
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
ACERCA DE / HÁ / HÁ CERCA DE
Acerca de significa sobre, a respeito de.
Numa abordagem aparentemente cognitiva, Caldas Aulete (apud ALMEIDA, 1981)
diferencia tratar sobre de tratar acerca de, afirmando que este quer dizer tratar um assunto
a fundo e aquele, tratar sem entrar em desenvolvimentos. Exemplos (ALMEIDA, 1981, grifo nosso): “Falaram sobre você” (citaram-lhe o nome, você foi lembrado). “Falaram
acerca de você” (trataram de você).
Há cerca de é expressão sinônima de há aproximadamente. Exemplo: “Há cerca de
23 anos editou-se nova Constituição no Brasil.”
Há, referindo-se a tempo decorrido, fica sempre no singular. É dispensável qualquer
outra palavra que indique tempo passado.
Há cinco anos atrás [...]. (redundância)
Há cinco anos [...].
ADEMAIS / DE MAIS / DE MAIS A MAIS / DEMAIS
Ademais e de mais a mais são sinônimos e significam além disso, além do mais, ainda
por cima.
Já de mais é locução que se opõe a de menos, referindo-se sempre a um substantivo ou pronome.
Por último, demais pode ser: advérbio e pronome indefinido plural. Como advérbio, expressa intensidade — “escreveu demais” (muito) — e, de forma pouco usual,
pode ser sinônimo de ademais, além disso (AULETE [online]; HOUAISS, 2001). Como
pronome indefinido plural, refere-se a os outros, os restantes: “os demais advogados
atrasaram.”
ADENTRAR O / NO
É praticamente unânime (ALMEIDA, 1981; AULETE [online]; FERREIRA, 2010;
HOUAISS, 2001; LUFT, 1995) a possibilidade de adentrar ser tanto transitivo direto (adentrar algo) quanto transitivo indireto (adentrar em algo).
[...] adentrar Øo mérito.
54
[...] adentrar no mérito.
ADERIR
Aderir é verbo transitivo indireto ou intransitivo quando significa colar, grudar, ser
aderente (LUFT, 1995). Exemplo: “Essa substância adere ao papel.”
Ainda conforme Luft (1995), na acepção de assentir, dar adesão, aderir é sempre transitivo indireto (aderir a); no sentido de ligar-se, unir-se, tornar-se adepto (de partido,
seita, etc.), é transitivo indireto pronominal (aderir-se a). Exemplos: “Poucos adeririam à greve.” “O prefeito se aderiu ao partido para concorrer às eleições.”
Ressalte-se que a conjugação do verbo aderir no presente do indicativo (1ª pessoa
do singular) é eu adiro.
Consulte Regência e transitividade.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
José Cretella Júnior (apud MAFRA FILHO, 2005) afirma que administração (grafada com inicial minúscula), tanto no direito privado quanto no direito público, referese à atividade vinculada a um fim alheio à pessoa e aos interesses particulares do
agente ou do órgão que a exercita.
O prefeito deve ficar atento aos
princípios da Administração Pública.
O prefeito deve ficar atento aos
princípios da administração pública.
Conforme Francisco de Salles Almeida Mafra Filho (2005, [online]), Administração
(grafada com inicial maiúscula) refere-se não somente ao governo ou ao Poder Executivo, “mas também à própria máquina administrativa, o pessoal que a faz funcionar, e a sua própria atividade que possibilita ao Estado o cumprimento de seus fins”.
Os contratos em que a administração pública foi parte signatária
foram anulados.
Os contratos em que a Administração Pública foi parte signatária
foram anulados.
A licitação realizada pela Administração Pública foi impugnada.
55
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
ADVÉRBIOS TERMINADOS EM –MENTE
É muito comum, principalmente no meio jurídico, o uso de vírgulas intercalando os
advérbios terminados em “–mente”. Contudo não se trata de caso obrigatório de
emprego de vírgulas. Piacentini (2009) chega a afirmar que a vírgula, neste caso, deve
ser utilizada apenas quando se quiser dar ênfase especial ao advérbio.
Além disso, recomenda-se que em períodos já marcados com muitas vírgulas seja
evitado este sinal de pontuação, quando facultativo, a fim de não gerar “poluição
visual” no texto, dificuldade de interpretação e ambiguidades.
Outra questão que gera dúvidas no uso de advérbios terminados em “–mente” é
como escrevê-los em sucessão. Nesse caso, é consenso entre os estudiosos da língua
a possibilidade de suprimir o sufixo “–mente”, mantendo-o apenas no último elemento (COSTA, 2007; KASPARY, 2000; MORENO, 2012; SACCONI, 2008). Porém nada impede que se repita o sufixo como recurso de ênfase. De qualquer forma,
recomenda-se o bom senso para que a ênfase não se transforme em mera ecoação.
[...] o que Ø evidentemente, representa uma perda [...].
[...] o que Ø evidentemente Ø representa uma perda [...].
[...] o que, evidentemente Ø representa uma perda [...].
[...] contrataram a empresa rápida e silenciosamente.
[...] o que, evidentemente, representa uma perda [...].
[...] contrataram a empresa rapidamente e silenciosamente.
ALUDIR
O verbo aludir é transitivo indireto e, como tal, de acordo com a gramática prescritiva, não admite construção na voz passiva. Todavia, na linguagem jurídica, é bastante
usada a construção passiva, e esse uso encontra apoio de reconhecidos estudiosos
como Napoleão Mendes de Almeida, Vitório Bergo e outros (ALMEIDA, 1981 apud
COSTA, 2007; BERGO, 1944 apud COSTA, 2007).
Apesar de concordar com a possibilidade de apassivamento de alguns verbos transitivos indiretos, Kaspary (2010, p. 328-330) recomenda evitá-lo, pois “[...] a linguagem
jurídica está inserida na zona da língua culta, sendo, portanto, mais formalizada [...]”.
56
Um processo antigo foi aludido
pelo interessado [...].
O interessado aludiu a um processo antigo [...].
Sugere-se, pois, a substituição do verbo aludir por outro de sentido equivalente
quando se desejar a construção na voz passiva, evitando-se, dessa forma, a dúvida
quanto à correção sintática.
Entretanto não há óbices ao emprego da forma aludido (e flexões) como sinônimos
de equivalente, referido, citado. Nesse caso, apresenta-se como um adjetivo acompanhando um substantivo com o qual concorda em gênero e número.
As aludidas consultas foram objeto do parecer da lavra do conselheiro.
Ainda vale destacar que “é impróprio o emprego do verbo aludir nas acepções de
‘alegar, dizer, ensinar’ e assemelhados.” (KASPARY, 2010, p. 50, grifo original).
Consulte Regência e transitividade.
Aludir é verbo transitivo indireto e, portanto, não admite voz passiva. Porém nada
impede o uso de aludido como adjetivo, que significa equivalente, referido, citado.
AMBIGUIDADE
Anfibologia ou ambiguidade é a possibilidade de uma mensagem ter dois ou mais
sentidos. Trata-se de um erro grave e, na maioria das vezes, acontece por falta de
atenção e/ou de releitura do texto.
Principais mecanismos geradores de ambiguidade
Pontuação incorreta
Embora 227 milhões de pessoas tenham conseguido sair das favelas,
desde 2000, elas abrigam ainda 827,6 milhões de habitantes em todo
mundo. (ambíguo)
Embora 227 milhões de pessoas tenham conseguido sair das favelas Ø
desde 2000, elas abrigam ainda 827,6 milhões de habitantes em todo
mundo. (adequado)
Má colocação do adjunto adverbial
Juízes honestos que recebem propostas de propina frequentemente
são mais propensos à depressão. (ambíguo)
Juízes honestos que frequentemente recebem propostas de propina Ø
são mais propensos à depressão. (adequado)
57
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
Uso incorreto ou má colocação de pronome
O réu usou indevidamente o orçamento da saúde pública Ø que já
estava em défice. (ambíguo)
O réu usou indevidamente o orçamento da saúde pública, a qual já
estava em défice. (adequado)
A oficial de justiça não encontrou o intimado em sua casa. (ambíguo)
A oficial de justiça não encontrou o intimado em sua casa dele. (adequado)
A oficial de justiça não encontrou o intimado na Ø casa dele. (adequado)
O governo não assumirá a responsabilidade pelos dados incorretos
fornecidos pelos declarantes à Receita Federal e ainda pelas consequências desastrosas que esses trarão. (ambíguo)
O governo não assumirá a responsabilidade pelos dados incorretos
fornecidos pelos declarantes à Receita Federal e ainda pelas consequências desastrosas que essas informações trarão. (adequado)
Dupla acepção de vocábulos
O TCE considerou irregular a compra da coroa Ø pela prefeitura.
(ambíguo)
O TCE considerou irregular a compra da coroa de flores pela prefeitura. (adequado)
Ambos
O pronome ambos significa os dois ou um e outro (AULETE, [online]). Portanto, são
pleonásticas as expressões como ambos os dois, ambos de dois, ambos a dois.
Luiz Antonio Sacconi (1994, p. 157, grifo original) afirma que “ambos os dois é
locução pleonástica absolutamente correta, assim como ambos de dois, desde que
usadas com discrição.”
Da mesma forma, José Maria da Costa (2007, p. 100), após analisar o que dizem
diversos gramáticos, conclui sobre ambos os dois e ambos de dois:
Para sintetizar, quer por seu caráter enfático, que nem sempre faz parte da expressão moderna, quer pela normal ausência de um polimento estilístico maior de grande parte dos textos de nossos dias, ainda
que elaborados sob a orientação da norma culta, há de se cuidar para
58
que, no emprego da referida expressão, sem dúvida permitido pela
Gramática, não incida o usuário no pedantismo, quando não no pernosticismo, e proceda a seu emprego com parcimônia. (grifo nosso)
Contudo, o Manual de Redação da Presidência da República (BRASIL, 2002) recomenda
que, quando quiser imprimir ênfase de dualidade, evite ambos os dois e empregue
todos os dois. Portanto, em redação oficial, evite a locução.
Não se verificam diferenças
Ambos os dois conselheiros
entre ambos os dois conceise ausentaram.
tos.
Todos os dois conselheiros se
Não se verificam diferenças
ausentaram.
entre ambos os Ø conceitos.
O substantivo que se segue à expressão “ambos” deve vir antecedido
do artigo definido.
Ambas Ø notificações chegaram à
residência do prefeito.
Ambas as notificações chegaram
à residência do prefeito.
Nada impede que, sem abusos, ambos os dois seja utilizado como pleonasmo enfático. Contudo, em redação oficial, a construção não deve ser usada.
ANExO / EM ANExO
O adjetivo anexo concorda em gênero e número com o substantivo ao qual se refere
(COSTA, 2007). As palavras junto, apenso e incluso são seus sinônimos. Caso as empregue, faça também as concordâncias de gênero e número.
Conforme Celso Luft (1992) e Francisco Fernandes (1948), a regência do adjetivo
anexo sobre o seu complemento se dá por meio da preposição a.
A locução adverbial em anexo é invariável. Caso esteja intercalada, o uso de vírgulas
é facultativo (PIACENTINI, 2009).
Encaminho anexo as minutas.
Encaminho anexas as minutas.
Encaminho Ø em anexo, as minu tas.
Encaminho Ø em anexo Ø as minutas.
Encaminho, em anexo, as minutas.
As minutas estão em anexo.
Encaminho, em anexo Ø as minu tas.
59
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
ANO-CALENDÁRIO / ANOS-CALENDÁRIO (PLURAL)
Consulte Multa-sanção.
AO QUE SEI
Provavelmente trata-se de expressão traduzida literalmente da língua inglesa (to my
knowledge1). Por esse motivo, alguns a consideram estrangeirismo sintático.
Estudando a semântica das preposições do português brasileiro, conclui-se que a
preposição mais adequada para compor a expressão é por (pelo que sei) (COSTA,
2007). Exemplo: “Pelo que sei, as normas só entrarão em vigor a partir do próximo
ano.”
Consulte A teor de.
APENAR E PENALIZAR
Costa (2007) distingue os dois verbos argumentando que penalizar significa causar
pena, ter dó, ter piedade e apenar, condenar ao castigo, aplicar pena.
Apesar da diferença de significados, há divergência entre os gramáticos Domingos
Paschoal Cegalla (2009) e Celso Pedro Luft (1995) quanto a essa questão. O primeiro
considera o emprego de penalizar na acepção de impor penalidade um neologismo
dispensável, e o segundo defende o emprego indistintamente de penalizar ou apenar. Corroboram o entendimento de Celso Luft: Aulete [online], Ferreira (2010) e
Houaiss (2001).
Em nosso entendimento não
se pode penalizar aquele que,
no exercício de suas funções,
autorizou pagamento por serviços aparentemente legítimos
[...].
Em nosso entendimento não se
pode apenar aquele que, no exercício de suas funções, autorizou pagamento por serviços aparentemente
legítimos [...].
Consulte Regência e transitividade.
A Revista do TCEMG considera apenar e penalizar, com a acepção de impor penalidade,
verbos sinônimos.
1
60
Conforme definição do Oxford for Advanced Learners’ Dictionary (TURNBULL, 2010):
“ to your knowledge
from the information you have, although you may not know everything
• Are they divorced?’ ‘Not to my knowledge.’
• She never, to my knowledge, considered resigning.”
APOR / OPOR VETO
Opor veto é verbo-suporte que tem a acepção de vetar. Apor significa acrescentar,
juntar, justapor.
Dessa forma, o veto nunca não é aposto, e sim oposto; assinaturas são apostas, e
não opostas (KASPARY, 2010).
[...] o Governador apôs veto ao
projeto
de lei.
[...] o Governador opôs veto ao
projeto de lei.
Para que houvesse a destituição do
cargo, faltava a aposição de uma assinatura.
APOSENTAR-SE
Aposentar, no sentido de conceder aposentadoria, reformar, jubilar, é verbo transitivo
direto (FERNANDES, 2005; LUFT, 1995). Exemplo: “O prefeito aposentou o servidor por invalidez”.
Aposentar-se (pronominal) significa conseguir aposentadoria ou reforma, jubilar-se. Como
pronominal tem ainda o significado de tomar aposentos, hospedar-se (FERNANDES,
2005; LUFT, 1995). Exemplos: “Foi ministro do STF de 2002 a 2012, quando se
aposentou”. “A ministra desembarcou em Belo Horizonte, indo aposentar-se na
casa de amigos”.
Consulte Regência e transitividade.
ARTIGO CIENTÍFICO E ARTIGO ORIGINAL (ESTRUTURA)
Resumo
Conforme a NBR 6028, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o
resumo deve: resumir efetivamente cada uma das partes essenciais do artigo (introdução, objetivos, metodologia, fundamentação, conclusão); ser escrito em voz ativa,
na terceira pessoa do singular, de forma concisa e sem enumeração de tópicos; evitar
símbolos e contrações; ter entre 100 e 250 palavras.
Este artigo, de natureza teórica e qualitativa, tem por objetivo analisar
oResumo:
direito à participação dos segurados nos conselhos gestores de seus regimes
previdenciários, especificamente nos conselhos de administração dos Regimes
Próprios de Previdência Social (RPPS), que protegem os funcionários públicos,
tendo como parâmetro a experiência dos estados brasileiros [apresenta os
61
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
objetivos]. Como referencial teórico, utilizou-se [impropriedade: uso de voz
passiva] a problemática apontada pela literatura concernente à representação e
participação social nos conselhos gestores de políticas públicas no Brasil. Primeiro, foi analisada [impropriedade: uso de voz passiva] a literatura que
trata das origens dos conselhos e das virtuosidades e objeções no seu funcionamento [apresenta a introdução]. Em seguida, recuperou-se [impropriedade: uso de voz passiva] a evolução do papel dos trabalhadores nos conselhos
gestores da Previdência Social Brasileira. Após, com base na citada problemática, o artigo comparou a legislação dos conselhos gestores dos RPPSs estaduais
tendo como parâmetros a natureza das atribuições, composição, forma de provimento dos membros, duração do mandato, retribuição pelo exercício da função e exigência de capacitação. Os resultados demonstram que a experiência
democrática na gestão dos RPPSs estaduais é dispersa [apresenta os resultados]. Os resultados demostram também que o marco regulatório dos RPPSs,
apesar de denso, é limitado no que se refere aos aspectos de representação e
participação dos servidores nos órgãos gestores, limitando-se a prescrever a
necessidade de se garantir a representação dos segurados nos espaços em que
seus interesses sejam objeto de discussão, não promovendo nenhuma espécie
de regulação sobre o funcionamento desses conselhos. Como conclusão, verifica-se que a gestão democrática dos RPPSs estaduais ainda se encontra num estágio inicial e que, portanto, necessita de avanços [apresenta a conclusão].
Resumo: Este artigo, de natureza teórica e qualitativa, tem por objetivo analisar
o direito à participação dos segurados nos conselhos gestores de seus regimes
previdenciários, especificamente nos conselhos de administração dos Regimes
Próprios de Previdência Social (RPPSs), que protegem os funcionários públicos, tendo como parâmetro a experiência dos estados brasileiros. O referencial
teórico é a problemática apontada pela literatura concernente à representação
e participação social nos conselhos gestores de políticas públicas no Brasil.
Primeiro, há a análise da literatura que trata das origens dos conselhos e das
virtuosidades e objeções no seu funcionamento. Em seguida, o artigo recupera a evolução do papel dos trabalhadores nos conselhos gestores da Previdência Social brasileira. Após, com base na citada problemática, o paper compara a
legislação dos conselhos gestores dos RPPSs estaduais tendo como parâmetros
a natureza das atribuições, composição, forma de provimento dos membros, duração do mandato, retribuição pelo exercício da função e exigência de capacitação. Os resultados demonstram que a experiência democrática na gestão dos
RPPSs estaduais é dispersa. Demonstram também que o marco regulatório dos
RPPSs, apesar de denso, é limitado no que se refere aos aspectos de representação e participação dos servidores nos órgãos gestores, restringindo-se a prescrever a necessidade de garantir a representação dos segurados nos espaços em
62
que seus interesses sejam objeto de discussão, não promovendo nenhuma
espécie de regulação sobre o funcionamento desses conselhos. O trabalho conclui que a gestão democrática dos RPPSs estaduais ainda se encontra num estágio inicial, necessitando de avanços.
Resumo em língua estrangeira
O resumo em língua estrangeira deve ser o mais fidedigno possível ao resumo em
língua portuguesa e estar acorde, no que couber, com a NBR 6028.
Elementos textuais
Para fins de contagem de caracteres, páginas, etc. do texto encaminhado para publicação, consideram-se apenas os elementos textuais definidos pela NBR 6022 (introdução, desenvolvimento e conclusão). Em outras palavras, não devem entrar nesses
cálculos: os elementos pré-textuais (título e subtítulo; nome(s) do(s) autor(es); resumo e palavras-chave na língua do texto) e pós-textuais (resumo e palavras-chave em
língua estrangeira; nota(s) explicativa(s); referências; apêndices; anexos).
Citações
As citações devem ser normalizadas conforme a NBR 10520.
A Revista do TCEMG convencionou que, em revisão de textos, as citações devem ser
corrigidas pelos editores apenas em casos de erros ortográficos e gramaticais graves
— sem o uso do sic. Mesmo nessas situações, o princípio da mínima interferência do
revisor deve prevalecer sobre a norma-padrão quando a correção implicar grandes
mudanças ou reestruturação do texto citado.
Referências
As referências devem ser redigidas conforme a NBR 6023 e os principais manuais
exegéticos e complementares dessa norma.
NORMALIZAÇÃO DE TExTOS
FRANÇA; VASCONCELLOS (2007)
ARTIGOS DEFINIDOS (A, AS, O, OS)
Consoante Cegalla (2009), é incorreto o uso de artigo nas seguintes construções:
• nomes de parentesco precedidos de pronome possessivo;
• formas de tratamento;
• substantivos precedidos do pronome relativo cujo.
63
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
V. Exa. está impedido, porque a sua
mãe
era a prefeita.
V. Exa. está impedido, porque Ø
sua mãe era a prefeita.
A S. Exa. está enganado.
Ø S. Exa. está enganado.
O processo cuja a tramitação está
parada
[...].
O processo cuja Ø tramitação está
parada [...].
ASPAS
As aspas, sejam dobradas (“ ”) sejam simples (‘ ’), são os sinais usados normalmente
para abrir e fechar citações. Quando se trata de uma citação de três ou menos linhas,
ela não é recuada e recebe aspas dobradas; caso possua mais de três linhas, deve ser
recuada 3,5 cm da margem esquerda da página, não é marcada com aspas, e o tamanho da fonte deve ser menor que o empregado no texto não recuado.
Nesta linha de entendimento, vale enfatizar a preocupação de Borges de Carvalho (2003, p. 206):
[...] há de ser feita a pergunta: quem se responsabiliza pela execução do
título executivo, na hipótese de inadimplência do devedor? O Município. Ora, torna-se muito provável, então, que fixada multa pelo TCM
ao Administrador, seja ele o próprio responsável — enquanto chefe
do Executivo municipal — pela exigibilidade da mesma em Juízo.
[...] estão submetidos a “deficiências em termos de conhecimento de todas as
alternativas, incerteza acerca de eventos exógenos relevantes e incapacidade de
calcular consequências” (SIMON apud PONDÉ, 1994, p. 21).
Caso o texto citado já tenha aspas em seu interior — hipótese “.... ‘....’ ...” ou citação
recuada sem aspas + ‘...’ (no interior no texto) —, estas devem ser convertidas em
aspas simples, independentemente de haver ou não recuo do texto citado.
Merece destaque, também, a seguinte definição de Marçal Justen Filho (2008):
[...] a prática conhecida como ‘carona’ consiste na utilização por um
órgão administrativo do sistema de registro de preço alheio. Como
se sabe, o registro de preços é implantado mediante uma licitação,
promovida no âmbito de um ou mais órgãos administrativos. Essa
licitação é modelada de acordo com as necessidades dos órgãos que
participam do sistema.
Segundo Avritzer e Pereira (2005, p. 4), isso “[...] preconiza um novo agir político, ‘uma partilha renovada de decisões e poderes institucionais’ [...]”.
64
Também se usam aspas para destacar palavras ou termos ainda não absorvidos pelo
idioma, nos termos empregados no sentido figurado ou fora do contexto habitual e
para sinalizar ironia. Exemplo: “As ilegalidades são muitas. Jamais vi um edital que
estivesse tão ‘regular’ quanto esse.”
Quanto à colocação de pontuação antes ou depois de fechar aspas, entende-se que,
se o sinal de pontuação faz parte da citação, deve ficar dentro das aspas; caso seja
colocado pelo autor, deve ficar depois das aspas.
ASSIM
Assim é usualmente empregado após a apresentação de alguma situação ou proposta para ligá-la à ideia seguinte.
Nesse caso, é um termo de coesão e, portanto, constitui recurso para articulação
de parágrafos. Alterne, conforme o caso, com: dessa forma; desse modo; diante do
exposto; diante disso; em face disso; consequentemente; portanto; por conseguinte;
assim sendo; em consequência; em vista disso.
ASSIM COMO / BEM COMO / BEM ASSIM
Assim como, bem como e bem assim equivalem a igualmente, como também, da mesma
forma (ALMEIDA, 1981; AULETE, [online]; CEGALLA, 2009).
Ressalte-se que Brasil (2002) recomenda evitar o uso de bem assim, por ser “polêmico para certos autores”. No entanto, não há por que censurar o uso da locução
quando empregada fora do gênero redação oficial.
Quando o núcleo do sujeito é composto, a regra é o verbo ficar no plural. No
entanto, admite-se o singular para dar destaque ao primeiro elemento. Neste caso,
porém, é obrigatória a intercalação do segundo elemento — que contém a locução
bem como — com vírgulas (ALMEIDA, 1981; CEGALLA, 2009; PIACENTINI, 2009).
O Ministério Público de Contas Ø
bem
como a Auditoria Ø entendeu que o denunciante tem razão.
O Ministério Público de Contas Ø
bem como a Auditoria Ø entenderam que o denunciante tem razão.
O Ministério Público de Contas,
bem como a Auditoria, entendeu
que o denunciante tem razão.
65
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
ATENDER
No sentido de ser atencioso com, cuidar ou ouvir atentamente, acolher com atenção ou cortesia,
tomar em consideração, emprega-se indiferentemente como transitivo direto ou indireto
(CEGALLA, 2009; LUFT, 1995; PIACENTINI, 2008b).
O diretor atendeu Øos interessados.
A alteração da proposta atende Øa
cota ministerial.
O diretor atendeu aos interessados.
Na defesa apresentada, o prestador
alegou que teve dificuldades financeiras para atender à demanda da
comunidade local.
[...] atendendo, assim, aos princípios da motivação.
Conforme Luft (1995, p. 82), “se o complemento for um pronome pessoal referente
a pessoa, só se emprega as formas objetivas diretas”. É importante observar que raramente o pronome lhe é utilizado como complemento do verbo atender. Ou seja:
empregam-se preferencialmente os pronomes do caso reto (o/a/os/as) quando o
complemento verbal é um pronome.
[...] não havia como atenderlhe [...].
[...] não havia como atendê-lo
[...].
Na maioria das vezes, emprega-se atender como transitivo direto ou
indireto sem alteração de sentido.
Consulte Regência e transitividade.
ATINENTE
Atinente não é preposição que equivalha à locução quanto a. Trata-se de um adjetivo
e, por isso, deve referir-se a nome ou pronome (ALMEIDA, 1981).
Atinente a sua consulta, informa mos
que será respondida oportunamente.
Apresentaram vários documentos
atinentes para comprovação dos
fatos.
66
No atinente [no que se refere] à
sua consulta, informamos que será
respondida oportunamente.
ATRAVÉS DE
A gramática normativa e o Manual de Redação da Presidência da República (BRASIL,
2002) recomendam não empregar através de com o significado de instrumento
(por meio de, mediante). Nesse caso, empregue “por meio de, mediante, servindo-se de,
valendo-se de”.
Assim, através de, em redação oficial, deve ser utilizado apenas com a acepção de
um lado para o outro, de um lado a outro, de lado a lado, por dentro de, ao longo de, no decurso de.
Contudo, uma abordagem da gramática cognitiva (BERNARDO, 2007) autoriza o
emprego do através de com essa significação, pois esta expressão corresponderia a
uma metáfora de canal. Saliente-se também que vários dicionários e gramáticas já reconhecem a possibilidade de emprego do através de com tal significado (AULETE
[online]; CEGALLA, 2009; HOUAISS, 2001).
De qualquer forma, recomenda-se não empregar através de nem por intermédio
de para indicar o agente da passiva. Este, em língua portuguesa, expressa-se pela
preposição por e, às vezes, pela de.
A autorização foi dada através de
A notícia foi transmitida através do
portaria.
coordenador.
A autorização foi dada por portaria
A notícia foi transmitida pelo coordenador.
[...] caso o saldo não seja suficiente para cobrir os compromissos contraídos com a renegociação realizada através da
Lei n. 8.727/93.
[...] caso o saldo não seja suficiente para cobrir os compromissos contraídos com a renegociação realizada por meio
da Lei n. 8.727/93.
Para evitar o empobrecimento do texto com a repetição de através, sugere-se alterná-lo, conforme o caso, com preposições e locuções prepositivas (por, de, mediante,
durante, por meio de, por intermédio de).
ATRAVÉS DE
BERNARDO (2007)
Através de é sinônimo de por meio de e mediante. Em redação oficial, é vedado
o uso de através de com quaisquer dessas acepções, devendo ser substituído, conforme o caso por mediante, por meio de, por.
67
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
BACHAREL / BACHARELA
O Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (ABL, [online]) não classifica “bacharel” como substantivo comum de dois gêneros, mas sim como substantivo masculino. Ainda conforme o Volp, bacharela é substantivo feminino. De forma semelhante, Sacconi (1994) classifica bacharel e bacharela como substantivo masculino
e feminino, respectivamente.
Apesar dessa classificação do Volp e de Luiz Antonio Sacconi, Domingos Paschoal
Cegalla (2009) não vê problema algum em bacharel ser substantivo comum de dois
gêneros.
e bacharelØ em Direi Engenheira
to.
Engenheira e bacharela em Direito.
Tanto bacharel quanto bacharela podem ser usados para se referir à pessoa do sexo
feminino. Porém, a Revista do TCEMG padronizou que, em suas publicações, bacharel
é apenas substantivo masculino, e bacharela é o seu correspondente feminino.
BASTANTE
Bastante é adjetivo equivalente a suficiente e refere-se a um substantivo. Nesse caso
admite a forma plural bastantes (AULETE [online]). Como advérbio de intensidade,
equivale a suficientemente, sendo invariável (CEGALLA, 2009).
Em sua defesa, o pregoeiro apre- [...] as obras
sentou
bastanteØ documentos.
adiantadas.
Em sua defesa, o pregoeiro apresentou bastantes documentos.
estavam bastantes
[...] as obras estavam bastanteØ
adiantadas.
CACOFONIA
Cacófatos são construções não eufônicas: quando pronunciadas reproduzem outra
palavra ou expressão ridícula. Por isso, recomenda-se evitar, sempre que possível, os
cacófatos.
Os mais frequentes nos corpora da Revista são: acerca dela; conforme já; do ente; por
cada; por razão; por razões; por tal.
68
Na omissão do ente federado
em elaborar lei sobre prescrição ou decadência, o intérprete deve colher norma existente
no ordenamento jurídico que
se amolde ao caso concreto.
[...] o edital [...] coibiu a participação no certame de pessoa
que, por razões de ordem financeira, não pode arcar com
o custo da inscrição.
Os valores das taxas de inscrição, conforme já explicado
alhures, [...], devem ser depositadas em conta única da Câmara Municipal.
Consulte Cada.
CADA
Cada é pronome indefinido que deve ser usado com função adjetiva e, nesse caso,
deve acompanhar o substantivo como acessório e nunca substituí-lo (CEGALLA,
2009; HOUAISS, 2001).
Cegalla (2009, p. 75) afirma que “não é necessário empregar a preposição ‘a’ antes de
‘cada’, em adjuntos adverbiais de tempo”.
[...] quanto ao exercício financeiro,
um
‘contrato de rateio’ deve ser formalizado a cada Ø.
[...] ‘contrato de rateio’ formalizado
em cada exercício financeiro [...].
[...] ‘contrato de rateio’ formalizado
a cada exercício financeiro [...].
Cegalla (2009) afirma que, às vezes, por cada é cacófato aceitável devido à dificuldade de substituir a expressão em alguns casos.
Consulte Cacofonia.
CLICHÊ, FRASE FEITA E LUGAR-COMUM
Os clichês geralmente têm origem em uma metáfora velha, “batida”, vulgar: aurora
da vida; flor dos anos; silêncio sepulcral; virar a página da vida; etc. Garcia (2010)
adverte que nem todos os clichês têm estrutura metafórica, pois muitas vezes são
69
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
um mero agrupamento de palavras surrado pelo uso: ilustre professor; eminente
deputado; clareza solar; autor de futuro; etc.
Outros exemplos comuns de clichês são: abrir com chave de ouro; vasto repertório;
momento oportuno; lista interminável; correr atrás do prejuízo; certeza absoluta;
feliz ocasião; diga-se de passagem; tema fundamental; citação pinçada; peso na consciência; necessidade premente; amplo ponto de vista; mal necessário; mandar bem;
comunicação pessoal; sentido profundo; abrir mão; lançar mão; da lavra de; usos e
costumes; ledo engano; todo cuidado é pouco; erro crasso; antes de mais nada; bater
de frente; caixinha de surpresas; caminho já trilhado; carreira meteórica; correr por
fora; dispensar apresentações; duras críticas; erro gritante; gerar polêmica; inserido
no contexto; perda irreparável; pergunta que não quer calar; rota de colisão; vitória
esmagadora; divisor de águas.
Convém evitar os lugares-comuns sempre que possível.
Diante da premente necessidade de garantir a continuidade do serviço
público de táxi [...].
Cacoetes de linguagem são expressões pobres de valor informativo
(FOLHA DE S. PAULO, 2005), dispensáveis em redações oficial e técnico-científica, que devem ser evitados. São exemplos de cacoetes: antes de mais nada, ao mesmo tempo, pelo contrário, por sua vez, via de
regra, até porque, etc.
COLCHETES
Os colchetes são usados para: a redação da Revista incluir informações ou comentários em textos (FOLHA DE S. PAULO, 2005); servir de parênteses externos quando houver parênteses internos (COSTA, 2007); indicar supressão de parte de uma
citação.
Art. 5º [...]
[...]
IX — é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica
e de comunicação, independentemente de censura ou licença;
70
[...] a taxa aumentou [4% conforme
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)].
[...] este [agente honorífico] não é
remunerado.
Colocação
Cegalla (2009) considera colocação, no sentido de opinião, afirmação, ideia, sugestão, um
modismo repetido à exaustão e que deve ser evitado.
Com vista(s) a /com vista(s) em
No Brasil, costuma-se escrever com vistas a, mas o gramático Napoleão Mendes
de Almeida defende com vistas em, apesar de esta última não estar dicionarizada.
Cegalla (2009) reconhece a locução prepositiva com vista a e sua forma variante
plural (com vistas a), significando com o fim de, com o objetivo de, com a intenção de.
Já Adalberto J. Kaspary (2000) afirma que a expressão com vista a (singular) é a
mais adequada.
Contudo, o Dicionário Aurélio (FERREIRA, 2010) reconhece as formas com vistas
a e com vista a.
Devido à grande controvérsia entre os cientistas da linguagem, não há motivo para
que se censure o emprego de quaisquer das formas: com vista(s) a ou com vista(s)
em.
Compelir / gerir
Compelir e gerir são verbos irregulares e têm algumas particularidades.
Mudam o e do radical em i na 1ª pessoa do singular do presente do indicativo (compilo; giro), mas essa forma não é normalmente usada, sendo substituída por outra
equivalente. Exemplo: “Os trabalhos são geridos por mim”.
Computar
Computar é também um verbo defectivo que, por motivo de eufonia, não se usa nas
três primeiras pessoas do presente do indicativo nem na segunda pessoa do singular
do imperativo afirmativo (CEGALLA, 2009). Nas demais pessoas e no pretérito
perfeito, segue a flexão regular dos verbos da primeira conjugação. Exemplo: “Computaram a despesa em R$120.000,00.”
71
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
CONDENAR
No sentido de sentenciar, proferir sentença condenatória, condenar é transitivo direto e
indireto: condenar alguém a/em/por algo (KASPARY, 2010).
[...] o conselheiro condenou o prefeito por não ter obedecido os ditames da Lei n. 8.666.
[...] Processo Administrativo [...],
que condenou a recorrente ao pagamento de multa no valor total de
R$3.000,00.
A preposição em pode ser usada apenas com complemento de tempo especificado.
Se não mencionar tempo específico, empregue a preposição a. Exemplos: “O Tribunal de Justiça condenou a mulher em dois anos de prisão.” “Ele foi condenado
a pagar multa.”
Consulte Regência e transitividade.
CONFIGURAR
O verbo configurar é transitivo direto na acepção de dar forma ou dar figura de; representar; conformar; ser o indício; denotar; caracterizar; estabelecer em um software os parâmetros de
execução; representar em pensamento; imaginar.
cláusulas impugnadas configu As
ram em ilícito na licitação.
O técnico configurou Ø o teclado.
As cláusulas impugnadas configuram Ø ilícito na licitação.
Tais discussões configuram-se Ø
tediosas para ele.
No sentido de revestir-se das características de, configurar é transitivo direto pronominal
predicativo, assumindo a fórmula: configurar-se + (como) + predicativo (LUFT,
1995). Essa construção, na maioria dos casos, pode ser alternada com a tradicional
configurar + objeto direto.
Os reiterados erros em editais de licitação se configuram como evidente descumprimento à determinação do TCEMG.
Os reiterados erros em editais de licitação Ø configuram Ø evidente
descumprimento à determinação do
TCEMG.
Consulte Regência e transitividade.
72
CONSELHEIRO PRESIDENTE
Consulte Conselheiro relator.
CONSELHEIRO RELATOR
Trata-se de sintagma formado por um substantivo propriamente dito (conselheiro)
e um substantivo com função adjetiva (relator). Assim, “relator” caracteriza “conselheiro” restringindo, num grupo de conselheiros, aquele que assume determinada
relatoria de processo.
Considerando que substantivo composto corresponde a uma palavra de sentido
constante, único e diferente das que o compõem (BECHARA, 2001), conselheirorelator (com hífen) remeter-se-ia a um cargo específico, e não a uma atribuição que é
dada a um dos conselheiros. Em outras palavras, grafar conselheiro-relator teria uma
implicação semântica de que há cargos de conselheiros e há o cargo conselheirorelator, o que não corresponde à realidade, porquanto qualquer conselheiro pode
assumir tal atribuição.
Para fins de padronização dos textos a serem publicados na Revista do TCEMG, adotou-se o uso de iniciais minúsculas (conselheiro relator) para cargos.
CONSIDERANDO (QUE...)
Conforme o iDicionário Caldas Aulete [online],
(con.si.de.ran.do)
sm.
1. No texto introdutório de leis, sentenças, propostas [...], cada uma
das observações ou motivos enumerados em parágrafos iniciados
com as palavras CONSIDERANDO ou ATENDENDO. [...].
Assim, os considerandos de uma lei ou de um ato normativo correspondem à sua
motivação.
Dúvidas surgem quanto à pontuação e ao emprego de maiúsculas e minúsculas depois de cada considerando e na conclusão. Em discordância com Sacconi (1994) —
que defende o uso de iniciais maiúsculas para todos os “considerandos” —, a Revista
do TCEMG entende que, após ponto e vírgula, sempre se usam iniciais minúsculas,
inexistindo razão que sustente o contrário.
É comum, em atos normativos, o uso de ponto final. Tal pontuação desrespeita os
mecanismos de coesão textual. Recomenda-se o uso de ponto e vírgula, para propiciar o melhor encadeamento lógico dos parágrafos.
73
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
CONSISTIR
Trata-se de verbo transitivo indireto, usado com a preposição em, significando repousar, residir, constituir de, resumir-se.
É cada vez mais comum o uso do verbo consistir seguido da preposição de, na
acepção de compor-se, constar. Tal regência provavelmente se deve a uma influência
do inglês (LUFT, 1995) — consist of — ou a uma contaminação sintática oriunda de
compor-se de (CEGALLA, 2009). A construção com a preposição de ainda é pouco
frequente, em um processo de gramaticalização ainda muito incipiente. Recomendase, pois, evitar tal regência em redações técnico-científica e oficial.
Este trabalho consiste de relatório
circunstanciado
dos fatos.
Este trabalho consiste em relatório
circunstanciado dos fatos.
Consulte Regência e transitividade.
Prefira a construção consistir em à consistir de.
CONSTAR
Constar é verbo defectivo, conjugável apenas na 3ª pessoa do singular e do plural.
Significa passar por certo ou evidente, estar escrito ou mencionado, fazer parte, deduzir-se, incluirse. Emprega-se indiferentemente com as preposições de ou em (CEGALLA, 2009;
LUFT, 1995).
Consulte Regência e transitividade.
CONSTATAR
Constatar equivale a comprovar, examinar, verificar, estabelecer a verdade de um fato.
De modo a evitar repetição, sugere-se, conforme o contexto, que se alterne constatar com atestar, apurar, averiguar, certificar-se, comprovar, evidenciar, observar, notar, perceber,
registrar, verificar.
Apesar de Napoleão Mendes de Almeida (1981, p. 64) repudiar com veemência o
verbo constatar — considerando-o, em suas palavras, “galicismo inteiramente inútil” —, Francisco Fernandes (2005b) explica que, quando se quer exprimir a ideia
de verificar e, ao mesmo tempo, a de registrar, documentar para efeito ulterior, deve-se usar
constatar porque essa seria a sua verdadeira acepção.
74
Constatando a ocorrência de nulidade sanável, o tribunal poderá determinar a realização ou renovação do ato processual, intimadas as partes [...].
(Código de Processo Civil, art. 515, § 21, incluído pela Lei n. 11.276 de
2006).
CONSTITUIR
Constituir, na acepção de ser a base ou parte essencial de, compor, formar — bem como
na de dar poderes a alguém para tratar de negócios —, é acompanhado de objeto direto.
projetos constituem em
Estes
programa de governo para o ano de
2012.
Estes projetos constituem Ø o
programa de governo para o ano de
2012.
Na acepção de estabelecer, assentar, situar, constrói-se a regência conforme a seguinte
fórmula: constituir + objeto direto + adjunto adverbial de lugar. Exemplo: “Ele
constituiu Ø sua empresa no Município de Contagem.”
Como verbo pronominal, significa organizar-se, estruturar-se, compor-se. Exemplo:
“Constituíram-se em sociedade anônima.”
Finalmente, na acepção de representar, ser, consistir em, é verbo transitivo direto pronominal. A construção constituir-se + em é inovação sintática comum na imprensa
brasileira, já registrada por Aulete [online] e Houaiss (2001); mas tanto Paschoal Cegalla (2009) quanto Celso Luft (1995) recomendam, em “linguagem culta” formal, o
emprego da regência tradicional (não pronominal, sem preposição).
Estes projetos constituem-se
em programa de governo para
o ano de 2012.
Estes projetos constituem Ø programa de governo para o ano de
2012.
Consulte Regência e transitividade.
CONTINUAÇÃO / CONTINUIDADE
Continuação significa seguimento. Continuidade é atributo daquilo que é contínuo
(HOUAISS, 2001; MINAS GERAIS, 2012).
que o advogado retirou-se
daDepois
sala, o conselheiro relator deu
continuidade à sessão plenária.
Depois que o advogado retirou-se
da sala, o conselheiro relator deu
continuação à sessão plenária.
75
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
CUJO
O pronome relativo cujo (cujos, cuja, cujas) indica ideia de posse. Esse pronome
contém em si, implícita, a preposição de e equivale a de que, de quem, do qual (dos
quais, das quais).
O antecedente e o consequente do pronome cujo são distintos. A concordância é
feita com o consequente. Exemplo: “Este é o processo cujas páginas foram rasuradas [páginas do processo].”
Ressalte-se que o pronome cujo pode vir precedido da preposição de ou de qualquer outra conforme a regência verbal (NEVES, 2011).
Não se empregam artigos depois do pronome cujo. Destacam-se as palavras de
Maria Helena de Moura Neves (2000, p. 372):
[...] especialmente na imprensa, tem ocorrido o emprego indevido
desse artigo, talvez pela falsa idéia de que o som vocálico final desse
pronome relativo represente a existência do artigo definido, e que,
então, esse elemento deve ser registrado na grafia [...]. (grifos originais)
O colega Ø cuja competência falá- Num cenário em que se buscava a
vamos
foi nomeado Coordenador
democratização, levada a efeito com
de Área.
O colega de cuja competência falávamos foi nomeado Coordenador de Área.
Esta é uma lei Ø cujas disposições
não
acreditamos.
a reforma do Estado, cujo o marco
legislativo foi a CF/88.
Num cenário em que se buscava a
democratização, levada a efeito com
a reforma do Estado, cujo Ø marco
legislativo foi a CF/88.
Esta é uma lei em cujas disposições não acreditamos.
Quando for seguido de dois substantivos, o pronome cujo concorda só com o primeiro.
A ação cujos advogado e advogada
não
obedeceram aos prazos foi arquivada.
A ação cujoØ advogado e advogada não obedeceram aos prazos foi
arquivada.
Consoante Maria Helena de Moura Neves (2011), não há justificativa para o emprego de cujo antes de elemento com valor locativo. Neste caso, prefira no qual, onde,
em que.
[...] o município tem sofrido deso[...] o município tem sofrido desocupação dos prédios públicos, em
cupação dos prédios públicos, nos
cujos locais ocorrerão feiras livres.
quais ocorrerão feiras livres.
76
CUMPRIR
Apesar de ser transitivo direto o verbo cumprir aceita a preposição com sem mudar
a acepção (ALMEIDA, 1981; FERNANDES, 2009).
No entanto, Cegalla (2009) e Luft (1995) afirmam que cumprir + O.D. e cumprir
com não são exatamente a mesma coisa, porquanto esta é construção enfática ou
enfática-afetiva daquela.
Cumprir com a legislação.
Cumpriram Ø a legislação.
Cumprir com os deveres.
Cumprir Ø os deveres.
Consulte Regência e transitividade.
DADO / VISTO
Dado e visto são formas de particípio passado, concordando em gênero e número
com o termo a que se referem (CEGALLA, 2009; COSTA, 2007).
DadaØ as circunstâncias [...].
Dados o interesse e o esforço demonstrados, optou-se pela permanência do servidor em sua função.
Dadas as circunstâncias [...].
Vistas as provas apresentadas, não
houve mais hesitação no encaminhamento do inquérito.
DATAS
Primeiro dia do mês
A maioria dos gramáticos entende que o primeiro dia do mês deve ser grafado com
numeral ordinal (COSTA, 2007). No entanto, há autores de renome que consideram
ser possível o emprego tanto do ordinal quanto do cardinal para o primeiro dia do
mês (BECHARA, 2001; CEGALLA, 2009). Assim, não há por que censurar qualquer das formas de grafar datas.
Zero à esquerda
O Manual de Redação Parlamentar (MINAS GERAIS, 2007) e o Manual de Redação do
Governo do Estado de Minas (MINAS GERAIS, 2012) recomendam não usar zero à esquerda em número indicador de datas. No entanto, os exemplos dados na NBR 5982
da ABNT, em indicação numérica de datas, empregam sempre o zero: “04.09.0180;
77
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
25.04.0910; 06.10.2500; 15.12.1932”. Assim, em citações de atos administrativos e
normativos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, prefere-se a escrita sem o
zero em qualquer situação; em textos que devem seguir a normalização da ABNT
(relatórios, trabalhos acadêmicos, etc.), o zero é essencial nas formas compactas.
Ano
Os anos devem ser grafados com quatro algarismos, sem ponto nem espaço.
Minas Gerais (2007) possibilita a grafia do ano com apenas dois dígitos em datas no
intervalo de 1910 a 1999.
Já a NBR 5892 da ABNT estabelece que os anos devem ser sempre grafados com
quatro dígitos.
Separação por barra ou ponto
Todos os exemplos de datas compactas dados pela ABNT não utilizam barra, apenas
ponto. Entretanto, não há nenhuma convenção a respeito do separador de números
na forma compacta de datação.
Datas de leis e atos normativos
O art. 11, II, g, da Lei Complementar n. 95, de 26/02/1998, estabelece que datas e
números de leis, em atos normativos, não devem ser escritos por extenso.
Acento grave em datas
Não se deve quebrar paralelismo ao citar datas: se houver artigo antes do primeiro
termo, também haverá no segundo.
de segunda à sexta-feira
de segunda a sexta-feira
da segunda a sexta-feira
da segunda à sexta-feira
Convenção da Revista do TCEMG
Como se pôde observar, há grandes divergências entre os gramáticos, o uso pela
imprensa, os manuais de redação e as regras da ABNT.
Para fins de padronização dos textos publicados na Revista do TCEMG, decidiu-se por:
• grafar o primeiro dia do mês em número cardinal antecedido de zero
(01/01/2001);
• suprimir os zeros à esquerda em datas por extenso (2 de fevereiro de 2012);
• grafar ano sempre com quatro dígitos, sem ponto;
• usar barras em datação compacta (01/01/2001).
78
DE FORMA QUE / DE MODO QUE / DE MANEIRA QUE /
DE FORMA A / DE MODO A / DE MANEIRA A
As locuções de forma que; de maneira que; de modo que são empregadas nas
orações desenvolvidas. Já de forma a; de maneira a; de modo a são locuções
empregadas nas orações reduzidas de infinitivo na voz passiva (COSTA, 2007;
NISKIER, 1992).
[...] o ajuste de honorários contratu ais
deve observar o princípio da razoabilidade [...] de modo a remunerar adequadamente o profissional
[...].
[...] o ajuste de honorários contratuais deve observar o princípio da razoabilidade [...] de modo que remunere
adequadamente
o
profissional [...].
[...] o ajuste de honorários contratuais deve observar o princípio da razoabilidade [...] para remunerar
adequadamente o profissional [...].
[...] os gestores apresentaram a prestação de contas de modo a não serem facilmente encontradas as irregularidades [...].
[...] os gestores apresentaram a prestação de contas de modo que não
fossem facilmente encontradas as
irregularidades [...].
Hibridismos entre os dois grupos de locuções são construções estranhas a nossa
língua, que se devem evitar: de modo a que; de forma a que. Ademais, não é possível
a pluralização dos substantivos que as compõem. Sempre devem ficar no singular
(ALMEIDA, 1981; CEGALLA, 2009).
Tudo foi feito de maneiras que
não
despertassem suspeita.
Tudo foi feito de maneiraØ que
não despertasse suspeita.
DE/EM FÉRIAS
Pode-se dizer indiferentemente das duas maneiras, pois as duas formas são aceitas.
Mas, se acrescentarmos um adjetivo à expressão férias, só se deve usar a preposição
em.
Vou entrar de férias Ø.
O servidor entrará de férias regulamentares no próximo mês.
O servidor sairá em férias regula-
Ele está em férias Ø.
mentares no próximo mês.
SEMÂNTICA DAS PREPOSIÇÕES
BECHARA (2001); CASTILHO (2010); NEVES (2011)
79
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
DESAPERCEBIDO / DESPERCEBIDO
Desapercebido significa desprevenido, desprovido, desguarnecido; despercebido significa: que não se viu, aquilo em que não se atentou (AULETE, [online]).
irregularidade passou desaperce- Como ele estava despercebido de
Abida.
recursos, solicitou justiça gratuita.
A irregularidade passou despercebida.
Como ele estava desapercebido de
recursos, solicitou justiça gratuita.
DESCRIMINAÇÃO / DESCRIMINALIZAÇÃO / DISCRIMINAÇÃO
Descriminação e descriminalização (substantivos) são sinônimos e significam
inocentação, exclusão da criminalidade (KASPARY, 2000). O verbo correspondente é
descriminar (retirar a antijuricidade de um fato, excluir a criminalidade).
Discriminação significa ato ou efeito de distinguir, discernir, separar.
O edital do concurso promovia in diretamente
descriminação contra
deficientes físicos.
Quase todos os ministros votaram
pela descriminalização da antecipação do parto de feto anencéfalo.
O edital do concurso promovia indiretamente discriminação contra
deficientes físicos.
Quase todos os ministros votaram
pela descriminação da antecipação
do parto de feto anencéfalo.
DESIGNAR
Designar é transitivo direto e indireto no sentido de determinar, fixar; marcar; designar
alguém para; designar algo a alguém; escolher para cargo ou emprego.
Foi-lhe designado um prazo de 30
dias para cumprir a diligência.
Designou seu substituto.
Designou-o para a função de assessor.
O servidor foi designado para
uma função FG-5.
A regência verbal pode assumir a seguinte fórmula: designar + objeto direto +
(como, para) + predicativo. Tem o significado de “nomear, denominar, qualificar”.
O governador os designou conselheiros [designou-os para serem
conselheiros].
Designo-o para chefe [ou como
chefe].
Consulte Regência e transitividade.
80
DESPENDER / DISPÊNDIO
Despender significa fazer despesa, gastar, consumir. Inexiste o verbo dispender (ABL,
[online]; AULETE [online]; AURÉLIO, 2010; HOUAISS, 2001). Dispêndio significa
gasto, despesa, consumo (HOUAISS, 2001).
Câmara Municipal dispendeu
AR$10.000,00
com as reformas do
A Câmara Municipal teve um dispêndio de R$10.000,00 com as reformas do prédio.
A Câmara Municipal despendeu
R$10.000,00 com as reformas do
prédio.
Foi elevado o dispêndio com as
obras.
prédio.
Diz-se atenção dispensada ou atenção despendida. Inexistem as
construções atenção despensada e atenção dispendida.
DESTE/DO PONTO DE VISTA
Trata-se de expressão exaustivamente empregada nos relatórios, como recurso de
coesão de parágrafos. Pode ser substituída por outras de sentido equivalente a fim
de evitar repetição: sob esse ângulo, sob esse aspecto, por esse prisma, desse prisma, desse modo,
assim, destarte.
Também é comum a expressão sob o ponto de vista. Porém, não há sentido em
utilizar a preposição sob, uma vez que não há como subordinar um ponto de vista
ou uma perspectiva a de outrem. As construções mais adequadas, portanto, seriam
desse ponto de vista, do ponto de vista, dessa perspectiva (CEGALLA, 2009;
COSTA, 2007).
SEMÂNTICA DAS PREPOSIÇÕES
Bechara (2001); Castilho (2010); Neves (2011)
DIGNO / DIGNÍSSIMO
Nas palavras do Manual de Redação da Presidência da República (BRASIL, 2002, grifo
original): “Em comunicações oficiais, está abolido o uso do tratamento digníssimo
(DD) [...]. A dignidade é pressuposto para que se ocupe qualquer cargo público,
sendo desnecessária sua repetida evocação.”
Em alinho com Brasil (2002), a Revista do TCEMG considera abolido o tratamento
“digníssimo”e suas variações (digno, dignificado, etc.) nos textos a serem publicados
em seu periódico. Os mesmos comentários se aplicam a ilustríssimo.
81
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
DOUTOR
Doutor é título acadêmico, e não pronome de tratamento nem vocativo (BRASIL,
2002; FOLHA DE S. PAULO, 2005).
No português falado, em situações de formalidade, é frequente o uso de doutor(a)
para se dirigir a profissionais da saúde e a autoridades (AULETE, [online]). Contudo,
no texto escrito, isso não tem nenhum cabimento.
DOUTOR
BRUM (2012)
DUPLA NEGATIVA
Ao contrário do que acontece no inglês e em diversas outras línguas, no português o
uso de uma palavra negativa com outra não destrói o sentido negativo dado à frase
(COSTA, 2007).
Assim, a renda mensal do servidor aposentado deve ser preservada, especialmente se não há nenhuma ilegalidade a que tenha dado causa que justifique
sua sustação.
ECOAÇÃO
Trata-se da repetição exagerada de certos fonemas ao longo de todo o período. Em
virtude do prejuízo à estética textual, a ecoação deve, a todo custo, ser evitada.
Em razão dessa visão distorcida, verifica-se que houve verdadeira privatização do interesse público, com a geração do lucrativo mercado de comercialização “ilegal” das permissões e a exploração desarrazoada dos
profissionais que não são detentores dos títulos e trabalham prestando serviço como condutores auxiliares.
EIS QUE
Eis que, eis quando e eis senão quando são locuções conjuntivas temporais sinônimas e significam subitamente, de repente (AULETE [online]). Exprimir surpresa é a
finalidade da expressão.
No meio forense, é frequente a ocorrência dessa locução com sentido causal, o que
não encontra respaldo em nenhuns dicionários ou gramáticas nem possui justificativa que abone o seu uso (ALMEIDA, 1981; CEGALLA, 2009; COSTA, 2007).
82
A denúncia foi rejeitada, eis que Foram constatadas irregularidades
não
preenchia os requisitos de adno referido procedimento; entremissibilidade.
tanto não cabe discuti-las por meio
de recurso, eis que não foi enviado
no momento próprio pelo recorrente com a sua defesa [...].
A audiência já se iniciara, eis que
surgiu a testemunha.
Foram constatadas irregularidades
no referido procedimento; entretanto não cabe discuti-las por meio de
recurso, uma vez que não foi enviado no momento próprio pelo recorrente com a sua defesa [...].
A denúncia foi rejeitada, uma vez
que não preenchia os requisitos de
admissibilidade.
ELE É SUPOSTO SABER
Ele é suposto saber é estrangeirismo sintático de he is supposed to know, sem amparo
no português. Por isso, evite tal expressão traduzida “ao pé da letra”. Use em português: “Ele deveria saber.” “Supõe-se que ele saiba.”
ELIPSE
Elipse é a supressão de uma palavra ou expressão subentendida no texto. Conforme
a situação em que é empregada, a elipse pode ser um recurso elegante de estilo, mas,
se usada de maneira inapropriada, pode se tornar desastrosa e gerar dificuldade na
leitura.
O conselheiro verificou a possibilidade de a ex-prefeita vender todos os seus imóveis antes do trânsito em julgado do
processo. Então, Ø solicitou o
arresto Ø.
O conselheiro verificou a possibilidade de a ex-prefeita vender todos os seus imóveis antes
do trânsito em julgado do processo. Então, ele solicitou o arresto dos bens.
EM CONFORMIDADE COM / NA CONFORMIDADE DE /
EM CONSONÂNCIA À
São sinônimas as expressões na conformidade com; na conformidade de; de
conformidade com; de acordo com; conforme; nos termos de; em consonância a; em consonância com; em consonância de (ALMEIDA, 1981; LUFT,
1992).
José Maria da Costa (2007) lembra que a expressão de conformidade deve sempre
vir acompanhada da preposição com.
83
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
EM FACE DE / EM FACE A / FACE A
As expressões em face de e em face a significam ante, diante de, perante, contra. Conforme o contexto, em face de e em face a também podem significar em virtude de,
em razão de (LUFT, 1992). São locuções cuja formação obedece sempre a fórmula
preposição em + face + preposição de ou a.
A expressão Ø face a (sem a preposição em) é provavelmente um neologismo
que, segundo Adalberto J. Kaspary (2000), não tem a simpatia dos gramáticos (CEGALLA, 2009). Contudo, Celso Pedro Luft (1992) reconhece a locução como variante moderna reduzida, e Maria Helena de Moura Neves (2003) sugere que já foi
consagrada pelo uso.
Vale destacar que Brasil (2002; 2011) e Minas Gerais (2007) recomendam preferir
em face de a suas variações (em face a; Ø face a; Ø frente a); portanto, evite-as
em redação oficial.
[...] da forma como o edital foi
elaborado, o certame certamente ficará prejudicado, Ø
face à inviabilidade das licitantes em atender todas as exigências relativas à qualificação
econômico-financeira.
[...] da forma como o edital foi
elaborado, o certame certamente ficará prejudicado, em
face à inviabilidade das licitantes em atender todas as exigências relativas à qualificação
econômico-financeira.
[...] da forma como o edital foi elaborado, o certame certamente ficará
prejudicado, em face da inviabilidade das licitantes em atender todas
as exigências relativas à qualificação
econômico-financeira.
Trata-se de recurso ordinário interposto pelo ex-Prefeito [...] em face
do acórdão proferido pela Segunda
Câmara.
Trata-se de recurso ordinário interposto pelo ex-Prefeito [...] contra o
acórdão proferido pela Segunda Câmara.
É recorrente o emprego das expressões em face de/a com o sentido de contra.
A forma tradicional, nesse caso, é usar contra (COSTA, 2007), pressupondo
uma relação jurídica bilateral. Há, porém, uma corrente que defende que a relação é trilateral: autor, réu e Estado-juiz, na qual o Estado é chamado à tutela
jurisdicional. E, por esse motivo, a petição deve ser interposta em face de e
não contra alguém. Exemplo: “Tratam os autos de representação interposta por
deputados estaduais da Assembleia Legislativa Mineira em face do Estado de
84
Minas Gerais [...].”. De qualquer forma, é um tecnicismo que extrapola a simples
correção gramatical, como certo ou errado.
Em redação oficial, empregue apenas a construção em face de. Nos demais
textos, as construções em face a e Ø face a são autorizadas.
EM FUNÇÃO DE
Em função de é uma expressão muito usada, pela imprensa e por muitos falantes,
para estabelecer uma relação causal (equivalente à por causa de, em virtude de). Contudo,
tal uso só se justifica na língua falada, sem reconhecimento na língua culta escrita.
Nos textos formais, obedientes à norma-padrão da língua, a locução em função de
deve ser usada apenas no sentido de finalidade, dependência (CEGALLA, 2009; COSTA, 2007; HOUAISS, 2001).
A questão técnica se justifica em A criação da Petro-Sal originou-se
função
do modelo de partilha de produção,
da localização geográfica
estratégica dos aeródromos, sob
pena de perda da qualidade e eficiência dos serviços.
que veio a ser instaurado no País
em função da descoberta da província petrolífera do Pré-Sal.
A questão técnica se justifica em
virtude da localização geográfica
estratégica dos aeródromos, sob
pena de perda da qualidade e eficiência dos serviços.
A criação da Petro-Sal originou-se
do modelo de partilha de produção,
que veio a ser instaurado no País
devido à descoberta da província
petrolífera do Pré-Sal.
EM QUE PESE A / EM QUE PESEM AS
Trata-se de locuções empregadas com sentido concessivo. Equivalem a ainda que lhe
custe, malgrado seu, ainda que seja penoso. As expressões são antigas, mas de uso frequente nos dias de hoje, principalmente no meio jurídico.
Napoleão Mendes de Almeida (1981) critica os que defendem a invariabilidade do
verbo pesar — como empregado na frase “em que pesem as circunstâncias” —, afirmando que esses não sabem identificar o sujeito nem compreendem o significado da
oração.
Outros estudiosos (CEGALLA, 2009; NEVES, 2003) já concordam com a possiblidade de flexionar o verbo pesar. Porém, Cegalla (2009) adverte que não se deve
fazê-lo quando o sujeito se referir a pessoa.
85
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
que pesem aos argumentos
Em
da sentença [...].
Em que pese o parecer do relator
[...]. [ainda que pese o parecer do relator]
[...] em que pese Øa sucessão de
resoluções [...], mantém-se intacto
na norma atualmente vigente.
Em que pesem Øos argumentos
da sentença [...]. [ainda que os argumentos pesem]
[...] em que pese à sucessão de resoluções [...], mantém-se intacto na
norma atualmente vigente.
Quando fizer referência a pessoa ou a coisa, use a expressão em que pese a
(neste caso, o pese é invariável, e o a é preposição). Contudo, em que pese a,
com o verbo flexionável — caso em que o a é artigo, e não preposição —, só
pode ser usado para se referir a coisa.
EM SEDE DE
Trata-se de italianismo (in sede di) que não é bem quisto por diversos estudiosos da
língua. Adalberto J. Kaspary (2000, p. 94-95) afirma que “é perfeitamente dispensável, pois, quando não desnecessário, supérfluo, há expressões vernáculas que o
substituem com inteira propriedade.”
Costa (2007) sugere algumas correções para em sede de, conforme o caso: no âmbito; em; no campo; na esfera do. O Dicionário de Italiano-Português de Giuseppe Mea (apud
KASPARY, 2000, p. 94-95) também dá exemplos da locução in sede di e suas possíveis
traduções:
in sede di esame: durante o exame;
in sede di bilancio: ao fazer o balanço;
in sede storica, política: do ponto de vista histórico, político;
non é questa la sede adatta per: não é este o lugar adequado para.
O objetivo é analisar, sob o
prisma da doutrina e jurisprudência contemporâneas —
tendo como foco as deliberações em sede de consultas
[...].
86
O objetivo é analisar, sob o
prisma da doutrina e jurisprudência contemporâneas —
tendo como foco as deliberações em Ø consultas [...].
EM VEZ DE / AO INVÉS DE
Tradicionalmente em vez de quer dizer em lugar de e ao contrário de; ao invés de. Por
outro lado, ao invés de significa apenas ao contrário de; ao revés de.
Alguns estudiosos da língua afirmam não ser possível empregar em vez de com a
acepção de ao invés de; para eles, aquela primeira locução significa somente em
lugar de (KASPARY, 2000; BERGO, 1944 apud COSTA, 2007; AURÉLIO, 2010).
Parece perfilharem este entendimento o Manual de Redação da Presidência (BRASIL,
2002), o Manual de Redação do Governo do Estado de Minas Gerais (MINAS GERAIS,
2012), o Manual de Redação Parlamentar (MINAS GERAIS, 2007) e o Manual de Redação
do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (BRASIL, 2011).
Todavia, vários gramáticos e dicionaristas já reconhecem a semanticização de em
vez de como sinônimo de ao invés de, mas advertem para que se tenha cuidado
com o uso indistinto dessas expressões (ALMEIDA, 1981; HOUAISS, 2001; NEVES, 2003). Segundo eles, a locução ao invés de só se usa quando há ideias opostas;
assim, só seria sinônima de em vez de nesta acepção. Em outras palavras, a expressão em vez de substitui ao invés de, mas não o inverso.
Posicionamentos ainda mais liberais são o de Maria Tereza Piacentini (2008a) e de
Domingos Paschoal Cegalla (2009). Ambos reconhecem o processo de gramaticalização de ao invés de como sinônimo pleno de em vez de, ou seja, para eles, ambas
as expressões significariam a mesma coisa.
Logo, por disposição dos manuais de redação oficial, deve-se seguir a linha mais
ortodoxa quando se escreve nesse gênero textual; porém, em outros textos, não há
razão para censurar o emprego indistinto de ao invés de e em vez de.
Deveria, portanto, ser exigida
apenas a comprovação da “regularidade” ao invés de “certidão negativa de débito”, permitindo a apresentação, se for
o caso, de “certidão positiva
com efeito de negativa”.
Deveria, portanto, ser exigida apenas a comprovação da “regularidade” em vez de “certidão negativa
de débito”, permitindo a apresentação, se for o caso, de “certidão positiva com efeito de negativa”.
Em vez de e ao invés de são expressões sinônimas. Em redação oficial, mantém-se
a diferenciação de significado feita pelos estudiosos menos liberais.
87
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
E-MAIL
E-mail é estrangeirismo de largo uso no setor público e na imprensa. Por isso, apesar
de duras críticas ao termo (CEGALLA, 2009), não há razão para censurar o seu uso.
Por não ter se incorporado oficialmente ao português brasileiro, recomenda-se evitar
excessos, alternando-o, conforme o caso, com correio eletrônico, endereço eletrônico ou
mensagem eletrônica.
ENQUANTO / ENQUANTO QUE
Enquanto significa durante o tempo que, no tempo em que. Nesse sentido, usar apenas a
expressão enquanto em vez de enquanto que (muito empregado na linguagem jurídica).
O Manual de Redação da Presidência da República (BRASIL, 2002) recomenda evitar o
uso de enquanto que em vez de enquanto, por se tratar de construção coloquial.
Porém, há divergência entre os autores sobre a correção de enquanto que (com
significação de ao passo que), portanto fica a liberdade de seu uso (CEGALLA, 2009;
COSTA, 2007; NEVES, 2003) em redação não oficial.
O emprego de enquanto no sentido de considerado como ou na qualidade de é considerado por alguns como um modismo de uso excessivo (KASPARY, 2000). O termo
poderá ser substituído por como, na condição de.
No entanto, cumpre esclarecer que o Dicionário Aurélio (AURÉLIO, 2010) registra o
verbete com esse significado, e seu emprego é abonado por Costa (2007).
[...] [o] consentimento do indivíduo e do seu grupo, [...], hoje
agregados aos valores da justiça e da segurança para plenitude de sua realização enquanto
adjetivos da democracia.
[...] [o] consentimento do indivíduo e do seu grupo, [...], hoje
agregados aos valores da justiça e da segurança para plenitude de sua realização como adjetivos da democracia.
O total informado como “a
ser ressarcido”, pela SMED foi
de R$35.268,74, enquanto
que o apurado pela Comissão
foi de R$19.418,98.
O total informado como “a ser
ressarcido”, pela SMED foi de
R$35.268,74, enquanto Ø o
apurado pela Comissão foi de
R$19.418,98.
Em redação oficial não use enquanto que (apenas enquanto). Nos demais gêneros,
a Revista do TCEMG não verifica óbice ao uso dessa construção.
88
ENTRE / DENTRE
Há muita confusão no emprego das preposições entre e dentre, principalmente
porque o uso desta última se tornou modismo exagerado sem que os escritores atentassem para as sutilezas morfológicas e suas consequências semânticas implícitas.
Observa-se que a preposição dentre é de uso restrito, pois é preciso ocorrer o encontro das duas preposições (de + entre) regendo dois vocábulos diferentes (BRASIL,
2011; CEGALLA, 2009; COSTA, 2007).
Dentre significa do meio de. De forma geral dentre contém ideia de exclusão, afastamento, separação (KASPARY, 2000); entre, ao contrário, expressa a ideia de inclusão.
O advogado pediu a retirada de um
A prefeita saiu Øentre a multidão.
documento Øentre aqueles que
compunham os autos.
A prefeita saiu dentre a multidão.
O advogado pediu a retirada de um
[sair + de + entre]
documento dentre aqueles que
compunham os autos. [ideia de exclusão]
A Presidente escolheu, Øentre os
Ele está entre os mais competentes
vários
candidatos ao cargo, um técservidores da casa [ideia de inclunico.
[escolher
+ entre]
são]
ERÁRIO
Erário significa recursos financeiros do poder público, fazenda pública, tesouro público (AURÉLIO, 2010). Assim, causar dano ao erário é o mesmo que causar dano aos órgãos da
Administração Pública.
O erário é controlado pelo Fisco, que é um conjunto de órgãos da Administração
Pública, incumbidos de arrecadar e fiscalizar os tributos.
Erário público é uma expressão redundante: o adjetivo público já está contido na
palavra erário. Por isso, é desnecessária tal adjetivação.
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a
perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário público na forma e gradação previstas em lei.
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a
perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário Ø na
forma e gradação previstas em
lei.
89
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
ESQUECER
Diz-se esquecer-se de algo ou alguém ou esquecer algo ou alguém. Construções
canhestras não são recomendadas para o texto escrito: esquecer-se algo ou esquecer de algo (FERNANDES, 2005b; LUFT, 1995).
Algo esquece a alguém é outra construção possível, mas típica do português lusitano, de uso raro no brasileiro (CEGALLA, 2009); por isso,
recomenda-se evitá-la.
Consulte Regência e transitividade.
ESTE, ESSE, AQUELE, ISSO, ISTO
Os demonstrativos este e esse têm a propriedade de indicação — no discurso, no
tempo e no espaço — e de referenciação textual.
Este(a) e isto remete a: (i) coisa que se pretende mostrar, conhecida ou que se tem
muito próxima ao emissor da mensagem; (ii) período que, à época do discurso, era
tempo presente; (iii) termo textual mais próximo, principalmente quando houver
mais de um a ser referenciado (função anafórica); (iv) termo que será apresentado
no texto (função catafórica).
Esse(a) e isso remete a: (v) coisa que se pretende mostrar, desconhecida ou que se
tem próxima ao receptor da mensagem; (vi) período que, à época do discurso, era
passado pouco distante; (vii) termo textual mais próximo, quando não houver mais
de um a ser referenciado (função anafórica).
Aquele(a) e aquilo remete a: (viii) coisa que se pretende mostrar, desconhecida
tanto ao emissor quanto ao receptor da mensagem ou distante de ambos; (ix) período que, à época do discurso, era passado remoto; (x) termo textual mais distante.
(CASTILHO, 2012; CEGALLA, 2009; COSTA, 2007; NEVES, 2011).
90
(i)
(v)
[Na redação de uma peça endereçada ao
TCEMG.] Este Tribunal entende que
as contas devem ser julgadas regulares
quando [...]. [Trata-se de alguém que
pertence ao quadro do TCEMG. Ministério Público de Contas, por exemplo]
[Na redação de uma peça endereçada ao
TCEMG.] Esse Tribunal entende que
as contas devem ser julgadas regulares
quando [...]. [Trata-se de alguém externo
aos quadros do TCEMG. Um advogado
em defesa de um prefeito, por exemplo]
(ii)
(iv)
[Numa peça redigida no ano de 2013].
Ainda neste ano de 2013 haverá diversos cursos de capacitação [...]. [Refere-se
ao próprio ano de 2013]
Em seu relatório, esta foi a conclusão a
que o órgão técnico chegou: havia indícios de irregularidades na contratação da
empresa [...].
(vi)
(vii)
[Numa peça redigida no ano de 2014].
Ainda nesse ano de 2013 houve diversos cursos de capacitação [...]. [Refere-se
ao ano anterior, 2013]
[...] restrição da competitividade do certame, exigência de apresentação de documentos desnecessários e falta de projeto básico. Tudo isso foi suscitado na
impugnação do edital [...].
(ix)
[Numa peça redigida no ano de 2050].
Ainda naquele ano de 2013 houve diversos cursos de capacitação [...]. [Passado remoto]
(iv)
O decidido, à época, foi isto: aplica-se a
prescrição quando [...].
(iii e x)
[...] teve uma discussão entre o procurador do Ministério Público de Contas e
o conselheiro [...]. Enquanto este votou
pelo arquivamento dos autos, aquele
opinou pelo prosseguimento do feito.
[Este = conselheiro; aquele = procurador do Ministério Público de Contas]
FORICIDADE
CASTILHO (2012); CUNHA E CINTRA (2001); NEVES (2011)
ETC.
Conforme Costa (2007, p. 490),
Trata-se de abreviatura da locução latina et coetera, que etimologicamente significa e as outras coisas, ou e as coisas restantes. Na
atualidade, tem o sentido de assim por diante, afora o mais, e ainda
outros, podendo abranger, além de coisas, também pessoas e animais.
Antes de etc., nunca se coloca a conjunção e, pois como se vê já na origem latina,
há uma conjunção aditiva, razão por que não se diz e etc.
91
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
Em virtude do étimo da abreviatura, não se deveria usar a vírgula antes do etc. Não
se usa vírgula antes do último termo de uma enumeração, e sim a conjunção coordenativa, que já está implícita no etc. (ALMEIDA, 1981; HOUAISS, 2001).
No entanto, utilizou-se vírgula antes de etc. em todo o texto do Acordo Ortográfico
da Língua Portuguesa (1990), fato que implicitamente autorizou tal pontuação. Ademais, Arnaldo Niskier (1992, p. 35) também a defende:
A questão da vírgula antes do etc. é simples: deve ser usada! O argumento de que originalmente a palavra contém o e (et) não vale, pois o
que conta é o acordo ortográfico vigente, e, diga-se de passagem, já
não falamos latim, mas sim português.
Ressalte-se que, quando etc. for a última palavra da frase, não se coloca dois pontos
ao encerrá-la. Um só ponto indicará a abreviatura e o ponto final.
Além disso, por ser abreviatura de uma locução latina, pode-se utilizar o itálico ou
outra forma de grifo.
Compareceram diversas pessoas do
meio
jurídico: juízes, promotores,
advogados e etc.
Compareceram diversas pessoas do
meio jurídico: juízes, promotores,
advogados Ø etc.
Compareceram diversas pessoas do
meio jurídico: juízes, promotores,
advogados, etc.
Para fins de revisão e padronização textuais, a Revista do TCEMG adotou o uso do etc.
sempre imediatamente precedido de vírgula, com ponto e sem grifo.
FAZER, HAVER (CORRELAÇÃO TEMPORAL)
Haver e fazer, no sentido de tempo decorrido, são verbos impessoais usados somente na 3ª pessoa do singular, no tempo pretérito.
A lei vigorava faz anos.
A lei vigorava há anos.
A lei vigorava havia anos.
A lei vigora há dez anos.
A lei vigorava fazia anos.
É preciso ficar atento para não perder de vista o paralelismo. Se a relação de tempo
é no passado, os dois verbos devem ficar no passado; se no presente, ambos ficam
no presente.
92
GERUNDISMO
O gerúndio exprime uma ação em curso ou simultânea ou a ideia de progressão indefinida. Combinado com os auxiliares estar, andar, ir, vir, o gerúndio marca ação
em continuação. Quando não indica uma continuidade de ação, seu uso é condenado
por diversos autores, por constituir anglicismo.
De acordo com eles, é igualmente condenável o emprego do gerúndio para se referir
a uma promessa de ação futura. Exemplo: “Estarei pesquisando sobre o assunto.”
A fim de evitar ecoações e o empobrecimento do texto, recomenda-se a substituição
do gerúndio pelas preposições de ou com, quando possível.
O encadeamento de gerúndios é também um vício de redação muito frequente. Por
isso, deve ser evitado; sugere-se o emprego do verbo com outras formas verbais ou
estruturas sintáticas diferentes.
Saliente-se que diversos gramáticos não recomendam o gerúndio seguido de infinitivo flexionado. Entre eles, Cegalla (2009, p. 186) afirma que “construções com
gerúndio precedido dos verbos ir + estar” devem ser evitadas, por serem espúrias.
Muitos linguistas têm visto o gerundismo como uma nova forma perifrásica com verbos de ligação tipicamente brasileira (SANTOS, 2008).
Contudo, é indubitável que o gerundismo “exagerado” não é bem visto
em redações técnico-científicas e oficiais, pois prejudica a compreensão
e a estética textuais.
GERÚNDIO
SANTOS (2008); PIACENTINI (2008; 2008; 2009; 2009; 2009)
GROSSO MODO
A expressão é latina e por isso deve ser grafada em itálico ou com outro grifo. Não se
deve antepor-lhe a preposição a, que não existe na forma latina (CEGALLA, 2009;
BRASIL, 2011). Exemplo: “Examinando grosso modo, vê-se, desde já, que a denúncia
não procede.”
A pronúncia correta é grósso módo, e não grôsso módo.
93
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
HAJA VISTA
A expressão haja vista tem o sentido de veja; assim, não tem valor causal, motivo
pelo qual não deve ser empregada como sinônimo de porque, uma vez que, já que, etc.
Haja vista (= prova disso) é empregado para introduzir uma assertiva que comprova afirmação anterior. Trata-se de forma perifrástica transitiva, invariável, que tem
por objeto direto a palavra ou palavras que a acompanham.
Haja visto (com terminação o) é inovação oral brasileira descabida na redação técnico-científica e na oficial.
Existem outras interpretações sintáticas (SRINGARI, 1961 apud COSTA, 2007),
engendradas por alguns gramáticos, com o intuito de justificar a pluralização da
expressão haja vista quando a palavra seguinte estiver no plural, como se esta fosse
sujeito, mas inaceitável pela maioria. Cegalla (2009) atenta para a possibilidade de
flexão (apenas do verbo) para o plural (“hajam vista suas últimas decisões”).
Outra questão polêmica entre os gramáticos é a transitividade de haja vista, pois
alguns aceitam a possibilidade de se adicionar as preposições a e de (haja vista a/
haja vista de). Em caso de dúvidas, recomenda-se utilizar a forma invariável haja
vista, conforme criada por Rui Barbosa.
O edital estava eivado de vícios,
hajam vistas as cláusulas restritivas a ampla competitividade.
O edital estava eivado de vícios,
haja vista as cláusulas restritivas a
ampla competitividade.
O edital estava eivado de vícios,
hajam vista as cláusulas restritivas a ampla competitividade.
HORA ExTRA
O Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (ABL, [online]) não reconhece o
vocábulo hora-extra como substantivo composto. A grafia correta é, portanto, hora
extra (com espaço, sem hífen), e ambos os termos são flexionáveis para o plural
(horas extras).
HORAS
Abreviatura
Conforme Sistema Internacional de Unidades (2012), a abreviatura de hora é h, e a
de minuto é min. Ambas as abreviaturas são grafadas sem ponto.
94
Para informar horário, não se usa espaço para separar o numeral de sua abreviatura
(PIACENTINI, 2012b); para informar medida de tempo, usa-se o espaço (SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES, 2012).
ocorrerá das 8 h 30 min O evento durou 5h30min.
àsO 12evento
h 30 min.
O evento ocorrerá das 8h30min às
12h30min.
O evento durou 5 h 30 min.
Hora abreviada ou por extenso
A fim de evitar “poluição” do texto, prefira, sempre que possível, grafar as horas
de forma abreviada. Porém, para maior clareza e formalidade em algumas situações
(convites, anúncios, etc.), recomenda-se grafar as horas por extenso.
Abreviatura ou dois pontos
Conforme orientação de Maria Tereza Piacentini (2012b) e do Sistema Internacional
de Unidades (2012), prefira grafar a hora abreviada — hora(s) – h; minuto(s) – min
— em vez de usar dois pontos.
No entanto, por questões de estética textual — e desde que em redação fora dos
gêneros técnico-científico e oficial —, a grafia de horas com dois pontos pode ser
utilizada.
Acento grave
O acento grave deve ser usado apenas quando o paralelismo exigir o uso do artigo
definido a (CEGALLA, 2009; COSTA, 2007). Em outras palavras, escreve-se “de
15h a 16h” ou “das 15h às 16h”, e não “das 15h à 16h” ou “de 15h às 16h”.
Hífen
Em intervalos de hora grafada com dois pontos, é possível substituir as preposições
por um hífen. Exemplo: 15:30 às 17:45 15:30-17:45.
IBIDEM
Ibidem (abreviatura ibid.) é advérbio latino que significa aí mesmo, no mesmo lugar.
Idem (abreviatura id.) é pronome latino que significa o mesmo, a mesma coisa.
Consoante NBR 10520, ibidem e idem são empregados em notas de referência para se
referirem respectivamente à obra e ao autor imediatamente anteriores.
Por serem latinismos, tanto ibidem quanto idem (e suas abreviaturas) devem ser grafados com grifo, preferencialmente o itálico.
É redundante o uso de idem e ibidem na mesma citação.
95
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
ILUSTRÍSSIMO
Ver Digno / digníssimo.
IMPLICAR
Com o significado de enredar, constrói-se com objeto direto. No entanto, na forma
pronominal, com a acepção de enredar-se, meter-se, constrói-se com a preposição em.
Na acepção de intrometer-se, contender (=armar desordens) e relacionar-se (=
ter relação ou analogia), constrói-se na forma pronominal e requer a preposição
com.
No sentido de envolver (comprometer), implicar pode ser empregado como transitivo direto e indireto. O objeto direto deve ser pessoa, e o indireto, coisa regida de
preposição em (FERNANDES, 2005b; LUFT, 1995).
o que implicaria em restrição
ao[...]caráter
competitivo.
[...] o que implicaria Ø restrição ao
caráter competitivo.
Conforme os gramáticos puristas, implicar requer objeto direto (não aceita a preposição em) quando na acepção de encerrar, fazer supor, produzir como consequência, demandar e envolver (KASPARY, 2010; LUFT, 1995). Entretanto, não se pode deixar de
reconhecer que, com essas acepções, há uma forte tendência de gramaticalização da
forma implicar em (ROCHA LIMA, 1994).
Consulte Regência e transitividade.
INCLUSIVE
Inclusive é advérbio que indica inclusão; opõe-se a exclusive (COSTA, 2007).
Conforme lição mais moderna (CEGALLA, 2009), inclusive pode ser usado com a
acepção de até e/ou até mesmo. Entretanto, por questões de estilística, recomenda-se
evitar o abuso da expressão com esse sentido. Alterne, conforme o caso, com: até,
ainda, igualmente, mesmo, também, ademais.
INOBSTANTE / NADA OBSTANTE / NÃO OBSTANTE
Inobstante não está registrado na maioria dos principais dicionários de língua portuguesa (ABL, [online]; AURÉLIO, 2010; HOUAISS, 2001). No entanto, o iDicionário
96
Aulete (AULETE, [online]) registra o vocábulo inobstante com o significado de apesar de.
Apesar de inobstante parecer invencionice oriunda do meio jurídico — aliás, muito
criticada por estudiosos da língua (ALMEIDA, 1981; COSTA, 2007) —, é forçoso
reconhecer a tendência de consagração do uso e da lexicalização da palavra. Dessa
forma, embora não haja por que censurar o “vocábulo” inobstante, recomenda-se
evitá-lo em redação oficial e técnico-científica.
Por outro lado, não há nenhuma dúvida quanto à correção das locuções nada obstante e não obstante, ambas com valor concessivo (apesar de).
Inobstante os indícios de irregularidades, o conselheiro presidente indeferiu o pedido de
suspensão do certame.
Não obstante os indícios de
irregularidades, o conselheiro
presidente indeferiu o pedido
de suspensão do certame.
Recomenda-se preferir não obstante e nada obstante a inobstante.
INVERSÃO DE FRASES
Sempre que possível, as frases devem ser escritas na ordem direta, de forma que
não gere nenhuma dificuldade de entendimento da mensagem.
ITÁLICO / NEGRITO / SUBLINHA
Não existe um padrão, nem na ABNT nem na gramática, para o uso específico de
cada tipo de grifo. Assim, escolher um grifo em detrimento de outro fica a critério
do autor.
Porém, faz-se necessária a padronização do uso de certos grifos tanto nos artigos a
serem publicados na Revista do TCEMG quanto nos pareceres e decisões nela publicados.
Devido a essa necessidade de padronização — um dos princípios que norteiam a
redação oficial e a técnico-científica —, a Revista do TCEMG convencionou em suas
publicações o uso de grifos.
Não grife trechos muito extensos, parágrafos inteiros, etc.; caso contrário, a função de destaque do grifo perde sentido.
97
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
Itálico
Usa-se itálico para grafar:
a) palavras estrangeiras;
b) nomes de jornais, revistas e suas abreviaturas (Jornal do Brasil; The Economist;
Diário Oficial de Contas, etc.);
c) nomes científicos de seres vivos;
d) títulos de obras artísticas e livros;
e) nomes de congressos e eventos;
f) formação de palavras não dicionarizadas (por exemplo, vantajosidade);
g) elementos das referências que, conforme a NBR 6023 da ABNT, devem ter
grifo.
Palavras estrangeiras ou não dicionarizadas
Consideram-se estrangeiras ou não dicionarizadas as palavras que não constarem do
Vocabulário Ortográfico de Língua Portuguesa (ABL, [online]), disponível gratuitamente
para consulta online (www.abl.org.br).
Prefira grafar em língua portuguesa, sem itálico, as palavras e expressões estrangeiras
que já foram aportuguesadas e dicionarizadas. Exemplos: copidesque, défice, escore,
leiaute, estresse, fumaça do bom direito, sítio eletrônico, tíquete, cartum, coquetel,
fac-símile, etc.
Nomes científicos
A grafia de nomes científicos deve seguir as regras definidas pela International Commission on Zoological Nomenclature, International Association for Plant Taxonomy, International
Committee on Systematics of Prokaryotes e International Committee on Taxonomy of Viruses.
Negrito
O negrito deve ser utilizado apenas para dar ênfase a algum trecho ou palavra.
Sublinha
Nas publicações da Revista do TCEMG, não se utiliza a sublinha como forma de
grifo.
98
JUNTO A / JUNTO DE
Ambas as construções estão corretas. Na maioria das vezes tem o sentido de na
companhia de, com. Em outras situações, prefira usar alguma expressão ou preposição
mais apropriada (CEGALLA, 2009), como em, para com, etc.
Pretendeu o ex-Presidente da Câ mara
Municipal, em síntese, fazer
prevalecer o entendimento junto
ao Tribunal de que não pode ser penalizado por irregularidade dos procedimentos relativos à compra de
passagens aéreas e à ausência de
publicidade das aquisições realizadas pela Câmara.
Pretendeu o ex-Presidente da Câmara Municipal, em síntese, fazer
prevalecer o entendimento no Tribunal de que não pode ser penalizado por irregularidade dos procedimentos relativos à compra de
passagens aéreas e à ausência de
publicidade das aquisições realizadas pela Câmara.
LATIM
Excesso de palavras e frases latinas poluem muito o texto, prejudicando sua estética
e clareza. Por isso, sempre que possível, deve-se usar palavra ou expressão equivalente em português brasileiro.
Assim, evita-se o risco de o autor errar a declinação4 e a ortografia das palavras
latinas.
MAIS BEM / MELHOR
Antes de particípio, é correto escrever tanto mais bem quanto melhor (CEGALLA,
2009; COSTA, 2007), uma vez que os dicionários (AULETE, [online]; FERREIRA,
2010; HOUAISS, 2001) e o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (ABL, [online])
classificam bem e melhor como advérbios.
[...] a nova resolução pretendia
deixar o setor mais bem estruturado.
[...] a nova resolução pretendia
deixar o setor melhor estruturado.
Porém, deve-se utilizar somente melhor antes de particípios adjetivados que iniciem
com bem.
As mesmas regras, com as adaptações necessárias, se aplicam a pior e a
mais mal.
4
A declinação corresponde à variação da grafia de palavras conforme gêneros, números e funções sintáticas.
99
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
MAL-EMPREGADO / MAL EMPREGADO
Conforme o iDicionário Aulete [online] e Domingos Paschoal Cegalla (2009), o adjetivo
que caracteriza aquilo que foi mal usado, aplicado ou resolvido é mal-empregado,
grafado com hífen.
Mal empregado (sem hífen) é interjeição típica do português lusitano.
MESTRE / MESTRA
Mestra é substantivo feminino; mestre é substantivo masculino, e não comum de
dois gêneros (ABL, [online]; COSTA, 2007).
MULTA-SANÇÃO (PLURAL)
Na flexão de substantivos compostos, quando o segundo elemento representar a finalidade do primeiro (BECHARA, 2001; CEGALLA, 2005), apenas este é flexionável. Exemplos: 1) auxílio-maternidade auxílios-maternidade (auxílios para a mãe).
2) vale-transporte vales-transporte (vales para transporte). 3) salário-família
salários-família (salários para a família). 4) ano-calendário anos-calendário (anos
que servem de parâmetro para o calendário). 5) data-limite datas-limite (datas que
servem de limite).
Aplica-se a mesma regra a multa-sanção, pois sanção é a finalidade da multa. A
forma plural correta é, pois, multas-sanção.
N. / Nº
Para fins de padronização dos textos da Revista, adota-se a forma n. em vez de nº.
NEM
Nem é conjunção aditiva que significa e não, e tampouco, dispensando, portanto, a
conjunção e (COSTA, 2007). Porém, Cegalla (2009) reconhece a possibilidade de uso
de e nem quando se quer dizer mas não.
De qualquer forma, e nem pode ter caráter enfático. Contudo, evite tal construção
em redação oficial e técnico-científica.
O recorrente não concorda
com o prazo e nem com o valor da multa.
100
O recorrente não concorda
com o prazo Ø nem com o valor da multa.
A fim de manter a clareza textual, evite dupla negação: não nem, nem tampouco,
etc.
[...] garantias, que emergem naturalmente de qualquer caráter contratualista ou associativo, sem não, concomitantemente, deixar de
impingir-lhe deveres, obrigações, observâncias, limitações, ao exercício
pleno de certas liberdades naturais e a propriedade [...].
Apesar de ser uma conjunção coordenativa aditiva, diversos estudiosos, como Piacentini (2009), abonam, por questões de estilística, o uso de vírgula antes do nem.
NO SENTIDO DE / NO SENTIDO DE QUE
É comum em textos jurídicos o emprego exagerado da expressão no sentido de, o
que constitui um cacoete. Para não empobrecer o texto, evite o uso de no sentido
de quando for dispensável e alterne a expressão, conforme o caso, com para, de, a fim
de, com o objetivo de, etc.
Prefira empregar a expressão apenas quando indicar direção (“[...] fica no sentido de
Belo Horizonte”) (COSTA, 2007).
Esta Corte de Contas já se posicionou no sentido de que é
vedada a acumulação de cargos, empregos e funções públicas [...].
Esta Corte de Contas já se posicionou pela impossibilidade
de acumulação de cargos, empregos e funções públicas [...].
O MESMO / A MESMA
Apesar de não existir óbice na linguística cognitiva para utilizar o mesmo em vez
de pronomes ― como os pessoais ele e ela, por exemplo ― (CASTILHO, 2012), a
gramática normativa condena o uso dessa expressão para tal finalidade (ALMEIDA,
1981; COSTA, 2007).
Alguns manuais tradicionais afirmam que o(a) mesmo(a) deve ser sempre acompanhado de substantivo. Segundo eles, mesmo é pronome adjetivo, sem valor de
substantivo; portanto, não tem função de substituir ele, este, para ele, nele, dele, etc.
Assim, embora haja uma (tímida) tendência de gramaticalização de o mesmo como
substituto de um pronome, recomenda-se não o empregar dessa forma.
Fica mantida atual competência do
controle
interno até que a mesma
seja definida em resolução.
Fica mantida atual competência do
controle interno de contas até que
Ø seja definida em resolução.
101
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
O(A) QUAL
Na maior parte das vezes, é indiferente usar o qual ou que. Em alguns casos, o emprego de apenas um deles é possível (CEGALLA, 2009):
• quando for necessário resolver ambiguidades;
• depois das preposições sem e sob, usa-se o qual;
• depois das preposições com duas ou mais sílabas, usa-se o qual;
• depois de locução prepositiva, usa-se o qual;
• depois de certos pronomes indefinidos, numerais e superlativos, em orações
explicativas, usa-se o qual;
• depois de preposições monossilábicas, em orações de sentido restritivo, emprega-se, de preferência, que.
OBRIGADO
Obrigado é palavra flexionável. Ou seja, a mulher diz obrigada, e um grupo de
mulheres diz obrigadas. Se obrigado for antecedido por muito (advérbio), apenas
aquele é flexionável. Exemplo: “Muito obrigados! [agradecimento de um grupo de
pessoas]”.
OFICIAR / OFICIALIZAR
Oficiar (transitivo indireto) significa dirigir ofício a alguém, comunicar por ofício. Oficializar é verbo transitivo direto e significa tornar oficial (FERREIRA, 2010; LUFT, 1995).
O controle interno oficializou ao
Tribunal
de Contas sobre a abertura
de crédito extraordinário sem previsão orçamentária.
O controle interno oficiou ao Tribunal de Contas sobre a abertura de
crédito extraordinário sem previsão
orçamentária.
O presidente oficializou a renúncia.
Consulte Regência e transitividade.
102
ONDE / AONDE
Onde é pronome relativo que significa em que, referindo-se sempre a local físico.
Para melhor compreensão do as sunto,
faz-se necessário adentrar a
doutrina, de onde se extrai a seguinte lição [...].
Para melhor compreensão do assunto, faz-se necessário adentrar a
doutrina, da qual se extrai a seguinte lição [...].
A prefeitura onde foi realizada a
perícia.
Usa-se onde com verbos de acepção estática, que indicam permanência em algum
lugar. Aonde se emprega com verbos de acepção dinâmica, indicadores de movimento, correspondendo à contração a + onde (COSTA, 2007).
[...] sendo diferente das demais já
estudadas,
aonde não se consegue
identificar, de forma isolada, a parte
referente ao caráter público ou privado.
Aonde o processo será encaminhado?
ONDE / AONDE
CABRAL (2011); MARINHO (1999)
OPERACIONALIZAR
Operacionalizar tem o significado de tornar operacional ou apto a operar. Entretanto,
operacionalizar tem sido empregado indiscriminadamente como sinônimo de executar, fazer.
Conforme o Manual de Redação da Presidência da República (BRASIL, 2002, grifo do
autor):
operacionalizar
Neologismo verbal de que se tem abusado. Prefira realizar, fazer, executar, levar a cabo ou a efeito, pôr em obra, praticar, cumprir, desempenhar, produzir, efetuar, construir, compor, estabelecer. É da mesma família de agilizar,
objetivar e outros cujo problema está antes no uso excessivo do que
na forma, pois o acréscimo dos sufixos -izar e -ar é uma das possibilidades normais de criar novos verbos a partir de adjetivos (ágil + izar
= agilizar; objetivo + ar = objetivar). Evite, pois, a repetição, que pode
sugerir indigência vocabular ou ignorância dos recursos do idioma.
103
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
A prefeitura contratou empresa ter ceirizada
para operacionalizar a
folha de pagamento de pessoal.
Era necessária a regulamentação do
Executivo para operacionalizar
aquela lei.
PAGADO
Trata-se de particípio do verbo pagar, mas é forma pouco usada e pode soar estranha
(CEGALLA, 2009). Por isso, deve-se preferir o particípio irregular pago a pagado.
PERTINENTE / PERTINÊNCIA
Pertinere (do latim) deu origem ao verbo pertencer, ao adjetivo pertinente, ao substantivo pertinência. Não existe na língua portuguesa o verbo pertinir, portanto a
expressão no que pertine (= no que se refere) também não tem acolhida na nossa
gramática, uma vez que pertine seria 3ª pessoa do singular de um verbo que não
existe no Volp nem em outro dicionário de língua portuguesa.
Há outras expressões com o mesmo significado de no que se refere que podem
substituí-la: no que concerne, no que diz respeito, quanto a, relativamente a.
Não é correto empregar no que pertine.
PONTUAÇÃO EM LISTAS
Para anunciar a apresentação de elementos em lista, usam-se dois-pontos. A fim de
separar os itens da lista usa-se: ponto e vírgula e iniciais minúsculas, quando o período for curto; ponto final e iniciais maiúsculas, quando o período for longo.
POR UNANIMIDADE / À UNANIMIDADE
É incorreta a construção à unanimidade. O correto é por unanimidade.
O voto foi aprovado à unanimida de.
104
O voto foi aprovado por unanimidade.
SEMÂNTICA DAS PREPOSIÇÕES
BECHARA (2001); CASTILHO (2010); NEVES (2011)
POR VIA DE REGRA / VIA DE REGRA
Por via de regra é locução adverbial que tem a acepção de em geral, em regra. Segundo
Domingos P. Cegalla (2009), via de regra é variante censurada de por via de regra.
Via de regra, os contratos depen dem
de um processo seletivo.
Para realizar essas contratações é
obrigatória, por via de regra, a instauração de licitação.
POSTO QUE
Trata-se de conjunção concessiva equivalente a ainda que, embora, se bem que,
apesar de (BRASIL, 2011; CEGALLA, 2009; COSTA, 2004).
Posto que não possui valor causal (porque, visto que) nem conclusivo (portanto, dessa
forma).
Constatou-se ainda controle pouco Trata-se de objetos distintos e para
efetivo,
posto que 25% dos conseatender às secretarias com necessilhos não têm as suas ações fiscalizadas por instância distinta da que o
administra [...].
dades também distintas; posto que
não há como somar as despesas realizadas com cartazes e ingressos
com os blocos de notas fiscais para
a tesouraria.
Constatou-se ainda controle pouco
efetivo, uma vez que 25% dos conselhos não têm as suas ações fiscalizadas por instância distinta da que o
administra [...].
Trata-se de objetos distintos e para
atender às secretarias com necessidades também distintas; portanto
não há como somar as despesas realizadas com cartazes e ingressos
com os blocos de notas fiscais para
a tesouraria.
PRECISAR
Precisar é verbo transitivo direto ou indireto. No Brasil, o mais comum é usar a
preposição quando o complemento verbal é um substantivo ou pronome e omiti-la
quando o complemento for um verbo no infinitivo.
Eu preciso de estudar.
Eu preciso estudar.
105
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
PROCEDER
Proceder, na acepção de realizar, executar, levar a efeito é transitivo indireto, o que
significa que ele sempre se liga ao seu complemento por meio de uma preposição
(quem realiza algo, procede a alguma coisa) (FERNANDES, 2005b; LUFT, 1995).
No sentido de comportar-se, proceder é intransitivo.
Depois de protocolizada a denún cia,
o conselheiro determinou que o
órgão técnico procedesse Øa inspeção in loco.
Depois de protocolizada a denúncia, o conselheiro determinou que o
órgão técnico procedesse à inspeção in loco.
Ao licitante foi solicitado que saísse
da sala por proceder inadequadamente.
Consulte Regência e transitividade.
PRONOME “SE” + INFINITIVO
Deve-se evitar o uso da partícula indeterminadora do sujeito “se” quando seguida de
verbo no infinitivo (ALMEIDA, 1981; COSTA, 2007).
É necessário se discutir o impacto dessa “nova modalidade” de licitação [...].
É necessário Ø discutir o impacto dessa “nova modalidade” de licitação [...].
PROPOR-SE (FAZER ALGUMA COISA)
Propor-se, com o sentido de ter em vista, visar, intentar, é verbo pronominal. (FERNANDES, 2005b).
É frequente o emprego da preposição a antes do infinitivo. Na dúvida, recomendase a sintaxe propor-se + infinitivo, sem a preposição a.
O Tribunal de Contas propõese a ser uma instituição de referência.
O Tribunal de Contas propõese Ø ser uma instituição de referência.
Consulte Regência e transitividade.
106
PROTOCOLAR / PROTOCOLIZAR
As duas formas têm o sentido de registrar no protocolo e são igualmente corretas.
Protocolar é uma simplificação brasileira do verbo original protocolizar, formado pelo adjetivo protocolar + sufixo izar, que indica ação.
QUALQUER
O pronome qualquer não possui valor negativo. O étimo desse pronome corresponde a qual quer, indicando o que quiser, ou o que quer que seja. Usar qualquer com a significação de nenhum é um estrangeirismo sintático e pode gerar
ambiguidade por se desviar do sentido original.
No entanto, Domingos Paschoal Cegalla (2009, p. 331) entende “que não se deve
condenar o emprego de qualquer nesta acepção, tão generalizado está”.
A Lei Municipal [...] criou o
Ipsem, sem qualquer cálculo
atuarial na gestão do Prefeito
[...], e regulamentou os gastos
com saúde.
A Lei Municipal [...] criou o Ipsem,
sem nenhum cálculo atuarial na
gestão do Prefeito [...], e regulamentou os gastos com saúde.
QUANTO ANTES / O QUANTO ANTES
A expressão correta é quanto antes, sem o artigo o. Por se tratar de locução adverbial, é descabido o uso de artigo para antecedê-la (CEGALLA, 2009; COSTA,
2007).
Termine o serviço o quanto antes.
Termine o serviço quanto antes.
“QUE” — PRONOME RELATIVO
“Que” é pronome relativo quando pode ser substituído por o qual, a qual, os
quais, as quais.
O emprego desse pronome em orações adjetivas restritivas — sem marcação de
vírgulas — e adjetivas explicativas — entre vírgulas — normalmente gera dúvidas.
Enquanto as orações subordinadas adjetivas explicativas dão informações adicionais
sobre a oração principal, as restritivas delimitam o entendimento desta.
107
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
Os analistas do tribunal Ø que são
contadores não concordaram com
balanço financeiro apresentado.
[oração sub. adj. restritiva — No tribunal há analistas que são contadores e outros que não são; porém,
aqueles que são contadores não
concordaram com o balanço]
Os analistas do tribunal, que são
contadores, não concordaram com
balanço financeiro apresentado.
[oração sub. adj. explicativa — No
tribunal há técnicos, todos são contadores e não concordam com o balanço]
A presidente Ø Adriene Andrade Ø
nomeou mais um servidor aprovado em concurso. [nesse caso, há
mais de uma presidente e foi a presidente Adriene quem nomeou o
servidor]
A presidente, Adriene Andrade,
nomeou mais um servidor aprovado em concurso. [nesse caso, há
apenas uma presidente, a Adriene
Andrade]
Ao empregar os pronomes relativos deve-se observar a regência do
verbo, a concordância e outros aspectos sintáticos para não incorrer
em erros que comprometam o entendimento.
No Brasil, a propriedade da terra sofreu uma série de limitações baseadas na fun ção
social que deve observar, sobretudo a partir da constituição de 1988.
Que retoma termo da oração anterior (função social): “A função social deve observar”. Com a omissão do objeto direto do verbo observar, verifica-se que a oração
fica truncada, pois é a função social (sujeito passivo) que deve ser observada por
alguém.
No Brasil, a propriedade da terra
sofreu
uma série de limitações basea-
das na função social que deve observar, sobretudo a partir da Constituição de 1988.
108
No Brasil, a propriedade da terra
sofreu uma série de limitações baseadas na função social que se deve
observar, sobretudo a partir da
Constituição de 1988.
“QUEÍSMO”
Queísmo é o nome que se dá para um problema estilístico muito comum em textos
jurídicos e consiste no uso indiscriminado e repetitivo do que. No caso de repetição
inútil de de que, diz-se dequeísmo.
QUEM / QUE — PRONOME RELATIVO
O pronome invariável quem só pode referir-se a pessoas ou coisas personificadas
e vem sempre precedido de preposição, exceto em frases interrogativas; que pode,
indiferentemente, referir-se a pessoas ou coisas. Ambos funcionam como pronomes
substantivos.
Sucede que o controle dos excessi vos
gastos [...] interessa à sociedade
como um todo, pois, em caso de insuficiência de recursos, será ela
quem arcará com os custos [...].
Os funcionários de quem falamos
são estes.
Os servidores de que precisamos
apareceram.
O funcionário a quem atribuímos a
tarefa foi afastado do cargo.
QUITE (PARTICÍPIO PASSADO DO VERBO QUITAR)
Concorda no singular ou plural com a palavra modificada (CEGALLA, 2009). A
palavra quite é muitas vezes tomada como invariável, erro muito frequente.
Estamos quites com a justiça fede ral.
Estou quite com a justiça federal.
QUORUM / QUÓRUM
Quorum indica o número de pessoas que deve comparecer às assembleias para que
estas possam validamente deliberar.
O Volp (ABL, [online]) registra a palavra apenas como estrangeira (latina), portanto
sem acento gráfico. No entanto, os dicionários Caldas Aulete [online], Aurélio Ferreirs (2010), e Houaiss (2001) registram ambas as grafias (quorum e quórum). Assim,
não há por que censurar o uso de nenhuma das formas.
Contudo, deve-se atentar para o uso correto do grifo (preferencialmente itálico):
quando grafado com acento, quórum é palavra do português brasileiro e não recebe
grifo de palavra estrangeira; quando grafado sem acento, quorum é palavra estrangeira
e, logo, deve ser grifada.
109
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
QUOTA/COTA
As duas formas são corretas e consideradas sinônimas. Têm o sentido de determinada
porção, quinhão, nota de apontamento de pequena extensão nos autos de um processo.
Nos textos de lei, observa-se uma tendência a se usar quota com significado de
quinhão e cota com o significado de nota concisa. Porém, tal diferenciação não está
registrada em nenhuns dos principais dicionários da língua portuguesa nem de conceitos jurídicos (AULETE, [online]; FERREIRA, 2010; DINIZ apud COSTA, 2007;
HOUAISS, 2001).
REGÊNCIA E TRANSITIVIDADE
Devido à grande extensão do tema, sugere-se consultar as principais obras e dicionários sobre o assunto.
REGÊNCIA VERBAL
FERNANDES (2005b); LUFT (1995)
REGÊNCIA NOMINAL
FERNANDES (2005a); LUFT (1992)
TRANSITIVIDADE VERBAL
AULETE [online]; AURÉLIO (2010); BRITO; AGRA (2008);
HOUAISS (2001); KASPARY (2010)
RESSALTE-SE
Tem havido incorreções frequentes no emprego da forma verbal ressalte-se e de
outras similares, como: destaque-se, sublinhe-se, saliente-se, releve-se — formas reduzidas
de orações com o sentido de: cabe ressaltar, é importante destacar, cumpre salientar, impende
registrar, é relevante distinguir. São predicados de orações cujo sujeito é a oração seguinte
geralmente iniciada pela conjunção integrante que.
Ressalte-se é o mesmo que é necessário que se ressalte e não que se ressalta. O verbo,
nesse caso, deve ser usado no imperativo (modo verbal que expressa uma ordem,
recomendação, convite, conselho, pedido).
Atente-se que, nas formas de imperativo dos verbos da 1ª conjugação, a vogal temática a muda para e, pois são originadas do presente do subjuntivo.
Ressalta-se que, uma vez deferido o
abono,
vincula-se ao cargo efetivo
que lhe deu origem.
110
Ressalte-se que, uma vez deferido o
abono, vincula-se ao cargo efetivo
que lhe deu origem.
RESTAR
Restar não é sinônimo de ficar, estar, ser; sua acepção está relacionada com subsistir
como resto e sobrar (AULETE, [online]; COSTA, 2007; KASPARY, 2010). Essa confusão é muito comum nos textos jurídicos.
Por se tratar de transição, restaram
consignadas,
na petição, as falhas de
instrução da tomada de contas especial.
Por se tratar de transição, foram
consignadas, na petição, as falhas de
instrução da tomada de contas especial.
RESULTAR
Há diferenças sutis de significado para o verbo resultar conforme a regência utilizada.
Quando significa ser a consequência, o efeito natural, a conclusão lógica, nascer, provir, proceder,
dimanar, resultar é transitivo indireto (exige a preposição de). Também é transitivo
indireto (exige a preposição em) quando tem a acepção de tornar-se, reverter, redundar.
As vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um
produto não ocorreram.
Isso resulta em dano do Estado.
A perfeição espiritual é a que resulta
de todos os nossos atos.
Palavras que sem nenhum custo, às
vezes, resultam em grande proveito.
Com a acepção de dar resultado, seguir-se, originar-se, resultar é transitivo direto e indireto.
A denúncia contra o prefeito foi convertida em processo administrativo e desse
fato lhe resultaram prejuízos políticos naquela eleição.
No sentido de vir a ser em resultado, resultar tem a natureza de verbo de
ligação (resultar + predicativo).
“Os esforços resultaram improfícuos.” (Esse emprego, próprio do
castelhano não é abonado por alguns gramáticos, mas é acolhido por
outros como empréstimo já consagrado).
“A diligência resultou inútil.” (A liberdade para tal emprego é, portanto, admitida pela corrente mais moderna).
Consulte Regência e transitividade.
111
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
SENDO QUE
Conforme Almeida (1981), sendo que é locução conjuntiva causal (equivalente a
desde que, porquanto, porque, uma vez que, visto que), e esse é o seu único emprego
correto. Trata-se de erro qualquer outro uso da expressão sendo que; não se deve
utilizá-la para exprimir a ideia de adição (e) ou oposição (mas).
Nesses casos, recomenda-se a correção de sendo que pela conjunção adequada, sua
supressão ou a colocação de ponto final ou ponto e vírgula.
Destaque-se que Cegalla (2009), sem apontar exceções, recomenda evitar o uso de
sendo que para unir orações.
O advogado contentou-se com o
provimento
parcial do recurso, sendo que preferiria a reforma integral
da decisão.
O advogado contentou-se com o
provimento parcial do recurso, mas
preferiria a reforma integral da decisão.
Afasto a irregularidade apontada
pelo órgão técnico, pois se refere à
falha meramente formal, sendo
que os conteúdos dos atos atingiram a finalidade.
SER (OMISSÃO)
Nos textos jurídicos, é frequente a supressão do verbo de ligação (ser) que deve compor o predicado das orações, termo indispensável para a conexão do qualificativo
ao qualificado.
Contudo, mister ressaltar que o jul- Por isso, cabível a conversão de ofí gador
cio da ação cautelar em ação ordinánão está adstrito aos fatos.
ria.
Contudo, é mister ressaltar que o
julgador não está adstrito aos fatos.
Por isso, é cabível a conversão de
ofício da ação cautelar em ação ordinária.
SOB O PONTO DE VISTA
Sob é um prefixo que indica posição de uma coisa inferior à outra (ex.: sobpor). Sob
o ponto de vista é expressão equivocada. O correto é do ponto de vista (CEGALLA,
2009).
Sob o ponto de vista metodológi co,
a ciência jurídica também pode
limitar subjetivismos aleatórios nessa questão.
112
Do ponto de vista metodológico, a
ciência jurídica também pode limitar subjetivismos aleatórios nessa
questão.
SOBRESTAR
Quanto à conjugação, flexiona-se como o verbo estar, do qual é derivado. Significa suspender, sustar. Exemplo: “Depois que o STF sobrestou o julgamento dos recursos [...]”.
Quanto à regência, pode ser empregado como transitivo direto (pode aparecer com
sujeito na voz passiva) ou indireto precedido da preposição em.
Poderá o relator determinar que
seja sobrestado o processo.
Sobresteve em assinar a petição
(abster-se).
SOER
Na terceira pessoa do presente do indicativo, escreve-se sói, e não soe.
Diz-se que algo sói acontecer quando sua ocorrência é comum. Pode-se empregar o
verbo como sinônimo de costumar (algo costuma/sói acontecer; alguém costuma/sói
apresentar bons trabalhos).
STRICTO SENSU
Stricto sensu é a grafia correta dessa expressão latina; o antônimo é lato sensu.
“SUJEITO PREPOSICIONADO”
Segundo a gramática tradicional, não se deve fazer contração de preposição com
parte do sujeito. Perfilha esse entendimento o Manual de Redação da Presidência da República (2002), o Manual de Redação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (BRASIL, 2011).
Observa-se, porém, que há uma forte tendência de gramaticalização do “sujeito preposicionado” (BECHARA, 2001; CEGALLA, 2009; NEVES, 2003;). Conforme,
Maria Helena de Moura Neves (2003),
a preposição ‘de’ rege a oração infinitiva inteira, não apenas o sujeito.
Além disso, é muito mais natural a seqüência fonética obtida com as
contrações da preposição ‘de’ com a vogal inicial do adjunto (do, da,
deste, dele) do que sequências como ‘de o, de a, de este, de ele’.
Interessante também é a conclusão de José Maria da Costa (2007, p. 420): “não se
trata, no entanto, convém frisar, de uma questão de certo ou errado, mas, acima de
tudo, é um problema de maior ou menor gabarito da expressão escrita.”
113
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
Assim, em redação não oficial, não há motivo para censurar essa construção do
sujeito.
As orações “existe possibilidade de ele recorrer” e “existe possibilidade dele recorrer” estão igualmente corretas. Mas, em redação oficial, deve-se sempre optar pela não
contração do sujeito (de ele recorrer).
SUPERAVIT / DEFICIT / DÉFICE
O vocábulo superávit (forma aportuguesada), não pertence ao léxico conforme o
Volp (ABL, [online]). Saliente-se que o antônimo (deficit) foi incorporado ao léxico na
forma défice.
Ressalte-se que dicionários de renome (AULETE, [online]; FERREIRA, 2010; HOUAISS, 2001) trazem déficit e superávit como formas aportuguesadas.
Deficit e superavit (sem acento gráfico) são expressões latinas e, portanto,
devem ser escritas com grifo, de preferência o itálico.
A revisão da Revista do TCEMG, para fins de padronização, adota apenas as formas
previstas no Volp: deficit, superavit e défice.
TRATAR-SE (DE) / TRATAR DE
O verbo tratar pode ter sujeito. Todavia, pode-se indeterminar o sujeito empregando o verbo na terceira pessoa do singular e o pronome se (índice de indeterminação).
Tratam-se os autos de processo
de pagamento de verba indenizatória a
vereadores.
O relator, neste processo, trata de
pagamento de verba indenizatória a
vereadores. [voz ativa]
Este parecer em consulta trata de
pagamento de verba indenizatória a
vereadores. [voz ativa]
administrativo disciplinar.
Tratam os autos de processo administrativo disciplinar. [voz ativa]
Este parecer em consulta trata-se
114
Trata-se de processo disciplinar
[...]. [sujeito indeterminado]
Nos exemplos o verbo está na voz ativa
regendo objeto indireto e o pronome se é índice de indeterminação do sujeito. Nesses casos, o verbo tratar concorda obrigatoriamente na terceira pessoa do singular,
mesmo que o termo ou expressão seguinte esteja no plural (CEGALLA, 2009).
VERBOS ABUNDANTES
Abundantes são os verbos que admitem mais de uma forma de conjugação. É muito
comum a abundância de particípios, tais como:
Aceitado e aceito; acendido e aceso; concluído e concluso; elegido e eleito;
emergido e emerso; entregado e entregue; expressado e expresso; exprimido e
expresso; extinguido e extinto; expulsado e expulso; findado e findo; imprimido e impresso; limpado e limpo; matado e morto; morrido e morto; omitido e
omisso; prendido e preso; rompido e roto; salvado e salvo; segurado e seguro;
suprimido e supresso; suspendido e suspenso.
O particípio terminado em [-ado] ou em [-ido], denominado de particípio regular, é
empregado na voz ativa quando precedido do verbo auxiliar “ter” ou “haver”.
O particípio não terminado em [-ado] ou em [-ido], denominado de particípio irregular, é empregado na voz passiva com os verbos auxiliares “ser” ou “estar”.
Os particípios regulares são invariáveis.
autos tinham sido entregados
aoOsgabinete
do conselheiro.
Os autos tinham sido entregues ao
gabinete do conselheiro.
VERBOS EM COORDENAÇÃO COM REGÊNCIAS DIFERENTES
Normativistas condenam construções que dão um complemento comum a verbos
de regências diferentes.
Conforme Cegalla (2009, p. 93, grifo nosso),
gramáticos puristas condenam [...] [tais construções]. A nós parece
perfeitamente possível essa sintaxe, desde que não comprometa a
clareza da frase e lhe transmita mais vigor.
Cabe ao STF cuidar e proteger
o texto constitucional [...].
Cabe ao STF cuidar do texto
constitucional bem como protegê-lo [...].
115
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
VEZ QUE / DE VEZ QUE
A expressão vez que ou de vez que não é registrada em nenhuns dos principais
dicionários da língua portuguesa. Nesse caso, deve-se empregar uma vez que, porque,
porquanto (COSTA, 2007).
VISAR
O verbo visar pode ser transitivo direto (sem preposição) ou transitivo indireto
(com preposição).
Quando significa apor visto e mirar, é transitivo direto.
O consulado já visou o passaporte.
[dar visto]
O policial visou o alvo e atirou. [mirar]
Quando significa desejar, almejar, pretender, ter em vista, visar é transitivo indireto e exige
a preposição a. Se estiver seguido por um infinitivo, a preposição a pode ser omitida.
Saliente-se que a transitividade de visar tem passado por um processo de gramaticalização. Conforme Ferreira (2010), Costa (2007) e Luft (1995), visar, com a acepção
de ter em vista, objetivar, pode ser tanto transitivo direto quanto indireto.
Contudo, em textos oficiais, recomenda-se empregar as regências eruditas, em consonância com o Manual de Redação Presidência da República (BRASIL, 2002).
A defendente mostra-se receptiva às sugestões e orientações
emanadas das análises deste
órgão técnico e do MP, promovendo alterações visando
Ø o aprimoramento do edital
de licitação.
A defendente mostra-se receptiva
às sugestões e orientações emanadas das análises deste órgão técnico
e do MP, promovendo alterações visando ao aprimoramento do edital
de licitação.
Evite o uso no gerúndio (visando e objetivando) no lugar da preposição
para.
Consulte Regência e transitividade.
116
Vossa Excelência
Vossa Excelência é pronome de tratamento utilizado para se dirigir a: presidente da
República; vice-presidente da República; ministros de Estado; governadores e vicegovernadores de Estado e do Distrito Federal.
Vossa Excelência (V. Exa.), assim como todos os outros pronomes de tratamento,
leva o verbo da oração para a terceira pessoa. Exemplos: “Vossa Excelência não
sabe o que diz.” “Vossas Excelências estão de acordo?”
De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República (2002), é de uso consagrado:
Vossa Excelência, para as seguintes autoridades:
a) do Poder Executivo:
Presidente da República;
Vice-Presidente da República;
Ministros de Estado;
Governadores e Vice-Governadores de Estado e do Distrito
Federal;
Oficiais-Generais das Forças Armadas;
Embaixadores;
Secretários-Executivos de Ministérios e demais ocupantes de
cargos de natureza especial;
Secretários de Estado dos Governos Estaduais;
Prefeitos Municipais.
b) do Poder Legislativo:
Deputados Federais e Senadores;
Ministros do Tribunal de Contas da União;
Deputados Estaduais e Distritais;
Conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais;
Presidentes das Câmaras Legislativas Municipais.
117
P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA
P
c) do Poder Judiciário:
Ministros dos Tribunais Superiores;
Membros de Tribunais;
Juízes;
Auditores da Justiça Militar.
O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos
Chefes de Poder é Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo respectivo:
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal.
As demais autoridades serão tratadas com o vocativo Senhor,
seguido do cargo respectivo:
Senhor Senador,
Senhor Juiz,
Senhor Ministro,
Senhor Governador.
Voz passiva (excesso)
Por inverter a ordem natural das orações, o uso de várias orações na voz passiva
num mesmo período pode prejudicar a clareza e estética textuais bem como tornar
o texto prolixo.
Sempre que possível, em conformidade com a concisão textual, prefira o uso da voz
ativa.
Destaque-se, ainda, que uma das consequências semânticas de apassivar uma oração
é dar maior ênfase ao objeto, promovendo-o a sujeito, e reduzir a expressividade do
sujeito da voz ativa, transformando-o em agente da passiva.
118
Glossário
G LOSSÁRIO
G
Artigo científico
Parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento.
Artigo de revisão
Parte de uma publicação que resume, analisa e discute informações já publicadas.
Artigo original
Parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens originais.
Avaliação prévia
Procedimento realizado por qualquer editor-gerente para verificar se os critérios
básicos de classificação de texto de caráter técnico-científico e a linha editorial da
Revista foram observados pelo autor.
Boneca
Projeto gráfico, em forma de brochura de uma publicação, usado para demonstrar
como esse se apresentará quando impressa.
Consenso
Reunião de revisores para deliberar sobre as marcações polêmicas e/ou sobre assuntos da revisão de textos.
Copidesque
Trabalho editorial que o revisor faz ao propor mudanças e aperfeiçoamentos num
texto, tendo em vista a clareza e o ajuste aos critérios editoriais.
Corpus (pl. corpora)
Coleção de textos da língua efetivamente em uso coligidos em livros, periódicos,
documentos de todo tipo.
Diretoria da Revista
Órgão do TCEMG responsável pelo conteúdo da Revista.
120
Editor-chefe
Gerente editorial responsável pelo processo de editoração da revista.
Gramaticalização
De forma simplificada, trata-se do processo de incorporação de um elemento à
gramática.
Lexicalização
Corresponde ao processo que leva à incorporação de uma palavra ao léxico.
Metáfora do canal
A metáfora do canal é uma rede de metáforas muito sistemáticas no pensamento,
formada por toda uma rede de metáforas conceituais.
Paper
Artigo publicado em periódico científico.
Semanticização
É o processo por qual passa um vocábulo para que adquira uma nova acepção.
Verbo-suporte
Grosso modo, trata-se de um verbo que ameniza ou perde seu valor semântico, variando sua significação de acordo com o nome que o acompanha. Ex.: “dar um tiro”
é verbo-suporte com o significado de “atirar”.
Zero (Ø)
O zero, em linguística, corresponde a um elemento necessário na análise, mas que
não é pronunciado. Em outras palavras, quando faltar um termo que, em certa situação, a teoria determine ser essencial, o zero será o marcador de sua ausência.
121
G LOSSÁRIO
G
122
Referências
REFERÊNCIAS
R
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Vocabulário ortográfico da língua portuguesa.
[Volp-online]. Disponível em: <www.abl.org.br>. Acesso em: 29 abr. 2013.
ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA. Aprova acordo
para unificar a ortografia dos países de língua portuguesa. Lisboa, 16 dez. 1990.
Texto original do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Lisboa, 14-16 dez.
1990. Disponível em: <www.academia.org.br>. Acesso em: 22 maio 2013.
ALMEIDA, Napoleão Mendes de. Dicionário de questões vernáculas. São Paulo: Caminho Suave, 1981. 351 p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: Informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10525: Informação e documentação: número padrão internacional para publicação seriada: ISSN. Rio
de Janeiro, 2005.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10719: Informação e documentação: relatório técnico e/ou científico: apresentação. Rio de Janeiro,
2011.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12225: Informação e documentação: lombada: apresentação. Rio de Janeiro, 2004.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12676: Métodos
para análise de documentos: determinação de seus assuntos e seleção de termos de
indexação. Rio de Janeiro, 1992.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5892: Norma
para datar. Rio de Janeiro, 1989.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6021: informação e documentação: publicação periódica científica impressa: apresentação. Rio de
Janeiro, 2003.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: Informação
e documentação: artigos em publicação periódica impressa: apresentação. Rio de Janeiro, 2003.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação
e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6024: Informação
e documentação: numeração progressiva das seções de um documento: apresentação.
Rio de Janeiro, 2012.
124
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6025: Informação
e documentação: revisão de originais e provas. Rio de Janeiro, 2002.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6027: Informação
e documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro, 2012.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028: Informação
e documentação: resumo: apresentação. Rio de Janeiro, 2003.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6029: Informação
e documentação: livros e folhetos: apresentação. Rio de Janeiro, 2006.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6032: Abreviação
de títulos de periódicos e publicações seriadas. Rio de Janeiro, 1989.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6033: Ordem
alfabética. Rio de Janeiro, 1989.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6034: Informação
e documentação: índice: apresentação. Rio de Janeiro, 2004.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15287: Informação e documentação: projeto de pesquisa: apresentação. Rio de Janeiro, 2011.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2011.
AULETE, Júlio de Caldas. iDicionário Aulete. [online]. Disponível em: <http://aulete.uol.com.br>. Acesso em: 3 maio 2013.
BAGNO, Marcos. A norma oculta: língua e poder na sociedade brasileira. São Paulo:
Parábola Editorial, 2003.
BAGNO, Marcos. Dramática da língua portuguesa. São Paulo: Loyola, 2000.
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001. 672p.
BERNARDO, Sandra. Através de numa abordagem cognitiva. In: VASCONCELLOS, Zinda de (Org.); AUGUSTO, Maria Rosa Ana (Org.); SHEPHERD, Tania Granja (Org.). Linguagem, teoria, análise e aplicações. Rio de Janeiro: Letra Capital,
2007, v. 3. Disponível em: <http://www.pgletras.uerj.br/linguistica/linguagem03.
html>. Acesso em: 1º maio 2013.
BRASIL. Câmara de Deputados. Manual de redação. Brasília: Coordenação de Publicações, 2004.
125
REFERÊNCIAS
R
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso
em: 26 abr. 2013.
BRASIL. Presidência da República. Manual de redação da presidência da república. 2. ed.
rev. e atual. Brasília: Presidência da República, 2002.
BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Manual de redação. 2. ed. rev.
ampl. Belo Horizonte: TRE-MG, 2011. 246 p.
BRITO, Kleber Gomes de; AGRA, Marcos Wagner da Costa. Transitividade e
regência verbal: tradição e inovação. In: Coletânea de monografias do curso de especialização em língua portuguesa: princípios organizacionais da língua e funcionamento textual
discursivo. Campina Grande: Realize, 2008.
BRUM, Eliane. Doutor advogado e doutor médico: até quando? Revista Época
[online], 10 set. 2012. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/
eliane-brum/noticia/2012/09/doutor-advogado-e-doutor-medico-ate-quando.
html>. Acesso em: 3 maio 2013.
BUNGE, Mario. Dictionary of philosophy. Nova Iorque: Prometheus Books, 1998.
320 p.
CALDAS, Gilberto. Como traduzir e empregar o latim forense. 20. ed. São Paulo: Ediplax
Jurídica, 1997. 400 p.
CASTILHO, Ataliba Teixeira. Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010. 768 p.
CEGALLA, Domingos Paschoal. Dicionário de dificuldades da língua portuguesa. 3. ed.
rev. ampl. Rio de Janeiro: Lexikon, 2009. 431 p.
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 14. ed. São Paulo: Ática, 2010. 424 p.
COELHO NETO, Aristides. Além da revisão: critérios para revisão textual. 2. ed.
São Paulo: Senac, 2008.
COSTA, José Maria da. Dona — como abreviar?. Migalhas [online], 25 jan. 2012.
Disponível em: <http://www.migalhas.com.br>. Acesso em: 30 abr. 2013.
COSTA, José Maria da. Manual de redação profissional. 3. ed. Campinas: Millennium,
2007. 1.289 p.
COSTA, José Maria da. Posto que. Migalhas [online], 5 maio 2005a. Disponível em:
<http://www.gramatigalhas.com.br>. Acesso em: 1° abr. 2014.
COSTA, José Maria da. Siglas maiúsculas. Migalhas [online], 5 out. 2005. Disponível
em: <http://www.migalhas.com.br>. Acesso em: 30 abr. 2013.
126
CUNHA, Celso; CINTRA, Luís Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 3. ed. rev. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 748 p.
DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antonio. Curso de português jurídico. São
Paulo: Atlas, 2010. 284 p.
DICIONÁRIOS EDITORA. Dicionário de latim-português. 2. ed. Porto: Porto Editora, 2001. 717 p.
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. 11. ed. São Paulo: Ática, 2009. 104 p.
FERNANDES, Francisco. Dicionário de regimes de substantivos e adjetivos. 28. ed. São
Paulo: Globo, 2005a. 384 p.
FERNANDES, Francisco. Dicionário de verbos e regimes. 45. ed. São Paulo: Globo,
2005b. 606 p.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio da língua portuguesa. 5.
ed. Curitiba: Positivo, 2010. 2.272 p.
FOLHA DE S. PAULO. Manual de redação. São Paulo: Publifolha, 2005. 391 p.
FRANÇA, Júnia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina de. Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 8. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Ed. UFMG,
2007. 255 p.
GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro:
Fundação Getúlio Vargas, 2010.
GOPEN, George; SWAN, Judith. 1990. The science of scientific writing. American
Scientist v. 78, 550-558, Nov./Dec. 1990.
HALLIDAY, Michael Alexander Kirkwood; HASAN, Ruqaiya. Cohesion in English.
Londres: Longman, 1976.
HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 2.922 p.
INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA. Normas
técnicas nacionais: normas técnicas da ABNT relacionadas com periódicos científicos.
Disponível em: <http://seer.ibict.br/>. Acesso em: 26 abr. 2013.
KASPARY, Adalberto José. Habeas verba: português para juristas. 6. ed. rev. ampl.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. 269 p.
KASPARY, Adalberto José. O verbo na linguagem jurídica: acepção e regimes. 7. ed.
rev. atual. ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 310 p.
127
REFERÊNCIAS
R
KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. 22. ed. São Paulo: Contexto, 2012. 84 p.
KOCH, Ingedore Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A coerência textual. 12. ed. São
Paulo: Contexto, 2001.
LUFT, Celso Pedro. Dicionário prático de regência nominal. São Paulo: Ática, 1992. 550 p.
LUFT, Celso Pedro. Dicionário prático de regência verbal. São Paulo: Ática, 1995. 544 p.
MAFRA, Francisco. Da administração pública: o art. 37 “caput” da Constituição
da República Federativa do Brasil antes da Emenda Constitucional nº 19, de 1998.
Âmbito Jurídico, Rio Grande, v. 8, n. 20, fev 2005. Disponível em: <http://www.
ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_
id=836>. Acesso em: 1º maio 2013.
MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa. Manual de redação parlamentar. 2. ed. Belo
Horizonte: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 2007. 348 p.
MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa. Manual de redação parlamentar. 3. ed. Belo
Horizonte: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 2013. 396 p.
MINAS GERAIS. Governo do Estado. Manual de redação oficial. Belo Horizonte:
[online], 2012. Disponível em: <www.mg.gov.br>. Acesso em: 2 maio 2013.
MINAS GERAIS. Tribunal de Contas do Estado. Resolução n. 16, de 1º de dezembro de 2010. Dispõe sobre atividades da Revista do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, normas e procedimentos gerais para admissão, seleção e publicação de trabalhos no periódico, criação de Conselho Editorial e dá outras providências. Diário Oficial de Contas, p. 6-8, 2010.
MINAS GERAIS. Tribunal de Contas do Estado. Resolução n. 16, de 24 de
novembro de 2010. Dispõe sobre atividades da Revista do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, normas e procedimentos gerais para admissão, seleção
e publicação de trabalhos no periódico, criação de Conselho Editorial e dá outras
providências. Diário Oficial de Contas, 1º de dezembro de 2010.
MONTEIRO, José Lemos. Pragmática e estilística: alguns pontos de interseção.
Revista das Letras, v. 1, n. 26, jan./dez. 2004.
MORENO, Cláudio. Em princípio, a princípio. Sua língua [online], 2009. Disponível
em: <http://wp.clicrbs.com.br/sualingua/2009/05/05/em-principio-a-principio/>. Acesso em: 29 abr. 2013.
MORENO, Cláudio. Pleonasmo? Tem certeza? Sua língua [online], 2010. Disponível
em: <http://wp.clicrbs.com.br/sualingua/2010/09/13/pleonasmo-tem-certeza/>. Acesso em: 29 abr. 2013.
128
MORENO, Cláudio. Rápida e silenciosamente. Sua língua [online], 2012. Disponível
em: <http://wp.clicrbs.com.br/sualingua/2012/05/07/rapida-e-silenciosamente/>. Acesso em: 29 abr. 2013.
NEVES, Maria Helena de Moura. Gramática de usos do português. 2. ed. São Paulo:
Unesp, 2011. 1005 p.
NEVES, Maria Helena de Moura. Guia de usos do português: confrontando regras e
usos. São Paulo: Unesp, 2003. 829 p.
NISKIER, Arnaldo. Questões práticas da língua portuguesa: 700 respostas. Rio de Janeiro: Consultor, Assessoria e Planejamento Ltda., 1992.
PIACENTINI, Maria Tereza de Queiroz. Não tropece na língua n. 138: em vez de;
quando mais não seja; personagem. Língua Brasil. 15 out. 2008a. Disponível em:
<http://www.linguabrasil.com.br/>. Acesso em: 29 abr. 2013.
PIACENTINI, Maria Tereza de Queiroz. Não tropece na língua n. 16: a folhas
tantas e Estado — maiúscula ou não. Língua Brasil. 14 mar. 2012a. Disponível em:
<http://www.linguabrasil.com.br/>. Acesso em: 29 abr. 2013.
PIACENTINI, Maria Tereza de Queiroz. Não tropece na língua n. 39: cor branca e
grafia de horas e datas. Língua Brasil. 22 ago. 2012b. Disponível em: <http://www.
linguabrasil.com.br/>. Acesso em: 16 maio 2013.
PIACENTINI, Maria Tereza de Queiroz. Regência: chegar, atender, avisar. Âmbito
Jurídico [online], col. n. 399, 16 jan. 2008b. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=visualiza_dica&id_noticia=26846>. Acesso em: 1º
maio 2013.
PIACENTINI, Maria Tereza de Queiroz. Só vírgula: método fácil em vinte lições. 3.
ed. São Carlos: Editora UFSCar, 2009. 143 p.
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO. Estilística como estética.
Rio de Janeiro: PUC-Rio, [2000?]. p. 33-96.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. 22. ed. Madrid:
Espasa Libros, 2001. 2.448p. Disponível em: <http://www.rae.es>. Acesso em: 29
abr. 2013.
ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa. 32. ed.
rev. ampl. Rio de Janeiro: José Olympio, 1994. 551 p.
RODRIGUES, Márcio de Ávila. Pela democratização da linguagem jurídica. Belo
Horizonte, Contas de Minas, n. 99, 4 fev. 2013.
SACCONI, Luiz Antonio. Novíssima gramática ilustrada. São Paulo: Nova Geração,
2008.
129
REFERÊNCIAS
R
SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática: teoria e prática. 18. ed. reform. e atual.
São Paulo: Atual, 1994.
SALGADO, Luciana Salazar. Ritos genéticos no mercado editorial: autoria e práticas de
textualização. 2007. 307 f. Tese (Doutorado em Linguística) — Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2007.
SANTOS, Patrícia Tavares de Almeida. Só um instante, senhora, que eu vou estar verificando se o livro está disponível na editora: gerundismo, preconceito e expansão da mudança. 2008. 100 f. Dissertação (Mestrado em Linguística) — Faculdade de Letras,
Universidade de Brasília. Brasília, 2008.
SCHERRE, Maria Marta Pereira. Doa-se lindos filhotes de poodle: variação lingüística,
mídia e preconceito. São Paulo: Parábola, 2005.
SCHERRE, Maria Marta Pereira. Entrevista com Maria Marta Pereira Scherre
sobre preconceito lingüístico, variação lingüística e ensino. Caderno de Letras da UFF
– Dossiê: preconceito lingüístico e cânone literário, Rio de Janeiro, n. 36, p. 11-26,
jan./jun. 2008.
SILVA, Flávia Rafaela Lobo e. Redação oficial e elaboação de textos técnicos. Belo Horizonte: Edição da autora, [2013]. Apostilas.
SISTEMA internacional de unidades: SI. Duque de Caxias, RJ: INMETRO/CICMA/SEPIN, 2012. 94 p. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br>. Acesso
em: 30 abr. 2013.
TURNBULL, Joanna. Oxford advanced learner’s dictionary. 8. ed. Oxford: Oxford University Press, 2010. 2.100 p. Disponível em: <http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com>. Acesso em: 29 abr. 2013.
VAL, Maria da Graça Costa. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
130
131