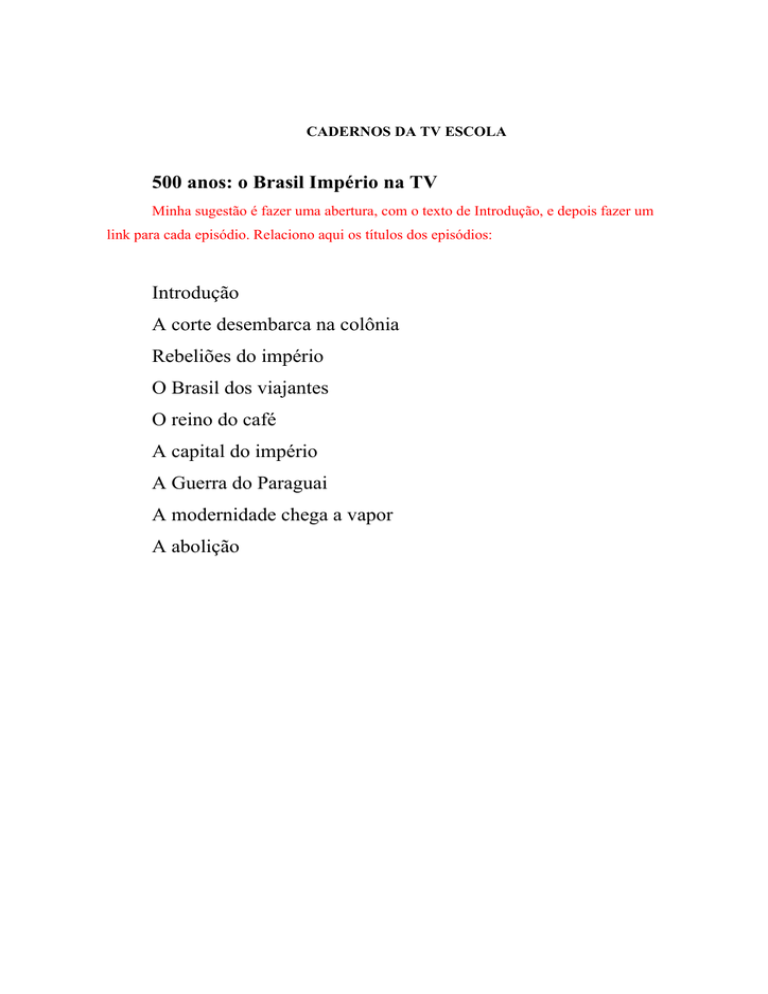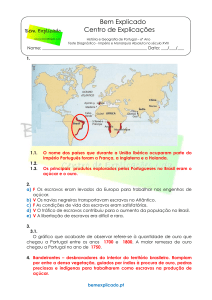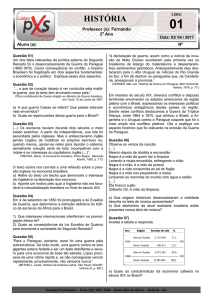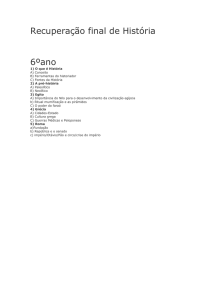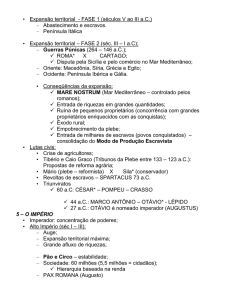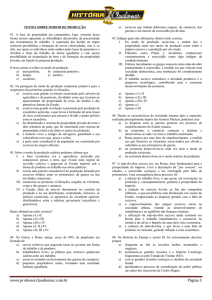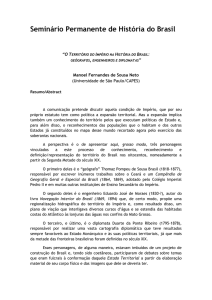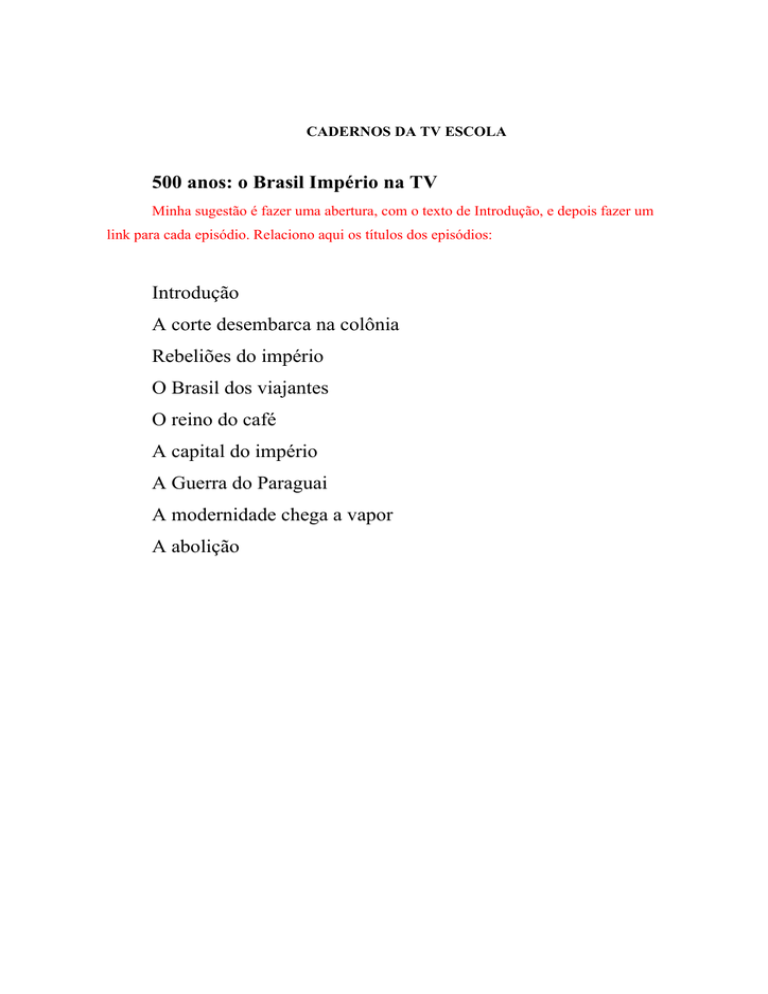
CADERNOS DA TV ESCOLA
500 anos: o Brasil Império na TV
Minha sugestão é fazer uma abertura, com o texto de Introdução, e depois fazer um
link para cada episódio. Relaciono aqui os títulos dos episódios:
Introdução
A corte desembarca na colônia
Rebeliões do império
O Brasil dos viajantes
O reino do café
A capital do império
A Guerra do Paraguai
A modernidade chega a vapor
A abolição
CADERNOS DA TV ESCOLA
500 anos: o Brasil Império na TV
Peça comemorativa da chegada do príncipe-regente D. João ao Brasil. A América está representada na figura de uma índia
que se coloca aos pés da Corte Portuguesa. (Relevo em alabastro, Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro).
Para uma parcela considerável dos homens que
habitavam o Império do Brasil, e também para umas
poucas mulheres, os anos que se seguiram à abdicação
do
primeiro
imperador
foram
anos
vividos
intensamente. […] no dizer de um contemporâneo,
[foram] anos de ação, de reação e, por fim, de
transação. Foram também anos de levantes, revoltas,
rebeliões e insurreições. De sonhos frustrados e de
intenções transformadas em ações vitoriosas. Foram
sem dúvida anos emocionantes para aqueles que
viviam no Império do Brasil.
Ilmar R. de Mattos, O tempo saquarema. São Paulo,
Hucitec, 1987, pp. 1-2
Introdução
Muitos estudos históricos interpretam o período em que o Brasil foi um império em
uma perspectiva política. É comum nos livros didáticos uma análise em que predominam
fatos e datas considerados relevantes, protagonizados por personagens ilustres, e uma
considerável quantidade de tramas de bastidores, sem falar em discussões em torno de
partidos políticos (como conservador ou liberal etc.). Nessa visão da história, parece que só
os grandes homens e seus feitos têm importância. Mas será que a história do império
brasileiro se resume a isso? Será que apenas os grandes homens decidiram os destinos do
país e só é possível entender a história a partir de fatos políticos significativos?
Na verdade, é possível compreender o Brasil Império de outra maneira. Mas mesmo
assim, é importante saber como foi construída essa versão historiográfica predominante.
Pois a elite política, preocupada em justificar sua escolha pela monarquia, utilizou a história
como um dos meios para legitimar sua opção. E a principal ferramenta desse processo de
ideologização foi a criação, em 1838, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, cujo
objetivo era estabelecer o arcabouço de uma história nacional. Com a participação direta do
imperador, inclusive com financiamento oficial, o instituto também visava determinar quais
eram os caracteres culturais genuinamente brasileiros, ou seja, as “feições” da
nacionalidade.
Para a elite intelectual – na qual se destacava o historiador Varnhagen –, o eixo
central que permitia entender a história do Brasil passava necessariamente pelo Estado
nacional. Este era o sujeito da história, encarregado de fazer a defesa da unidade política do
país e do modelo monárquico de governo, ao mesmo tempo tido como responsável pela
unidade cultural e pela afirmação de uma identidade nacional. A monarquia era apresentada
como sistema ideal para encaminhar a transição no sentido de uma sociedade
verdadeiramente civilizada, nos moldes europeus. Para essa elite, era preocupante o grande
contingente de escravos e excluídos, na medida em que se acreditava que eles não podiam
participar ativamente da construção de uma sociedade civilizada. Pelo contrário, na sua
visão, os negros seriam os responsáveis pelo atraso do país. A monarquia constitucional,
dominada por essa elite branca, aparecia como o único regime capaz de assegurar a
realização do seu projeto político, apresentado como o ideal de toda a nação.
Procuramos aqui questionar e tentar quebrar os “quadros de ferro” dessa
historiografia, conforme expressão utilizada por Capistrano de Abreu. Nossa proposta não é
desconsiderar os fatos políticos, mas mostrá-los como resultado da ação de muitos sujeitos,
evidenciando como a política está presente nos atos cotidianos de todos aqueles que
viveram naquele período. Política aqui entendida não apenas como a política partidária,
palco de ação de ministros e deputados que dirigiam os negócios do governo, mas também
como uma prática presente nos grandes salões pelos quais circulavam damas e cavalheiros,
na roda de capoeira ou de batuque, nas conversas dos botequins, dentro das casas em que
viviam mulheres e crianças excluídas da cena política tradicional, nas igrejas e irmandades
religiosas, nas ruas onde circulavam os negros escravos, vendendo quitutes, buscando água
nos chafarizes, carregando compras das sinhazinhas, ou mesmo nas roças, no convívio
sempre conflituoso entre escravos e homens livres.
CADERNOS DA TV ESCOLA
500 anos: o Brasil Império na TV
Aclamação de D. João VI no Paço Real. Gravura de Jean-Baptiste Debret in: Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, Vol. 2, p. 605.
A corte desembarca na colônia
Rio de Janeiro: sede da monarquia
(Des)encontros culturais
Diversidade da vida cotidiana: textos para debate
Sugestão de atividade
Filmografia
Bibliografia
A transferência da corte para o Brasil, em 1808, trouxe profundas transformações à
situação colonial, em decorrência das medidas econômicas e políticas tomadas pelo
príncipe regente, como a decretação da abertura dos portos, a assinatura dos tratados de
1810 com a Inglaterra e a elevação do país a Reino Unido. Essas medidas oficiais
geralmente são vistas como provocadoras das mudanças que resultaram na independência
brasileira. Neste texto serão evidenciadas importantes mudanças que ocorreram também em
outros níveis, e que foram tão intensas e influentes quanto as resoluções e decretos oficiais,
contribuindo de forma decisiva para o estabelecimento de novos padrões sociais, bem
como, sobretudo, para a ruptura da condição de país colonizado.
É importante perceber que a prática política não se fazia presente apenas nos
gabinetes, nas assembléias e nos órgãos de governo. Ao contrário do que se imagina
comumente, ela era exercida não só pelos dirigentes políticos oficiais, como deputados e
senadores, mas também pelos populares que se reuniam nas esquinas, pelas elegantes
senhoras que freqüentavam as suntuosas festas da corte e pelos escravos festejando nas
senzalas com seus batuques e cantorias.
Além disso, a criação de órgãos públicos e o funcionamento pleno da máquina
burocrático-administrativa estatal propiciaram uma convivência com as autoridades, com
diferentes procedimentos e práticas, estabelecendo uma relação de maior intimidade da elite
colonial com o poder. As novas instituições, a circulação de jornais e a criação de
estabelecimentos de ensino estimularam diferentes formas de sociabilidade. Essa relação
cotidiana com a corte e com o aparato que a cercava estabeleceu alterações profundas na
sensibilidade da elite brasileira, modificando suas concepções acerca do papel representado
pela colônia até então e firmando, aos poucos, a noção de que o Brasil poderia se
autogovernar.
A seguir serão analisados alguns aspectos das mudanças realizadas na fisionomia do
Rio de Janeiro nesse período, como a introdução dos chamados “melhoramentos urbanos”,
enfocando também algumas transformações operadas na vida cotidiana da cidade e da sua
população em função da vinda da corte e dos nobres portugueses.
Rio de Janeiro: sede da monarquia
Apesar das melhorias feitas pelos vice-reis no final do século 18, o Rio de Janeiro,
em 1808, ainda era, na visão dos nobres portugueses recém-chegados, uma cidade precária:
destituída de palácios, de ruas estreitas e malcheirosas, com seus esgotos a céu aberto, suja
e descuidada. A vinda da corte provocou uma série de transformações, alterando diversos
aspectos da vida colonial. Charcos foram drenados, as ruas, depois de ampliadas, ganharam
calçadas – por exemplo, a rua Direita, no centro, foi toda modernizada – e novos bairros –
como Glória, Flamengo e Botafogo – foram praticamente criados. Esse processo
intensificou-se principalmente após a chegada da missão artística francesa, em 1816,
quando a cidade começou a adquirir um ar europeu (veja também Episódio 3 – O Brasil dos
viajantes). Para se ter uma idéia do seu crescimento, basta observar o aumento
populacional: o número de habitantes passou de 50 mil pessoas para 110 mil em apenas dez
anos.
A chegada de D. João VI não transformaria apenas o aspecto da cidade. Houve a
implantação de todo o aparato administrativo e político da metrópole, aproximando a elite
local dos círculos de poder metropolitano, bem como dos ritos e cerimoniais da corte.
Segundo Lilia Schwarcz,
[...] entraria no Brasil, também, toda uma agenda de festas e uma etiqueta real que,
abaixo do equador, ganhou um colorido ainda mais especial. Com efeito, vêm junto
com a burocracia lusitana os te-déuns, as missas de ação de graças, as embaixadas,
as grandes cerimônias da corte. A construção de monumentos, arcos de triunfo e a
prática das procissões desembarcam com a família real, que tentou modificar sua
situação desfavorecida repatriando o teatro da corte e instaurando uma nova “lógica
do espetáculo” que tinha, entre outros, os objetivos de criar uma memória, dar
visibilidade e engrandecer uma situação, no mínimo, paradoxal. (Schwarcz, 1998,
p. 36).
A presença da corte na cidade fez, portanto, aumentar a quantidade de festejos
públicos, pois a monarquia aproveitava todos os pretextos para promovê-los. Eram, por
exemplo, aniversários, casamentos, nascimentos (e até funerais) da família real –
cerimônias cheias de pompa e luxo às quais o povo assistia admirado.
A vida cultural e o movimento intelectual da cidade intensificaram-se. Criaram-se o
Jardim Botânico, a Biblioteca Real, a Imprensa Régia, escolas e cursos superiores foram
instituídos, jornais, lançados, e um maior número de livros começou a circular.Aos poucos,
os hábitos culturais foram mudando. Mais bailes e banquetes começaram a ser promovidos
– principalmente quando a nobreza se propunha a receber algum membro da família real. O
Teatro São João foi inaugurado em outubro de 1813, e a partir daí, o Rio de Janeiro
começou a receber diversas companhias européias de ópera. Além dos espetáculos teatrais,
a sociedade carioca também promovia saraus literários, jogos de salão ou mesmo pequenos
concertos de câmara.
Tudo isso provocou uma redefinição na conduta da elite do Rio de Janeiro. Com a
vinda da corte, esse grupo começou a vislumbrar a perspectiva de juntar à sua força
econômica uma maior participação política. Os membros da elite aproximaram-se da
realeza, financiaram obras públicas e filantrópicas, comportavam-se como fidalgos,
refinando suas vestes e gestos. Nesse jogo de troca de favores, recebiam em contrapartida
privilégios, terras, isenções, direitos de exploração, títulos etc. Era uma espécie de
aprendizado de participação no jogo político, vivenciando a proximidade com o centro de
poder, interferindo nas decisões importantes. Com essa convivência ganhavam experiência
política e autoconfiança.
A vinda da corte provocou, portanto, um choque cultural em vários setores da
sociedade carioca, que podia ser percebido nos pequenos detalhes da vida cotidiana, no
convívio com a nobreza, na presença de estrangeiros que visitavam a cidade (coisa rara até
então), na influência da moda francesa, nos novos costumes. Nesse sentido, a cultura
tornava-se um instrumento da política, e o conhecimento, uma forma de poder.
No entanto, as mudanças não foram capazes de suprimir os velhos costumes, nem
de apagar completamente os traços característicos da velha cidade. Os antigos festejos de
rua continuaram a se realizar, servindo de principal forma de entretenimento para as
camadas mais pobres da população. Assim, apesar do ar de civilidade que o Rio de Janeiro
adquiria com os novos bairros, o cosmopolitismo dos viajantes, a variedade de produtos e
as novas práticas culturais, ainda conservava muito da antiga cidade colonial. Pelas ruas se
ouvia o vozerio das quituteiras e negras de ganho, o soar dos tambores nos lundus e
batuques, as brigas em torno dos chafarizes e os cânticos e rezas das festas religiosas de
cunho mais popular, em que o sagrado e o profano se mesclavam, como nas folias do
divino Espírito Santo, ou na queima do Judas, aos sábados de aleluia, quando ao primeiro
toque dos sinos anunciando a ressurreição ouviam-se por toda a cidade as explosões de
fogos e os clamores do povo.
As festas populares não eram bem vistas pelas autoridades. Os viajantes são
pródigos em descrever, às vezes chocados e escandalizados, as diversões dos negros,
escravos ou forros, reunidos defronte das vendas, ou mesmo nas ruas. Ou seja, apesar dos
novos ares, os costumes dos escravos continuavam permeando as práticas culturais que
ocorriam na cidade, lembrando concretamente quais eram os limites e até onde as
mudanças podiam ocorrer (veja também Episódio 5 – A capital do Império). Se o gosto
pelo luxo e pelo conforto se enraizava nos hábitos da elite, costumes que ela considerava
rudes e grotescos persistiam no seio do povo.
(Des)encontros culturais
Embora seja importante levar os alunos a compreender os motivos que fizeram a
Coroa optar pela transferência da corte para o Brasil e saber detalhes do reinado de D. João,
bem como sua volta a Portugal e o papel de D. Pedro na regência, há aspectos históricos
importantes, menos factuais e mais voltados para o domínio da cultura que costumam ser
pouco explorados nos livros didáticos.
Podemos imaginar, por um lado, como se sentiram os nobres e o restante da
comitiva portuguesa diante de sua chegada ao Rio de Janeiro; e, por outro, o que pensaram
os habitantes do Rio de Janeiro e como perceberam a vinda da corte para a colônia. Em
meio a uma atmosfera calorosamente festiva, contra o pano de fundo de uma cidade de
paisagens belíssimas e natureza tropical exuberante e pródiga, não teriam passado
despercebidos, aos olhos da comitiva real, as feições, os traços e o tom escuro da pele
daqueles rostos que gritavam e acenavam entusiasticamente. As pomposas comemorações
também não conseguiam esconder a verdadeira cara da cidade colonial com todas as suas
mazelas. As luxuosas colchas de seda e os panos de veludo estendidos sobre os portais e
janelas das residências, as ruas adornadas com areia branca, folhas perfumadas e vistosas
bandeiras coloridas, as guirlandas de flores e ramagens e as lanternas acesas que enfeitavam
os principais logradouros, apesar de disfarçar, não eram capazes de ocultar dos recémchegados uma cidade despojada, acanhada, malcheirosa, com ruas estreitas e esburacadas,
vivendas simples e modestas, sem ornatos ou detalhes arquitetônicos elaborados.
A população da cidade, por sua vez, embora extasiada com a visão do cortejo real,
examinava, admirada e curiosa, a estranha gente de casaca, vestes ornadas, adereços,
chapéus tricornes e criados fardados. Apesar da perplexidade diante do fausto e da pompa
dos recém-chegados, o povo não deixaria de observar, comentar e se divertir com o aspecto
desajeitado de D. João VI, o choro inconformado de Dona Carlota Joaquina, os gritos
desvairados de Dona Maria I e as cabeças raspadas das nobres e damas de companhia
devido à epidemia de piolho ocorrida a bordo, na viagem. O estranhamento era mútuo.
[BOX]
Diversidade da vida cotidiana: textos para debate
Tendo em mente as informações apresentadas até aqui, proponha aos alunos uma
comparação de trechos dos livros de Lethold & Rango – dois prussianos que estiveram no Rio de
Janeiro em 1819 – e de Oliveira Lima, a fim de perceber algumas sutilezas do fenômeno de
transformações e permanências culturais ocorridas nessa fase:
Há relativamente muito mais luxo aqui que nas mais importantes cidades da Europa. Com
dinheiro compram-se artigos da moda, franceses e ingleses; em suma, tudo. O mundo
elegante veste-se, como entre nós, segundo os últimos modelos de Paris. Os homens, apesar
do grande calor, usam casaca e capas das mais finas telas e meias brancas de seda […].
Também trazem as chamadas capas escocesas importadas da Inglaterra. Têm elas gola alta e
pala grande, não são forradas e a fazenda é de padrões coloridos e quadriculados, para o
verão, de tessitura resistente. Achei demasiado vistosa essa indumentária, que lembra um
robe de chambre. Levada a cavalo e de guarda-sol aberto sobre a cabeça, ainda parece mais
ridícula. […]. O luxo das mulheres é indescritível. Jamais encontrei reunidas tantas pedras
preciosas e pérolas de extraordinária beleza quanto nos beija-mãos de gala e no teatro, por
certo as únicas ocasiões em que elas se exibem e dão asas a sua faceirice. Seguem o gosto
francês ousadamente decotadas. Os vestidos são bordados de ouro e prata. Sobre a cabeça
colocam quatro ou cinco plumas francesas, de dois pés de comprimento, reclinadas para
frente, e, sobre a fronte, como em torno do pescoço, e em um dos braços, diademas
incrustados de brilhantes e pérolas, alguns de excepcional valor. (Lethold, T. Von & Rango,
L. von, 1966, p. 31)
Oliveira Lima nos oferece o contraponto das observações registradas pelos prussianos,
quando descreve o movimento e a presença dos negros nas ruas do Rio de Janeiro, nos levando a
perceber que nem tudo eram estrangeirices nos hábitos e costumes da população da cidade:
Como, sem faltar à verdade […], expulsar do tablado fluminense da época esse mundo
animado de barbeiros ambulantes armados de medonhas navalhas, cesteiros vendendo os
samburás que teciam, mercantes de galinhas, de caça, de palmito, de leite, de capim para
forragem, de milho, de carvão, de cebolas e alhos, de sapé para colchões, quitandeiras de
angu e café, carregadores, condutores de carros de boi que chiavam desesperadamente pelas
ruas sem calçamento ou guarnecidas de lajes […]. Assim perpassava o incessante
movimento popular de negra algazarra e negra alegria. (Lima, M. de Oliveira, 1996, p. 595)
Ao analisar com os alunos os dois depoimentos, explore as ambigüidades desse momento
histórico tão rico e complexo, observando que apesar de ter provocado uma série de mudanças na
colônia, a chegada da corte não se constituiu numa ruptura. Como outros fatos históricos, tais
mudanças não ocorreram súbita e repentinamente; ao contrário, desenrolaram-se em processos
longos e complexos, entremeados de permanências e continuidades.
Laura de Mello e Souza ressalta que “a vinda da família real seria, sem dúvida, um ponto de
inflexão. Mas nunca de ruptura […]. Uma vida de corte, europeus em maior número e a presença
mais efetiva do Velho Continente não bastariam para dar homogeneidade às normas de conduta
[…]” (Mello e Souza, 1997, p. 444). Enquanto a civilité se espraiava no âmbito das elites, a vida
cotidiana das camadas populares livres e dos escravos prosseguia na sua violenta luta diária pela
sobrevivência.
Sugestão de atividade
Proponha aos alunos que façam uma entrevista com algum estrangeiro que
conheçam. As perguntas podem girar em torno da vida cotidiana no país de origem,
vestuário, hábitos, festividades religiosas e populares, a adaptação ao Brasil, a opinião do
entrevistado a respeito de nossos costumes e modo de vida etc. O objetivo é orientar a
reflexão sobre a diversidade cultural, ajudando os estudantes a entender o significado de
choque, estranhamento e assimilação de comportamentos e hábitos no processo de
convivência de culturas distintas.
Filmografia
Carlota Joaquina, a princesa do Brasil. Direção: Carla Camurati, 1994.
Bibliografia
LETHOLD, T. von & RANGO, L. von. O Rio de Janeiro visto por dois prussianos
em 1819. São Paulo, Nacional, 1966.
LIMA, M. de Oliveira. D. João VI no Brasil: 1808-1821. Rio de Janeiro, Topbooks,
1996.
MELLO E SOUZA, Laura. (org.). História da vida privada no Brasil, vol. 1. São
Paulo, Companhia das Letras, 1997.
NEVES, Lúcia Maria B. P. das & MACHADO, Humberto Fernandes. O Império do
Brasil. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999.
NIZZA DA SILVA, Maria Beatriz. Cultura e sociedade no Rio de Janeiro (18081821). São Paulo, Nacional, 1977.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do imperador. D. Pedro II, um monarca nos
trópicos. São Paulo, Companhia das Letras, 1998.
CADERNOS DA TV ESCOLA
500 anos: o Brasil Império na TV
Batalha dos Farrapos, de José Wasth Rodrigues, 1937.
Rebeliões do império
Um império luso-brasileiro
O processo de consolidação da monarquia no Brasil
Sob o signo da pluralidade
Sugestão de atividade
Filmografia
Bibliografia
A maioria dos livros didáticos aborda a independência do Brasil a partir da
evocação de personagens ilustres, como D. Pedro e José Bonifácio, e de uma sucessão de
acontecimentos políticos que teriam resultado no “grito do Ipiranga”. Nesses livros, a vinda
da corte portuguesa é assumida como um marco inicial no processo de emancipação
política, tendo possibilitado o estabelecimento de todo o aparato jurídico-administrativo na
colônia e desencadeado medidas importantes, como por exemplo a abertura dos portos. A
discussão aqui apresentada, longe de privilegiar datas e fatos considerados marcantes no
desenrolar do processo de independência, busca ressaltar que desde finais do século 18 a
elite já vinha discutindo opções políticas para a colônia. Assim, as decisões não foram
tomadas de última hora, sob pressão (como pode parecer a partir da leitura de alguns
autores), e a opção pelo regime monárquico fazia parte de um projeto bem pensado e
discutido pela elite local. No entanto, a elite não era homogênea, e as reações à implantação
de um sistema monárquico escravista não se fizeram tardar. Durante todo o período
regencial, revoltas e insurreições irromperam por diversas províncias, mostrando
claramente as insatisfações locais, bem como o desejo de participação política de outros
segmentos da sociedade.
Para entender a independência, é necessário vê-la não só do ponto de vista interno –
como fruto dos acontecimentos políticos mais imediatos daquele período –, mas também
como resultado de um processo de maiores dimensões, mais extenso e profundo, que foi a
crise do antigo sistema colonialista. É importante considerar que a desagregação do mundo
colonial ocorreu em função de um conjunto maior de fatores, que englobaram desde as
transformações no sistema capitalista, de modo mais amplo, até a crise do poder absoluto
dos reis, a difusão das idéias ilustradas, o período pombalino e as revoltas e sedições que
ocorreram no Brasil no final do século 18, nas quais se questionou a condição colonial e a
sujeição em relação à metrópole.
As insatisfações locais contra o pacto colonial e o poder soberano da metrópole
permitiram que os protestos e críticas que circulavam no dia-a-dia pelas diversas províncias
ganhassem corpo e se transformassem em movimentos organizados contra o sistema. Parte
da elite colonial, influenciada pelo ideário liberal francês que varria a Europa na época, e
espelhando-se na independência americana, encontrava-se disposta a rebelar-se contra a
Coroa, apoiando a autonomia política. Assim, ao final do século 18, no Brasil, corriam
idéias separatistas e republicanas – a exemplo das que fundamentaram a Inconfidência
Mineira e a Revolta dos Alfaiates na Bahia, em 1798.
No entanto, após a Revolução Francesa e o levante dos escravos ocorrido no Haiti,
em 1792, as idéias da ilustração e o republicanismo passaram a ser vistos com desconfiança
por boa parte da elite colonial brasileira. Amedrontados com a crescente politização de
estratos “médios” da sociedade, com a participação de populares e escravos em confrontos
armados e o conseqüente questionamento em relação à escravidão, os senhores recuaram.
Ficava evidente, para estes, que tais motins eram extremamente perigosos e ameaçavam a
ordem vigente. Enquanto nos botecos das esquinas se discutiam as questões políticas do
momento e espalhavam-se as notícias de levantes nas outras províncias, nas ruas irrompiam
conflitos em que portugueses eram hostilizados e os impostos e taxas, contestados. Os
espaços para a participação política de homens brancos livres e pobres, escravos e negros
forros começavam a ser abertos, tornando claro para a elite que só a força poderia conter o
que ela costumava chamar de “gente amotinada e turbulenta”.
Entretanto, nem todos concordavam com a idéia de que o rompimento definitivo em
relação a Portugal era a solução. Uma determinada parte da classe dominante pensava de
forma bem diferente: para ela, idéias de transformações políticas radicais e o perigo de uma
sublevação racial no Brasil obrigavam-na a buscar com a Coroa uma solução de
compromisso que conciliasse os interesses. Segundo o historiador Kenneth Maxwell, “o
estabelecimento da monarquia no Brasil representava uma solução negociada bem-vinda e
esperançosa, que oferecia a oportunidade de mudanças políticas sem desintegração social”
(Maxwell, 1999, p. 188).
Um império luso-brasileiro
No final do século 18, alguns aspectos e princípios do sistema colonial começaram a
ser repensados pelos portugueses. Diante de uma conjuntura adversa – com os
questionamentos em torno do poder absoluto do rei, a divulgação dos ideais liberais e as
ameaças de fracionamento do reino –, surgiu em Portugal a idéia de formação de um vasto
e poderoso império, fundado em bases distintas das que regiam até então as relações entre a
metrópole e a colônia. O projeto, de cunho reformista e respaldado pela burguesia
mercantil, formada por famílias importantes e poderosas, foi estimulado por D. Rodrigo de
Souza Coutinho, herdeiro político e intelectual de Pombal, que ficou à frente do governo
em dois períodos: 1796-1803 e 1807-1812.
Suas idéias fundamentavam-se em um programa de mudanças que buscava
reorganizar o império em bases mais rentáveis, criando novas oportunidades no setor de
produção agrícola e repensando sua estrutura política. Segundo Iara Lins Souza “essa
reestruturação política articulava-se com uma valorização do Brasil, considerado uma
solução para as dificuldades econômicas lusas” (Souza, 2000, p. 16). A própria instalação
do centro de poder na principal colônia foi uma tese defendida por alguns intelectuais e
políticos durante esse período – bem anterior portanto à chegada da família real em 1808.
Assim, a transferência da corte portuguesa para o Brasil, que muitos autores apresentam
como uma idéia de última hora, fruto das pressões inglesas, já fora aventada anteriormente,
e era recorrente em Portugal sempre que alguma dificuldade política, administrativa ou
econômica se apresentava (veja também Episódio 1 – A corte desembarca no Brasil).
O projeto de um império luso-brasileiro, amadurecido desde o final do século 18 e
início do 19 pelos portugueses, ganhou adeptos também entre a elite brasileira. Formada em
instituições como a universidade de Coimbra, ou mesmo educada nos colégios religiosos no
Brasil, leitora das obras de políticos e filósofos franceses, essa elite ficou conhecida como a
geração de 1790, e dela fizeram parte, dentre outros, José Bonifácio de Andrada e Silva e
Diogo Feijó. Também eles defendiam a criação de um vasto império, concordando que se
Portugal desse oportunidades para seus irmãos de além-mar, não seria necessário um
desligamento radical, como ocorrera com as colônias norte-americanas.
Discutida intensamente, a idéia de um império luso-brasileiro baseava-se no
estabelecimento de uma unidade política e mercantil alicerçada na monarquia e centrada na
figura do rei. O Brasil foi visto como o sustentáculo desse império, e ao final do século 18
havia, tanto no reino quanto na colônia, quem pensasse que mudanças econômicas e
políticas, inspiradas no reformismo ilustrado, conseguiriam manter a unidade do império
português. Para levar adiante esse projeto, era imprescindível contar com uma certa unidade
entre os setores da elite colonial, principalmente no momento em que propostas de cunho
mais radical começavam a ganhar corpo em terras brasileiras.
O processo de consolidação da monarquia no Brasil
Em princípios da década de 1820 a situação política era confusa no Brasil. Apesar
de lutarem contra a tirania econômica, contra as medidas políticas repressoras e arbitrárias
das cortes reunidas em Lisboa e de concordarem com o esgotamento do sistema colonial,
grupos sociais diversos tinham propostas variadas acerca de como poderia se organizar o
país após a emancipação. José Murilo de Carvalho afirma que “a decisão de fazer a
independência com a monarquia representativa, de manter unida a ex-colônia, de evitar o
predomínio militar, de centralizar as rendas públicas etc. foram opções políticas entre
outras possíveis na época” (Carvalho, 1980, p. 20).
Segundo o mesmo autor, a elite política brasileira, apesar de não se constituir em
um bloco monolítico, apresentando divergências e conflitos internos, e mesmo sendo
composta por elementos de diferentes setores – proprietários de terras, padres, militares,
magistrados e outros profissionais liberais –, possuía alguma homogeneidade. Essa relativa
unidade foi favorecida por um processo de socialização e construção ideológica, por meio
da educação formal em universidades como a de Coimbra e instituições similares da
colônia, da ocupação em atividade burocráticas e de mecanismos de treinamento. Tudo isso
acabou por garantir a viabilização do seu projeto político.
Desse modo, se por um lado não havia uma coesão que favorecesse a ação conjunta
e coordenada, por outro havia consenso ideológico e o sentimento de que dependia da
própria elite manter a união territorial e definir a natureza política do governo. Fica
evidente que a instalação de um Estado centralizado, sob regime monárquico, em que
persistia o trabalho escravo – caminho diverso do que seguiram as ex-colônias espanholas,
que adotaram a república e libertaram os escravos após longas e sangrentas lutas populares
–, não foi uma questão de acomodação, ou mesmo de falta de opção. Foi, antes, uma
escolha bem pensada e defendida com vigor. Essa opção de certa forma garantiria uma
transição pacífica e asseguraria privilégios, preservando a ordem interna e, sobretudo, a
manutenção das instituições tradicionais.
Mas essa não seria uma tarefa fácil. Em meio à vastidão de um território cheio de
contrastes e problemas, era necessário construir um país, adotar um sistema que agregasse
as partes dispersas em torno de um centro, conciliar propostas divergentes, submeter e
aniquilar, mesmo que pela força, ideais conflitantes com seus interesses, como por exemplo
os que propugnavam a implantação de um regime republicano e o fim do trabalho escravo.
Portanto (diversamente do que se costuma afirmar), a estabilidade política do país
não ficou completamente definida no 7 de setembro de 1822. Decretada a independência, o
poder concentrou-se nas mãos de um grupo reduzido da elite, o que acirrava as diferenças
internas entre as facções mais liberais e os conservadores. Nesse contexto, as camadas
populares foram excluídas da participação política, em detrimento da cidadania. Assim,
pode-se perceber que a independência não alterou significativamente o panorama que
vigorou durante todo o período colonial, pois o país continuou como exportador de
produtos agrícolas e economicamente dependente da Inglaterra. A organização do trabalho
seguiu sendo baseada na mão-de-obra escrava e a estrutura produtiva permaneceu calcada
no latifúndio e na monocultura, limitando as oportunidades e a melhoria das condições de
vida das camadas pobres e livres, que se viam sem perspectivas diante da impossibilidade
de acesso à terra, do escravismo e do domínio dos grandes proprietários.
Esse quadro se agravava em função da complexidade dos conflitos internos e da
heterogeneidade e particularidade da situação das províncias. Era de se esperar que, em
meio a tantas contradições, a consolidação da monarquia escravista proposta pela elite não
se desse de forma tranqüila. De fato, nas duas décadas seguintes à independência,
sucederam-se lutas e sublevações, desmistificando a visão apresentada por alguns autores
de que a trajetória de formação do Brasil foi pacífica e destituída de lutas populares,
violência ou derramamento de sangue.
Recheado de revoltas e rebeliões nas províncias, que se prolongaram por uma
década além de sua maioridade, esse momento da história do Brasil patenteia a existência
de diferentes propostas políticas para o país, as profundas desigualdades sociais e sobretudo
o desejo de participação de outras camadas da sociedade. Enquanto “uns ressentiam-se da
excessiva centralização e pleiteavam um regime federativo, outros propunham a abolição
gradual da escravidão, demandavam a nacionalização do comércio, chegando a sugerir a
expropriação dos latifúndios improdutivos” (Costa, 1979, p. 12).
[BOX]
Sob o signo da pluralidade
A composição social dos participantes das rebeliões provinciais variava caso a caso. Alguns
eram membros da própria elite, que, junto às camadas médias, absorviam e pregavam os ideais do
liberalismo de forma mais radical, ou lutavam por maior autonomia para as províncias e contra a
concentração de poder – esse foi o caso da Confederação do Equador ou mesmo da Revolução da
Farroupilha. Em outras situações, tratava-se de índios e mestiços que, vivendo em condições
miseráveis, insurgiram-se contra os desmandos do governo central e as péssimas condições de vida,
como ocorreu na revolta conhecida por Cabanagem. E havia ainda o caso de escravos, como no
caso dos malês, que condenados à opressão e sujeição, se rebelaram na Bahia em defesa da fé
muçulmana e do fim da escravidão, espalhando o pânico entre os senhores proprietários.
Assim, para aqueles que estavam no governo, a dispersão e as constantes lutas entre
as diversas facções nas províncias sinalizavam como ameaçadoras e perigosas, pois
poderiam significar desunião, desagregação política ou mesmo um desejo de mudanças
mais profundas no sistema. Era necessário, segundo diziam alguns representantes da elite
dirigente da época, parar o “vulcão revolucionário” que ameaçava as instituições, controlar
e dominar a “canalha africana”. Assustados com o radicalismo de alguns grupos e com o
aumento do número de revoltas, depredações, agressões e agitações de rua, e sob o pretexto
de restauração da ordem no país, os grupos que estavam à frente do poder durante o período
regencial articularam uma reação em grande escala, com a elaboração de leis repressivas
mais fortes, perseguição, prisão e deportação de líderes radicais e a organização de milícias
civis (que resultariam depois na criação da Guarda Nacional).
O caráter violento das medidas repressivas que se abateram sobre os movimentos
provinciais e as manifestações de rua, ou mesmo individualmente sobre políticos de
oposição, evidenciavam para a elite que seu projeto político estava ameaçado. Nos anos que
se seguiram,
[...] tratava-se de armar o poder de condições para pôr fim à agitação. A ordem, a
paz, a tranqüilidade foram palavras acolhidas por toda parte, por toda a parte
encontrando receptividade, ganhando adeptos. Na mesma marcha, as alterações
eram gradativamente introduzidas, para reforço da autoridade central […].
Preparava-se o caminho para o novo sistema com o restabelecimento do Império na
pessoa do herdeiro ainda menor. Depois da Maioridade, a curtos intervalos, eles
viriam dar a ilusão da ordem na economia e nas finanças, a ilusão do progresso.
(Sodré, 1978, p. 248).
Sugestão de atividade
Trabalhe a iconografia da proclamação da independência difundida em livros
didáticos. Utilize telas mais conhecidas, como Independência ou morte, de Pedro Américo,
ou a Proclamação da independência, de François René Moreaux, orientando os alunos a
observar e escrever sobre a paisagem retratada, o lugar que as pessoas ocupam no contexto
geral do quadro, sua expressão facial, gestos, vestimentas, adornos etc. A classe pode
refletir e escrever sobre qual a idéia da independência que os pintores tentaram transmitir
com seus quadros. Feita a tarefa, fale um pouco da visão não oficial do episódio,
promovendo um debate que explore as observações mais interessantes, as críticas ou
mesmo as opiniões conflitantes do grupo.
Filmografia
Um certo capitão Rodrigo. Direção: Anselmo Duarte, 1972.
Anahy de las Missiones. Direção: Sérgio Silva, 1998.
Bibliografia
CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem. Rio de Janeiro, Campus,
1980.
COSTA, Emília Viotti da. Da monarquia à república. São Paulo, Ciências
Humanas, 1979.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. História geral da civilização brasileira, t. 2, vol.
2. São Paulo, Difel, 1967.
MAXWELL, Kenneth. “A geração de 1790 e a idéia do império luso-brasileiro.” In:
Chocolate, piratas e outros malandros. Ensaios tropicais. Rio de Janeiro, Paz e
Terra, 1999.
MOTA, Carlos Guilherme. 1822. Dimensões. São Paulo, Perspectiva, 1972.
PRADO Jr., Caio. Evolução política do Brasil. São Paulo, Brasiliense. 1975.
SODRÉ, Nelson Werneck. As razões da independência. Rio de Janeiro, Civilização
Brasileira, 1978.
SOUZA, Iara Lis C. A independência do Brasil. Rio de Janeiro, Zahar, 2000.
CADERNOS DA TV ESCOLA
500 anos: o Brasil Império na TV
Página do diário da viagem de Hercule Florence, de 1825 a 1829. (In: O Brasil de hoje no espelho do século XIX, de
Maria de Fátima G. Costa. São Paulo, Estação Liberdade, 1995)
O Brasil dos viajantes
Tema para debate: relação do homem com a natureza
Uma expedição científica pelo interior do Brasil: organização e cotidiano
As grandes expedições da primeira metade do século 19
As obras de Debret e Rugendas
Estudo de imagens
Natureza e civilização
Sugestão de atividade
Filmografia
Bibliografia
A partir da segunda metade do século 18 e início do 19, na Europa, houve uma
mudança de sensibilidade em relação à natureza, resultando numa afirmação das ciências
naturais. Assistia-se ao incremento das expedições científicas, dirigidas para as Américas,
África e Oceania, com o intuito de pôr à prova teorias, coletar espécimes para os museus ou
mesmo descobrir, para um mercado europeu em expansão, novas oportunidades comerciais.
O imenso território brasileiro, praticamente inexplorado, despertava a curiosidade
dos europeus interessados em estudar a natureza tropical e o homem sul-americano. Quase
todos aportavam no Rio de Janeiro e de lá buscavam traçar itinerários por caminhos ainda
não percorridos. Ao final de alguns anos de viagem, regressavam a seus países de origem
para escrever não apenas obras científicas, mas também, principalmente, os famosos diários
de viagem, que deleitariam os leitores impossibilitados de conhecer os trópicos.
Esses naturalistas coletavam plantas e animais em grandes quantidades para os
museus de história natural que os financiavam, ajudavam a desenvolver a mineralogia, a
paleontologia e a astronomia e levavam artistas em suas expedições para retratar a
paisagem e a gente local. Conforme publicavam seus estudos na Europa, fomentavam a
vinda de novos viajantes e, no decorrer do século 19, todas as regiões do Brasil foram por
eles visitadas. Além das expedições de cunho científico, vários estrangeiros que aqui
vinham, a negócios ou a passeio, escreveram relatos sobre o país na primeira metade do
século, a exemplo de John Mawe, John Luccock, Maria Graham, Henry Koster, dentre
muitos outros. Relatos que vão se constituir numa documentação significativa sobre a
sociedade do Brasil Império (ressalvando contudo o fato de que suas observações foram
feitas sob uma ótica eurocêntrica).
[BOX]
Tema para debate: relação do homem com a natureza
Esse é um tema propício para debater com os alunos a relação do homem com a natureza,
mostrando que diferentes percepções e sensibilidades se desenvolveram na história dos grupos
humanos. Ele trará melhores resultados se abordado interdisciplinarmente e, nesse sentido, o
professor de história pode trabalhar em conjunto com o de ciências para definir, juntamente com os
alunos, o perfil de um ambientalista na atualidade, comparando-o com o cotidiano de um viajante
naturalista, como o descrito a seguir.
Uma expedição científica pelo interior do Brasil: organização e cotidiano
Uma expedição podia exigir meses de preparo. Era preciso definir o itinerário,
contratar tropeiros e guias, comprar provisões, organizar o material científico e os
instrumentos de medição e de trabalho para os botânicos e zoólogos, tais como mapas,
microscópios e materiais especiais para conservar os espécimes coletados. Precisava-se,
portanto, de uma considerável soma de dinheiro a fim de financiar a aventura, e muitas das
expedições foram subsidiadas por governos europeus. Os viajantes que vinham por conta
própria procuravam vender o material recolhido para os museus, dando assim
prosseguimento às suas andanças.
Além do mais, uma expedição também precisava contar com o apoio oficial do
governo imperial, pois o deslocamento pelo interior do país dependia do deferimento de
licenças especiais, vistos de entrada, permanência e saída etc. Era importante que esses
viajantes sempre levassem consigo as famosas cartas de recomendação, pois a população
do interior e as autoridades locais viam os estrangeiros com certa desconfiança.
O cotidiano de um viajante naturalista era determinado por seus objetivos
científicos. Não havia dia em que não fizesse algum tipo de investigação. Durante a noite,
anotava no diário o que fora feito, bem como as impressões gerais, e ainda preparava e
empacotava os animais e plantas coletados. O naturalista viajante organizava e classificava
as observações de modo a, quando regressasse à sua terra natal, poder revisá-las e trabalhálas. Em uma expedição bem-sucedida como a de Spix e Martius, em que – coisa rara – não
se perdeu nenhuma caixa de material, foram reunidas 6.500 espécies de vegetais, formando
um herbário de 20 mil exemplares prensados, e uma centena de plantas vivas, levadas para
o Jardim Botânico de Munique. A coleção zoológica, apesar de menor devido às
dificuldades de coleta de animais, também comportava centenas de espécimes, além do
material mineralógico e paleontológico, bem como uma coleção etnográfica (objetos e
utensílios principalmente de índios).
O cotidiano era marcado, de um lado, pelo enlevo na contemplação da natureza, e,
de outro, por inúmeros acidentes que colocavam a vida dos membros da expedição em
perigo, tais como a travessia de rios, a perda de equipamento, as dificuldades de obter
provisões, picadas de cobra, afogamentos, ferimentos etc. Todos eram unânimes em
reclamar dos pequenos insetos que infernizavam o dia-a-dia: pulgas, baratas, carrapatos,
aranhas, formigas etc. Isso sem mencionar o horror aos esturros de onças, as chuvas
torrenciais que destruíam as coleções e, principalmente, as doenças, sobretudo as febres
malignas. Desse modo, a viagem do naturalista parecia transitar entre o paraíso e o inferno
– de fato, as imagens preferidas para representar a natureza tropical e a relação do homem
civilizado com ela.
As grandes expedições da primeira metade do século 19
Apesar de se falar muito nos viajantes e na sua importância para a história do Brasil,
este é um tema não muito explorado pelos livros didáticos. Assim, a seguir, serão
apresentadas algumas informações básicas sobre as principais expedições que percorreram
o país no início do século 19, que servirão de subsídio para desenvolver as atividades
propostas.
Príncipe Maximiliano. Sua expedição teve início em 1815, percorrendo a mata
costeira do litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, penetrando também em direção
a Minas Gerais. Ele voltou à Europa em 1817, com farto material coletado, publicando em
1820 e 1821 o livro Viagem ao Brasil nos anos de 1815 a 1817, ricamente ilustrado. Seus
principais interesses se concentraram em aspectos da cultura indígena – etnografia, traços
fisionômicos, diferenças culturais, linguagem e vocabulário –, e ele procurou conhecer e
observar tanto os índios aculturados e aldeados quanto os que ainda estavam em estado
selvagem (alguns, como os botocudos, considerados bravos e temíveis, despertaram
particular interesse do príncipe, que deles coletou um material de valor inestimável). Sua
visão sobre os nativos – que era aliás também a idéia corrente em sua época – apoiava-se
no antagonismo entre civilização e barbárie, mas isso não o impediu de legar diversas
contribuições aos estudos etnográficos das populações indígenas.
Spix e Martius. Esta foi sem dúvida uma das expedições mais importantes da
época, por ter gerado um volume enorme de informações sobre o Brasil. Os dois estudiosos
chegaram ao Rio de Janeiro em julho de 1817, como membros da missão austríaca que
acompanhava a princesa Leopoldina, e permaneceram na cidade por seis meses, preparando
o itinerário da viagem, a ser iniciada em dezembro. Auxiliados por tropeiros e guias
nativos, Spix e Martius percorreram mais de 10 mil quilômetros do território brasileiro em
cerca de três anos. Passaram por São Paulo e Minas Gerais (Vila Rica e Distrito
Diamantino) e seguiram rumo norte, atravessando o São Francisco na fronteira com Goiás,
de onde partiram para o litoral, cruzando a província baiana. Chegaram a Salvador e
excursionaram por Ilhéus, depois foram rumo noroeste, cruzando os sertões de
Pernambuco, Piauí e Maranhão (em São Luís ambos adoeceram, quedando-se por algum
tempo na cidade). Em julho de 1819 navegaram até Belém, lançando-se em uma extensa
viagem pela bacia amazônica. Separaram-se nessa região para fazer pesquisas nos rios
Amazonas, Negro, Solimões e Japurá, aproximando-se das fronteiras do Peru e da
Colômbia. Voltaram a Belém em abril de 1820, de onde partiram para a Europa.
Entre 1823 e 1831 foram editados os três volumes da Viagem ao Brasil, com um
atlas de estampas litografadas, bem como um compêndio com músicas indígenas e canções
populares (lundus). Spix morreu ainda jovem, mas Martius, que por ocasião de seu regresso
estava com 26 anos, viveu até os setenta anos, e dedicou praticamente toda sua vida ao
estudo do Brasil, conquistando papel de destaque na produção científica européia.
Georg Heinrich von Langsdorff. Langsdorff chegou ao Brasil em 1813, como
cônsul-geral da Rússia. Durante os sete primeiros anos em que permaneceu no país,
recebeu numerosos naturalistas, estimulando a troca de conhecimentos e orientando as
expedições. Em sua casa no Rio de Janeiro e na fazenda da Mandioca, Langsdorff abrigava
estudiosos de diversas nacionalidades que se encontravam em trânsito ou se preparavam
para percorrer o interior do Brasil em alguma expedição. Em 1824 ele organizou sua
própria expedição, percorrendo a região de Minas Gerais. (Dela fez parte o desenhista
Rugendas, que depois abandonaria o grupo para seguir viagem sozinho.)
Langsdorff não desistiu de fazer uma grande viagem pelo interior. Para isso
conseguiu financiamento do czar e contratou o jovem artista Adrien Taunay, bem como
Hercule Florence, além de um naturalista e um botânico. Partiram do Rio de Janeiro para
São Paulo em 1825, e de lá para o Mato Grosso, seguindo o caminho das monções pelos
rios Tietê, Paraná e seus afluentes, em direção aos afluentes do rio Paraguai. Seria uma
viagem trágica, marcada pela morte de Adrien Taunay, afogado no rio Guaporé, e também
pela perda de razão do próprio Langsdorff. No último trecho da viagem, em que
percorreram os afluentes do Amazonas, febres intermitentes acometeram os membros do
grupo. Quando chegaram a Belém, em setembro, alugaram um brigue que os levou de volta
ao Rio de Janeiro. Langsdorff voltou para a Europa, mas nunca mais recuperou a sanidade.
Parte da expedição pode ser acompanhada no diário de Hercule Florence: Viagem fluvial do
rio Tietê ao Amazonas.
Outras expedições. Além dos naturalistas, muitos estrangeiros viajaram pelo país e
escreveram diários relatando suas impressões sobre a natureza tropical, os hábitos sociais
pitorescos e exóticos e a vida cotidiana – por vezes divulgando na Europa uma imagem não
exatamente fidedigna do Brasil. Destacam-se, dentre outros, Maria Graham, Henry Koster,
Saint Hilaire, J. E. Pohl, Gardner, Daniel Kidder e Castelnau. Além dos diários, uma série
de viajantes também deixou suas impressões registradas na forma de gravuras, pinturas e
aquarelas, a exemplo de Thomas Ender, Émil Taunay, Hercule Florence, Charles Landseer,
Henry Chamberlain, Jean-Baptiste Debret e Johann Moritz Rugendas. Muitos deles vieram
como membros da missão artística francesa (1816) ou da missão austríaca (1817). A
produção desses artistas foi tão significativa que marcaria para sempre o imaginário popular
sobre a vida do período. Mas o olhar com que retrataram o país é um tanto ambíguo, pois
apesar de tentarem ser fiéis à observação, eles não conseguiram deixar de imprimir em suas
imagens uma certa concepção etnocêntrica acerca da nossa sociedade. Tanto os viajantes
como os artistas objetivavam publicar na Europa os conhecidos “álbuns pitorescos”, dos
quais os de Debret e Rugendas são exemplos perfeitos.
As obras de Debret e Rugendas
Debret chegou ao Brasil em 1816 como membro da missão artística francesa, e
viveu sobretudo dos quadros históricos e retratos da família real que pintou. Em 1827
realizou uma longa viagem, em direção ao Rio Grande do Sul. Viveu no Brasil durante
quinze anos, voltando à França após a abdicação de D. Pedro, em 1831, para organizar o
material coletado e publicar os três volumes de sua obra Viagem pitoresca e histórica ao
Brasil, entre 1834 e 1839.
Apesar de ser mais conhecido por sua obra de cronista da vida urbana, Debret não
foi apenas o pintor de cenas do cotidiano, hábitos da vida doméstica e atividades
profissionais das camadas populares; foi também um sagaz espectador do cerimonial da
corte, representando aspectos da vida da elite política e catalogando, além de eventos
importantes, todas as peculiaridades de uma corte sui generis, onde a uniformes e trajes de
gala, ricos adornos e festas suntuosas se contrapunha a realidade da escravidão. Suas telas,
gravuras e desenhos revelam um pintor preocupado em reproduzir com exatidão aspectos
da natureza e da paisagem do país, o que o leva a retratar, com sensibilidade, a exuberância
e beleza da terra, a diversidade dos animais e a riqueza da fauna brasileira. O valor da sua
obra está não só na forma como consegue apreender o todo e o pormenor, mas ainda na
diversidade dos temas que retrata.
Esses aspectos estão presentes também na obra de Rugendas, que esteve no Brasil
em duas ocasiões. Em 1822, aos dezenove anos, como desenhista da equipe de Langsdorff,
recolheu material para sua Viagem pitoresca através do Brasil. Com o propósito de
enriquecer seu conhecimento, em 1831 iniciou uma grande viagem pelas Américas,
passando por México, Chile, Peru, Bolívia, Argentina e Uruguai, e fazendo uma escala de
pouco mais de um ano – entre 1845-1846 – no Rio de Janeiro. Esse périplo frutificou em
uma obra momentosa, que soma, entre pinturas a óleo, aquarelas e desenhos, cerca de 6 mil
peças.
A produção de Debret e Rugendas é riquíssima em termos de variedade temática:
florestas virgens, animais e plantas, paisagens naturais, tipos humanos e cenas urbanas.
Nestas últimas destacam-se os meios de transporte, divertimentos populares, alimentos
consumidos na cidade, aspectos das casas e construções, vendedores de rua, hábitos
domésticos etc. Essas figuras triviais flanando pelas ruas e o registro de seus costumes
constituem um excelente material para o estudo do Brasil Império.
[BOX]
Estudo de imagens
É muito comum a utilização nos livros didáticos de imagens do tempo dos viajantes,
principalmente gravuras de Debret e Rugendas. No entanto, quase sempre essas gravuras aparecem
apenas para ilustrar a história do Brasil no período, e pouca atenção tem se dado para a iconografia
como um importante documento a ser trabalhado em sala de aula. Nesse sentido, é interessante
explorar essas imagens, decompô-las em seus vários aspectos e discutir com os alunos o olhar que
orientou aquela composição. Elas representam, em muitos sentidos, o imaginário europeu sobre o
Brasil, ao mesmo tempo que, ambiguamente, fazem um interessante registro de como era a vida
cotidiana nas nossas grandes cidades e os principais valores então vigentes.
Selecione imagens de Debret e Rugendas presentes nesses livros e interprete-as como
documentos da vida cotidiana na primeira metade do século 19. Proponha aos alunos complementar
esse trabalho com redações ou desenhos (numa atividade interdisciplinar com Arte), especificando
detalhes desse cotidiano, as relações de trabalho, a arquitetura, a natureza e outros elementos que
quiserem abordar.
Natureza e civilização
Uma das questões centrais a permear a obra de viajantes e naturalistas diz respeito à
maneira como foram representados a natureza e o grau de desenvolvimento dos habitantes
do Brasil, criando-se uma poderosa imagem de um país que engatinhava em termos de
civilização, ideal tão caro às nossas elites. Revelava-se ainda a vastidão desértica do
interior do Brasil, como que a confirmar o distanciamento entre o litoral e o sertão.
Um bom exemplo dessa discussão, travada pelos próprios brasileiros no âmbito
literário, é o romance Inocência, de visconde de Taunay. Tendo como cenário o sertão do
Mato Grosso, e por trama a relação romântica entre Cirilo e Inocência, acompanham-se os
passos de um viajante naturalista, Meyer, servindo de pano de fundo para a apresentação
das idéias do autor sobre o tema do atraso cultural.
Sugestão de atividade
Praticamente nenhuma região do Brasil deixou de ser visitada por algum viajante no
século 19. Nesse sentido, é um exercício importante saber quais viajantes percorreram a
região de sua escola e que registros foram deixados, discutindo-os com os alunos. Isso
constitui excelente oportunidade para pesquisar a história do local em que vivem.
Filmografia
Inocência. Direção: Walter Lima Júnior, 1983.
Bibliografia
BELUZZO, Ana Maria de Moraes (coord.). O Brasil dos viajantes. São Paulo,
Odebrecht, 1994.
HOLLANDA, Sérgio Buarque de. História geral da civilização brasileira, t. 2, vol.
3. São Paulo, Difel, 1976.
KOMISSAROV, Boris M. (org.) A expedição Langsdorff ao Brasil (1821-1829).
São Paulo, Livro Arte, 1988.
LISBOA, Karen Macknow. A nova Atlântida de Spix e Martius: natureza e
civilização na viagem pelo Brasil. São Paulo, Hucitec, 1997.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Brasil dos viajantes. Revista da USP, n.º 30,
jun.-ago. 1996.
CADERNOS DA TV ESCOLA
500 anos: o Brasil Império na TV
Carregadores de café, gravura de Paul Harro-Harring, 1840. (In: História da vida privada no Brasil, vol. 2, organizado
por Luiz Felipe de Alencastro. São Paulo, Companhia das Letras, 1997.
O reino do café
O cotidiano numa fazenda de café do vale do Paraíba
Propostas e soluções para a carência de mão-de-obra
As colônias de parceria
Sugestão de atividade
Bibliografia
Durante a segunda metade do século 19, o café representou não só o principal
produto de exportação do país, gerador de riquezas e divisas, como também o elemento
responsável pela formação da elite econômica e política que dominou o Segundo Reinado.
Fonte de riqueza e poder, sua produção contribuiu para a constituição das imensas fortunas
dos famosos barões do café, verdadeira aristocracia que se converteu no sustentáculo
político do império até a sua queda.
Ao longo de seu reinado, D. Pedro II distribuiu generosamente títulos nobiliárquicos
entre os grandes fazendeiros, políticos influentes e ocupantes de cargos importantes. Eram
viscondes, marqueses e sobretudo barões, grau mais baixo na hierarquia, formando, nas
palavras de Lilia Schwarcz, uma verdadeira “corte de selecionados” (Schwarcz, 1998, p.
175) (veja também Episódio 5 – A capital do Império). A concessão dessas honrarias pelo
imperador baseava-se em critérios vagos e subjetivos como “serviços prestados ao Estado”,
e se constituía numa arma política poderosa, pois sua distribuição era manipulada de modo
a compensar eventuais insatisfações e calar as críticas. A atribuição de títulos e
condecorações também engordava as rendas do Tesouro, pois exigia o pagamento de taxas
e impostos referentes aos direitos de uso do cargo. Nas derradeiras décadas do império, à
medida que a marcha dos cafezais avançava e o produto assumia posição de destaque para a
economia nacional, aumentava a atribuição de títulos. Nos últimos anos do seu reinado,
entre 1878 e 1889, Pedro II teria feito, ainda segundo a mesma autora, 370 barões
(Schwarcz, 1998, p. 175).
Os barões do café assim dominaram a política ao final do império, ocupando cargos
importantes no governo. Fosse do alto das suas tribunas, com seus longos e pomposos
discursos, fosse em conversas mais íntimas, sussurradas ao pé do ouvido, e investidos dos
cargos de deputados, senadores, ministros, juízes ou mesmo assessores do imperador, os
grandes cafeicultores faziam pressão constante para viabilizar seus interesses.
Mas a vida desses barões, em finais da década de 1870, não era assim tão tranqüila
como pode parecer à primeira vista. Grandes impasses sociais e políticos se apresentavam,
além de graves questões econômicas. O país estava mergulhado em dificuldades financeiras
e dívidas decorrentes da guerra contra o Paraguai (veja também Episódio 6 – A guerra do
Paraguai). O crescimento das cidades e os novos investimentos capitalistas – que geraram
o estabelecimento de pequenas fábricas, a instalação de serviços públicos, as melhorias
urbanas e a construção de ferrovias – exigiam novas formas de comportamento e adaptação
às mudanças e novidades. Finalmente, a proibição do tráfico negreiro, em 1850,
praticamente condenara a escravidão à ilegalidade, sem falar que nas ruas das grandes
cidades do império o movimento abolicionista crescia dia a dia, angariando cada vez mais
adeptos – e isso criava a necessidade de alternativas para solucionar a questão da mão-deobra (veja também Episódio 8 – A Abolição).
De todos, esse era, para os cafeicultores, o problema mais urgente a ser resolvido.
Extinto o tráfico negreiro, as discussões da elite acerca da substituição do braço escravo
atravessaram toda segunda metade do século 19. As alternativas e soluções motivaram
acirrados debates. Tanto nas tribunas políticas e associações de classe como nas ruas, as
propostas apontavam em várias direções, mas não resta dúvida que a imigração estrangeira
era uma das mais fortes candidatas a substituir a extenuante labuta diária dos escravos nas
fazendas cafeicultoras.
[BOX]
O cotidiano numa fazenda de café do vale do Paraíba
Em função das transformações ocorridas a partir da segunda metade do século 19, com a
extinção do tráfico, o gênero de vida que se desenvolveu nas regiões produtoras de café teve
características peculiares. Ao lado de fazendas onde o trabalho escravo convivia com a imigração
crescente (como no oeste paulista), havia aquelas quase exclusivamente dependentes da mão-deobra africana (como a que se formou inicialmente na região fluminense e no vale do Paraíba).
Os primeiros tempos de expansão do café foram árduos. Um assentamento típico começaria
com o desmatamento de grandes áreas de mata virgem a machadadas, abrindo uma clareira junto a
um rio a fim de suprir água para o uso das pessoas e animais e os trabalhos da fazenda, para então
construir os edifícios principais: a sede, a senzala e os galpões que contornavam um enorme pátio
onde o café era secado. Num segundo quadrilátero, externo, eram erguidos os estábulos, chiqueiros,
galpões e as casas de capatazes, feitores e outros trabalhadores livres que serviam no local.
A área da sede parecia uma pequena cidade. Em boa parte das fazendas de café havia
marcenaria, enfermaria, ferraria, armazém, capela e outros edifícios que, cercados por altas
muralhas, davam ao visitante a impressão de uma fortaleza. A casa principal era construída em
tijolo ou taipa, com um grande número de janelas que se abriam para a frente do prédio, enquanto
na parte de trás geralmente era erguida uma varanda, de onde se podia observar o grande pátio
formado pelos galpões e a senzala. O interior era composto de inúmeros aposentos, e gozava de
relativo conforto, chegando, em algumas casas, a ser decorado com requinte. Móveis, cristais,
tapeçarias, porcelanas, pratarias e os mais diversos objetos, na sua maioria de procedência européia,
enfeitavam as residências mais ricas.
A vida, dependendo das posses do fazendeiro, transcorria em meio ao azáfama de uma
multidão de cativos e serviçais que, sob as ordens da senhora, atendiam as necessidades da casa. As
cozinheiras corriam pela cozinha para preparar o almoço, que era servido por volta das nove horas;
escravos circulavam pela casa num vaivém contínuo com jarras e bacias d’água destinadas à
cozinha e à higiene dos senhores; amas amamentavam as crianças pequenas enquanto outras
escravas costuravam, e as crianças brincavam à espera da hora das lições, ministradas por
professores particulares. Do lado de fora, pajens cuidavam dos animais e preparavam os farnéis para
a próxima viagem do senhor, enquanto marceneiros, ferreiros e outros empregados realizavam, nos
galpões e oficinas, suas tarefas diárias. Por volta das cinco da tarde, com a chegada da noite, o chá
era servido, seguido de conversas íntimas ou uma eventual partida de cartas.
A senzala, como em toda grande propriedade, era suja e escura, sem janelas e com chão de
terra batida. Nela amontoavam-se cestos, potes de barro, esteiras, uns poucos objetos pessoais e os
instrumentos de tortura que castigavam os escravos desobedientes, preguiçosos ou afoitos. Durante
o dia permanecia quieta e sem movimento, enquanto seus habitantes estavam trabalhando na sede
ou nos cafezais. À noite agitava-se e se enchia de sons e animação, com o batuque dos tambores,
cânticos e danças. A vestimenta dos escravos se resumia, na maioria das vezes, a uma tanga ou
calça velha para os homens, e a uma saia e bata para as mulheres. Nos dias de festa ou de visitas
importantes recebiam roupas novas e adereços que serviam para mostrar o prestígio e o poderio do
seu senhor. A alimentação era à base de feijão, angu de milho, farinha de mandioca e eventualmente
carne-seca.
Além das doze a catorze horas de trabalho penoso expostos ao sol e à chuva no cafezal, os
escravos ainda tinham de cuidar dos animais da fazenda, da horta e do pomar, e durante a noite
preparar os alimentos para eles mesmos e os animais. Nos campos o trabalho era exaustivo e
envolvia a limpeza dos cafezais e a colheita dos frutos maduros. Os escravos eram também
responsáveis pelo processo de beneficiamento, etapa em que os grãos eram lavados e encaminhados
ao terreiro para secar por aproximadamente dez dias. Depois de seco, o café era descascado e
separado por tamanho, sendo posteriormente ensacado. Estava então pronto para torrefação ou
comercialização in natura.
Propostas e soluções para a carência de mão-de-obra
Depois de muitas pressões internacionais, principalmente por parte da Inglaterra, o
tráfico de escravos africanos, em 1850, foi definitivamente proibido (veja também Episódio
8 – A Abolição). Para os grandes proprietários o problema era de extrema gravidade. Como
ressaltou Eduardo Silva, “o sistema [escravista] em si, solidamente implantado desde os
primórdios da colonização, perdera o segredo da sua própria reprodução” (Silva, 1997, p.
105). A questão que se impôs foi: como manter residências, lojas, propriedades, enfim, toda
economia funcionando sem o braço escravo?
Nesse momento de crise, era urgente uma alternativa, sobretudo para os fazendeiros
de café, cuja produção se constituía praticamente no sustentáculo da economia brasileira.
No começo, para manter suas propriedades, eles recorreram à compra de escravos de outras
regiões do país, principalmente do Nordeste, onde a lavoura canavieira encontrava-se em
declínio. Apesar de sanar momentaneamente a questão, o tráfico interprovincial não
resolveu o problema, pois os preços subiram assustadoramente, alcançando cifras
inimagináveis (veja também Episódio 8 – A Abolição). Basta dizer que entre 1850 e 1880
houve um aumento cerca de 600%!
Indecisos diante da nova realidade que se apresentava, os grandes proprietários
começaram a pensar em diferentes alternativas para o problema, quase todas elas baseadas
na imigração. Se para alguns a solução passava pela vinda de asiáticos, conhecidos como
coolies – chineses e indianos que trabalhariam em regime de semi-escravidão, recebendo
salários baixíssimos –, para outros grupos a melhor proposta continuava sendo a de
arregimentar imigrantes europeus. Estes, engajados por contrato, prestariam serviços nas
fazendas de café, a exemplo do que já havia sido tentado pelo senador Vergueiro em fins da
década de 1840. Uma outra sugestão era a importação de africanos livres, braços já
comprovadamente eficientes no trabalho da lavoura.
Mas os debates e as propostas não estavam restritos apenas aos barões do café ou
seus representantes. Outros grupos sociais e diferentes facções políticas também se
expressavam e apresentavam possíveis soluções. Para alguns governantes e senhores de
engenho nordestinos, a idéia mais exeqüível era a o aproveitamento da força de trabalho
nacional. Pensando sobretudo nos altos custos que envolviam os projetos de imigração e
nas dificuldades que vinham enfrentando com a lavoura da cana em franco declínio, eles
defendiam que, mediante treinamento e educação adequados, brasileiros livres suprissem as
necessidades de mão-de-obra. Mas no outro extremo do país, representantes das colônias de
imigrantes alemães que haviam se estabelecido com sucesso no Rio Grande do Sul nas
décadas anteriores defendiam a idéia da imigração de europeus. Estes, ao contrário do que
preconizavam os cafeicultores, não trabalhariam nas grandes lavouras de café, cujas safras
eram voltadas para o mercado externo, mas em pequenas propriedades que visariam a
produção para o consumo interno.
Por trás de cada proposta havia idéias e concepções diferentes acerca do futuro do
país. Alguns analisavam o problema apenas sob o prisma econômico: o que precisava ser
resolvido era a “carência de braços”. Para outros grupos da elite, o problema era mais
abrangente: a questão não se restringia à substituição do trabalho escravo, mas estava
relacionada com a própria composição étnica e cultural da país. Baseados nas teorias
científicas então em voga, eles condenavam a idéia da vinda dos coolies, considerando-os
“uma raça inábil e fraca para o serviço do campo”. Os asiáticos seriam, segundo
concepções da época, “culturalmente inferiores”, e acabariam por promover o “cruzamento
de raças disparatadas”, resultando na “mongolização do país”.
Enfim, nas palavras de alguns grandes proprietários, o ideal seria a vinda da
“imigração branca, européia, livre e inteligente”. Esta sim, “altiva, cheia de ardor no
trabalho e industriosa”, capaz de contribuir para o progresso e civilização do Brasil.
Percebe-se, portanto, que além dos fatores econômicos e políticos, o debate nessa fase
envolvia também questões teóricas e dogmas científicos e intelectuais mais amplos. Raça,
religião e cultura constituíam importantes elementos a serem incluídos no debate.
As colônias de parceria
A imigração estrangeira não era novidade. Desde as primeiras décadas do século 19,
pequenos núcleos de colonos, alguns com apoio do governo, estabeleceram-se no Espírito
Santo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e outras províncias. A partir de 1847, o senador
Vergueiro tentou, na fazenda Ibiacaba, a introdução de colonos alemães e suíços, sob o
sistema de parceria. Convivendo lado a lado com a escravidão, o sistema adotado por
Vergueiro espalhou-se por várias fazendas de café, com apenas pequenas variações.
Os colonos eram arregimentados na Europa mediante promessas de terras e bons
lucros. Após a assinatura de um contrato, que estabelecia as obrigações e os direitos de
parte a parte, os imigrantes partiam para o Brasil. As despesas da viagem, o traslado até a
fazenda, assim como um adiantamento em dinheiro, até que o colono pudesse se manter,
eram obrigação dos fazendeiros. Cada família ficava responsável pelo cultivo de
determinado número de pés de café e pela colheita e beneficiamento do seu produto. Os
imigrantes também tinham direito de plantar para seu sustento em terrenos determinados
pelos fazendeiros. Após comercializar a safra, o proprietário era obrigado a entregar ao
colono metade do lucro líquido referente às terras por ele trabalhadas. Quanto à dívida com
as despesas iniciais feitas pelo proprietário (viagem, transporte e outras), deveria ser
saldada pelo colono com acréscimos que variavam de 6% a 12% de juro. Os estrangeiros
tinham de se conduzir disciplinadamente e a saída definitiva da fazenda só era permitida
após comunicado por escrito e o pagamento de todas as dívidas.
Em resumo, o imigrante chegava na fazenda de café endividado, mas esperançoso
de que conseguiria pagar as dívidas num curto prazo, devido às promessas feitas no
momento do recrutamento. No entanto, nem tudo ocorria como prometido pelos agentes
que os aliciavam na Europa. Insatisfações e críticas, tanto por parte dos proprietários
quanto dos colonos, marcaram essa experiência. Em torno de 1856 começaram a circular
notícias de descontentamento dos imigrantes. Os colonos questionavam o cálculo do
rendimento do café produzido, a cobrança de comissões, os custos do transporte até o porto
de Santos, as taxas de conversão de suas dívidas em moeda nacional, dentre outras queixas.
No final de 1856 a fazenda de Ibiacaba foi palco de uma revolta dos colonos. Além de
espalhar o medo entre os fazendeiros – pois a revolta na fazenda de Vergueiro não foi a
única –, o sistema de parceria demonstrava, para os proprietários, que as soluções para a
criação de uma força de trabalho eficaz e que suportasse um nível de exploração próximo
da escrava estavam ainda longe de serem alcançadas.
A década de 1870, com os fazendeiros certos da iminência da abolição, começava
com previsões de crise de mão-de-obra. Em 1884 a Assembléia de São Paulo aprovou
medida que concedia passagens gratuitas para imigrantes destinados à agricultura. Ao final
da década de 1880, em torno de 100 mil imigrantes, predominantemente italianos, estavam
assentados nos estabelecimentos agrícolas de São Paulo – quase o dobro de escravos
empregados nas fazendas de café em 1885. Entre 1884 e 1914, chegaram a São Paulo cerca
de 900 mil imigrantes, a maioria como mão-de-obra barata para as fazendas de café, o que
assegurou, do ponto de vista dos senhores, uma transição mais tranqüila para o fim da
escravidão, bem como condições favoráveis para uma expansão continuada da produção
cafeeira.
Sugestão de atividade
Explore a relação entre literatura e história, estimulando a leitura e discussão de
romances ambientados no mundo rural desse período, a exemplo de O tronco do ipê, de
José de Alencar, A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães; livros de memórias como No
tempo de dantes, de Maria Paes de Barros; ou crônicas sobre o tema, como as publicadas
em Cidades mortas e Onda verde, de Monteiro Lobato. Nessas obras pode-se discutir o
cotidiano da vida nas grandes fazendas, a sociabilidade familiar, o papel das mulheres e
crianças, as relações sociais entre a casa-grande e a senzala, além do trabalho rural, dos
hábitos alimentares, das formas de vestimenta, dos valores sociais etc.
É importante fazer com que os alunos relatem suas observações, destacando as
diferenças entre o mundo urbano e o rural, para se iniciar um processo de discussão sobre a
especificidade do problema agrário na história do Brasil. Inicialmente, realize com a classe
um levantamento da situação agrária da região, o tipo de propriedade predominante, o que
se produz e para quê (exportação ou consumo local), se há conflitos pela posse da terra,
qual o regime de trabalho predominante, se houve migração estrangeira em massa para a
região, dentre outros aspectos.
Bibliografia
COSTA, Emília Viotti da. Da senzala à colônia. São Paulo, Livraria Ciências
Humanas,1982.
DAVATZ, Thomaz. Memórias de um colono no Brasil. São Paulo, Edusp/Itatiaia,
1980.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. História geral da civilização brasileira, vol 5. São
Paulo, Difel, 1976.
MAURO, Frédéric. A vida cotidiana no tempo de D. Pedro II. São Paulo,
Companhia das Letras, 1991.
PRADO Jr., Caio. História econômica do Brasil. São Paulo, Brasiliense, 1978.
SCHWARCZ, Lilia M. As barbas do imperador. São Paulo, Companhia das Letras,
1998.
SILVA, Eduardo. Dom Obá II d’África, o príncipe do povo. Vida, tempo e
pensamento de um homem livre de cor. São Paulo, Companhia das Letras,
1997.
STOLCK, Verena. Cafeicultura: homens, mulheres e capital (1859-1980). São
Paulo, Brasiliense, 1986.
TAUNAY, Affonso de E. História do café no Brasil, t. 3, vol. 5, Rio de Janeiro,
Departamento Nacional do Café, 1939.
CADERNOS DA TV ESCOLA
500 anos: o Brasil Império na TV
Rua Direita, no Rio de Janeiro, em 1825. No centro e ao fundo, a Igreja da Ordem Terceira do Carmo e a Capela de
Ordem do Carmo. Litografia aquarelada de Johann Moritz Rugendas (In: Malerische Reise in Brasilien, 1832).
A capital do império
A corte e seus bailes elegantes
O Rio de Janeiro dos cortiços e da “África Pequena”
Duas cidades tão próximas e tão distantes
Sugestão de atividade
Filmografia
Bibliografia
Não há como negar que durante todo o período imperial o Rio de Janeiro foi o
centro dinâmico do Brasil. Para a corte convergiam as atenções do resto do país. Sua
população cresceu de 137 mil habitantes, em 1838, para 235 mil, em 1870. Como vimos,
com a vinda da família real para o Brasil a cidade passou por transformações em seu
aspecto físico, e uma série de melhoramentos foram implementados. Apesar dos esforços
no sentido de mudar a face colonial e dotar a cidade de melhor infra-estrutura, o Rio de
Janeiro continuou, até o início do século 20, sendo vista como uma cidade “enferma”, que
não provia sua crescente população de serviços básicos, e que era ciclicamente visitada por
diversas moléstias, como febre amarela, varíola e cólera, dentre outras.
A despeito de todas as mudanças operadas na feição da cidade e nos costumes da
população, durante o reinado de D. Pedro II várias das marcas deixadas pelo passado
colonial – a mais contundente delas sendo a escravidão – continuavam a incomodar a
sensibilidade da elite brasileira e dos viajantes estrangeiros que visitavam o país. O mundo
do trabalho calcado na mão-de-obra negreira não apenas separava e marginalizava escravos
e homens livres, mas praticamente criara duas cidades, que só se cruzavam em alguns
poucos momentos. Havia o Rio de Janeiro representado pela rua do Ouvidor, com suas
estrangeirices, bailes de gala, intrigas da corte, óperas e audições musicais (embora não
deixasse de sofrer também com suas epidemias e doenças), e o Rio dos cortiços, com suas
festas populares alegres e ruidosas, misturas de línguas africanas e tipos físicos, brigas de
capoeiras e forte influência da cultura africana.
Não obstante a segregação e a rígida estrutura da sociedade brasileira no século 19,
o convívio entre as diversas camadas sociais se dava de forma complexa, fugindo a todos os
esboços que se possa tentar montar. Na aparente dicotomia que essa sociedade sui generis
apresentava, lacunas abriam espaços para variados tipos de relacionamento, que fugiam ao
senso comum. Formas de socialização permitiam o convívio de elementos culturais
diversos, dando um caráter ímpar ao Brasil imperial. Mas o colorido e o movimento das
ruas, com os vendedores ambulantes e negras quituteiras entoando seus pregões, os
senhores de casaca dirigindo-se a suas lojas e escritórios, senhoras indo à igreja ou às
compras e o aspecto exuberante da natureza tropical que encantava os visitantes não
conseguiam apagar as contradições de uma estrutura rigidamente hierarquizada e desigual,
onde a mão-de-obra escrava se constituía na base de toda a máquina produtiva.
Como conciliar o desejo de fixar uma imagem de civilização diante de tal realidade?
Se por um lado a corte se pretendia sofisticada e culta, seguindo a etiqueta e os padrões de
comportamento europeus, por outro esbarrava nos limites evidentes que a escravidão lhe
impunha. Assim, o novo império que se configurava não só se constituiria a partir da
tradição e das normas de conduta das casas imperiais européias, como também somaria a
esses elementos da cultura local traços de uma sociedade marcada pela herança colonial,
pela escravidão e por uma natureza e geografia diversas, que lhe conferiam características
absolutamente únicas.
A seguir, serão apresentados alguns aspectos dessa sociedade que crescia tão plena
de contradições, mostrando o distanciamento existente entre os dois mundos: o da elite e o
das camadas populares livres e escravos.
A corte e seus bailes elegantes
Apesar de, na maturidade, Pedro II se revelar retraído e discreto, não eram poucas
as oportunidades festivas na corte. Tudo se apresentava como motivo para comemoração.
Havia aparições públicas, cerimônia do beija-mão, cortejos reais, festas em datas cívicas,
coroações, batizados e casamentos. Além das cerimônias e comemorações oficiais, as
festividades religiosas tradicionais – procissões, novenas – e as profanas – como
cavalhadas, corridas de touros etc. – movimentavam a vida social da elite. No âmbito mais
restrito, as famílias abastadas divertiam-se em bailes, saraus literários, concertos,
banquetes, peças teatrais, corridas do Prado Fluminense, regatas no Botafogo e passeios
pela rua do Ouvidor.
Até meados da década de 1860, antes da Guerra do Paraguai, houve um período em
que a sociedade foi acometida por uma “febre” de saraus, concertos e bailes. Inspirados nas
festas parisienses do Segundo Império, organizavam-se no Rio de Janeiro inúmeras
sociedades e clubes, nos diversos bairros, que periodicamente promoviam eventos
dançantes. Também faziam enorme sucesso os bailes oferecidos pelas principais famílias da
corte, que, às vezes, abriam os salões das suas residências em dias fixos da semana.
Era nos bailes que a elite experimentava toda a frivolidade dessa vida mundana.
Vestia-se e penteava-se segundo a última moda em Paris, e seguia, em nome da
“civilidade”, regras e padrões de etiqueta que eram divulgados nos manuais de bons
costumes, muito lidos na época. Nos saraus serviam-se pratos requintados; dançavam-se
valsas vienenses ou quadrilhas francesas; tenores cantavam árias de óperas famosas de
Verdi e Rossini; comédias de autores renomados eram encenadas. As costureiras e modistas
trabalhavam incessantemente; as lojas de tecidos e moda quase esgotavam seus estoques; os
cabeleireiros elaboravam minuciosos penteados; os ourives e joalheiros vendiam como
nunca colares, brincos, tiaras, pulseiras e outros adereços que iriam enfeitar ainda mais as
damas da época. Nos dias que antecediam os bailes, para satisfação dos comerciantes, a rua
do Ouvidor fervilhava.
Com seus estabelecimentos variados, desde armazéns de secos e molhados a lojas
de tecidos e roupas, a rua do Ouvidor passou a congregar todo o comércio de artigos finos e
futilidades, além de jornais, hotéis, restaurantes, casas de chá e cafeterias elegantes. As
afamadas modistas francesas, cabeleireiros, floristas, alfaiates, chapeleiros, além de uma
infinidade de outras lojas especializadas, atraíam damas e cavalheiros, que em suas
elegantes toilettes acotovelavam-se para ver as belas vitrines ou tomar um sorvete nesse
verdadeiro salão ao ar livre. Era lá, na longa e estreita rua, que se encontrava todas as tardes
a fina flor da sociedade imperial, não só para adquirir as novidades e apreciar as vitrines,
mas também para ver, ser vista, saber das notícias, mexericos e intrigas políticas.
O Rio de Janeiro dos cortiços e da “África Pequena”
Enquanto a elite dançava e se divertia nos bailes, concertos e passeios na rua do
Ouvidor, o contingente populacional que se dirigia ao Rio de Janeiro crescia
assustadoramente. O fato de ser o centro administrativo, político e cultural do império
tornava a cidade um pólo de atração tanto para as províncias como para os imigrantes
estrangeiros. Eram homens livres, escravos, negros forros e foragidos que diariamente
procuravam, pelas ruas da cidade, formas de prover sua subsistência. Na década de 1870, os
negros e pardos representavam quase metade dos habitantes da cidade, o que causava
inquietação na sociedade branca e tornava o Rio de Janeiro um verdadeiro campo de
conflitos étnicos.
Suas moradias concentravam-se nos distritos de Santana, Cidade Nova, Gamboa e
adjacências. Convivendo em certa unidade social e cultural, a região onde essa população
habitava é chamada atualmente por alguns historiadores de “África Pequena”. A
historiografia contemporânea da cidade adota essa denominação, mas, segundo Eduardo
Silva, é necessário que se tomem alguns cuidados, pois apesar de possuir certa
uniformidade e traços comuns, ela ainda não formava uma unidade coesa culturalmente,
conservando costumes, hábitos e religiões diferentes, além de alimentar antigas diferenças e
discórdias originárias da África (Silva, 1997, p. 83).
Enquanto crescia o número de habitantes, a cidade tornava-se de difícil
administração e deficitária em termos de equipamentos urbanos. Os antigos problemas de
abastecimento, saúde, falta de serviços públicos e dificuldades com relação à moradia se
agravaram, atingindo principalmente a população pobre. Eram constantes os relatos acerca
das condições sanitárias precárias. Durante as décadas de 1870 e 1880 as epidemias
grassavam por toda a cidade, chegando inclusive aos palacetes da elite e ao paço imperial,
levando as autoridades a incrementar propostas de reforma e saneamento, só levadas a
efeito no início do século 20. No entanto, aos pobres atribuía-se a maior parte da culpa pela
insalubridade do Rio de Janeiro. Eram eles, segundo a elite, que atiravam lixo e dejetos nas
ruas, não possuíam hábitos de higiene, promoviam a promiscuidade dos corpos em rituais e
práticas condenáveis e, sobretudo, viviam em habitações precárias, como os cortiços.
João do Rio, jornalista responsável por crônicas memoráveis sobre a vida no Rio de
Janeiro, descreveu no início do século 20 uma dessas “casas de africano”:
São quase sempre rótulas lôbregas, onde vivem com o personagem principal cinco,
seis e mais pessoas. Nas salas, móveis quebrados e sujos, esteirinhas, bancos; por
cima das mesas terrinas, pucarinhos de água, chapéus de palha, ervas, pastas de
oleado onde se guarda o opelé; nas paredes, atabaques, vestuários esquisitos, vidros;
e no quintal, quase sempre jabotis, galinhas pretas, galos e cabritos.
Segundo Eduardo Silva,
[...] não se trata apenas, como se pode ver, de uma residência no sentido moderno e
ocidental do termo, mas de um espaço misto, entre sagrado e profano, casa de
morar e orar. Aqui, utensílios prosaicos de uso no dia-a-dia, como móveis
quebrados e sujos […]. Adiante objetos ou componentes dos cultos afro-brasileiros,
como terrinas, ervas, atabaques, “vestuários esquisitos”. No quintal, como apêndice
da casa, os animais necessários à subsistência tanto quanto ao sacrifício ritual.
(Silva, 1997, p.80).
Já os cortiços eram grandes casarões que tinham seus cômodos divididos e
subdivididos em pequenos quartos onde habitavam famílias bastante numerosas. O mais
conhecido desses cortiços foi o Cabeça de Porco. Considerado pela polícia verdadeiro
“valhacouto de desordeiros”, o Cabeça de Porco cresceu durante as décadas de 1870 e
1880, sendo finalmente demolido em 1893, quando chegou a ter sua população estimada
em 2 mil a 4 mil pessoas.
Nesses cortiços superpovoados abrigavam-se os escravos de ganho que tinham
obtido de seus donos a permissão de “viverem sobre si”, libertos e forros que sobreviviam
de biscates, capoeiras, prostitutas, pais-de-santo, quituteiras, empregados domésticos etc.
Se, por um lado, podemos considerar a África Pequena quase como uma “cidade paralela”,
onde os escravos e libertos constituíam redes de solidariedade diversas para burlar e vencer
a escravidão, por outro não podemos perder de vista que para a polícia e a elite essa massa
se constituía em perigo constante, e sobre ela era preciso exercer um controle efetivo. Na
verdade, a população que morava nos cortiços era econômica e socialmente excluída,
vivendo no limite impreciso da legalidade e ilegalidade. Sobrevivendo como era possível,
fosse de modo lícito ou não, para os habitantes dos cortiços a belle époque passava ao
largo.
Mas é importante destacar que o panorama delineado para a África Pequena de
doenças, pobreza e imoralidade foi construído pela elite, não correspondendo inteiramente
à realidade. Lá também era o espaço da festa, celebrações, brincadeiras de rua, enfim, o
lugar da sociabilidade dos diversos grupos excluídos daquele outro Rio de Janeiro. O
burburinho, os cânticos e danças estavam por todo lado, mesmo em dias comuns. No
cotidiano das ruas eram freqüentes o som dos tambores, as rodas de lundus e batuques, as
festas religiosas que mesclavam catolicismo com rituais africanos, o gingado dos capoeiras,
as conversas nas esquinas, a algazarra e gritaria das crianças, as cantorias dos negros
carregadores e os pregões dos vendedores ambulantes.
Duas cidades tão próximas e tão distantes
É importante mostrar para os alunos que, apesar da distância que separava a corte da
África Pequena, esses dois mundos não estavam totalmente isolados. Pode-se perceber que,
mesmo tão diversos culturalmente, ambos conseguiam, em alguns momentos, se aproximar.
Nesses contatos, os grupos excluídos abriam brechas de comunicação, atribuindo
significados específicos e paralelos às cerimônias e rituais oficiais. Culturas distintas assim
entravam em choque ou caminhavam para um amálgama. Esses momentos se davam
freqüentemente nas festas públicas de caráter religioso.
Segundo Lilia Schwarcz,
[...] num país escravocrata fortemente hierarquizado, as festas dos “brancos”
ocorriam – em sua maioria – no interior dos palácios e teatros, cenário para bailes e
saraus, ao passo que as festas dos “negros” se realizavam nas ruas das cidades e nas
senzalas das fazendas. Enquanto nos bailes a corte se vestia à européia, e
transformava a escravidão numa cena quase transparente, nas festas populares os
adereços eram outros. Além disso, nos dias de festa religiosa vários grupos sociais
convergiam para um mesmo espaço e comungavam, por meio de rituais
formalmente católicos, algo além da hóstia consagrada. (Schwarcz, 1998, p. 258)
Nessas ocasiões, a mistura de grupos e pessoas de diferente condição social e de
diversas origens chocava os viajantes estrangeiros, que, admirados, não conseguiam
entender uma convivência tão próxima e, sobretudo, o seu complexo resultado: em suas
próprias palavras, a “falta de decoro e sobriedade” nas atitudes, o colorido visual das vestes
sumárias, os cânticos “bárbaros” e “barulhentos” e as danças “imorais e libidinosas”. Aos
olhos desses visitantes de outras terras, a mistura das tradições seculares das casas reais
européias com as “crendices” e hábitos “selvagens” de negros e mulatos era simplesmente
inaceitável.
Fica evidente que essa relação era permeada de ambigüidades. Se em alguns
momentos as cidades paralelas chegavam a se comunicar, falando uma linguagem cultural
semelhante e estabelecendo uma relação de certa convivência e troca, em outros elas não
conseguiam se fazer entender, o que gerava uma verdadeira impossibilidade de
comunicação e intercâmbio.
Sugestão de atividade
Sugira aos alunos que, com base no que foi discutido sobre a vida do Rio desse
período, dividida entre a corte e a África Pequena, procurem estabelecer comparações com
a vida em sua cidade. Eles podem ser estimulados a observar o modo de vida, hábitos,
festas, habitações dos bairros populares etc., procurando estabelecer comparações com as
manifestações culturais e o cotidiano nas áreas de maior poder aquisitivo e examinando o
relacionamento entre os dois contextos. Ao final, pode-se realizar um painel com colagens,
desenhos, frases, poemas e textos de autores famosos, representativo da vida nas cidades
atuais.
Filmografia
A moreninha. Direção: Glauco Mirko Laurelli, 1971.
O cortiço. Direção: Francisco Ramalho, 1977.
Senhora. Direção: Geraldo Vietri, 1976.
Bibliografia
ARAÚJO, Rita de Cássia de. Festas: máscaras do tempo. Recife, Fundação de
Cultura da Cidade do Recife, 1996.
CHALHOUB, Sidney. Cidade febril. São Paulo, Companhia das Letras, 1996.
MACEDO, Joaquim Manuel de. Memórias da rua do Ouvidor. Brasília, UNB,
1988.
MAURO, Fréderic. O Brasil no tempo de D. Pedro II. São Paulo, Companhia das
Letras, 1991.
MELLO MORAES FILHO. Festas e tradições populares do Brasil. Rio de Janeiro,
Briguiet, 1946.
NEEDELL, Jeffrey D. Belle époque tropical: sociedade e cultura de elite no Rio de
Janeiro na virada do século. São Paulo, Companhia das Letras, 1993.
PINHO, Wanderley. Salões e damas do Segundo Reinado. São Paulo, Livraria
Martins Editora, 1970.
SCHWARCZ. Lilia Moritz. As barbas do Imperador. D. Pedro II, um monarca nos
trópicos. São Paulo, Companhia das Letras, 1998.
SILVA, Eduardo. Dom Obá II d’África, o príncipe do povo. Vida, tempo e
pensamento de um homem livre de cor. São Paulo, Companhia das Letras,
1997.
CADERNOS DA TV ESCOLA
500 anos: o Brasil Império na TV
Batalha naval do Riachuelo, óleo sobre tela de Victor Meirelles, final do século 19. (Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro)
A Guerra do Paraguai
Os Voluntários da Pátria
Os dias de guerra
A batalha de Tuiuti
O legado da guerra
Sugestão de atividade
Filmografia
Bibliografia
Um dos acontecimentos que mais marcaram a história do Brasil, a Guerra do
Paraguai tem sido objeto de intensa revisão historiográfica, tendo sido interpretada sob
diferentes aspectos, dependendo das posições teóricas ou ideológicas assumidas pelos
historiadores. Para alguns, suas causas estariam ligadas diretamente à índole e ao
temperamento despótico de Solano Lopez, com seu caráter impulsivo e arrogante e
pretensões exageradas em relação ao crescimento econômico e territorial do Paraguai. Uma
segunda corrente enxerga o conflito a partir dos interesses imperialistas ingleses na região:
ansiosa por manter seu domínio comercial sobre tão importante e lucrativa área, a Inglaterra
teria fomentado uma rede de alianças e intrigas a fim de solapar o desenvolvimento
paraguaio. A terceira explicação para a guerra privilegia aspectos internos, relativos à
afirmação nacional dos diversos países latinos envolvidos, enfatizando seus interesses
territoriais e econômicos (em torno de 1860, a região platina parecia um barril de pólvora
prestes a explodir, na luta pelo controle da navegação dos rios Paraná e Paraguai).
Essas várias interpretações estão presentes nos manuais didáticos, bem como os
episódios mais importantes e as principais batalhas. No entanto, ao abordar o tema, convém
tomar certas precauções, evitando um olhar pouco isento sobre o fato, equívoco em que
incorrem alguns historiadores. Basta lembrar que há sérias discórdias tanto sobre a
quantidade de soldados arregimentados quanto sobre o número de mortos. Como exemplo,
lembramos que as baixas atribuídas ao lado paraguaio em geral oscilavam entre 900 mil e
1,3 milhão. Hoje, duvida-se que o Paraguai tivesse essa população!
Se para o Paraguai a guerra significou a perda de vidas humanas e de território, para
o Brasil, além das perdas de vidas e bens materiais, ela marcou o início da queda do
império. Procuramos mostrar aqui a dimensão trágica e humana desse episódio de nossa
história, privilegiando seus aspectos sociais e cotidianos, em detrimento das grandes
batalhas – ou seja, os soldados comuns em lugar dos grandes heróis.
Os Voluntários da Pátria
Como o serviço militar na época do Brasil Império não era obrigatório, para
preencher o efetivo havia o recrutamento forçado nas camadas mais humildes da
população, compostas sobretudo de negros, índios e mestiços. Às vésperas da Guerra do
Paraguai, os militares brasileiros eram soldados mal treinados e sobretudo mal aparelhados.
Assim, no dia 7 de janeiro de 1865, o imperador assinou um decreto criando os corpos de
Voluntários da Pátria. Num ato simbólico, apresentou-se como o primeiro voluntário e,
durante toda a guerra, seria chamado de “Pai dos Voluntários”.
Quase 55 mil soldados foram arregimentados dessa forma. Pelas capitais e o interior
do país distribuíam-se, nas câmaras municipais, editais de convocação, e pelo sertão muitos
coronéis da Guarda Nacional, para demonstrar seu poder político, juntavam batalhões.
Corpos de voluntários se formaram em todo o país, em entusiástica resposta ao chamado do
governo. Durante o primeiro ano da guerra, alistar-se era considerado um ato de
patriotismo. Um autêntico sentimento de ufanismo se instalou no Brasil, ganhando impulso
com a ajuda da imprensa, que apresentava López como um ditador despótico e o exército
brasileiro como o responsável pela tarefa de levar a civilização para as repúblicas latinas
envolvidas no confronto. Considera-se que a guerra foi fator decisivo na construção da
identidade brasileira no século passado, pois produziu um inimigo concreto e sentimentos
muito poderosos. Pela primeira vez, brasileiros de todos os quadrantes se encontravam e
lutavam juntos “em defesa da pátria”.
À medida que a guerra se prolongava, surgiam resistências e aumentava o
recrutamento forçado. As formas de arregimentação foram bastante criticadas na época.
Muitas pessoas se referiam a esses soldados como “voluntários de corda”, o que não quer
dizer que homens livres pobres, e até mesmo de classe média, não tenham se alistado
voluntariamente para combater pelo país. No entanto, principalmente nas grandes cidades,
aquela gente tida por turbulenta – muitos deles mestres da capoeira – viu-se da noite para o
dia transformada em “voluntários de corda”.
Para muitos outros, contudo, a guerra representava a possibilidade de deixar de ser
propriedade de outrem, ou mão-de-obra barata, para ser homem de respeito,
soldado, defensor da pátria. Sentar praça às escondidas, sob nome falso, foi um
recurso utilizado por escravos, desde os tempos coloniais, na luta pela liberdade, ou
por uma vida melhor. Apesar das durezas da caserna e das dificuldades de
promoção, o alistamento militar foi um recurso muito utilizado, tanto para legitimar
fugas como para garantir comida. Quando da Guerra do Paraguai, muitos escravos
aceitaram, como facultado por lei, partir para a guerra no lugar de seus senhores, ou
dos filhos de seus senhores, em troca da liberdade. Homens livres e libertos, da
mesma forma, viram no fato de pertencerem ao exército prova de bravura pessoal e
via de integração na sociedade mais ampla. (Silva, 1997, p. 42)
Um número significativo dos combatentes do exército brasileiro era, portanto,
formado de negros, principalmente ex-escravos. Silva ainda ressalta que, bem no clima
romântico da época, o serviço militar atraiu também “moços da melhor elite”, a exemplo do
alferes Dionísio Cerqueira, do 4º Batalhão de Voluntários, que nos legou um
impressionante relato da guerra. É nele que nos apoiaremos para descrever o campo de
batalha e os dias de acampamento.
Os dias de guerra
No momento em que foi declarada a guerra, Dionísio Cerqueira era um jovem
estudante de engenharia no Rio de Janeiro, de apenas dezessete anos. Assim que viu seus
amigos de escola preparando-se para partir, não resistiu:
Quando vi […] aqueles caros companheiros em ordem de marcha, com a mochila às
costas, de capote bem emalado, a marmita reluzente, os malotes pintados de
alvaiade, talabarte alvo do embornal bem engomado, como a mais honrosa das grãcruzes, a chapa do cinturão limpa como ouro, o punho reluzente do sabre-baioneta,
o cantil de madeira sobre o embornal vazio, e a patrona lustrada a cera, como se
tivesse sido envernizada, e carregando garbosos a carabina com que iam defender a
pátria; achei-os admiráveis, e confesso meu pecado. Tive tanta inveja que não pude
mais abrir um livro. Não podia ficar no Rio de Janeiro […]. (Cerqueira, 1980, p. 51)
E assim ele se alistou como soldado raso. Recebeu o uniforme de soldado: “um par
de sapatos […], uma fardeta ou jaqueta de pano branco muito ordinária, uma calça que me
não abotoava e um gorro de recruta em forma de pão-de-ló”. É claro que, inconformado
com tal simplicidade, ele conseguiu de um amigo um uniforme mais apresentável, e
comprou “um boné de artilharia, com tope nacional, distintivo dos que iam para a guerra”.
Estava pronto o soldado! Mas a guerra mostraria a Dionísio sua face menos gloriosa nos
acampamentos e batalhas.
Ao lermos o relato de Dionísio Cerqueira, a todo momento ficamos surpresos com o
despreparo desses soldados: nunca eram reunidos para exercícios militares, nem recebiam
treinamento para o uso de armas, além de contarem com suprimentos inadequados. O
exército não pagava os soldos regularmente, e Dionísio só pôde manter-se e comer melhor
porque recebia regularmente do pai uma certa quantia em dinheiro. Os outros soldados
enfrentavam sérias agruras. O rancho era composto por uma ração de carne de reses
abatidas nas proximidades, e os acampamentos conviviam diariamente com os churrascos,
acompanhado de farinha pura ou, mais raramente, pirão. Havia também pão de trigo feito
pelos gringos panaderos, mas poucos o preferiam. A água, além de má e repugnante, era
quente, obtida de cacimbas rasas, cavadas no areal. Próxima dos campos de batalha, estava
sempre poluída.
Os recrutas recém-chegados do Norte do Brasil, não habituados aos rigores do
inverno, excepcionalmente frio no ano de 1865, baixavam aos hospitais em grande
número. E as fileiras rarefaziam-se rapidamente. Lembro-me de um luzidio
batalhão de voluntários paraenses que desapareceu vitimado pela brusca troca de
clima […] e provavelmente também pela mudança de alimentação. A disenteria, o
flagelo dos exércitos em campanha, grassava incessantemente, e fazia inúmeras
vítimas. (Cerqueira, 1980, p. 65)
Dionísio, em suas Reminiscências, conta-nos toda a guerra, pois dela participou do
começo ao fim. Ao mesmo tempo em que relata heroísmos motivados pelo “amor à pátria”
ou pelo “cumprimento do dever”, não há como, à medida que lemos seu livro, não ficarmos
atordoados com as enormes perdas que todos viveram; um dia um amigo que morre, noutro
um chefe ferido, mais uma batalha e novamente o batalhão ficava “rareado” de homens.
Impressionam as montanhas de cadáveres, mas também a solidariedade desses soldados que
carregam uns aos outros para os hospitais improvisados, que cuidam dos feridos ou lhes
dão água fresca, quando têm.
Nesse exército improvisado, havia de tudo: mulheres que acompanhavam seus
parceiros, crianças que nasciam nos acampamentos, tendas de comerciantes que supriam as
falhas de abastecimento alimentar. Se havia doença e morte, a fé também marcava
presença. Antes da batalha, o ritual religioso: rezar o terço diante da bandeira, entoar a
oração do soldado brasileiro, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, seguida do toque de
ajoelhar corpos. Depois, segundo relatou Dionísio:
Todos aqueles homens simples, rudes e crentes, que se iam se bater como leões, no
dia seguinte, caíram de joelhos, e, com a mão musculosa, apertando os largos peitos
valorosos, entoaram, cheios de contrição e de fé, o “Senhor Deus, Misericórdia”.
(Cerqueira, 1980, p. 155).
A batalha de Tuiuti
Essa batalha começou logo após o meio-dia de 24 de maio de 1866, e foi
considerada a maior e mais sangrenta da história do continente. De um lado, cercados por
pântanos, lagoas e matos, estavam os exércitos aliados: 21 mil brasileiros, 10 mil
argentinos e 1.200 uruguaios. Do outro, 24 mil soldados paraguaios, sob o comando direto
de Solano López. Os aliados achavam-se sob a chefia de Bartolomeu Mitre, comandante
militar da Tríplice Aliança. O ataque de López foi terrível e ruidoso, conforme fica evidente
na seguinte passagem:
Novas colunas de cor avermelhada e armas cintilantes surgiam umas após as outras;
eram guerreiros acobreados, espadaúdos, montados em pequenos cavalos, com os
estribos de rodelas entre os dois dedos dos pés e chiripás de lã vermelha; com
boleadeiras nos tentos, empunhando lanças enormes, ou brandindo espadas curvas e
afiadas, avançando a galope, em alarido infernal, sobre os nossos batalhões, já meio
desorientados, pelas cargas repetidas que davam, pelas linhas de atiradores que
saíam, pelas fileiras que rareavam, pelos oficiais que morriam, pelos chefes que
tombavam. Parecia uma tempestade […]. Cornetas tocavam à carga; lanças se
enristavam; a artilharia rugia; cruzavam-se baionetas; rasgavam-se os corpos sadios
dos heróis; espadas brandidas abriam crânios, cortavam braços e decepavam
cabeças. (Cerqueira, 1980, pp. 160-161).
Depois de duas horas de terrível batalha campal, as tropas do general Osório
conseguiram conter o ataque ao centro da formação brasileira e, em seguida, depois de
auxiliarem as alas, passaram à ofensiva. Às 16h30 o exército paraguaio batia em retirada,
deixando 6 mil mortos e 7 mil feridos. Os aliados tiveram quase 4 mil baixas. A guerra
contra López aproximava-se do fim. Mas os resultados da batalha foram aterradores.
Quando arrefeceu, Dionísio reparou em si mesmo e constatou que levara um tiro de raspão
no ombro direito e tinha a espada quebrada ao meio. George Thompson, engenheiro inglês
a serviço de López, regressou ao campo de batalha dois dias depois e assim o descreveu:
Os bosques e as clareiras que os dividiam estavam cobertas de cadáveres. Os corpos
não se achavam decompostos, eram verdadeiras múmias. A pele mirrada sobre os
ossos tinha a cor amarela e conservava-se muito seca. O campo estava coberto de
balas, cartuchos e projéteis de todo tipo; as árvores, crivadas de balas de carabina
em muitos lugares. (Silva, 1997, p. 53)
O legado da guerra
Longa (1864-1870), cruel e exterminadora, a guerra praticamente arrasou o
Paraguai. Depois de demoradas negociações, em 1872 o Brasil assinou um tratado impondo
novos limites de fronteira entre os dois países, e forçando o vizinho a se comprometer com
uma dívida de guerra que jamais conseguiria pagar. Só em 1876 as negociações foram
concluídas, e a paz, definitivamente estabelecida entre os países restantes.
O Brasil, apesar de vencedor, sofreu efeitos marcantes. As dívidas de guerra foram
enormes, mas o exército saía do conflito com força e importância no quadro político
nacional. O grande número de elementos das camadas médias que voltavam dos campos de
batalha cheios de glória tornava a carreira das armas uma profissão digna e prestigiosa.
Para os Voluntários da Pátria, principalmente ex-escravos, a realidade de um império
escravocrata parecia contraditória. Haviam lutado por um país que os tratava a chibatadas.
Essas camadas ascendentes do exército reclamavam por espaço político, para fomentar os
debates mais acalorados contra a escravidão e as pregações republicanas. O império
escravista saíra ferido de morte dos campos de batalha (veja também Episódio 8 – A
Abolição).
No entanto, segundo observou Eduardo Silva,
[...] a guerra foi um tempo de autoridade e hierarquia, tanto quanto de
companheirismo, de medo da morte e da alegria das vitórias, dividido por negros,
brancos e miscigenados, juntos sob a mesma bandeira. […] Muitos voltariam da
guerra descontentes com a sociedade tradicional, e convertidos ao ideário
abolicionista. Dezessete anos depois da vitória, um manifesto do Clube Militar,
dirigido à princesa regente, solicitava a dispensa dos pesados encargos da captura
de “pobres negros que fogem à escravidão, ou porque viviam já cansados de sofrerlhe os horrores, ou porque um raio de luz da liberdade lhes tinha aquecido o coração
e iluminado a alma”. (Silva, 1997, pp. 55-56)
O império nunca mais seria o mesmo. Tinha crescido o prestígio da farda. Dezenove
anos depois da vitória, houve a proclamação da república. Na presidência, bem como no
cargo de vice, dois veteranos da Guerra do Paraguai.
Sugestão de atividade
Foi intenso o esforço de mobilização para a guerra, perceptível em manifestações
variadas: na poesia popular e erudita, na música (notadamente nos hinos pátrios) e também
na imprensa (em artigos e principalmente ilustrações). Cartuns apareciam em profusão
pelos jornais e revistas, e em muitos livros didáticos podemos encontrar reproduções de
alguns deles. Sugerimos que se peça aos alunos que comparem os cartuns produzidos no
Brasil (principalmente os que representavam os paraguaios e Solano López) e no Paraguai
(os cartuns do jornal Cabichuí, que representavam os brasileiros como macacos), para
ressaltar o processo de criação de imagem e desumanização do inimigo e o incentivo ao
sentimento de patriotismo.
Filmografia
Guerra do Brasil. Direção: Sylvio Back, 1987.
Bibliografia
CERQUEIRA, Dionísio. Reminiscências da campanha do Paraguai. Rio de
Janeiro, Biblioteca do Exército, 1980.
CHIAVENATTO, Júlio José. Genocídio americano. A Guerra do Paraguai. São
Paulo, Brasiliense, 1979.
POMER, León. A guerra do Paraguai: a grande tragédia rioplatense. São Paulo,
Global, 1981.
SALLES, Ricardo. Guerra do Paraguai. Escravidão e cidadania na formação do
exército. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1990.
SILVA, Eduardo. Dom Obá II d’África, o príncipe do povo. Vida, tempo e
pensamento de um homem livre de cor. São Paulo, Companhia das Letras,
1997.
SILVEIRA, Mauro César. A batalha de papel. A guerra do Paraguai através da
caricatura. Porto Alegre, L&PM, 1996.
CADERNOS DA TV ESCOLA
500 anos: o Brasil Império na TV
Estação da estrada de ferro D. Pedro II, de Sebastien Auguste Sisson, c. 1860. (In: Iconografia brasileira, Coleção Itaú,
organizado por Pedro Correia do Lago. São Paulo, Itaú Cultural: Contra-Capa Livraria, 2001, pág. 139)
A modernidade chega a vapor
As exposições nacionais
As ferrovias
As transformações no Nordeste: modernização sem mudança
A grande seca
Sugestão de atividade
Filmografia
Bibliografia
A partir da segunda metade do século 19 o país começou a respirar os ares de uma
certa modernização, ou seja, passou a ser comum no dia-a-dia das cidades a utilização de
uma série de invenções que modificariam intensamente os meios de transporte e as formas
de comunicação. Essa é a época da expansão das ferrovias e da invenção do telégrafo, do
telefone e do motor de explosão, que em seu conjunto demonstram o novo ritmo de vida do
final do século. O Brasil começava a ser atingido pela expansão capitalista da segunda
Revolução Industrial. E para sintetizar o espírito dessa época, nada melhor do que a
fotografia. Segundo Schwarcz, a velocidade com que as imagens eram capturadas pelas
lentes dos fotógrafos, “atraía essa sociedade em que a rapidez se transformava em sinônimo
de qualidade e progresso”. “A foto tornava-se, então, não só símbolo da modernidade,
como marca de status e civilização; uma distinção na mão de poucos” (Schwarcz, 1998, pp.
346, 349).
Nas principais cidades, aos poucos as pessoas deixavam de usar coches e carroças,
para andar em bondes e trens. Os antigos candeeiros foram substituídos pelos lampiões a
gás, e as ruas assumiram um aspecto feérico. As notícias da Europa chegavam mais
rapidamente por meio do telégrafo, bem como as pessoas e as mercadorias que de lá
partiam nos navios a vapor. Fotógrafos se instalavam nas principais cidades; e outras
pequenas modernizações contribuíam para a mudança de hábitos culturais. A locomotiva, o
telégrafo e o navio a vapor passaram a ser vistos como símbolos do progresso e da
civilização a que se almejava alcançar.
Mesmo passando por transformações econômicas importantes, porém, as mudanças
ocorreram lenta e parcialmente. Se na corte e em algumas outras grandes cidades um certo
dinamismo e diversificação das atividades econômicas eram percebidos, em outras áreas a
situação permanecia como se nada estivesse acontecendo. Na verdade, as transformações
tecnológicas atingiam principalmente as cidades, enquanto que o Brasil continuava a ser
um país eminentemente agrário. Da agricultura vinham os principais produtos para
exportar, e no campo morava a maior parte da população.
Com o fim das atividades ligadas ao tráfico negreiro determinada pela Lei Eusébio
de Queirós em 1850, grandes somas antes destinadas à compra de escravos acabaram sendo
liberadas e dirigidas para outras atividades produtivas e outros setores econômicos. Para se
ter uma idéia, podemos citar os seguintes exemplos: enquanto entre 1841 e 1845 foi
expedida apenas uma patente industrial, nos anos entre 1851 e 1855 esse número subiu para
quarenta. Segundo Caio Prado Jr., nesse período foram fundados nada menos que 62
empresas industriais, catorze bancos, três caixas econômicas, vinte companhias de
navegação, 23 companhias de seguro, oito estradas de ferro, além de empresas de
mineração, transporte urbano, gás etc. (Prado Jr., 1961, p. 197).
Surgiram nessa época os primeiros empresários brasileiros mais ligados à riqueza
mobiliária que à propriedade fundiária. Irineu Evangelista de Souza, o barão de Mauá, é
uma figura central nesse processo de modernização. Praticamente todos os símbolos de
modernização presentes na cidade do Rio de Janeiro, e que a transformaram de uma cidade
colonial numa metrópole, contaram com a participação de Mauá. Os vapores, que tomavam
o lugar dos antigos navios a vela, eram fabricados em seu estaleiro. A estrada de ferro até
Petrópolis substituíra a velha estrada poeirenta de terra. A Companhia de Iluminação a Gás
do Rio de Janeiro aposentara os velhos e fétidos candelabros de óleo de peixe, assim como
os canos de ferro que levavam água para seus habitantes haviam substituído os aquedutos
de pedra. Nesse contexto, o barão de Mauá povoou o imaginário como o protótipo do
capitalista brasileiro, e a história socioeconômica do período ficou indelevelmente ligada a
seu nome.
Para comercializar, divulgar e mesmo celebrar as inovações tecnológicas,
demonstrando o progresso e o grau de civilização dos países participantes, começaram a se
organizar, a partir de 1850, as grandes exposições universais.
As exposições nacionais
Nesse afã de modernização, o Brasil se fez representar desde 1862 nas exposições
universais. Para o imperador era fundamental tornar seu país devidamente conhecido
internacionalmente, dar uma idéia de sua atividade e civilização, desfazendo imagens que o
prejudicassem. Era necessário mostrar uma outra face da nação, que aparecia aos olhos do
mundo como uma exótica monarquia tropical, de exuberante paisagem e exportadora de
produtos agrícolas – e, antes de mais nada, escravocrata.
Apesar do esforço em divulgar uma imagem moderna e cosmopolita do país, o que
era exposto só reforçava a visão de território inculto, reino de animais e vegetais exóticos e
de bons selvagens. Na Filadélfia, em 1876, a presença do Brasil foi detalhada e
cuidadosamente preparada, e D. Pedro participou oficialmente, ao lado do presidente Grant,
da abertura do evento, acionando a força motriz da sala de máquinas, além de conversar por
telefone com o próprio Graham Bell.
Financiadas e organizadas cuidadosamente pelo governo imperial, por comissões na
maior parte das vezes sob supervisão direta do próprio D. Pedro, a participação do Brasil
era antecedida de uma série de eventos internos destinados a garantir a qualidade do seu
pavilhão. Nas feiras provinciais selecionavam-se os produtos locais que, depois de reunidos
em uma mostra nacional, ocorrida sempre no Rio de Janeiro, seriam escolhidos para
compor o conjunto brasileiro no exterior. A primeira exposição nacional aconteceu em
1861, e como as posteriores – 1866, 1873, 1875 e 1889 –, foi patrocinada pelo governo, que
investia grandes somas na melhoria e construção de prédios, em financiamentos,
divulgação etc. A Exposição Nacional de 1861, nos 42 dias em que ficou aberta ao público,
foi visitada por 50.739 pessoas. Na de 1875 a média de visitantes por dia foi de 1.500
pessoas.
Apesar do fascínio que exerciam sobre a maioria das pessoas, as exposições – em
cujos estandes se podiam ver produtos agrícolas como café, açúcar e fumo, madeira, redes,
peles, botas, flechas, cerâmica, plantas exóticas, animais, arte indígena, materiais de ferro e
aparelhos mecânicos, tecidos, perfumes e muitas outras coisas – foram alvo de críticas por
parte de políticos e autoridades e da resistência de empresários. No entanto, mesmo sob a
acusação de se constituírem um “luxo desnecessário”, precipitação artificial do
industrialismo no país, provocadoras de altos gastos, demonstração de “produtos do
trabalho não industrial, obras da fantasia […], estranhos à natureza do espetáculo”, as
exposições universais e nacionais continuaram a mostrar um país de
[...] estilo tropical, a monarquia selvagem, as riquezas naturais e a população com
seus produtos bárbaros e mestiços […]. A magia deu certo, mas só em parte. Que o
Brasil e seu imperador fizeram sucesso no exterior, isso fizeram. Porém, mais uma
vez não era a representação civilizada que se colava ao grande império e sim as
suas excentricidades. (Schwarcz, 1998, pp. 405-406)
As ferrovias
Nada é mais emblemático da modernização do que a velocidade. Durante a década
de 1850 e as seguintes, o Brasil se veria consumido pela febre das estradas de ferro, o velho
ritmo colonial quebrado pela fumaça das locomotivas a vapor que rumavam das capitais em
direção ao sertão. Pensava-se que o país se desenvolveria à medida que as grandes e
barulhentas máquinas avançassem pelo país adentro. A febre ferroviária trazia consigo a
ilusão de um país que se modernizava.
Nem tanto. Apesar de, já em 1835, Diogo Feijó ter promulgado uma lei que previa a
ligação ferroviária entre a corte e a província de Minas Gerais, a primeira ferrovia seria
inaugurada apenas em 1854 (a Leopoldina, ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis), resultado
de um empreendimento direto do barão de Mauá. Em 1852 o governo imperial empenhavase na construção de linhas ferroviárias, estabelecendo a garantia de juros para os capitais
estrangeiros investidos. São do ano seguinte a aprovação dos projetos da D. Pedro II
(ligando a corte ao vale do Paraíba, partindo depois em direção a Minas Gerais e São
Paulo) e da Recife–São Francisco Railway Company. No entanto, o programa de expansão
ferroviária sofria sérios reveses, provocados pelas dificuldades financeiras e também pelas
disputas partidárias. Enquanto a D. Pedro II seguia o caminho do café a todo vapor, na
região açucareira a Recife–São Francisco Railway estacionaria em Palmares por muitos
anos. Da mesma forma, nas outras províncias da região a morosidade na construção das
ferrovias seria a mesma.
O ritmo no sul, entretanto, era diverso. A antiga São Paulo Railway, que em 1867
completava o trajeto de Santos a Jundiaí, foi a primeira a ser construída, seguida das linhas
Paulista, Mogiana e Sorocabana. As cidades cafeeiras foram interligadas: Campinas em
1872; Itu em 1873; Mogi Mirim e Amparo em 1875; Casa Branca em 1878; Ribeirão Preto
em 1883.
As transformações no Nordeste: modernização sem mudança
Especialmente durante o Segundo Reinado, o crescimento de grandes áreas urbanas
como Rio de Janeiro e São Paulo, a adoção de inovações tecnológicas como a máquina a
vapor e a ferrovia, o advento de indústrias de bens de consumo e mesmo a emergência de
uma certa mentalidade empresarial marcaram o início de uma nova era na indústria. Com a
ajuda do governo, algumas zonas canavieiras do Nordeste tiveram êxito relativo na
implantação de tecnologia modernizadora nos engenhos e na ampliação da escala de
produção, aproximando-se assim do progresso verificado no Centro-Sul. Porém, quando
comparado ao progresso das áreas produtoras de café, as regiões açucareiras ficavam muito
atrás.
Gradativamente, entretanto, surgiram algumas modificações tecnológicas,
principalmente depois de 1870. A mais significativa delas ocorreu no transporte da cana,
com a introdução das ferrovias. Apesar da morosidade com que foi implementado em todo
o Nordeste, o transporte ferroviário privado também chegou aos engenhos para transportar
mais rapidamente a cana entre o canavial e a moenda. Com relação às fontes de energia,
havia um predomínio da tração animal, quando então começaram a ser utilizadas as
moendas a vapor e a ser feitas outras mudanças no processo produtivo.
Há diversas razões para explicar a demora na introdução de novas tecnologias. O
custo era uma preocupação básica, pois a maior parte dos donos de engenho não tinha como
adquirir o equipamento. O preço do açúcar no mercado internacional e particularmente a
queda de cotação do açúcar brasileiro era outro fator que impedia os investimentos
modernizadores. Além disso, segundo alguns historiadores, havia a escravidão: os senhores,
com medo de investir em equipamentos caros – e em face de uma mão-de-obra
incapacitada para manuseá-los –, teriam desenvolvido uma atitude conservadora e rotineira
com relação às inovações tecnológicas.
A partir de 1870, tanto o governo nacional quanto o local passaram a subsidiar a
construção de engenhos centrais e, posteriormente, de usinas (estas últimas já no período
republicano), visando modernizar a produção açucareira. No entanto, até 1880, nenhum
desses engenhos foi instalado, e a causa do fracasso tanto pode ser atribuída à má-fé na
administração do capital subsidiado como ao baixo preço da cana.
Vale destacar, no entanto, que no imaginário local essa “modernização” era
ansiosamente esperada. O engenho central implica uma divisão do trabalho: os
proprietários agrícolas cultivavam a cana, remetendo-a para os engenhos centrais próximos
para ser processada. Acreditava-se que essa divisão do trabalho otimizava a produção, pois
o produtor de cana (o fornecedor) seria capaz de fazer melhores investimentos na
agricultura e os proprietários de engenho centrais dedicariam a totalidade de seus recursos
ao setor industrial. O resultado, pensava-se, seria uma cana mais barata e açúcar mais
competitivo.
Peter Eisenberg nos dá uma noção do entusiasmo como a expectativa da
implantação dos engenhos centrais:
[…] a maior parte dos pernambucanos depositava grandes esperanças nos engenhos
centrais, lá pelos anos setenta. Um presidente provincial considerava os engenhos
centrais como “o remédio salvador” e “a salvação da indústria açucareira”. Os
agricultores o tinham como “a tábua de salvação a que se devem agarrar” e
reclamavam “a profícua admissão das fábricas centrais, com suas maquinarias
poderosas e aparelhos aperfeiçoados”, que realizariam “uma verdadeira revolução
no sistema de trabalho”. (Eisenberg, 1977, p. 112)
Tudo não passava de sonho. Efetivamente, a modernização tão esperada só viria, na
forma de usinas, no período republicano. O que não quer dizer que mudanças não
ocorressem. Elas estavam presentes nas cidades, especialmente nas capitais provinciais,
dentre as quais se destacavam Salvador e Recife. A partir da segunda metade do século 19
se assistirá ao declínio do Brasil rural e patriarcal, que dará lentamente lugar à sociedade
urbana. Segundo Gilberto Freyre, as novas transformações viriam trazer os “carros de
cavalo correndo pelas ruas”, “os mecânicos ingleses manejando máquinas misteriosas”,
“modistas francesas”, doutores formados na França e na Alemanha, “óperas italianas
cantadas nos teatros” e, principalmente, os “moços tomando o lugar dos velhos”. O antigo
senhor de engenho perde a preeminência social e, principalmente, econômica, para o
correspondente, o comerciante que vendia seu açúcar no mercado internacional, e depois
para os banqueiros. São estes que constituirão a aristocracia da cidade. Uma sociedade,
portanto, que transitava entre o modo de vida patriarcal, ainda dominante no interior dos
sobrados, e o urbano.
[BOX]
A grande seca
Entre 1877 e 1878, o Brasil que se modernizava, ia ao teatro e se orgulhava de seus filhos
bacharéis, conheceu uma outra face do país, a da miséria rural, dos flagelados da seca no sertão.
Tida como a maior do século, a seca atingiu grande parte das províncias da região nordestina, em
especial o Ceará. As fotografias dos retirantes, publicadas nos jornais da corte, chocaram os leitores,
e vozes se levantaram reclamando recursos e providências do governo imperial. Muitas senhoras da
sociedade fizeram campanha, angariando donativos para mitigar a miséria dos retirantes.
Mas, acima de tudo, essas levas de migrantes causaram medo, assustaram aqueles homens
modernos e urbanos, como se o outro país fosse tomar conta das ruas das cidades. O temor de
arruaças ou mesmo de saques aos estabelecimentos comerciais provocou pedidos para que os
governos provinciais tomassem medidas no sentido de conter o avanço dos retirantes para as
cidades, fomentado-se a migração para os seringais amazônicos, com a distribuição gratuita de
passagens, numa tentativa de impedir que o Brasil arcaico tomasse conta daquele outro que se
modernizava.
Desse modo, as diferenças regionais se tornaram perceptíveis nesse Segundo
Reinado, tão preocupado com a unidade nacional. A região Nordeste do país começava a
ficar estigmatizada como atrasada, em contraste com a modernização que ocorria no
Centro-Sul. Nesse sentido, a introdução das novidades tecnológicas contribuiu para dar
uma maior visibilidade aos contrastes que caracterizavam a feição do país. Foi nessas
décadas finais do império que a dicotomia litoral-sertão começou a ser formada e a sua
superação definida como central para a afirmação da identidade nacional. Diferenças que
nenhuma modernização conseguia mascarar.
Sugestão de atividade
Desenvolva problematizações que permitam aos alunos comparar a vida cotidiana
anterior à da modernização trazida pela segunda Revolução Industrial e a nossa vida atual,
estabelecendo comparações entre os seguintes aspectos: transporte, iluminação pública,
saneamento, artigos utilizados no vestuário, alimentação e atividades de lazer.
Filmografia
Mauá, o imperador e o rei. Sérgio Rezende, 1999
Bibliografia
CALDEIRA, Jorge. Mauá. Empresário do império. São Paulo, Companhia das
Letras, 1995
EISENBERG, Peter. L. Modernização sem mudança. Rio de Janeiro, Paz e Terra,
1977.
FREYRE, Gilberto. Sobrados e mocambos. Rio de Janeiro, José Olympio, 1977.
HARDMAN, Francisco Foot. Trem fantasma. A modernidade na selva. São Paulo,
Companhia das Letras, 1988.
MELO, Evaldo Cabral de. O norte agrário e o império. Rio de Janeiro, Nova
Fronteira, 1984.
_____. “O fim das casas-grandes.” In: História da vida privada no Brasil, vol. 2.
São Paulo, Companhia das Letras, 1997.
PRADO Jr., Caio. História econômica do Brasil. São Paulo, Brasiliense, 1961
SCHWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do imperador. São Paulo, Companhia das
Letras, 1998.
CADERNOS DA TV ESCOLA
500 anos: o Brasil Império na TV
Anúncio de prêmio por captura de escravo.
A abolição
O movimento abolicionista
O abolicionismo em São Paulo
A Lei Áurea e suas repercussões
O que aconteceu com os negros depois da abolição?
Sugestão de atividade
Filmografia
Bibliografia
Uma série de preconceitos permeia a discussão do fim da escravidão. A abolição,
entendida como o resultado de um movimento de elite que congraçou os brasileiros para
pôr um basta a essa iniqüidade, sem lutas e sem conflitos de monta, está na origem da idéia
de “democracia racial” – ou seja, brancos, índios e negros convivendo harmoniosamente,
numa sociedade multirracial em que cada etnia contribuía com seu trabalho para a grandeza
do país.
A abolição da escravidão não foi uma dádiva da princesa Isabel, ou mesmo fruto da
luta de algumas poucas lideranças que conduziam o movimento. Centrar a história do
movimento abolicionista em seus líderes, ou na legislação que promovia a emancipação
gradual (Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários), retira do escravo a condição de sujeito
capaz de ter consciência de sua situação. É uma visão do escravo que o coisifica, tornandoo vítima a ser resgatada. O objetivo aqui é mostrar que o problema do fim da escravidão
permeava todo o tecido social do império, contribuindo para sua queda. Assim, serão
destacadas a participação crescente das camadas urbanas, a ação dos clubes e sociedades
clandestinas, bem como a pressão dos próprios escravos, ao fugir cada vez mais das
fazendas.
O movimento abolicionista
O tema da emancipação dos escravos, a partir de 1870, mobilizou a opinião pública
e foi amplamente debatido pela imprensa, estimulando a organização do movimento. A lei
do Ventre Livre, aprovada em 1871, de acordo com José Murilo de Carvalho,
[...] tivera o sentido inequívoco de tornar indiscutível o fim da escravidão, e de
mostrar aos escravistas que não teriam a Coroa ao seu lado. A abolição final seria
questão de tempo e a tática dos donos foi daí em diante ganhar o mais possível de
tempo e evitar o que mais temiam: as rebeliões escravas […]. (Carvalho, 1996, p.
293)
A abolição se transformava em uma causa nobre, e a cada dia mais adeptos se
juntavam ao movimento. No início da década de 1880, ele ganhou novo ímpeto,
principalmente nos núcleos urbanos. Além das discussões no Parlamento, alastrava-se pelas
ruas das principais cidades do país: sociedades e clubes abolicionistas foram fundados,
organizando comícios e conferências com o objetivo de conscientizar e esclarecer a
população; festas beneficentes, coletas, quermesses, leilões e espetáculos artísticos eram
promovidos para angariar fundos para a compra da liberdade de escravos; inúmeros jornais
anti-escravistas foram criados, incitando, com seus inflamados artigos, a participação da
população no movimento; poetas, romancistas e escritores mostravam em suas obras o lado
degradante e sombrio da escravidão.
O abolicionismo trouxe para o país uma experiência política inteiramente nova,
conforme a sociedade civil se organizava para promover o fim imediato da escravidão. O
movimento congregava uma série de organizações que proliferaram pelo Brasil, tendo por
objetivo angariar fundos para promover a compra dos escravos, ou mesmo convencer os
seus proprietários a libertá-los. Assim, se na década de 1870 o abolicionismo transitava nos
meios políticos mais oficiais, ocupando páginas de jornais ou debates na câmara, em
meados da década seguinte tornou-se um movimento popular.
No Ceará, o abolicionismo conseguiu libertar todos os cativos em 1883, e a recusa
dos jangadeiros cearenses em transportar escravos do porto para os navios repercutiu
seriamente no restante do país. Em maio de 1883 foi formada no Rio a Confederação
Abolicionista, reunindo diversas sociedades anti-escravistas de cinco províncias. O
movimento se espalhou pela cidade do Rio de Janeiro, tornando-se muito popular no início
de 1884, quando os jangadeiros do Ceará foram convidados de honra de um grande desfile
organizado por essas sociedades, atravessando a cidade antiga e congregando mais de 10
mil pessoas nos festejos pela causa.
Em Pernambuco, o exemplo do Ceará animaria a fundação, dentre dezenas de
outros, do Clube do Cupim, em 1884, que tinha por lema “a libertação dos escravos por
todos os meios”. Sendo um clube clandestino, seus membros ficaram célebres por ajudar na
fuga de escravos, infiltrando-se nos engenhos para induzir as fugas, orientando-os nos
caminhos a tomar e enviando-os para fora da província, principalmente para o Ceará. Os
escravos eram escondidos nas casas dos membros do clube e de simpatizantes da causa.
Além de ajudarem nas fugas, os abolicionistas denunciavam os senhores que cometiam
maus-tratos, por meio de comunicados à polícia. Em suas tarefas eram auxiliados pelas
mulheres, membros do Clube Ave Libertas, que angariavam dinheiro para as alforrias e
também ajudavam a esconder escravos fugidos.
O abolicionismo em São Paulo
Mas foi em São Paulo, província na qual o número de escravos era maior, bem
como era grande a resistência por parte dos fazendeiros ao abolicionismo, que podemos
comprovar, na prática, que os escravos não ficaram passivos diante do movimento para sua
libertação. Pelo contrário, por meio de fugas e rebeliões, promoveram de fato a sua
emancipação, não deixando aos proprietários qualquer outra alternativa.
O movimento abolicionista em São Paulo foi incentivado dentre outros pelo grupo
dos Caifazes – cujo líder, Antônio Bento, era responsável pela publicação do jornal A
Redempção –, que estimulou as fugas dos cativos e criou vários esquemas de proteção aos
foragidos. Os Caifazes vinham de todas as classes sociais e partidos políticos, incluindo-se
entre seus membros negros pertencentes à confraria de Nossa Senhora do Rosário, a elite
intelectual da província, ex-escravos e antigos senhores. Com ramificações em muitas
partes da província e membros espalhados em instituições particulares, na burocracia do
governo e nas áreas rurais, o movimento parecia invadir a sociedade paulista, embora
continuasse secreto e conspiratório. Os Caifazes faziam de tudo para ajudar na fuga dos
escravos, escondendo-os em locais de refúgio pelos caminhos e abrigando-os em casas
particulares, armazéns e estabelecimentos comerciais. Os escravos também se dirigiam para
um quilombo por eles formado, o Jabaquara, situado em terras altas, entre o mar e a serra, e
que congregava milhares de foragidos.
Escapar das senzalas foi comum durante todo a história da escravidão no Brasil. No
entanto, em 1886, as fugas começaram a ocorrer numa freqüência maior do que a habitual
pelo interior de São Paulo, e se aceleraram durante os primeiros meses de 1887, gerando
uma crise na província. Diante das fugas em massa, e do desespero dos proprietários que
ficavam sem trabalhadores para a lavoura, o governo provincial pediu auxílio militar para
controlar a situação. Muitas das falsas notícias de rebeliões nas senzalas e o apelo por uma
intervenção militar revelam o pânico que se espalhava entre os fazendeiros com o avanço
do movimento abolicionista, sem que houvesse uma solução para o problema da mão-de-
obra nas fazendas.
As forças armadas, contudo, não estavam dispostas a deter os fugitivos e a serem
usadas como reles capitães-do-mato. Assim, os escravos continuavam a fugir em massa, e
“na realidade os cativos já começavam a sentir que a escravidão terminara, que já podiam
abandonar seus senhores com impunidade, e que outros estavam abandonando as fazendas”
(Conrad, 1978, p. 300). Partiam em bandos, deixavam as fazendas despovoadas, impondo
aos senhores uma mudança drástica na sua relação com a força de trabalho. Conrad afirma
que “Bento e seus seguidores tiveram influência no processo, mas foi a decisão pessoal do
escravo individual, multiplicada muitas vezes, que trouxe o rápido fim do cativeiro […]”
(Conrad, 1978, p. 301).
O abandono das fazendas provocou, enfim, uma mudança fundamental no sistema
de mão-de-obra. Não só incentivou a imigração subsidiada de estrangeiros para as fazendas
de café, como muitos proprietários decidiram conceder a liberdade provisória mediante
contratos de trabalho: prometiam a libertação com a condição de que os escravos servissem
nas fazendas por mais alguns anos, tal como acontecera em grande escala no Rio Grande do
Sul.
Em dezembro de 1887, os grandes proprietários se reuniram com o objetivo de
tornar pública a intenção de emanciparem todos os seus escravos até 1890, bem como
modificar as relações de trabalho, implantando um sistema assalariado. Visavam assegurar
que os libertos permanecessem nos campos durante a transição para o trabalho livre. Tal
proposta atraiu a adesão de muitos outros fazendeiros, e o movimento de libertação se
espalhou pelas fazendas de café do interior paulista. Desesperados por trabalhadores,
alguns senhores acolhiam os escravos fugidos de outras fazendas em troca de salários;
outros libertaram seus escravos e ofereciam condições de trabalho iguais aos dos
imigrantes, demonstrando que o fim da escravidão já chegara.
Para Conrad,
[...] um importante levante social transformara o sistema de trabalho da província
em poucos meses, com pouca perda de vida e de propriedade, em parte devido à
oportuna chegada dos imigrantes italianos. […] Apesar dos dois acontecimentos
estarem ligados entre si, foi a fuga dos escravos, mais do que a chegada dos
italianos, que convenceu, finalmente, os senhores de São Paulo que o momento da
libertação já chegara. (Conrad, 1978, p. 303)
A Lei Áurea e suas repercussões
Uma entusiasmada multidão aclamou a lei. Durante mais de duas semanas se
festejou a libertação nas ruas das principais cidades. O Rio de Janeiro nunca havia visto tal
explosão de alegria popular e o povo fez as ruas transbordarem de festejos comemorativos:
missas, procissões, cortejos, corridas, passeios de trem gratuitos, regatas, espetáculos de
teatro e música. Machado de Assis afirmou que tinha sido o único delírio popular que se
lembrava de ter visto.
[A escravidão] acabou no dia 13 de maio de 1888. Na percepção de muitos, até as
pedras tremeram na província e cidade do Rio de Janeiro naquele dia. No largo do
Paço uma multidão estimada em 10 mil pessoas, como jamais se viu, esperava pela
assinatura da lei dando “Vivas” à princesa regente, ou “Rainha”, como era chamada
pela gente mais simples. “As músicas tocavam, o povo abraçava-se […] e por toda
parte era visível um movimento de alegria”, descreveu um jornalista. Um homem
de cor carregava um cartaz declarando “Viva a Abolição”. “Era como se um
inimigo, de posse de nosso território, o tivesse evacuado, deixando-nos a posse,
autônoma e livre, da nossa pátria” teria percebido Joaquim Nabuco. “Foi como sair
das trevas absolutas, e entrar, de chofre, num dia de primavera” disse outro
contemporâneo. (Silva, 1997, pp. 181-182)
É importante destacar que o fim do escravismo não trouxe como conseqüência uma
desarticulação no processo produtivo, pois alguns setores da economia, notadamente os
mais dinâmicos, já utilizavam mão-de-obra livre. Para os ex-escravos, novas formas de
dominação seriam criadas.
O que aconteceu com os negros depois da Abolição?
A abolição, segundo reza a historiografia atual, teria deixado os ex-escravos
abandonados à sua própria sorte, já que a lei não previa nenhum tipo de assistência ou
reparação. O que aconteceu com os ex-escravos é uma questão importante para
entendermos a origem da discriminação social dos negros e o mito da democracia racial.
Mais do que isso, é necessário reconhecer que o negro tem uma história, que ele não
desaparece no meio do “povo” brasileiro indistintamente. Afirmar apenas que foi
marginalizado não nos permite estabelecer as alterações nos padrões de desigualdade entre
negros e brancos no país. Nesse aspecto a história, no entanto, está apenas começando a ser
feita.
Essa questão também é importante porque ela está no cerne das discussões em torno
da cidadania dos negros, ou melhor, da sua ausência, ou desqualificação. Após a abolição
entendia-se que o homem negro, por ter vivido a experiência da escravidão, era incapaz de
exercer cidadania plena, sendo no máximo um cidadão de segunda categoria, necessitado
de tutela. A história das desigualdades raciais no país pode ser percebida a partir do
impacto de políticas públicas sobre as relações entre negros e brancos, principalmente no
incentivo à migração de estrangeiros. Os investimentos realizados para trazer mão-de-obra
estrangeira (brancos europeus, naturalmente) demonstram as preferências raciais do
governo e dos empregadores, resultando na exclusão dos negros da vida produtiva.
A dimensão política da história das desigualdades raciais no Brasil precisa ser
recuperada. Conteúdos raciais estiveram inscritos nas ações estatais, em conformidade com
as teorias raciais em voga (a de que a raça negra era inferior e que o Brasil precisava ser
“branqueado”) e com a ideologia da vadiagem e do caráter violento do negro, que
dominavam a mentalidade da época. A história do negro não termina com a abolição e é
preciso mostrar aos alunos esse outra lado.
Sugestão de atividade
É importante que os alunos percebam as especificidades culturais dos diversos
grupos afro-brasileiros, reconhecendo e valorizando suas qualidades. Para isso, peça-lhes
para montar um mural com textos e imagens da cultura afro-brasileira no Brasil, ressaltando
especificamente os grupos locais e abordando aspectos diversos como a inserção no
mercado de trabalho, manifestações artísticas (dança, música, artes plásticas etc.) e
religiosas, o que pode ser tomado como ponto de partida para uma discussão mais ampla
sobre a pluralidade cultural no Brasil. (Esse tipo de atividade é importante para ajudar os
alunos vítimas de exclusão social a ter uma opinião mais elevada sobre si mesmos e
adquirir auto-estima, a fim de se capacitarem a orgulhar-se de sua herança étnica e
contribuir para o fim da marginalização cultural e do mito da democracia racial.)
Filmografia
Sinhá-moça. Direção: Tom Payne, 1953.
O fio da memória. Direção: Eduardo Coutinho, 1991.
Bibliografia
AZEVEDO, Célia Maria Marinho. Onda negra, medo branco. O negro no
imaginário das elites – século XIX. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.
CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem. Teatro de sombras. Rio de
Janeiro, UFRJ/Relume Dumará, 1996.
CONRAD, Robert. Os últimos anos da escravatura no Brasil. Rio de Janeiro,
Civilização Brasileira, 1978.
COSTA, Emília Viotti da. Da senzala à colônia. São Paulo, Livraria Ciência
Humanas, 1982.
SCHWARCZ, Lilia M. Retrato em branco e negro. São Paulo, Companhia das
Letras, 1987.