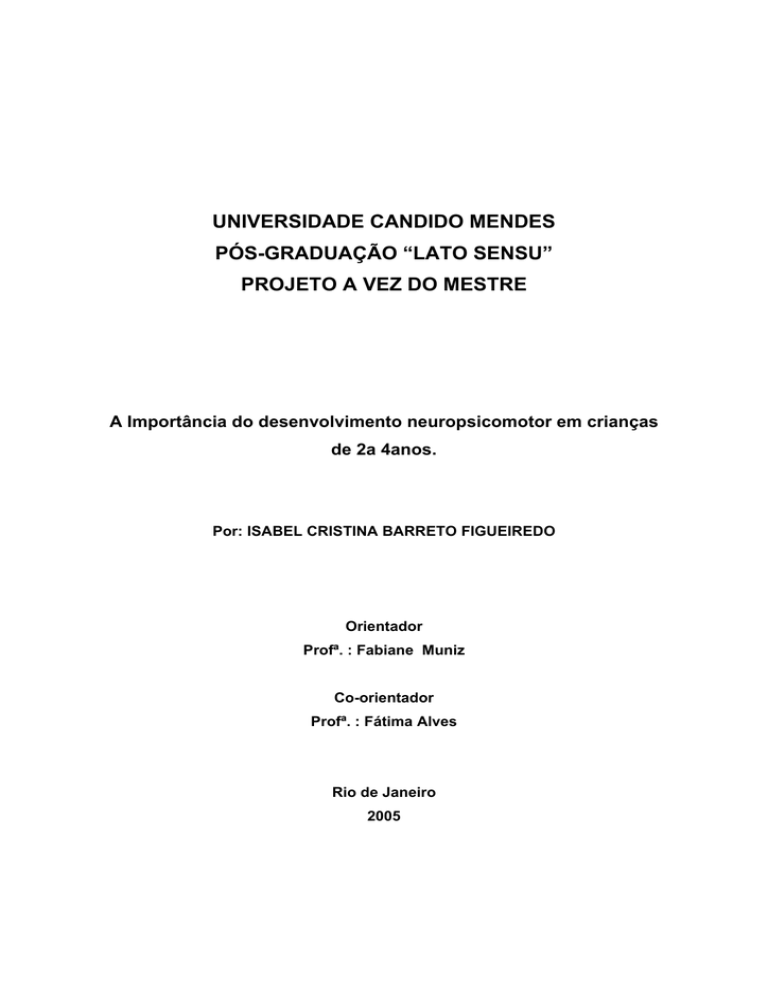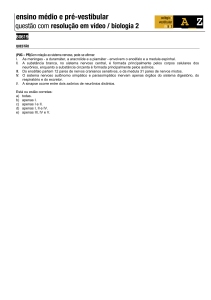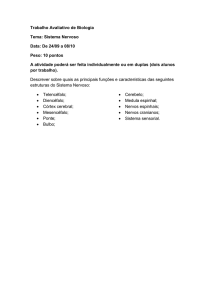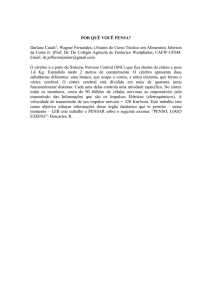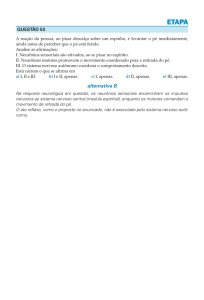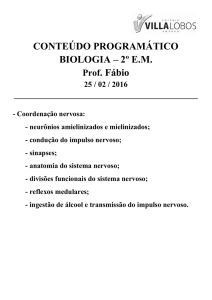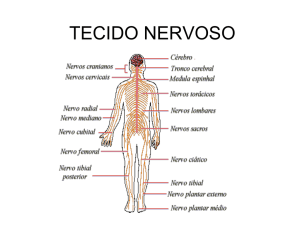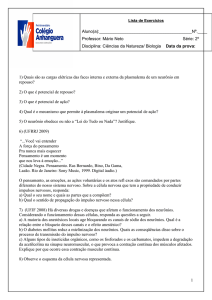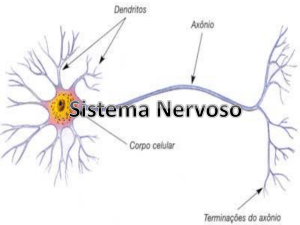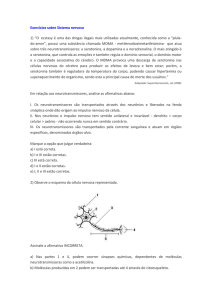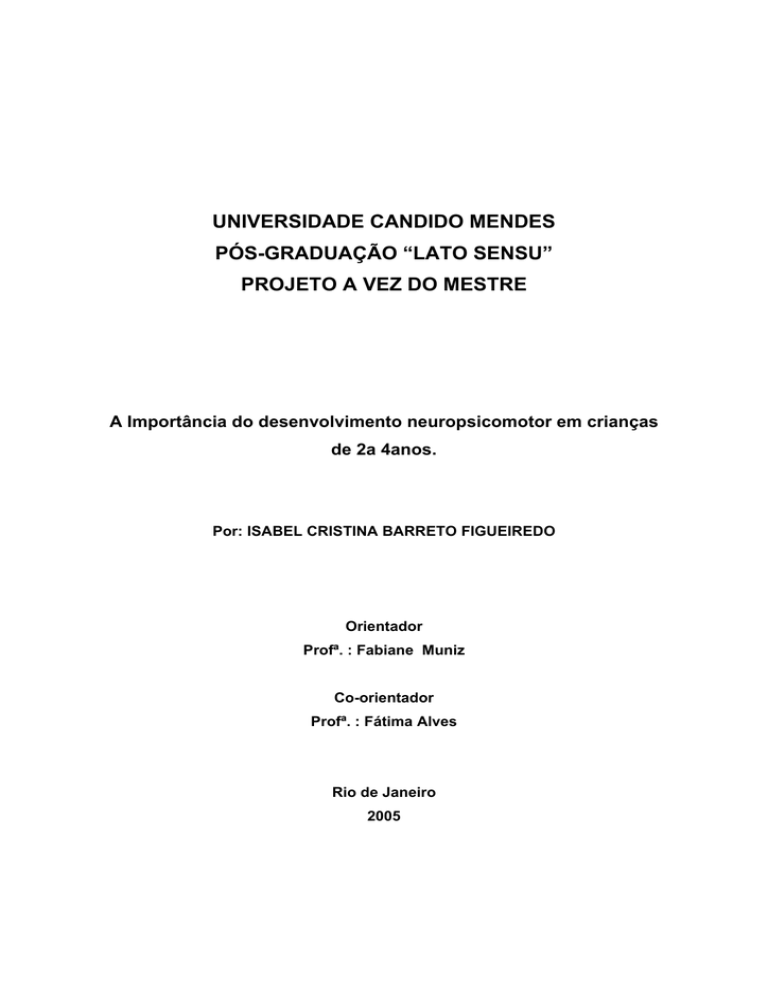
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
PROJETO A VEZ DO MESTRE
A Importância do desenvolvimento neuropsicomotor em crianças
de 2a 4anos.
Por: ISABEL CRISTINA BARRETO FIGUEIREDO
Orientador
Profª. : Fabiane Muniz
Co-orientador
Profª. : Fátima Alves
Rio de Janeiro
2005
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
PROJETO A VEZ DO MESTRE
A importância do desenvolvimento neuropsicomotor em
crianças de 2 a 4 anos.
Apresentação de monografia à Universidade Candido
Mendes como condição prévia para a conclusão do
Curso
de
Pós-Graduação
“Lato
Sensu”
em
Psicomotricidade. Objetiva-se conhecer a importância
do processo de desenvolvimento neuropsicomotor em
crianças de 2 a 4 anos.
Agradecimentos
A Deus que sempre esteve presente nesta jornada,
onde nas dificuldades encontradas sua presença fez com
que eu tivesse força e coragem para não desistir e chegar
até aqui.
As amigas, pelo apoio, paciência e ajuda sempre que necessária.
A psicomotricista e fonoaudióloga Fátima Alves, pelo apoio e orientações
dadas.
A orientadora da monografia, Fabiane Muniz.
Minha eterna gratidão
Dedicatória
Dedico ao meu filho, Antonio Carlos que é o
ser mais precioso que tenho, e a meu pai, José
Figueiredo que me acompanhou no início desse curso
me incentivando a realizá-lo. Apesar de agora estar bem
distante de nós.
Resumo
O objetivo deste trabalho é mostrar a riqueza de aprendizagem de uma criança
em seu meio biopsicosocial, que antecede a entrada da pré-escola; mas também
foi mostrado seu lado patológico para que sirva de alerta aos pais e responsáveis,
mostrando também que não se deve nunca perder as esperanças dando enfoque
a importância da dificuldade e como o profissional psicomotricista é crucial nesta
empreitada, caminhando junto à criança e a família.
Os capítulos foram divididos da seguinte forma, baseando-se no primeiro a
parte neurológica que envolve o desenvolvimento neuropsicomotor. Já o segundo
enfoca o desenvolvimento neuropsicomotor propriamente dito. O terceiro fala dos
distúrbios, quais os possíveis problemas que acarretam. No quarto fala da relação
do brinquedo com a aprendizagem. Já o quinto mostra a importância do brincar no
desenvolvimento psicomotor. O sexto a educação e reeducação psicomotora.
Fecho o meu trabalho concluindo sobre tudo que foi escrito e estudado.
Metodologia
Este trabalho foi baseado em pesquisas bibliográficas com o intuito de ajudar
a esclarecer um assunto tão rico e de abrangência enorme: O desenvolvimento
neuropsicomotor.
A faixa etária escolhida foi de dois a quatro anos, porém houve a
necessidade de incluir noções dos aspectos de desenvolvimento anteriores a essa
faixa etária.
Sumário
Introdução
Capítulo I
Bases neurológicas
10
Capítulo II
Desenvolvimento Infantil
62
Capítulo III
Distúrbios neuropsicomotores
75
Capitulo IV
A Relação do brinquedo com a aprendizagem
87
Capitulo V
A importância do brincar no desenvolvimento psicomotor
88
Capítulo VI
Educação e reeducação psicomotora
89
Conclusão
96
Bibliografia
97
Índice
98
Introdução
O desenvolvimento neuropsicomotor é de suma importância, merece
especial atenção pois mostra de forma clara como ele acontece quando o
desenvolvimento neurológico e o psicomotor estão interligados, trabalhando
concomitantemente de forma engenhosa e precisa .É algo tão complexo mas que
de forma espetacular acontece em todo ser humano. A criança aos poucos
amadurece neurologicamente, percorrendo diversos caminhos que aos poucos se
unem e eclodem em uma grande descoberta, é como uma viagem deslumbrante.
Qual a importância do desenvolvimento neuropsicomotor em crianças?
Quando alterado, como pode afetá-las?
Como os profissionais podem resolver essas alterações?
Para existir um bom desenvolvimento motor, é necessária a maturação de
alguns tecidos nervosos, aumento em tamanho e complexidade do sistema
nervoso central, além do crescimento de ossos e músculos.
É importante ressaltar que é junto à família que a criança aprende a formar
a base da noção do seu “eu corporal”, isso tudo mediado pelos sentimentos da
criança, por isso nessa fase o apoio é fundamental para que não ocorra reação
negativa e conseqüentemente problemas.
É preciso que a criança possa integrar cada um de seus progressos antes
de adquirir um novo.
Pelo desenvolvimento neuropsicomotor é que ocorre a formação global do
indivíduo, onde a maturação neurológica caminha junto com a descoberta do ser
como um todo e de suas potencialidades. A criança desde seu nascimento
amadurece neurologicamente através das influências externas e experiência
vivida, aos poucos, com o desenvolvimento neuropsicomotor se prepara para fase
pré-escolar que também são ricas em experiências, porém, caso ocorra algum
transtorno ou distúrbio em algum desses momentos, essa maturação será afetada
e conseqüentemente o seu desenvolvimento será alterado, prejudicando assim a
criança na sua vida social e escolar.
É preciso lembrar também que a criança merece nesse momento uma
atenção especial, pois se sente rejeitada pelos colegas e pelo ambiente que vive.
Reintegrá-las a seu meio social é de primordial importância.
Mostrar como é importante o desenvolvimento neuropsicomotor em
crianças nessa fase que antecede o período escolar, onde qualquer deslize
prejudicará todo o desenvolvimento global do indivíduo, influenciando seu futuro
social e escolar.
Esclarecer o assunto para provar que é possível educar e ou reeducar
essas crianças, que por algum motivo ocorrido em seu desenvolvimento
neuropsicomotor, ela foi afetada.
É importante favorecer a criança com oportunidades de perceber que é
capaz de realizar da melhor forma, e dentro dos seus próprios limites.Toda a
experiência vivida em conjunto com a carga emocional organiza-se formando um
comportamento sensório-motor global que é propicio a função de ajustamento
necessária a toda criança.
É necessário um trabalho em conjunto com outros profissionais e
principalmente com a família, pois a maior parte do tempo dessa criança é com a
família.A orientação deve ser feita, e, mostrar sempre como coisas simples como
o brincar são de suma importância.
O lúdico, a imaginação, o carinho e, sobretudo o respeito, são ferramentas
importantíssimas para os terapeutas.
Essa pesquisa abrangerá crianças de uma faixa etária de dois a quatro
anos, pois é a fase do “eu corporal” rica em aquisições e que antecede a préescola.A criança passa do meio familiar para ser introduzida na escola um novo
meio social.Através de pesquisa bibliográfica.
I – Bases neurológicas:
1.1 Formação do sistema nervoso:
Este estudo neurológico é baseado no livro de Roberto Lent,2004,porém
há alguns momentos em que outros autores são citados,neste caso são
identificados quando ocorrer.
Ao iniciar o maravilhoso processo do encontro do espermatozóide com o
óvulo, forma-se o zigoto e iniciam-se as várias etapas de modificações que fará
surgir o embrião.No dia seguinte à fecundação na trompa de falópio, o zigoto sofre
divisões mitóticas chegando a ponto de uma pequena esfera sólida cheia de
células (parece uma amora) que se chama mórula. Esta prossegue sua divisão e,
ao chegar ao útero, surge uma cavidade em seu interior denominada blastocele,
que, a partir de agora, a mórula é oca e será chamada de blástula, que se
implanta na parede do útero. A divisão celular continua, só que agora é mais
localizada em um dos pólos e ao terminar a primeira semana de gravidez a
blástula está bem inserida na parede do útero, passando agora a se chamar
blastocisto. Surge nesta região mais espessa uma nova cavidade chamada
amniótica. Entre esta cavidade e a blastocele, aparece uma estrutura plana em
forma de fita, formada por dois folhetos de células que as separa. Tais folhetos
são denominados de endoderma, o mais interno, e, ectoderma, o mais externo. É
deste último que irá se originar o sistema nervoso. Pode-se dizer que os folhetos
são o embrião na sua forma mais precoce.
Ocorrerá no ectoderma por volta da segunda para terceira semana
gestacional, uma invaginação onde as células aumentam rapidamente e
deslocam-se para um orifício, gerando aí um terceiro folheto entre os dois já
existentes e denominado mesoderma. Este junto com o ectoderma que o cobre,
dando início ao primeiro indicio de formação de um espessamento do ectoderma
que se localiza acima do notocorda, agora chamado neuroectoderma, formando o
sistema nervoso. Esta união faz com que as células se alonguem e fiquem
cilíndricas, surgindo daí a placa neural, onde as células continuam seu processo
mitótico, tornando-se prismáticas e fazendo com que ocorra um dobramento da
placa neural que continua a crescer de forma progressiva, ficando mais espessa,
adquirindo, assim, um sulco longitudinal, denominado sulco neural. Ocorre o
dobramento da placa neural em torno do sulco. Esta placa se fecha sobre si
mesma, dando origem ao tubo neural. Na junção dos lábios do sulco neural
surgem às cristas neurais, que são lâminas longitudinais e seu crescimento se dá
no sentido crânio - caudal. O tubo neural originará o sistema nervoso central e da
crista neural originar-se-á o sistema nervoso periférico.
É importante salientar que, com, um mês de vida, paralelo ao sistema
nervoso, vários órgãos já iniciaram formação.
Quando ocorre o fechamento do tubo neural, ocorre que na extremidade
dele surgem três dilatações como se fossem “bolhas” chamadas vesículas
encefálicas primitivas, devido ao aumento celular no local. Elas são conhecidas
como prosencéfalo (anterior), Mesencéfalo (meio) e robencéfalo (posterior). No
seu interior existe um líquido denominado fluído orgânico que dará origem aos
ventrículos cerebrais e aos canais de comunicação entre eles. No segundo mês o
tubo neural se encurva e as vesículas se subdividem e passam a ser cinco,
ocorrendo a divisão embrionária (didática). O prosencéfalo (anterior) divide-se em
telencéfalo e diencéfalo. O telencéfalo, por sua vez, divide-se em córtex cerebral e
núcleos de base, enquanto que o diencéfalo, não se divide.O mesencéfalo (meio)
também não se divide.O robencéfalo (posterior), se divide em metencéfalo que por
sua vez divide-se em cerebelo e ponte. Do robencéfalo também surge o
mielencéfalo que originará o bulbo. Por trás do mielencéfalo o tubo neural
permanece cilíndrico transformando-se aos poucos na medula espinhal primitiva.
A medula primitiva dará origem à medula espinhal.
As cristas neurais se formam nos dois lados do tubo neural quando ele se
fecha, dando origem à maioria das estruturas do sistema nervoso periférico, além
de outros tecidos como a pele ( melanócitos - células de pigmentação), migram
para outras regiões formando gânglios (espinhais e autonômicos). As células da
glia (bainha de mielina), porção medular da glândula supra-renal.
Mesmo em fases mais adiantadas, permanecem nas extremidades cranial e
caudal do embrião dois pequenos orifícios que são denominados, neuróporo
rostral e neuróporo caudal. São essas últimas partes do sistema nervoso que se
fecham.
O sistema nervoso é dividido em central e periférico, sendo que o central
abrange estruturas dentro do crânio e da coluna vertebral e o periférico abrange
várias estruturas do nosso organismo. É importante frisar que essa divisão é mais
esquemática, pois os nervos e as raízes nervosas para que ocorram conexões
com o sistema nervoso central, penetram no crânio e no canal vertebral, além de
alguns gânglios que se localizam dentro do esqueleto axial (cavidade craniana e
canal vertebral). Tanto um como outro possui células primordiais, chamadas de
neurônios e gliócitos. O primeiro tipo celular é uma
unidade sinalizadora do
sistema nervoso com funções de processamento e transmissão de sinais (
dendritos- antena / axônios – leva as mensagens). A comunicação neuronal é feita
através de sinapses (entre dois neurônios ou entre um neurônio e uma célula
muscular). Ela pode transmitir mensagens entre duas células, bloquear ou até
modificar a informação. É o impulso nervoso o principal sinal de comunicação dos
neurônios. Os neurônios apresentam identidade funcional e são agrupados,
fazendo com que as diferentes funções sejam localizadas em regiões restritas,
onde cada região faz a sua parte, integrando-as.
Já os gliócitos desempenham papel de infra-estrutura (nutrem, sustentam
mecanicamente, controlam o metabolismo, colaboram na construção do tecido
nervoso,
funcionam
como
células
imunitárias),
para
que
os
neurônios
desempenhem o seu papel. Eles são as células neuronais e seu conjunto
recebem o nome de neuroglia.
Cada função é feita por uma determinada parte do sistema nervoso, mas
todas funcionam sincronicamente. Com o passar do tempo o sistema nervoso se
modifica, fazendo com que ele passe por todas as etapas até chegar à sua morte.
Os neurônios, conhecidos como unidades sinalizadoras, especializam-se
gradativamente, respeitando uma seqüência. As células se dividem muitas vezes
até que isso é interrompido, para que migrem a seu destino, adquirindo
características morfológicas, funcionais e químicas, com o objetivo de enviar
axônios e fazer sinapses. O desenvolvimento neural acaba através da eliminação
seletiva dos neurônios, axônios e sinapses excedentes além da mielinização dos
feixes.Quando acontecem as etapas degenerativas, chega-se a um ponto que
ocorre a morte do sistema nervoso, e, aos poucos, ele se degenera, e o cérebro
apresenta dificuldade em sintetizar as substâncias essenciais ao neurônio e
sintetizam substâncias anômalas que ficam no tecido e com isso as deficiências
surgem, o indivíduo envelhece e, por fim, a morte.
No sistema nervoso encontra-se uma unidade processadora de sinais que
recebe o nome de sinapse, é por ela que é feita a transmissão de mensagens
entre o neurônio e a célula. Quando isso ocorre pode haver modificações nesse
caminho, pois o sistema nervoso apresenta grande flexibilidade em suas funções.
Essas unidades podem ser químicas ou elétricas. As elétricas são junções
comunicantes, conhecidas como sincronizadores celulares, sua comunicação é
rápida e de alta fidelidade.As químicas, são
complexas, e, no decorrer do
caminho até à célula, podem modificar as mensagens, quando necessário.
Apresentam
armazenamento
de
substâncias
neurotransmissoras
e
neuromodeladoras que pode influenciar no potencial de ação do neurônio em sua
fase pós – sináptica. O trabalho de processamento da informação no processo
sináptico ocorre de forma integrada e sincrônica: desta forma, a mensagem é
realizada através do axônio do segundo neurônio, para as outras células.
Ao sistema nervoso central pertencem, o encéfalo,que está situado dentro do
crânio neural, a medula, que se localiza dentro do canal vertebral, e estes
(encéfalo + medula) juntos, constituem o neuro-eixo.
Os nervos são cordões esbranquiçados que unem o SNC aos órgãos
periféricos. Se esta união é feita com o encéfalo, os nervos são ditos cranianos: se
esta união é feita com a medula, são ditos espinhais.
Em alguns nervos existem dilatações constituídas de corpos de neurônios,
que se denominam gânglios. Tais gânglios podem ser sensitivos ou motores
viscerais do sistema nervoso autônomo.
Os nervos são constituídos de fibras e nas suas extremidades situam-se
terminações nervosas que, funcionalmente, são sensitivas ou aferentes e motoras
ou eferentes.
cérebro
Encéfalo
cerebelo
tronco encefálico
mesencéfalo
ponte
SNC
bulbo
Sistema nervoso
Medula espinhal
espinhais
Nervos
SNP
gânglios
cranianos
terminações nervosas
Fonte: Angelo Machado,p11,1991
Já foi visto anteriormente, a divisão do sistema nervoso, baseados em sua
anatomia, agora será visto baseado em critérios funcionais, e posteriormente em
sua segmentação.
Com base nesses critérios funcionais ele se divide em somático ou visceral.
O somático apresenta componentes aferentes e eferentes. Os aferentes levam
aos centros nervosos impulsos originados em receptores periféricos, informandoos sobre o que se passa no meio ambiente, já o eferente leva aos músculos
estriados esqueléticos, o comando dos centros nervosos, resultando em
movimentos voluntários.
O visceral está relacionado com a inervação e controle das estruturas
viscerais. É importante, pois mantêm a constância do meio interno e se divide
também em aferente e eferente. O componente aferente leva os impulsos
nervosos originados dos visceroceptores a áreas específicas do sistema nervoso.
Já o componente eferente leva os impulsos originados em certos centros nervosos
até às vísceras que terminam em glândulas, músculos lisos ou músculo cardíaco.
Esse componente é denominado sistema nervoso autônomo e pode ser
subdividido em simpático e parassimpático, de acordo com vários critérios.
aferente
Sistema nervoso somático
Divisão Funcional
eferente
do Sistema
aferente
Nervoso
Sistema nervoso visceral
eferente (SNA)→simpático
parassimpático
Fonte: Ângelo Machado, p 13,1991
Há também uma outra divisão do sistema nervoso. Sua divisão acontece
quanto a sua segmentação, que pode ser supra-segmentar e segmentar. Esta
divisão é evidenciada pelas conexões com os nervos. Ao sistema nervoso
segmentar pertence todo o sistema nervoso periférico e parte do sistema nervoso
central que é a medula espinhal e o tronco encefálico, pois estão em contato direto
com os nervos típicos. O sistema nervoso supra-segmentar engloba a outra parte
do sistema nervoso central, ou seja, o cérebro e o cerebelo. Nota-se também que
as comunicações ente o sistema nervoso supra-segmentar e os órgãos
periféricos, receptores e efetuadores, se fazem através do sistema nervoso
segmentar. No entanto pode-se classificar os arcos reflexos em supra
segmentares, quando o componente aferente se liga ao eferente no sistema
nervoso supra segmentar, e segmentares quando isto ocorre também no sistema
nervoso segmentar.
Conhecendo-se a divisão do SNC pode-se falar de uma forma geral, em
sua organização morfofuncional.
Os neurônios sensitivos conduzem ao sistema nervoso segmentar os
impulsos nervosos que foram originados em receptores situados na superfície (Ex.
: pele), ou no interior do animal. Os prolongamentos centrais destes neurônios
ligam-se diretamente (reflexos simples) por meio de neurônios de associação aos
neurônios motores (somáticos/ viscerais), os quais levam impulsos a músculos ou
a glândulas, formando-se assim arcos reflexos monosinápticos ou polisinápticos.
Os neurônios sensitivos ligam-se rapidamente aos neurônios de associação
situados no sistema nervoso segmentar, levando o impulso ao cérebro onde é
interpretado, tornando-se consciente e enviando uma resposta (Ex.: dor).
As fibras que levam ao sistema nervoso supra-segmentar as informações
recebidas no sistema nervoso segmentar constituem as grandes vias ascendentes
do sistema nervoso.
Em virtude da informação que recebeu, os neurônios de associação do seu
córtex cerebral enviam uma “ordem” através das fibras descendentes aos
neurônios motores situados no sistema nervoso segmentar que retransmitem a
ordem aos músculos que comandam, para que o ato seja realizado.
A coordenação destes movimentos é feita pelo cérebro, que recebe por
meio do sistema nervoso segmentar, informações sobre o grau de contração dos
músculos e envia por meio de vias descendentes complexas, impulsos capazes de
coordenar a resposta motora.
O sistema nervoso apresenta capacidade de se adaptar, principalmente os
neurônios em relação ao meio externo que cerca esse indivíduo. A isso se dá o
nome de neuroplasticidade ou plasticidade. É um processo que pode variar desde
respostas de lesões destrutivas até pequenas alterações de memória, além de
outras. Ela é maior durante o desenvolvimento e se esvai conforme o indivíduo se
torna adulto, sem acabar.Os tipos são vários, dentre elas tem-se a regeneração
axônica, sinaptica, dendrítica e somática. Quando se fala em regeneração quer se
dizer recrescimento de axônios lesados o que acontece mais no sistema nervoso
periférico que são ajudados pelos gliócitos, porém é no sistema nervoso central
que esse processo é interrompido, pela glia, que produz a mielina. A regeneração
axônica é que reorganiza a distribuição em resposta aos estímulos do meio, já a
sináptica é a base celular e molecular de alguns tipos de memória e é por ela que
ocorre o aumento da eficácia da transmissão, no caso da dendrítica é ela que
reorganiza sua morfologia de acordo com o estímulo do meio, acontece nos
troncos, ramos e espinhas dendriticas, no caso dos adultos só na espinha
dendrítica, que é a sede das estruturas da plasticidade sináptica, e por fim a
somática que regula a proliferação ou a morte de células nervosas. Este fato só
acontece no sistema nervoso central embrionário, que é capaz de proliferação e
não responde ao meio, porém há regiões do sistema nervoso central adulto que
tem a capacidade de responder pela substituição do neurônio que morre.
É importante saber que na neuroplasticidade, nem sempre é
compensatória, pois as transformações neuronais que respondem ao meio, podem
não restabelecer funções perdidas, podendo levar a funções patológicas. Os
estudos continuam, pois ainda falta esclarecer muitas coisas.
1.1.1 Nervos Cranianos
1.1.1.1 Sensibilidade
No indivíduo existem receptores sensoriais, que traduzem a informação do meio
ambiente para o sistema nervoso, através dos sentidos do ser humano, que não
se restringe à visão, à audição, à sensibilidade corporal, à olfação e à gustação. O
nosso cérebro é capaz de perceber muito além, sem que o ser humano se dê
conta (movimentos viscerais, temperatura do sangue, posição espacial, etc...).
Qualquer informação é recebida e processada pelo sistema nervoso de forma
contínua, sobre a posição e o movimento das partes do corpo, e de forma
globalizada sobre as condições das vísceras, textura de objetos, sua forma e
temperatura, além da situação dos tecidos. Tudo isso é selecionado filtrado e
encaminhado às regiões neuronais destinadas a que sejam usados quando
necessárias, ou seja, é a percepção de informações sensitivas que se dá através
de um processamento neural, onde gera reconhecimentos do mundo em que o
indivíduo habita. Essa sensibilidade geral do corpo é designada de somestesia, e
está composta de várias submodalidades, onde as que se destacam são o tato, a
propriocepção, a termosensibilidade e a dor.
Segundo dados colhidos de diversos autores, é importante frisar que não
existe separação entre a sensibilidade ou inervação aferente e a motricidade ou
inervação eferente, pois, ambas estão intimamente interligadas, constituindo uma
estreita unidade biológica.
Para iniciar esse assunto é necessário entender o que são nervos. São
cordões esbranquiçados, constituídos por feixes de fibras nervosas que são
reforçados por tecido conjuntivo, unindo o sistema nervoso central aos órgãos
periféricos. Estes nervos podem ser espinhais, se a união for feita com a medula
e, cranianos, se esta união for feita com o encéfalo. Sua função se baseia na
condução de impulsos nervosos do sistema nervoso central para a periferia
(impulso eferente) e da periferia para o SNC (impulsos aferentes), através de suas
fibras. Essas fibras nervosas que constituem os nervos são em geral mielínicas
com neurilema, com algumas exceções.
Os
nervos
são
muito
vascularizados,
onde
são
percorridos
longitudinalmente por vasos que se anastomosam. Os nervos são quase
totalmente desprovidos de sensibilidade. Se um nervo é estimulado ao longo do
seu trajeto, a sensação é geralmente, dolorosa, não no ponto estimulado, mas no
território sensitivo que ele inerva.
Durante o caminho percorrido esses nervos se bifurcam ou então se
anastomosam. Porém, não é o caso das fibras nervosas e sim de um
reagrupamento de fibras que passam a constituir dois nervos ou então que se
separam de um nervo para seguir outro.
Sabe-se que os nervos espinhais originam-se na medula e os cranianos no
encéfalo. Ocorre diferenças em um nervo de origem real (corresponde ao local
onde estão localizados os corpos dos neurônios que constituem os nervos) e um
de origem aparente (corresponde a ponto de emergência ou entrada do nervo na
superfície do sistema nervoso central).
A condução de impulsos nervosos sensitivos ou aferentes acontece nos
nervos através de prolongamentos periféricos dos neurônios sensitivos. O corpo
desses neurônios sensitivos se localiza nos gânglios das raízes dorsais dos
nervos espinhais e nos gânglios de alguns nervos cranianos. Estas células
(pseudo-unipolares), possuem um segmento periférico que se liga ao receptor e
um seguimento central que se liga a neurônios da medula ou do tronco encefálico.
O impulso nervoso é conduzido pelo prolongamento periférico, e este é
morfologicamente um axônio, sendo, pois, funcionalmente um dendrito. Já o
prolongamento central é um axônio no sentido morfológico e funcional uma vez
que conduz centrifugamente. Esses impulsos nervosos sensitivos são conduzidos
do prolongamento periférico para o central não passando pelo corpo celular. Já os
impulsos nervosos motores são conduzidos do corpo celular para o efetuador.
Pode-se estimular experimentalmente um nervo isolado dependendo
apenas da extremidade estimulada. Essa velocidade de condução nas fibras
nervosas depende do calibre da fibra. Essas fibras se subdividem em ABC
(grande, médio e pequeno calibre).
Ocorre muito frequentemente com os nervos periféricos, traumatismos
devido a esmagamentos ou secções que geram conseqüências ,como perda ou
diminuição da sensibilidade e da motricidade no território inervado. A conduta
cirúrgica que deve ser aplicada deve ser orientada pelos fenômenos ocorridos Isto
é muito importante para o médico.
São muito intensas as alterações do corpo, ocasionando a desintegração
do neurônio. A recuperação ocorre na maioria dos casos.
Ocorre recuperação funcional completa, às vezes, com maior intensidade, e
outros, com menor intensidade, quando ocorre reinervação dentro de algum
tempo. Embora seja recomendado que a sutura feita no nervo lesado, seja
precoce, ocorrem êxitos mesmo em lesões antigas.
As terminações nervosas podem ser complexas, ou não, e localizam-se na
extremidade periférica das fibras nervosas dos nervos. Dividem-se em sensitivas
ou aferentes, onde encontramos os receptores.,e, motoras ou eferentes.
Tais terminações sensitivas se forem estimulados adequadamente, através
de energia, geram um impulso nervoso; este, percorre a fibra, sendo levado ao
SNC, chegando a áreas específicas do cérebro onde é decodificado, gerando as
diversas formas de sensibilidade.
São as terminações nervosas motoras que fazem a ligação entre as fibras e
o músculo.
Para que o impulso nervoso chegue ao seu destino e desencadeie as
diversas formas de sensibilidade, existe um elemento de fundamental importância,
o receptor que é uma terminação nervosa sensível ao estímulo que identifica a via,
ou seja, existe um receptor para cada tipo de sensibilidade. Quando este receptor
é conectado, por meio de fibras às áreas específicas do córtex, ocorre à
discriminação sensorial, acontecendo algumas exceções com os receptores
cutâneos.
A área de projeção cortical é localizada no córtex cerebral ou córtex
cerebelar. Se esta área se localiza no córtex cerebral, a via nos fará permitir a
distinção dos diversos tipos de sensibilidade (consciente), é formado por três
neurônios se esta área for no córtex cerebelar. Neste caso não determina
qualquer manifestação sensorial e produz uma função primordial de integração
motora (inconsciente) formada por dois neurônios.
Como já foi visto, o caminho que é seguido pelo impulso nervoso quando
chega ao cérebro, é interpretado, resultando nas diferentes formas de
sensibilidade. As vias que as conduzem são bi ou trineurais e possuem receptores
específicos, terminações e vias próprias onde é necessário o conhecimento
semiológico para que se possa avaliar.
Assim sendo, as principais terminações nervosas encapsuladas serão
mostradas a seguir.
→ Corpúsculo de Krause
Localização: principalmente na derme no conjuntivo e na mucosa dos
órgãos genitais externos.
Função: receptores do frio
→ Corpúsculo de Meissner
Localização: mais abundantes nas papilas dérmicas da pele espessa
das mãos e dos pés.
Função: receptores do tato (principalmente o epicrítico)
→ Corpúsculo de Vater - Paccini
Localização:
distribuição
ampla
ocorrendo
no
tecido
celular
subcutâneo das mãos e dos pés ou mesmo em territórios mais profundos
(peritônio, cápsula de vários tendões, septos intermusculares, periósteo etc)
Função: sensibilidade proprioceptiva
→ Corpúsculo de Ruffini
Localização: distribuição igual dos anteriores
Função: receptores de calor
Dentro da submodalidade do tato e das fibras proprioceptivas, existem
subsistemas chamados de sistema epicrítico (é preciso, rápido, discriminativo, e
tem representação espacial), com funções discriminativas, e precisão sensorial
(acuidade), além do sistema protopático (grosseiro, lento e impreciso), com
funções de termosensibilidade, dor e sensibilidade grosseira do tato (menos
discriminativo e menos preciso).
A somestesia no sistema nervoso central, na sua maioria é contralateral,
onde o hemisfério esquerdo recebe informações do lado direito do corpo e viceversa.Esta informação é interpretada e direcionada ao tálamo, onde os axônios
(neurônio de terceira ordem) conduzem a mensagem para as regiões
somestésicas do córtex cerebral.Já as fibras proprioceptivas secundárias
permanecem no mesmo lado, se direcionando ao cerebelo, onde localizam os
neurônios de terceira ordem, formando circuitos intracerebelares, não projetando
as áreas do córtex. Encontram-se também fibras nociceptivas de segunda ordem
que se conectam com o tronco encefálico, iniciando sinapses que levam a
informação dolorosa a várias áreas cerebrais.
No tato, os receptores situam-se na cabeça e abaixo dela. Os primeiros
ligam-se a fibras que formam alguns dos nervos cranianos, principalmente o V par
(trigêmeo) que passa pelo sistema nervoso central, no tronco encefálico. Já os
que ficam abaixo, se juntam às fibras nervosas que formam os nervos espinhais e
penetram no sistema nervoso central pelas raízes dorsais da medula.O tato se
desenvolve por volta do segundo mês.
O epicrítico apresenta duas submodalidades, o tato fino e a propriocepção
consciente, com receptores localizados na pele e mucosas (tato) e nos músculos e
articulações (propriocepção). Neurônios primários (gânglios periféricos), neurônios
de segunda ordem (tronco encefálico do mesmo lado), neurônios de terceira
ordem (tálamo somestésico do lado oposto), neurônios de quarta ordem (giro póscentral do córtex cerebral).
O protopático produz a termosensibilidade e a dor. Os receptores são
situados na pele e mucosas e tecidos do corpo menos o nervoso, na
termosensibilidade. Os neurônios primários nos gânglios periféricos, já os de
segunda ordem ficam geralmente na medula, no cruzamento de linha média e os
de terceira ordem ficam no tálamo no lado oposto, e os de quarta ordem, no
córtex. A termosensibilidade se dá também de forma consciente e inconsciente e
são os mesmos receptores que atuam para ambos. Pelo primeiro componente
percebe-se a temperatura do ambiente organizando o comportamento humano
para a situação. Apresenta também termoreceptores nas paredes das vísceras
digestivas e respiratórias. O inconsciente e o consciente se diferem, pois, os
receptores da pele e das vísceras, fazem uso de receptores especiais situados no
sistema circulatório e no cérebro, formulando as respostas vegetativas (tremer de
frio).São processos primordiais para que a temperatura ideal seja mantida em
equilíbrio.(Roberto Lent, 2004)
Na dor, as fibras terminam na formação reticular e em outros núcleos do
tronco encefálico.A dor apresenta uma particularidade, pois é ela que faz a
proteção e sobrevivência do ser, apresentando também mecanismos analgésicos
endógenos. É ela que nos limita em proteção do organismo e também nos avisa
de qualquer estímulo externo que cause lesão ao mesmo.Os receptores da dor
estão distribuídos em todos os tecidos do organismo, exceto no sistema nervoso
central (tecido nervoso) (Roberto Lent,2004).
Outra submodalidade importante é a propriocepção, pois é através dela que
se tem noção da posição das partes do corpo em vários momentos. Percebem-se
também os movimentos das partes do corpo e dele como um todo.Ela apresenta,
além de um componente consciente, outro inconsciente que participa do controle
da motricidade.As informações são encaminhadas ao córtex através dos
receptores musculares e articulares, tornando-se conscientes e se ajustando às
diversas situações, às posições do corpo e seus movimentos (Roberto Lent,2004).
A visão também é muito importante, esta é codificada pelo processo visual,
indo por vias paralelas da retina ao tálamo e por fim ao córtex. É esse percurso
que permite ao ser humano olhar e através desse processo, identificar, codificar e
traduzir o estímulo visual. A maturação ocorre por volta do oitavo mês.
No cérebro apresenta-se de forma às vezes mais claras, ou nem tanto,
dependendo de sua função. Um mapa que representa todo o nosso corpo, recebe
o nome
de somatotopia. Cientificamente seria a representação da superfície
cutânea ou do interior do corpo, nas vias e núcleos somestésicos (Roberto
Lent,2004).
→ Terminações livres
Função: receptores de dor
Os nervos espinhais são responsáveis pela inervação do tronco, dos
membros e parte da cabeça. São em número de 31 pares de seguimentos
medulares. Se divide em:
- 08 pares de nervos cervicais
- 12 pares de nervos torácicos
- 05 pares de nervos lombares
- 05 pares de nervos sacrais
- 01 par de nervos coccígeno
Cada nervo é formado pela união das raízes dorsal e ventral ou ligam-se
aos sulcos lateral posterior e lateral anterior da medula através de filamentos
radiculares.
Na raiz dorsal está o gânglio espinhal onde fica os corpos do neurônio
sensitivo pseudo-unipolares, cujos prolongamentos central e periférico formam a
raiz.
A raiz ventral se forma por axônios que se originam em neurônios situados
nas colunas anterior e lateral da medula. Da raiz dorsal sensitiva com a raiz
ventral motora forma-se o tronco do nervo espinhal. Funcionalmente é misto.
O nervo trigêmeo possui uma raiz sensitiva e outra motora, além de três
ramos, o nervo oftálmico, o maxilar e o mandibular controlando a sensibilidade
somática geral de grande parte da cabeça das fibras aferentes somáticas gerais
que geram impulsos extereoceptivos e proprioceptivos.
No caso da sensibilidade consciente dividiremos em 3 neurônios:
Neurônio I
Localização: fora do SNC, em um gânglio sensitivo.
Neurônio II
Localização: coluna posterior da medula ou em núcleos do tronco
encefálico (exceções vias ópticas e olfatória).
Neurônio III
Localização: tálamo
* * Via temperatura e dor
São vias que penetram no SNC através dos nervos espinhais.
Os receptores do frio, do calor e da temperatura são respectivamente
os corpúsculos de Krause, Ruffini e as terminações nervosas livres. Dividiu-se as
vias em:
Neurônio I
Localização: gânglios espinhais, situados nas raízes dorsais.
Neurônio II
Localização: coluna posterior
Neurônio III
Localização: núcleo ventral póstero lateral do tálamo.
É através dessa via que chegam ao córtex cerebral os impulsos nervosos
mandados pelos receptores térmicos e dolorosos que se localizam no tronco e nos
membros.
Em nível talâmico estes impulsos se tornam conscientes.
* * Via de pressão e tato protopático
Já se conhece os receptores de pressão que é o Corpúsculo de Vater Paccini, o do tato que é o de Meissner e as ramificações dos axônios em torno dos
folículos pilosos. Para entender melhor o processo dividiu-se em 3 neurônios:
Neurônio I
Localização; gânglios espinhais situados nas raízes dorsais.
Neurônio II
Localização: coluna posterior da medula.
Constitui o tracto espino talâmico anterior.
Neurônio III
Localização: núcleo ventral póstero lateral do tálamo, que chega ao
córtex, impulsos originados nos receptores de pressão e de tato que se localizam
no tronco e nos membros, tornando-se consciente a nível talâmico.
* * Via de propriocepção consciente e tato epicrítico.
Já os responsáveis pela propriocepção consciente são terminações
nervosas complexas situadas nos tendões ligamentos e cápsulas articulares,
dividem-se em 3 neurônios:
Neurônio I
Localização: gânglios espinhais
Neurônio II
Localização: núcleos grácil e cuneiforme do bulbo.
Neurônio III
Localização: situado no núcleo ventral póstero lateral do tálamo.
É através dessa via que chegam os impulsos ao córtex que são
responsáveis pelo tato epicrítico, a propriocepção consciente ou sinestesia e a
sensibilidade vibratória. O tato epicrítico e a propriocepção permitem ao indivíduo
a diferença consciente de dois pontos e reconhecimento da forma tamanho dos
objetos (estereognosia). Tais impulsos só se tornam conscientes em nível cortical.
* * Via da propriocepção consciente
Sabe-se que os receptores são fusos neuromusculares e órgãos
neurotendinosos situados nos músculos e tendões. Divide-se em 2 neurônios:
Neurônio I
Localização: gânglios espinhais situados nas raízes dorsais.
Tais neurônios podem se localizar em três vias diferentes até o
cerebelo.
Neurônio II
1ª parte:
Localização: núcleo torácico ou dorsal.
2ª parte:
Localização: base da coluna posterior e substância cinzenta
intermédia central.
3ª parte:
Localização: núcleo cuneiforme, acessório do bulbo, aí chegam os
impulsos proprioceptivos do pescoço e membros superiores.
* * Vias da sensibilidade visceral
É uma terminação nervosa livre. Embora exista, também, corpúsculo de
Vater-Paccini na cápsula de algumas vísceras.
O que interessa são os que atingem os níveis mais altos de nervo e se
tornam conscientes, pois está relacionado com a dor visceral.
* * Vias trigeminais
A sensibilidade somática geral da cabeça penetra no tronco encefálico
pelos nervos V, VII, IX e X sendo que o mais importante é o trigêmeo.
Os demais só inervam um pequeno território sensitivo, situado no pavilhão
auditivo e no meato acústico externo.
A via trigeminal se divide em:
* Extereoceptiva
Receptores são idênticos aos das vias medulares de temperatura,
dor, pressão e tato.
Neurônio I
Localização: gânglios sensitivos anexos aos nervos V, VII, IX e X.
- Gânglio trigeminal (V)
- Gânglio geniculado (VII)
- Gânglio superior do glossofaríngeo
- Gânglio superior do vago
Neurônio II
Localização: núcleo do tracto espinhal ou no núcleo sensitivo
principal do trigêmeo.
No primeiro caso, levam impulsos de tato discriminativo (epicrítico).
No segundo caso levam impulsos de temperatura e dor e no terceiro relacionamse no trato protopático e pressão. Nos casos de cirurgia irá depender do que for
seccionado.
Neurônio III
Localização: núcleo ventral póstero medial do tálamo.
* Proprioceptiva
Localização: no núcleo do tracto mesencefálico.
Possui os mesmos valores funcionais das células ganglionares. São
neurônios idênticos aos glanglionares.
Prolongamento periférico: liga-se aos fusos neuromusculares situados na
musculatura mastigadora, mímica e língua e é ligado a receptores na área de
articulação temporo - mandibular e nos dentes, nos quais geram informações
sobre a posição da mandíbula e força da mordida.
Prolongamento central: estabelece sinapse com neurônios do núcleo motor
do V. formando-se arcos reflexos simples como o reflexo mandibular.
Outros levam impulsos proprioceptivos inconscientes ao cerebelo. Uma
outra parte faz sinápse no núcleo sensitivo principal de onde os impulsos
proprioceptivos conscientes através do lemnisco trigeminal vão para o tálamo e de
lá para o córtex.
* * Vias Gustativas
Oportunamente, poderão surgir o corpúsculo, na língua e epiglote.
Os impulsos que se originam nos corpúsculos situados em 2/3 anteriores da
língua após o trajeto periférico pelos nervos lingual e a corda do tímpano chegam
ao SNC pelos nervos intermediários (VII par). Já os impulsos situados em 1/3
posteriores da língua e os da epiglote penetram no SNC, pelo glossofaríngeo e
vago. Dividem-se em 3 neurônios, sendo que o 1º se localiza nos gânglios
geniculado (inferior do IX) e o 2º se localiza no núcleo do tracto solitário e o 3º no
tálamo, no núcleo ventral póstero medial.O órgão receptor é a cavidade oral, além
das fibras aferentes dos três nervos cranianos, que se ligam ao tracto solitário no
tronco encefálico, distribuindo a informação para o tálamo, o córtex ou regiões
interessadas.Pela gustação, percebem-se sabores (doce, azedo, salgado e
amargo).
* * Via Olfatória
Os receptores são os cílios olfatórios das vesículas olfatórias, se divide em
2 neurônios. O 1º são as próprias células olfatórias e se localizam na mucosa
olfatória. O 2º são células mitrais que constituem os glomérulos olfatórios.
A olfação é um sistema por onde se percebe diferentes substâncias que
atinge o ser humano através do ar. É por esse sistema que se identifica vários
odores agradáveis, ou não. É pelo nariz que se inicia o processo, depois pelo
bulbo olfatório, o córtex piriforme, amígdalas, além de outras estruturas.Após o
odor percorrer esse caminho ele é traduzido em padrões de impulsos que são
reconhecidos através das regiões corticais.
* * Via Auditiva
Os receptores se localizam no órgão espiral (di Corti) situados na
cóclea do ouvido interno e divide-se em 4 neurônios.
O 1º localiza-se no gânglio espiral, situado na cóclea. O 2º se situa nos
núcleos cocleares dorsal e ventral. O 3º localiza-se no colículo inferior e o 4º no
corpo geniculado medial.
A audição é uma importante modalidade sensorial, pois é através dela que
os seres percebem estímulos sonoros do meio externo, codificando e traduzindo
para uma boa relação com o mundo.A maturação ocorre no sétimo mês.
* * Vias vestibulares conscientes e inconscientes
Os receptores, assim como os neurônios, se localizam na retina e
posteriormente na íris. A maturação ocorre no quarto mês.
Classificação:
S
Inconsciente
E
N
Especial
S
(sensorial)
I
visão, audição
olfato, gustação
Consciente
B
tátil
I
Geral → Extereoceptiva dolorosa
L
↓
térmica
I
Proprioceptiva tato epicrítico
D
sensibilidade vibratória
A
estereognosia
D
barestesia
E
dor profunda
noções de posição segmentar
Objetiva: Qualidade e intensidade das percepções após estímulos sensitivos.
Subjetiva: Dados colhidos na história relatada pelo paciente.
As vias da sensibilidade levam os estímulos essenciais ao cérebro,
proporcionando, ao indivíduo acometido, maiores chances de recuperação.
São os nervos cranianos que fazem conexão com o encéfalo, somente os
nervos olfatórios e ópticos que se ligam ao telencéfalo e ao diencéfalo.
Os doze pares de nervos cranianos serão descritos abaixo:
1º par: olfatório
Função: olfato
Origem aparente no encéfalo: bulbo olfatório
Origem aparente no crânio: lâmina crivosa do osso etmóide.
* É um nervo exclusivamente sensitivo e suas fibras são classificadas como
aferentes viscerais especiais.
2º par: óptico
Função: conduz impulsos visuais
Origem aparente no encéfalo: quiasma óptico
Origem aparente no crânio: canal óptico
* É um nervo exclusivamente sensitivo e suas fibras são classificadas em
aferentes somáticas especiais.
3º par: oculomotor
Função: controla a musculatura extrínseca do olho exceto o reto lateral e o
oblíquo, controla o eiliar e esfinceter da pupila (parassimpático).
Origem aparente no encéfalo sulco medial do pedúnculo cerebral.
Origem aparente no crânio: fissura orbital superior.
* É um nervo motor e suas fibras são classificadas em eferentes somáticas
e eferentes viscerais gerais.
4º par: nervo troclear
Função: controla o músculo oblíquo superior (motor)
Origem aparente no encéfalo: véu medular superior
Origem aparente no crânio: fissura orbital superior.
* É um nervo motor.
5º par: trigêmeo
Origem real: medula
Origem aparente: ponte
* É um nervo misto sendo o componente sensitivo consideravelmente
maior.
Divide-se em 3 ramos:
⇒ Ramo oftálmico (sensitivo): inerva parte superior da face (testa, nariz,
olhos, córnea, meninge e parte da mucosa nasal)
⇒ Ramo médio ou maxilar (sensitivo): inerva o maxilar, dentes superiores,
lábio superior e a mucosa nasal.
⇒ Ramo mandibular: É motor e sensitivo:
Motor → Inerva os músculos da mastigação
Sensitivo → Mandíbula, lábio inferior, língua, mucosa oral, dentes inferiores,
queixo, meninges e parte do pavilhão auricular.
6º par: Abducente
Origem aparente no encéfalo: sulco bulbo-pontino.
Origem aparente no crânio: fissura orbital superior
* As fibras que o inerva são eferentes somáticas e é um nervo com função
motora e inerva o músculo reto lateral.
7º par: Facial
Origem real: ponte
Origem aparente: Sulco bulbo-pontino
Função sensitiva: conduto auditivo externo
Função motora: responsável pelos músculos da mímica facial, exceto o
elevador da pálpebra.
Função sensorial: gustação de 2/3 anterior da língua.
8º par: nervo vestíbulo coclear
Função sensitiva (vestibular + coclear) conduz impulsos nervosos
relacionados com a audição. Originados no órgão de Corti.
Origem aparente no encéfalo: sulco bulbo pontino
Origem aparente do crânio: penetra no osso temporal pelo meato acústico
interno, mas não sai do crânio.
* Possuem fibras aferentes somáticas especiais.
9º par: Glossofaríngeo
Origem real: Bulbo
Origem aparente: Bulbo
Função sensitiva: sensibilidade da faringe
Função motora: músculo da faringe
Função sensorial: gustação de terço posterior da língua.
É um nervo misto
10º par: Vago ou pneumogástrico
Origem real: Bulbo
Origem aparente: Bulbo
Função sensitiva: faringe, laringe, esôfago, órgãos torácicos e abdominais.
Função motora; musculatura da faringe e laringe (deglutição - fonação)
Função vegetativa: vísceras torácicas e abdominais.
A paralisia do nervo vago, leva rapidamente a morte.
11º par: Espinhal ou acessório
Origem real: Bulbo
Origem aparente: Bulbo
* Formado por duas raízes motoras uma sai do bulbo e a outra da medula
Raiz espinhal: Inerva os músculos esternocleidomastoideo (músculo lateral do
pescoço) e o trapézio (músculo das costas).
Raiz bulbar; Deglutição e fonação.
12º par: Hipoglosso
Origem real: Bulbo
Origem aparente: Bulbo
Inerva a musculatura da língua.
Lesão: paralisia total ou parcial da língua.
1.1.2 Tronco cerebral
É constituído pelo bulbo (mielencéfalo) pela ponte (metencéfalo) e pelo
mesencéfalo. O conjunto formado pelo bulbo e pela ponte também é conhecido
como robencéfalo.
É dele que se originam os nervos cranianos.
Sua localização é entre a medula e o diencéfalo, situando-se ventralmente
no cerebelo. É constituído de corpos de neurônios que se agrupam em núcleos e
fibras nervosas, que se agrupam em feixes chamados tractos, fascículos ou
lemniscos.
Vai desde o ponto de decussação dos feixes para cima, até o nível dos
feixes ópticos.
Muitos dos núcleos do tronco recebem ou emitem fibras nervosas que
entram na constituição dos nervos cranianos. Dos 12 pares de nervos, 10 fazem
conexão no tronco. É importante identificar esses nervos e sua emergência do
tronco para que se possa entender melhor o sistema nervoso.
O bulbo ou medula oblonga possui a forma de um tronco de cone, cuja
extremidade menor continua caudalmente com a medula espinhal. Por não haver
uma demarcação nítida entre a medula e o bulbo, o limite considerado entre eles
está em plano horizontal que passa acima do filamento radicular, mais cranial do
primeiro nervo cervical, ao nível do forame magno do osso occipital. O limite
superior do bulbo é o sulco bulbo pontino, que corresponde a margem inferior da
ponte. A parte superior e delimitada por sulcos que continuam com os sulcos da
medula. Estes delimitam também áreas ventral e dorsal do bulbo. A fissura
mediana anterior termina no forame cego (depressão), de cada lado existe uma
pirâmide formada por um feixe de fibras nervosas descendentes que ligam as
áreas motoras do cérebro aos neurônios motores da medula e que é conhecido
como tracto córtico-espinhal.Entre os sulcos será encontrada a área lateral do
bulbo que é chamada de oliva (eminência oval) que é formada por substância
cinzenta (núcleo olivar inferior). Em sua parte ventral a oliva, emerge do sulco
lateral anterior, filamentos radiculares que se unem para formar os nervos
glossofaríngeo e vago além do bullar do nervo acessório (XI par) que se une a raiz
espinhal, proveniente da medula.
Em sua parte mediana, encontra-se a porção fechada do bulbo, que é
percorrido por um canal, que é a continuação do canal central da medula, que se
abre para formar o IV ventrículo, cujo assoalho é constituído em parte pela porção
aberta do bulbo. Entre o sulco mediano posterior e o sulco lateral posterior se
encontra a área posterior do bulbo, que é a continuação do funículo posterior da
medula e se divide em fascículo grácil e fascículo cuneiforme pelo sulco
intermédio posterior. Estes fascículos são constituídos por fibras ascendentes,
provenientes da medula, que terminam em duas massas de substância cinzenta,
os núcleos grácil e cuneiforme, onde, determinam o aparecimento de dois
tubérculos.
Depois de surgir IV ventrículo, esses tubérculos se afastam lateralmente e
sobem com o pedúnculo cerebelar inferior, que é formado por um grosso feixe de
fibras que fletem-se dorsalmente para penetrar no cerebelo.
A ponte, que se localiza entre o bulbo e o mesencéfalo, está situada
ventralmente ao cerebelo e fica sobre a parte basilar do osso occipital e o dorso
da cela túrcica do esfenóide.
Foi assim denominada por Varolio, porque estabelece a ligação anterior
entre os dois hemisférios cerebelares, formando uma ponte sobre o IV ventrículo.
Apresenta estriação transversal devido a seus numerosos feixes de fibras
transversais que a percorrem. Tais fibras convergem de cada lado formando o
pedúnculo cerebelar médio, que penetra no hemisfério cerebelar correspondente.
O nervo trigêmeo é considerado o limite entre a ponte e o pedúnculo
cerebelar médio. Esta emergência se faz por duas raízes, a raiz sensitiva do nervo
trigêmeo e a raiz motora do nervo trigêmeo.
Ventralmente encontra-se o sulco basilar que geralmente aloja a artéria
basilar. Essa parte é separada do bulbo pelo sulco bulbo pontino, de onde surgem
de cada lado a partir da linha mediana o VI, VII e VIII pares cranianos.
O nervo abducente emerge após a ponte, já o vestíbulo coclear surge
lateralmente próximo a um pequeno lóbulo do cerebelo, chamado flóculo e o nervo
facial surge medialmente ao vestíbulo coclear, com o qual mantém relações bem
próximas. Entre os dois (VIII e VII) surge o nervo intermédio que é a raiz sensitiva
do facial.
O mesencéfalo localiza-se entre a ponte e o cérebro, do qual é separado
por um plano que liga os corpos mamilares, pertencentes ao diencéfalo, à
comissura posterior. Pelo mesencéfalo passa um estreito canal que é demoninado
os aquedutos cerebrais, que une o III e IV ventrículo. Dorsalmente encontra-se o
tacto do mesencéfalo, ventralmente encontram-se dois pedúnculos cerebrais, que
são compostos de duas partes, uma é o tegmento (celular) e a outra é a base.
Sabe-se que entre essas duas partes têm-se uma
substância negra que é
formada por neurônios que contém melanina. Existe sulcos que são denominados
sulco lateral do mesencéfalo, sulco medial do pedúnculo cerebral, são eles que
marcam na superfície o limite entre base e tegmento do pedúnculo cerebral. Do
sulco medial, emerge o nervo oculomotor.
Encontra-se no tecto do mesencéfalo, em vista dorsal quatro eminências
arredondadas chamadas de colículos superiores e inferiores que são separados
por dois sulcos, perpendiculares em forma de cruz. Na parte anterior da cruz,
encontra-se o corpo pineal (pertence ao diencéfalo), já ao final de cada colículo
inferior surge o nervo troclear dorsalmente ele contorna o mesencéfalo para surgir
ventralmente entre a ponte e o mesencéfalo. Cada colículo se liga a um corpo
geniculado (diencéfalo) através de um feixe de fibras nervosas.
Os pedúnculos são vistos ventralmente aparecendo como dois grandes
feixes de fibras nervosas, que formam uma depressão triangular denominada
fossa interpenduncular, delimitadas pelos corpos mamilares (diencéfalo). Emerge
de cada lado do pedúnculo o nervo oculomotor.
1.1.3 Sistema nervoso central
Segundo Roberto Lent (2004), é bem protegido e coberto por membranas
conjuntivas, que fazem com que exista um local cheio de líquido, onde nele, como
um barco, tenha o encéfalo e a medula espinhal. Este líquido que envolve o
sistema nervoso central também passa em suas cavidades internas.Qualquer
abalo que atinja o crânio e a coluna vertebral é bem amortecido, até chegar no
encéfalo e na medula, além de qualquer substância que obrigatoriamente passa
por um filtro das estruturas que produzem o líquido, porém há substâncias que
podem ser trazidas pela corrente sangüínea, mesmo assim são filtradas pelas
paredes dos capilares sangüíneos que fazem uma seleção de moléculas. É
importante frisar que essa proteção contra agentes químicos nocivos e de
substâncias neuroativas não deve interferir nas que são primordiais ao sistema
nervoso (oxigênio, glicose, etc...).
Existe um envoltório no encéfalo, que o protege. São três membranas
conjuntivas que se chamam meninges.A externa é a dura-máter rica em
fibroblastos que produz colágeno, tornando-a bem dura e resistente. É bem
vascularizada e inervada, por isso tem sensibilidade dolorosa. Sua constituição é
de dois folhetos, onde o externo é aderido ao crânio internamente, tendo função
de periósteo, no caso do interno é aderido ao externo só onde formarão seios e
pregas, que não se aderem, estes seios contém sangue venoso, e as pregas
ajudam na separação dos dois hemisférios, entre os hemisférios chama-se foice
do cérebro indo a fundo no sulco inter-hemisférico. A prega que separa os
hemisférios do cerebelo chama-se tenda do cerebelo. Já na medula há só um
único folheto que acompanha um folheto interno da dura-máter e que não junta ao
lado interno do canal vertebral. Ela só acompanha dando chance de emergência
de nervos raquidianos em suas laterais, que foram resultados de união das raízes
e dos gânglios espinhais.A dura-máter termina ao se juntar ao tecido conjuntivo
abrangendo os nervos periféricos (epineuro), assim os furos dessa camada para
saída dos nervos do canal vertebral, apresentam-se colados ao epineuro, evitando
assim que o líquido penetre o organismo (Roberto Lent, 2004).
A segunda meninge é a aracnóide que vem abaixo da dura-máter.Recebe
este nome por ter trabéculas que é parecido como uma teia de aranha e é
constituída de tecido conjuntivo, porém é menos dura em relação a primeira
meninge, o que as separam é um fino filete de líquido que lubrifica o contato entre
as meninges, porém o que a separa da terceira meninge são as trabéculas,
fazendo com que apareça um espaço cheio de líquido(Robert Lent).
A última meninge é chamada de pia-máter e é a mais delicada, seu tecido é
conjuntivo e cobre o sistema nervoso central, seguindo os giros e os sulcos indo
ligeiramente no tecido neural, seguindo os vasos até certo ponto dentro do
parênquima neural, tornando-se contínua e recobrindo os vasos sangüíneos
(Roberto Lent,2004).
São as meninges que delimitam os espaços comunicantes com líquidos,
são ditos compartimentos gerais do sistema nervoso central, esses se dividem em
quatro:
-
Intracelular (Citoplasma dos neurônios e gliositos)
-
Intersticial (no espaço entre as células com líquidos e de matriz
extracelular)
-
Sanguíneo e liquórico (espaços delimitados pelas meninges além das
cavidades internas do sistema nervoso central).
Na medula (dura-máter separada da face interna do canal vertebral)
localiza-se o espaço epidural ou extradural que é composto de tecido adiposo e
vasos sanguíneos. Entre a primeira e a segunda meninge, tanto do encéfalo como
da medula existe espaço subdural que é fino e contem um pouco de liquido s para
lubrificar o contato entre as meninges. Já entre a segunda e a terceira meninge
existe um espaço subaracnóideo que é o mais importante, este é bem grande com
bastante líquor e guarda os vasos sanguíneos superficiais (artérias e veias) que se
ramificam com o objetivo de irrigar e drenar o tecido nervoso. É ele que se conecta
com as cavidades de dentro do encéfalo e da medula espinhal. Como a Pia-máter
segue a elevação da superfície do encéfalo e à aracnóide não faz o mesmo,
existem variações de espaços desde cisternas até micro espaços em volta dos
vasos que servem como amortecedores do impacto dos pulsos da pressão
sanguínea.
Existe um espaço chamado subpial que só aparece em casos de
hemorragia, quando a Pia Mater é deslocada da superfície do encéfalo. Como
existe bastante aderência da Pia Mater no encéfalo por existir prolongamentos dos
astrocitos por serem em grande quantidade, chegam a formar uma membrana
denominada pioglial.
As cavidades existentes no espaço subaracnóideo são conhecidas como
ventrículos que se unem entre si através de aberturas canais ou forames. São
forrados
por células denominadas epêndimas que fazem com que o tecido
nervoso e o liquor não se misturem elaborando uma primordial função que é a
regulação homeostática do tecido nervoso. Os ventrículos laterais localizam-se
nos hemisférios cerebrais e apresentam pontas que vão à direção dos principais
lobos. Estes ventrículos através dos forames intreventriculares ligam-se com a
cavidade diencefalica (terceiro ventrículo). Esta cavidade denominada como
terceiro ventrículo é fina e termina na cavidade mesencefálica, que é um estreito
canal denominado aqueduto cerebral ou de sylvius, este segue até o quarto
ventrículo na altura do tronco encefálico que se liga com o canal medular, que é
um fino cilindro que finaliza na medula sacra. É neste quarto ventrículo que as
cavidades do interior do encéfalo se ligam com o espaço subaracnóideo por
aberturas onde uma é mediana e as outras duas são laterais.
Este líquido que preenche todo este sistema de compartimentos recebe o
nome de líquor (líquido encéfalo raquidiano), quando se fala em compartimentos
refere-se a espaço subaracnóideo e cavidades internas do SNC. A produção é
feita no plexo coróide, a partir dele a circulação é feita pelos ventrículos, espaços
subaracnóideo sendo drenado a partir daí para o sangue.
O líquor tem importância fundamental com funções de proteção e de
homeostasia do tecido nervoso, favorecendo suas trocas metabólicas. No
referente a proteção, esta é por fatores internos (Pulsação sanguínea) e externos
(acidentes, movimentação de cabeça e corpo desde os mais simples). O líquor
também faz, mesmo que parcialmente, excreção de produtos do metabolismo
neural onde os metabólicos do tecido nervoso, que estão presentes no líquido, são
conduzidos ao sangue dos seios venosos e filtrados para a circulação sistêmica.
Existe também um outro papel ainda em estudo de muita importância que é o
veículo de condução química, pois é nesse momento que ocorrem trocas entre ele
e o compartimento intersticial do tecido nervoso através dos espaços
perivasculares e pendimária que recobre toda a parte interna dos ventrículos e
cavidades.
O plexo coróido é bem vascularizado e tira do sangue a matéria prima para o líquor, porém, não é igual ao plasma, Esta
diferença ocorre pela forma que é produzido. É uma filtração bem seletiva que se completa pela secreção de componentes do plexo
coróide. É importante saber que as células ependimárias são o elemento central na tarefa realizada pelo plexo coróide, as que fazem
parte do mesmo ou as que recobrem as paredes das cavidades ventriculares. Estas células fundamentais podem ser cúbicas ou
cilíndricas, onde apresentam funções oclusivas que aderem e fecham qualquer passagem de substância para o líquor do sangue pelo
espaço intersticial fazendo com que utilizem o caminho que leva à membrana celular. No interior do seu citoplasma, só realizam a
passagem, a substância que tem moléculas transportadoras ou algum canal específico na membrana da célula empendimária.
Para se produzir líquor, existem diferentes formas de transferência (moléculas e íons do
sangue e do compartimento intersticial para as células empendimárias e para as
cavidades ventriculares)
1-
“Transporte ativo de moléculas
2-
Difusão facilitadora de moléculas
3-
Passagem de íons pelos canais
4-
Transporte de íons por meio de bombas transportadoras”.
(Roberto Lent,p429;430,2004)
O líquor é renovado de três a quatro vezes ao dia. Com isso, percebe-se que existe
também um processo de eliminação para que o volume seja constante.
Fisiologicamente, sabe-se que a circulação liquórica é unidirecional e pulsátil, dos ventrículos laterais para os terceiro e
quarto ventrículos e daí, em direção ao espaço subaracnóideo. Este local fica em volta da medula espinhal e encéfalo no momento em
que chegam a área de drenagem no topo do encéfalo e ao longo da medula. A drenagem acontece através das granulações e
vilosidades aracnóideas. São invaginações para os seios venosos. O líquor é drenado nas vilosidades aracnóideas para o sangue
venoso, na mesma proporção que é secretado.
Todo esse universo de liquido que envolve SN não garante todo o oxigênio e
nutrição necessário ao tecido nervoso; este, necessita de uma rede grande e
ramificada de vasos sanguíneos. No encéfalo o sangue que entra por meio da via
anterior ou carotídea e da posterior ou vértebro-basilar. Ambas se comunicam no
encéfalo, em sua base e suas ramificações irrigam várias partes do encéfalo. Já, a
irrigação da medula é feita pela via posterior e alguns ramos da aorta
descendente.
O sangue que alimenta o tecido nervoso realiza isso por meio de capilares
com características especiais, pois tem a função hemotoencefálica. É uma barreira
seletiva garantindo aos neurônios e gliositos, todo o necessário a sua nutrição e
respiração realizando também a proteção de algumas substâncias nocivas. Após a
filtragem nesta barreira o sangue vai para o sistema venoso ocorre a drenagem
venosa que deságuam nos seios venosos garantindo a drenagem sanguínea e o
escoamento do liquor do espaço subaracnóideo, chega às vias de saída e é
conduzido ao coração.
1.1.3.1 Homeostasia ou homeostase
Seu significado foi descoberto por Walter Cannon (2004, in Lent ) e se
explica na “sabedoria do corpo”. É o controle automático e inconsciente de manter
uma constância do meio interno, ou seja, por regiões do SN, é muito delicado
manter esta homeostasia, pois é muito frágil ao meio externo.
É necessário organizar respostas reflexas localizadas (coração, vasos
gastrointestinais) Sincronizando-as com as reações como um todo abrangendo
todo o organismo e de comportamentos voluntários que favoreçam o equilíbrio
orgânico. O SNC é bem ativo na homeostase, as regiões do diencéfalo em
especial o hipotálamo e no tronco encefálico, a medula espinhal e uma grande
rede do SNP, o sistema nervoso autônomo. Já que o sistema endócrino e
imunitário fazendo com que os efetores localizados e distribuídos em todo o
organismo.
Percebe-se então que para ocorrer o equilíbrio interno é necessária a
contribuição significativa do SN interferindo diretamente no SNA, porém ele não é
totalmente autônomo.
1.1.4 Sistema Nervoso Autônomo (SNA)
Este termo foi denominado por John Langley (2004, in Lent ). Na época, ele
acreditou no grau de independência em relação à totalidade do SN, porém esta
crença foi derrubada e nos dias de hoje acredita-se que o SNA agrupa neurônios
localizados na medula e no tronco encefálico que, por meio dos gânglios
periféricos, dominam toda a musculatura lisa dos vasos sanguíneos e todo o
organismo. Devido a esse critério muitos acham que o SNA é puramente eferente
e com neurônios secretomotores e viseromotores. Estudos mais apurados
mostram que as funções do SNA acontecem em conjunto com dados vindos das
vísceras.
O que importa é que o SNA depende do controle de regiões neurais
supramedulares e
por isso, não é totalmente autônomo e que prepara suas
atuações de acordo com suas informações recebidas das vias aferentes viserais.
A divisão que o SNA apresenta é uma simpática e outra parasimpática que são
clássicas, porém existe outra que é bem discutida e chamada de gastrointérica
que se forma por plexos intramurais, que é um emaranhado de neurônios
localizados nas paredes das vísceras que contribui para a digestão. Estudos
atuais a denominam como “redimulticináptica” que pode ser comandada pelas
áreas simpáticas como também pelas parasimpática.
A simpática em sua parte anatômica ocupa medula toraco lombar,
apresenta sinapse ganglionar entre o neurônio central e o alvo periférico. Seu
circuito está no neurônio pré-ganglionar e um pós-ganglionar longo. O seu neuro
transmissor é a ceticolina, porém no alvo ela libera noradrenalina. Funcionalmente
atua em estados de emergência mesmo participando do funcionamento do
organismo diariamente.
A parasimpática, em sua função anatômica ocupa o tronco encefálico e a
medula sacra, apresenta sinapse ganglionar entre o neurônio central e o alvo
periférico. Seu circuito apresenta um pré-ganglionar longo e um pós-ganglionar
curto. O seu neurotransmissor é a aceticolina. A sua função é oposta à simpática,
pois age na regulação dos órgãos e seus sistemas constantemente, porém atua
em situações estressantes quando necessário.
Ambos apresentam neurônios centrais que se localizam no tronco encefálico e na
medula, e seus axônios emergem do SNC, formando nervos que se finalizam em
um segundo grupo de neurônios, agora periféricos. Os últimos são localizados em
gânglios ou em plexos nas paredes das vísceras. Axônios do segundo grupo
inervam estruturas efetoras. Esses neurônios centrais e seus axônios chamam-se
pré-ganglionares e os neurônios periféricos e seus axônios denominam-se de pósganglionários.
É importante mostrar que esta organização estrutural do SNA, onde
ocorrem sinapses periféricas entre o neurônio eferente central e o órgão alvo é
bem diferente do sistema motor somático, pois assim este motoneurônio inerve de
forma direta o músculo estriado. O axônio de um único neurônio pré-ganglionar
tem o poder de realizar sinapse com vários neurônios pós-ganglionários, é o
resultado de um trabalho difuso, bem oposto ao comando muscular, que é bem
preciso e específico do sistema motor somático.
Existem também uma outra diferença entre o SNA e o SMS que é a
existência de sinapses transformadoras entre o neurônio pós-ganglionar e a
estrutura-alvo, independente de ser uma fibra muscular lisa ou uma célula
glandular. Os ramos contem varicosidades em seqüência, próximas, mas não
contíguo à célula alvo bem oposto às sinapses neuromusculares. Nas
varicosidades existem vesículas que são parecidas com as vesículas simpáticas e
sabe-se que
as
vesículas contém neurotransmissores que quando agem
despolarizam a membrana das varicosidades.
As células-alvo contem receptores específicos para os neurotransmissores
autonômicos,
porém,
não
existe
especialização
pós-sináptica.
Esses
neurotransmissores difundem-se por extensas áreas até os receptores das
inúmeras células da região, não sendo só a que está mais perto. Tal estrutura
sináptica colabora com todo o funcionamento do SNA, seja difuso e/ou extenso.
O controle dos órgãos é feito pelo SNA, através das fibras musculares que
são lisas na maior
parte das vísceras e estriadas no coração e nas células
glandulares. O SNA também regula sistemas do corpo digestório, a secreção das
glândulas que desmancham o bolo alimentar e lubrificam sua ida pelo trato
gastrointestinal, produzindo também os movimentos peristálticos que conduzem o
bolo para frente. Já no cardiovascular regula-se a freqüência e força dos
batimentos cardíacos, além do diâmetro dos vasos sanguíneos, deixando sob
controle a pressão arterial e a irrigação dos tecidos de acordo com que necessite.
A função respiratória é controlada pelo SNA através da ativação das
glândulas mucosas das vias áreas e suas variações de diâmetro. No urinário
participa da micção. No ato sexual, na ereção masculina e o ingurgitamento da
feminina, além da produção de esperma e de secreções.
1.2 Sistema Motor
Os movimentos não dependem somente do músculo, para que isso ocorra,
existe um complicado processo de programação, comando e controle envolvendo
várias regiões do cérebro que culminam na contração de fibras musculares.
Percebe-se até agora, que os movimentos sejam eles desde o mais
grosseiro, o mais delicado, o mais complexo reflexo, voluntário ou involuntário.
São eles que dão as mais diversas possibilidades ao corpo do ser humano e a
relação com o meio externo e interno, pois a emoção, à vontade e as opções de
escolha nos colocam em um enorme plano de aprendizagem. Os movimentos que
são tão complexos acontecem de forma tão sincronizada que se parecem tão
simples no ser humano e tão belos.
É importante frisar que não são todos os reflexos que são motores; existem
reflexos secretores que não fazem parte dos movimentos.
Para que ele exista são necessários alguns elementos que colaboram entre
si para que ocorra o movimento.
O primeiro elemento são os efetuadores; estes, realizam o movimento. São os
músculos estriados esqueléticos do sistema motor somático, construídos por
células musculares, inclusive as proteínas contráteis, que são capazes de
deslizarem uma sobre as outras, alongando ou encurtando cada célula muscular,
fazendo parte do citoesqueleto. Existem diferentes células musculares e é sua
contração dentro de cada músculo que determina sua função.
O segundo elemento são os ordenadores, responsáveis pelo controle dos
efetuadores. Os ordenadores são os motoneurônios (conjunto de células motoras)
da medula e do tronco.
Em um mesmo músculo pode ocorrer a inervação de diferentes células
musculares por um motoneurônio, porém cada célula só é inervada por um único
motoneurônio. Esse conjunto de motoneurônios, com suas células musculares é
chamado de unidade motora, que tem como função, comandar o sistema motor.
Os efetuadores levam informações aos ordenadores através de receptores
musculares denominados fusos e órgão de Golgi. Os primeiros localizam –se
dentro da massa muscular e o segundo, nos tendões. São eles que informam ao
motoneurônio, pelas fibras nervosas aferentes, toda a informação relativa ao
comprimento e grau da tensão dos músculos. É importante saber que os
motoneurônios mediais são responsáveis pela postura e os laterais, pelos
movimentos finos dos membros.
Os reflexos são ditos movimentos bem simples, pois são realizados por
circúitos de neurônios (arcos reflexos) que estão na medula ou tronco encefálico.
Existe reflexo com mais de um neurônio, entre eles temos:
-
Monosinápticos (dois neurônios). Exemplo: miotáticos
-
Dissinápticos (três neurônios). Exemplo: miotáticos inversos -
-
Multissináptico (vários neurônios). Exemplo: reflexos flexores de retirada.
Os músculos ativadores de forma reflexa são determinados pelo local
que são estimulados e a força empregada, além da
duração de resposta dependente da intensidade que foi
dada.
Ocorre que os movimentos mais elaborados acontecem devido a seqüências de
comandos automáticos, iniciados por ciclos rítmicos feitos na medula. (Exemplo:
locomoção).
O terceiro elemento são os controladores que protegem para que ocorra a
execução certa dos comandos motores e por fim, o quart elemento, que são os
planejadores, que fazem as seqüências de comandos produzindo os movimentos
voluntários complexos.
Movimentos voluntários e involuntários também participam do controle dessa
postura, sendo chamados de movimentos posturais. Esse movimento abrange
músculos que se localizam próximo à coluna vertebral, chamados de axiais ou
proximais. Seus movimentos também são conhecidos pelos mesmos nomes. Os
que se localizam nas extremidades também fazem parte desses movimentos e
são conhecidos como apendiculares ou distais.
O sistema motor não é tão simples. Para que ocorra é necessário não se
restringir somente aos comandos do músculo pela medula e pelos núcleos
motores dos nervos cranianos. É necessário o planejamento e a programação
motora, que acontece a nível específico, no córtex, comando cortical sobre a
medula e o tronco encefálico que fazem com que os reflexos e os movimentos
mais grosseiros sejam modulados, além de ser controlado pelo cerebelo e núcleos
de base com objetivo da realização do movimento no tempo devido e de forma
harmônica pelas áreas responsáveis pelo planejamento.
Existe um alto comando que é exercido pelos centros ordenadores do
córtex e regiões sub–corticais, que coordenam as ações contráteis das unidades
motoras pelas vias descendentes, que formam dois sistemas primordiais. O
sistema medial que é constituído por vias que controlam o equilíbrio corporal e a
postura, coordenando principalmente os músculos da coluna vertebral e os de
ligação com os membros. O sistema lateral que abrange as vias de comando dos
movimentos dá enfoque aos braços, mãos e pés.
Através de experiências de Sherrington, Jackson (in Lent, 2004), associou
as mesmas com animais e seres vivos, dando continuidade e acreditando que o
ser humano teria uma cadeia hierárquica de comando motor onde os músculos
motores do tronco encefálico gerariam modulação positiva dos reflexos modulares
e modulação negativa de parte do córtex cerebral. Os centros motores,
organizados de forma que os superiores controlariam os inferiores.
É sabido que hoje já se conhecem os centros ordenadores que geram as
vias descendentes de comando motor; localizam-se, alguns, no tronco encefálico
e outros nos núcleos motores dos olhos, cabeça e pescoço.
Os núcleos vestibulares encontram-se no bulbo cujos neurônios recebem
aferência do nervo vestibulococlear. São formados feixes vestíbulo-espinhal
através de axônios desses neurônios vestibulares. Esses feixes são responsáveis
pela manutenção da postura e equilíbrio. Já, outro grupo de neurônios, ocupa toda
a extensão rostrocaudal da ponte invadindo o bulbo em sua parte de baixo e o
mesencéfalo na parte de cima. Esse grupo é chamado de formação reticular, os
axônios descendentes dessa formação, formam feixes retículo-espinhais.
Existem regiões motoras no mesencéfalo, conhecidas como núcleo rubro e
o colículo superior. O núcleo rubro localiza-se no interior do mesencéfalo em
forma de núcleo esferóide, formando uma via descendente: feixe rubro-espinhal,
que ajuda no comando motor dos membros. O colículo superior fica na superfície
dorsal do mesencéfalo, dando origem ao feixe tecto espinhal, que recebe
aferências multissensoriais (visual, auditivo e somestésico). É devido a esse fato
que suas fibras motoras participam das reações sensório-motora.
O córtex apresenta grande quantidade de áreas onde os neurônios
mandam axônios descendentes (córtex motor primário, outras áreas motoras
adjacentes e áreas somestésicas do córtex parietal. Esse conjunto, em sua
totalidade, gera feixes córtico-espinhais).
É
importante
frisar
que
durante
muitos
anos
os
neurocientistas
classificavam as vias motoras em dois grupos, onde o primeiro era sistema
parietal e o segundo, em extra piramidal, porém essa classificação tornou-se
ultrapassada. A partir do neuroanatomista Henricus Kuypeves, em 1960, onde
relacionou, de forma lógica, as vias descendentes e suas origens, com suas
principais funções motoras. Ele dividiu os motoneurônios do corno ventral da
medula em lateral e medial.
Os motoneurônios laterais inervam a musculatura apendicular distal
(movimentos finos das extremidades): braços, pernas, mãos e pés.
Os motoneurônios mediais inervam a musculatura axial do tronco e a
apendicular proximal (antebraço e ombros) comandando esses movimentos de
postura e equilíbrio.
Os feixes vestíbulo-espinhais são responsáveis pelo controle involuntário
(reflexos), tem como objetivo, repassar para os motoneurônios (alfa e
fusomotores) as noções de posição da cabeça (equilíbrio no labirinto)
Segundo Roberto Lent (2004), os feixes que iniciam no tronco encefálico
baixo, ou melhor, na ponte e no bulbo, e colaboram com o sistema medial no geral
ficam do mesmo lado durante seu percurso. Isso acontece para os feixes
vestíbulo-espinhal lateral e para os retículos espinhais bulbar e pontino, porém os
feixes do vestíbulo-espinhal medial contêm axônios de núcleos vestibulares
mediais nos dois lados. Os axônios que ultrapassam a linha média após a
emergência do núcleo de origem, no bulbo.
Os feixes que tem sua base no mesencéfalo e no córtex, no geral são
cruzados (tecto-espinhal, rubro-espinhal), após o surgimento dos seus núcleos de
origem que se localizam no colículo superior e no núcleo rubro. É cruzado
também, na maioria das fibras córtico-espinhais que vão do córtex até a medula,
onde no trajeto, passam pela cápsula interna ainda no telencéfalo, o pedúnculo
cerebral no diencéfalo e mesencéfalo e por fim a pirâmide bulbar. Agora as fibras
cruzam a linha média gerando a decussação piramidal, continuando o caminho
pelo funículo lateral da medula, dando origem ao feixe cortiço-espinhal lateral. O
que não cruza a linha média da decussação piramidal “descende” pela medula no
funículo ventromedial, ou melhor, no feixe córtico–espinhal medial. Ocorre que
várias fibras desse feixe ultrapassam a linha média da medula, ao chegarem ao
segmento que finalizam, formando assim, uma via de projeção bilateral.
As fibras motoras apresentam seu início no córtex. Ao percorrerem seu
trajeto, finalizam-se bem como os vários núcleos motores do mesencéfalo, do
tronco encefálico. Não necessariamente chegam à medula. São elas que
controlam o desempenho dos núcleos, sub-corticais.
No caso da musculatura da cabeça e do pescoço, tanto a esquelética
quanto, a estriada, que fazem o controle dos tecidos moles da face e da boca, são
inervadas por motoneurônios localizados em vários núcleos de nervos cranianos
que recebem aferência do córtex e dos núcleos motores do tronco encefálico, da
mesma forma que a medula.
Toda essa separação das vias é puramente didática.
Os retículos espinhais são responsáveis pela contração voluntária do tônus
através de regiões antecipatórias. Os neurônios da formação reticular recebem
muitas aferências do córtex.
1.2.1 Tônus
O tônus muscular é o estado constante de contração muscular, é delicado e
controlado pelo sistema nervoso de forma que qualquer alteração de posição do
corpo devido ao ambiente ou vontade própria que venha acontecer. É importante
dizer que o tônus depende dos motoneurônios alfa, ou melhor, do seu nível de
disparo, e da atuação dos neurônios fusimotores. Isso é feito pelas vias
descendentes mediais que regulam o tônus axial, controlando a postura do
indivíduo.
O tônus pode ser alterado quando acometido de alguma patologia do
sistema motor.
Motoneurônio alfa: corpos celulares grandes ou médios e grandes árvores
dendriticas. Seus axônios emergem de raízes ventrais medulares (ou das raízes
do nervo craniano) e se integram aos nervos, até chegarem aos músculos
correspondentes. Nos músculos, inervam a maioria das fibras musculares. Eles
comandam a contratilidade muscular.
O controle dos motoneurônios alfa é feito pelos motoneurônios fusimotores
beta e gama. Pois esses neurônios inervam as fibras musculares intrafusais,
gerando a contração e regulando a sensibilidade do fuso muscular, com isso
ocorre o controle voluntário ou involuntário do tônus de forma direta, através da
ativação dos neurônios fusimotores ou de forma direta sobre motoneurônios alfa.
Isso ocorre pelas vias descendentes mediais, regulando o tônus da musculatura
axial, controlando assim, a postura do indivíduo.
O corpo humano realiza movimentos simples e complexos de forma
simultânea e coordenada com suas várias partes corporais. Isso tudo acontece
devido ao tronco encefálico que controla os reflexos de estiramento, favorecendo
a manutenção desse tônus, com o objetivo de gerar postura. São os núcleos do
tronco que coordenam a postura automaticamente. O corpo orienta-se em relação
aos estímulos visuais e auditivos no ambiente.
Os movimentos oculares são controlados pelo mesencéfalo e córtex, depois
segue os movimentos da cabeça e do corpo, onde geram reações adequadas ao
momento.
Os movimentos voluntários são planejados, programados e coordenados
por várias regiões corticais do lobo frontal, controlando força, velocidade,
amplitude e direção com precisão.
Todo esse processo é controlado pelo cerebelo e os núcleos de base que
orientam na avaliação dos comandos e na avaliação da execução das contrações
musculares que permitem a realização do movimento.
1.2.1.1 Função Tônica
É através dela que, em especial, a extensibilidade, adquire primordial
necessidade no desenvolvimento motor e ao mesmo tempo na construção do seu
“eu” interior, isso acontece quando ocorre um aumento do tônus axial paralelo à
diminuição da hipertonicidade dos membros.
Segundo Fonseca (1998) quanto maior é o grau de extensibilidade, tanto
maior é a facilidade de integração de novos esquemas motores. É uma certa
extensibilidade que permite o jogo harmonioso e perfeito dos músculos para a
realização de sinergias motoras. Deste fato, tira-se à conclusão da íntima relação
deste grau com o eixo corporal e deste com o sistema nervoso central e por fim,
com o emocional. É necessário um desenvolvimento neuromaturacional deste eixo
corporal.
De acordo com a maturação do ser humano, as crianças que são mais
hipotônicas apresentam maior hiperextensibilidade, levando a um precoce e
excelente controle de preensão. Já as crianças hipertônicas, apresentam maior
hipoextensibilidade, gerando uma precoce e excelente locomoção.
No primeiro caso ocorre a corticalização (vida mental) mais cedo,
favorecendo o desenvolvimento óculo-manual, pois fica por um período maior
sentado e com isso faz movimentos finos de mãos e dedos, facilitando a grafia.
São crianças mais tímidas, afetivas e dependentes.
No segundo caso, são agitadas, independentes, mais briguentas e menos
agarradas aos pais.
Em ambos os casos, não
se deve esquecer que o meio influencia e
sobretudo, a forma com que são educadas.
“Para muitos autores, a função tônica é a mais complexa e
aperfeiçoada do ser humano; ela encontra-se organizada
hierarquicamente no sistema integrativo reticulado e toma
parte em todos os comportamentos de postura e movimento,
através
de
232,1998)
uma
maturação
progressiva”.(
Fonseca,p
Independente da forma de conduta, as musculares lisa e estriada, e o sistema
hormonal se interconectam. É justamente a função tônica que intercede nesta
troca dos sistemas muscular voluntário, o neurovegetativo e o hormonal.
Para Wallon (in Fonseca,1998) o tônus é a base para as atitudes, sendo
assim, este, responsabiliza-se pelas perturbações da evolução humana.
A função tônica se arquiteta da medula ao cérebro. E o tônus é variável de
acordo com sua atitude e postura sem contar que suas adaptações colaboram
com a manutenção do equilíbrio, além de interferir na afetividade.
1.2.2 Músculos
Tem a capacidade de alongar e contrair através das fibras nervosas que o
comanda, e ritmos feitos por eles mesmos. É formado por conjuntos de células
alongadas onde permanecem unidas ou relaxadas, de acordo com o seu estado.
Essa função de contração das células musculares é proporcionada por
proteínas do citoesqueleto que são ativadas através de potenciais de ação em sua
membrana plasmática. Elas são “excitáveis” da mesma forma que os neurônios.
Histologicamente, elas podem ser lisas ou estriadas onde as primeiras
fazem a movimentação das vísceras com exceção do coração e a segunda se
sub-divide em esqueléticas ou cardíacas. A esquelética produz movimentos dos
membros e corpo. A cardíaca, movimentos do coração.
É importante saber os tipos de fibras musculares para entender a função
muscular. Existem três tipos de fibras musculares. As primeiras são as fibras
vermelhas lentas onde apresenta um rico suprimento sanguíneo, mitocôndrias e
mioglobina (tonalidade avermelhada), além de um processamento aeróbico. Sua
função,
são contrações lentas e sustentadas além de resistência a fadiga. A
segunda, são fibras brancas rápidas, estas apresentam em menores quantidades
os capilares, as mitocôndrias e a mioglobina, porém, grandes reservas de
glicogênio e o seu processamento anaeróbico, produzem ácido lático. Já suas
funções, são de contrações rápidas, fortes e transitórias, porém, alcançam mais
rapidamente a fadiga. A terceira, são as intermediárias, que apresentam
características mistas.
É comum encontrar as fibras brancas rápidas nos músculos das
extremidades e as fibras vermelhas, nos músculos proximais.
A musculatura esquelética executa suas funções pelo comando neural
(ordenadores), devido a isso, qualquer lesão neurológica pode causar paralisias e
paresias.
1.2.3 Movimentos
Segundo Roberto Lent (2004) a concepção contemporânea conceitua
movimento voluntário como algo que some a um conjunto de movimentos reflexos,
automáticos e estereotipados, modulando e transformando-os a cada momento,
em função das informações globais internas e externas recebidas.
Todo esse processo de comando, planejamento e execução, se localizam no
córtex cerebral.
Esta descoberta deu-se no início do século XIX por alemães (Eduard Hitzig
e Gustav Fritsh). Já na década de 50 o neurocirurgião Wilder Penfield deu
continuidade aos experimentos e identificou o giro pré-central como principal área
motora, pois nessa região o menor estímulo provoca movimentos, porém, outras
regiões também respondem (necessidade de maior estímulo), surgindo aí, dúvidas
quanto à participação funcional das áreas.
Surge depois de pesquisas e reuniões, um critério para classificar as áreas
motoras corticais, que citaremos a seguir.
Para ser uma área motora; segundo Roberto Lent,p 394,2004
1-
“Projetar e receber de outras regiões motoras
2-
Provocar um distúrbio motor quando lesada
3-
Provocar movimentos quando estimuladas
4-
Possuir atividade neural e fluxo sanguíneo aumentados
precedendo e acompanhando a execução de movimentos”
As áreas que se adequam aos quatro critérios e se tornam as grandes áreas motoras do córtex cerebral foram:
-
Área motora primária
Localização: giro pré-central do lobo frontal.
Função: comando dos movimentos voluntários
-
Área motora suplementar
Localização: rostral e dorsalmente a área motora primária.
Função: planejamento dos movimentos voluntários, mais que o comando de sua execução.
-
Área pré-motora
Localização: rostral e lateralmente a área motora primária.
Função:: planejamento dos movimentos voluntários, mais que o comando de sua execução.
-
Área motora cingulada
Localização: face medial do córtex, acima do corpo caloso.
Função: movimentos relacionados ao emocional.
Todas as áreas motoras do córtex cerebral se conectam entre si e também
com outras áreas motoras (somestésica primária e áreas associativas dos lobos
parietal e frontal) e projetando-se para regiões motoras sub-corticais, contribuindo
para o feixe córtico-espinhal. É importante saber que a mais participativa no
processo é a área motora primária, pois apresenta uma maior densidade de
neurônios que formam as vias descendentes para regiões sub-corticais. Já que ela
apresenta menor estimulação para exercer sua função, é também a que mais
projeta axônios pelas vias descendentes, é tida como sede do “alto comando
motor”, pois é nela que surge o comando que se sobrepõe aos reflexos, as
reações posturais e aos movimentos de orientação sensório-motora.
-
Área Motora Primária (M1) – Funcionamento
Descobriu-se através de Jackson (in Lent - 2004) e outros colaboradores
uma propriedade chamada somatotopia, que é uma organização topográfica
ordenada, ou seja, na superfície cortical, as regiões corporais, os músculos e os
movimentos se representam de forma ordenada, seguindo uma ordem.
No giro pré-central, através da somatotopia, informa que as regiões da
cabeça representam-se mais lateralmente de ação motora primária, enquanto que
os membros superiores e tronco localizam-se mais dorsalmente, enquanto que os
membros inferiores localizam-se na face medial do hemisfério.
Já nas regiões distais dos membros (principalmente mãos) e as periorais da
face, possuem maior representação cortical em relação aos outras regiões do
corpo, pois são essas regiões do corpo, que apresentam mais diversidade de
movimentos finos e com maior precisão, além de músculos mais inervados.
A somatotopia é de suma importância para os médicos, pois além do que a
face medial do giro pré-central é irrigada por uma artéria cerebral, enquanto a face
dorso-lateral é irrigada por outra artéria. É por isso que quando há um acidente
vascular cerebral em uma dessas artérias, surgem distúrbios motores na perna
contra-lateral e se for na outra artéria, surgem distúrbios motores no braço. E é
através do mapa somatotópico, que o médico pode diagnosticar e localizar a
lesão.
Sabe-se que quando a área motora é estimulada, ocorre um determinado
movimento que envolve diversos músculos, mesmo reduzindo esse estímulo par
um único neurônio motor, diversos músculos continuam a ser envolvido. O axônio
cortiço-espinhal tem a capacidade de inervar em um mesmo momento, a
população de motoneurônios de diferentes músculos. Esse fato recebe o nome de
divergência. Existe também a convergência, onde o mesmo músculo pode ser
ativado por pontos próximos, mas distintos na área motora primária, segundo Lent
(2004).
Chega-se à segunda conclusão a de que um músculo é comandado por um
mosaico de pequenas regiões da área motora primária, que se ativam ao mesmo
tempo. Quando ocorre o envolvimento de mais de um músculo, em um único
movimento, as regiões do mosaico se juntam. Esse mosaico é dito plástico, e é
essa plasticidade do córtex motor que é importante na recuperação de pacientes,
com problemas de motricidade, portadores de lesões neurológicas.
Após experiências com macacos, o fisiologista Edward Evarts (in Lent, 2004) chegou a
seguinte conclusão: que o córtex motor comanda os movimentos voluntários, isso
acontece com a ativação de um determinado grupo de neurônios motores que irão ser
responsáveis pelo comando de músculos envolvidos em cada movimento.
É uma tarefa sincrônica e cooperativa onde se determina os ajustes do
movimento, porém, a seleção desses neurônios não é feita na área motora
primária, e sim, em outras áreas motoras.
Agora que se descobriu que a área motora primária é ordenadora e responsável
pelo comando motor superior. Sabe-se que a motora suplementar e a pré-motora
são planejadoras, é daí que surgirá o programa de comandos para a área motora
primária mandar estruturas sub-corticais através das vias descendentes para que
sejam executadas pelo músculo.
A pouco tempo o fisiologista Richard Passigham (in Lent, 2004 p403),
através de muito trabalho descobriu que quando se realiza movimentos “novos”, a
área pré-motora se ativa, juntamente com o cerebelo, O córtex parietal e o córtex
frontal. A partir do momento que esse “novo” aprendizado amadurece, a atuação
cerebral muda de local, agora está na área motora suplementar,
paralelo ao
hipocampo, além de áreas occipitais e temporais.
Passigham
(in
Lent,p
403;404,2004)
concluiu:
“O
planejamento motor tem uma via exterior que se baseia na
experiência sensorial não aprendida (somestésica, usual
proprioceptiva) e uma via interior que repousa sobre o
aprendizado, a memória”.
Área motora cingulada – envolve movimentos com carga emotiva.
Duas estruturas que participam diretamente do controle dos movimentos são o
cerebelo e os núcleos de base que são estruturas controladoras, sua participação
é indireta, pois, só participam da preparação para o movimento e do controle on
line da harmonia da combinação dos múltiplos movimentos elaborados ao mesmo
tempo e em seqüência, pelo indivíduo.
Apresentam características comum, no que diz respeito de não possuir acesso
direto aos motoneurônios, apesar de apresentarem conexões com quase todas as
regiões motoras.
O funcionamento é independente, pois não se conectam.
Existe um circuito comum para ambos, com o nome de retroação (feedback), ou
seja, recebem de extensas regiões do córtex cerebral e projetam de volta ao
córtex motor, através do tálamo. É nesse processo que ocorre o controle do
movimento de forma precisa e harmônica, assegurando ao sistema nervoso, que a
ordem está sendo cumprida.
1.2.4 Cerebelo (Segundo Lent, 2004)
Anatomicamente
Um quarto do volume craniano no ser humano é uma estrutura globosa que
apresenta dois hemisférios, com dobraduras paralelas transversais (folhas),
distanciadas por fissuras. Divide-se em três lobos. O anterior, o lobo posterior e o
lobo flóculo-nodular, este visto quando olhado de baixo, após cortar os pedúnculos
cerebelares que fazem a ligação dele com o tronco encefálico.
Histologicamente
Formado por um córtex com três camadas e uma substância branca onde
em seu interior existe quatro núcleos profundos em cada hemisfério que são o
núcleo fastidial, os interpostos (globoso e emboliforme) e o núcleo denteado. O
núcleo fastigal recebem aferência da região mediana do cerebelo verme, já os
interpostos recebem de zonas longitudinais intermediárias, localizadas entre o
verme e os hemisférios, já os denteados recebem das regiões mais laterais dos
hemisférios.
O córtex do lado flóculo-nodular se liga com os núcleos vestibulares que
neste momento, são considerados núcleos profundos do cerebelo, mesmo que
encontrados no tronco encefálico.
Baseado nessas ligações foi proposto uma nova divisão no cerebelo, onde cada
hemisfério teria quatro regiões que são: o verme, o hemisfério intermediário, o
hemisfério lateral e o lobo flóculo-nodular.
Fisiologicamente
Lobo flóculo-nodular projeta e recebe aferentes dos núcleos vestibulares, se
ocorrer uma lesão, aparecerá distúrbios do equilíbrio e da postura antigravitária.
Este lobo ficou conhecido como vestíbulo-cerebelo, com função de manutenção
do equilíbrio da postura.
O verme e a zona intermediária recebem grande inervação originada da
medula, por meio de feixes espinocerebelares que se juntam no espinocerebelo.
Este manda fibras eferentes para o tronco encefálico e o mesencéfalo por meio do
núcleo fastigal e dos interpostos inervando ao mesmo tempo, os músculos do
sistema descendente medial que se formam pelos núcleos vestibulares, formação
reticular e colículo superior e do sistema lateral, que é o núcleo rubro.
Quando o espinocerebelo apresenta lesão, ocorrem erros de execução
motora, deixando de contar com informações proprioceptivas carreadas pelos
feixes espinocerebelares não sendo capaz de intervir o comando motor veiculado
pelas vias descendentes.
Hemisférios laterais recebem aferência de núcleos situados na base do
córtex cerebral. Tal inervação origina-se no córtex frontal nas regiões motoras e
cognitivas, no córtex parietal, nas regiões somestésicas e associativas, e no córtex
occipital, na área responsável pela percepção visual de estímulos em movimento.
Os núcleos denteados mandam fibras eferentes que se finalizam nos
núcleos ventrolateral e ventro-anterior do tálamo, onde emergem axônios para o
córtex motor.
Os hemisférios laterais são chamados cérebro-cerebelo, devido as suas grandes
ligações com o córtex cerebral. É ele que colabora com a coordenação e o
controle de movimentos mais complexos, unindo-os às informações sensoriais
com comandos de origem cognitiva e emocional. Lesões neste local (cérebrocerebelo) geram distúrbios de planejamento motor alterando movimentos
voluntários, os automáticos aprendidos, e distúrbios de natureza mental.
Neurohistologistas
Circuitos intrínsecos do cerebelo, permitindo o estudo de propriedades
funcionais de cada tipo neuronal em vista de seus aferentes e o destino de seus
axônios.
Descobriu-se que existe um circuito básico igual a todas as regiões onde o
processamento da informação é igual em todo cerebelo. O que diferencia, é o seu
significado em função da origem das fibras aferentes que chegam a cada região
cerebelar e o destino das fibras eferentes.
Circuitos intrínsecos iniciam através das fibras que chegam a ele trazendo
informações de fora. São conhecidos como musgosas e trepadeiras. As primeiras
originam-se de neurônios dos vários núcleos com exceção do olivar inferior e são
o principal sistema de informação do cerebelo. Essas fibras são ditas excitatórias
que usam como neurotransmissor o glutamato.
Essas fibras chegam por fim, ao córtex e emitem colaterais para os núcleos
profundos logo que entram no cerebelo.
Já as trepadeiras surgem justamente no núcleo olivar inferior, localizado no bulbo.
São ditas também excitatórias, indo terminar no córtex. Existe também aferentes
difusos inespecíficos no cerebelo que apresentam função motora.
No córtex cerebelar as musgosas ramificam-se e fazem sinapses na camada
granular. São organizações complexas e formam estruturas denominadas
glomérulos que apresentam terminais musgosos, terminais inibitórios das células
de Golgi e dendritos das células granulares. Todo esse complexo é envolvido por
um envoltório de células gliais, que o envolve. Toda essa informação aferente
ativa essa células granulares e estas projetam seus axônios para uma camada
molecular, que formam um sistema de fibras paralelas que se finalizam ao longo
do processo terminando sobre os dendritos de outro tipo neural. A célula de
Purkinje, que é característico do córtex cerebelar. Essa célula também ativada
pelas fibras trepadeiras que emergem dos núcleos Olivares inferiores e se
enovelam, em torno do soma, dando origem a várias sinápses excitatórias.
Cada célula de Purkinje recebe ativação excitatórias de ambos os aferentes, a
direta de uma fibra trepadeira e indireta das fibras musgosas, por meio de vários
axônios das células granulares. Essas células são inibitórias, possuindo o gaba
como neurotransmissor. Seus axônios emanam para os núcleos profundos, formase aí, a saída final do córtex cerebelar para os núcleos
Quase todos os axônios que surgem dos núcleos profundos do cerebelo são
excitatórios (há alguns inibitórios que emanam a oliva inferior). Esses axônios é
que dão a informação de saída, que o cerebelo manda para os vários núcleos
motores, onde existe em cada um, um mapa somatotópico da metade ipsolateral
do corpo.
O sistema descendente medial é formado pelos núcleos vestibular e, os
núcleos reticulares e o colículo superior e seus axônios, onde as informações
saídas do vestíbulo-cerebelo e do espinocerebelo, controlam toda ação motora
desse sistema, gerando equilíbrio e tônus muscular originando várias mudanças
de posição da cabeça e do pescoço.
Os núcleos vestibulares formam uma parte do sistema medial de comando motor,
com isso colaboram com os ajustes posturais propiciados por informações que
vem do labirinto. Como apresenta função de inibição, as células de Purkinje,
quando ativadas, conseguem conter a ação motora dos feixes vestíbulo-espinhais.
Lesões nesta área geram marcha e posturas atóxicas, alterando, quando parados,
o equilíbrio, pois necessitam, de pernas afastadas para não cair. Existe também
no sistema medial, uma parte constituída por núcleos reticulares. Neste, chegam
axônios dos núcleos fastigais do cerebelo. Lesões ao nível do espinocerebelo,
geram movimentos axiais atóxicos, pois, seus feixes retículo-espinhais não
conseguem a modulação vinda do cerebelo.
O colículo superior e seus axônios eferentes formam também o sistema medial.
Este colículo recebe fibras do núcleo fastigal. Se ocorrer uma lesão nesta área, o
indivíduo apresenta movimentos anormais nos olhos.
Após vários estudos, fisiologistas chegaram a uma conclusão, onde se
descobriu a participação do cerebelo em funções metais, pois ocorre aumento de
sua corrente sanguínea na execução de tais funções superiores (linguagem,
aprendizagem de movimentos, etc.). Descobriu-se também que os circuitos do
cerebelo possuem plasticidade sinaptica (depressão de longa duração L+D) que
se relaciona à memória.
Chega-se então a seguinte conclusão, segundo Lent (p:410, 2004): “O cerebelo
não seria apenas uma máquina de controle motor, mas
também um instrumento de planejamento que contribuiria
com a capacidade mental do indivíduo”.
É importante dizer que os estudos continuam em busca de várias
respostas, ainda em pesquisas onde futuramente, poderão substituir ou adicionar,
as existentes até o momento.
1.2.5 Núcleos da base( Baseado em Roberto Lent,2004)
São conjuntos de núcleos localizados em várias partes do sistema nervoso,
apresentando ligações entre si e colaboram diretamente no controle motor.
Apresentam origens no telencéfalo, diencéfalo e mesencéfalo. No telencéfalo
apresentam o corpo estriado e o globo pálido, já no diencéfalo tem-se o núcleo
subtalâmico e por fim no mesencéfalo que apresentam substancias negra que
subdivide em parte compacta parte reticulada e área tegmentar ventral (Esta
ultima se associa a outro sistema funcional).
O corpo estriado que se localiza no telencéfalo apresenta aspecto rajado
microscopicamente, ele possui uma relação muito importante com a cápsula
interna, pois são seus feixes que separam o núcleo caudado do putamen
morfologicamente.
É na cápsula interna que se localiza o principal feixe de fibras que comunica o
córtex com as regiões subcorticais.
É de primordial importância, pois é justamente o corpo estriado que é a parte de
entrada de todas as informações vindas do córtex para os núcleos da base, é
justamente ele que distribui aos outros núcleos que farão controle dos movimentos
e demais funções (núcleo caudado, núcleo putamen, núcleo acumbente e
tubérculo olfatório, sendo que estes dois últimos se associam a outros sistemas
funcionais.
O globo pálido que também se localiza no telencéfalo recebe este nome por ser
visto microscopicamente corado, sua localização é na posição ventral ao corpo
estriado se subdivide em núcleo do globo pálido externo, núcleo do globo pálido
interno, de onde este último parte axônios eferentes para o tálamo e ventral que
se associa a outros sistemas funcionais.
Esta é a fase final do processamento da informação que é concluído pelo núcleo
da base.
Os circuitos neurais envolvidos com o núcleo da base iniciam pelos aferentes do
córtex cerebral, que emanam fibras ao corpo estriado de acordo com a sua região.
Mandam para o núcleo caudado se forem de origem associativa, e as que vão
para o núcleo putamen são de origem sensorial e motora. Todas são excitatórias e
fazem sinapses dendriticas com a célula espinhosa média (neurônio). Estes
processam a informação recebida e emergem axônios (inibitórios) projetando-os
para o núcleo do globo pálido
interno e a parte reticulada que faz parte da
substância negra no mesencéfalo. Isto pode ocorrer de forma direta ou por uma
sinapse feita através do núcleo do globo pálido externo. O núcleo do globo pálido
interno é que realiza por sua ação de inibição a eferência para o tálamo. Já a
substância negra reticulada é que faz a eferência para o colículo superior
elaborando movimentos com os olhos.
Todo este circuito neural que envolve o núcleo da base é conhecido de retroação,
pois conecta o córtex cerebral com o córtex motor.
Existem dois núcleos que pertencem ao núcleo da base que são satélites, pois se
conectam com o principal. A substancia negra compacta tem ligação direta com o
corpo estriado e o núcleo subtalâmico tem ligação direta com o núcleo do globo
pálido externo.
Neste circuito neural existe um elo talâmico em que ocorre ligação com quatro
núcleos. Eles são núcleo ventral anterior, núcleo ventral lateral e por fim um par de
núcleos ligados ao sistema límbico. No ventral anterior e lateral chegam axônios
do núcleo profundo do cerebelo que fazem com que os núcleos ventral e lateral se
conectem com as áreas: pré-motora do córtex motor e motor primário do córtex
motor, enquanto que os outros núcleos relacionados ao sistema límbico se
conectam com a área motora angulada do córtex motor.
A função ainda é um enigma, sabe-se de sua participação do núcleo da base que
é justamente iniciar e terminar o movimento onde justamente seus axônios
eferentes que conteriam os movimentos indesejados e a necessidade de praticar
um movimento é que inibiria esses axônios eferentes liberando o comando motor
cortical para os ordenadores subcorticais.
Importante frisar três grandes características do núcleo da base que o diferencia
do cerebelo:
Aferência cortical enquanto que o cerebelo recebe também aferência sensorial ou
de regiões motoras subcorticais.
Eferentes para o tálamo.
Eferentes com ação inibitória, pois no caso do cerebelo são excitatórias
.
II-Desenvolvimento
2.1 Filogenético e ontogenético do ser humano
A nível filogenético, ocorreram grandes conquistas pelo ser humano, dentre
elas, a postura bípede, a praxia, a visão binocular, a linguagem falada, a escrita e
sua cultura social que dão à espécie humana uma importância soberba pois o
futuro desta espécie mostra a existência de um passado remoto.
Na criança, para que entendamos o processo de maturação biopsicosocial,
esta precisa passar por conquista internas e externas.
Os fatores neurológicos que gerarão o desenvolvimento neuropsicomotor que são
mielinização, o crescimento dentritico, circuitos interneurononais, eventos
bioquímicos, etc. É necessária a existência de componentes biológicos com o
envolvimento cultural que interage favorecendo e a aprendizagem que surge préestruturada.
Em primeiro plano surge o desenvolvimento da unidade de vigilância que
responde pela tonicidade postural e atencional dando base a propriocepção e a
conquista
vestibular
da
postura
bípede
(macromotricidade)
a
confiança
gravitacional, além do conforto tátil, a partir de agora se desenvolvem as áreas
sensoriais e motoras primárias, através da praxia fina e a visão binocular
(micromotricidade) surgindo à relação ambjetal e afetiva, dando noção corporal e
equilíbrio emocional surgindo à ontogênese não verbal.
Na genética a informação e transdução bioquímica que ordena e organiza fatores
inatos
e
adquiridos
nas
espécies,
gera
uma
seqüência
evolutiva
de
transformações anátomo-funcionais que geram no primata e no ser humano.
Segundo FONSECA (p:12,1998), “No envolvimento da mão
pré-estruturam-se os reflexos, ou seja, a memória da
espécie. No envolvimento com a família desenvolvem-se as
primeiras aquisições motoras e lingüísticas.no envolvimento
com
a
sociedade,
evoluem
as
primeiras
aquisições
psicomotoras e psicolingüísticas”.
É importante mostrar que a motricidade situa-se antes dos pensamentos,
pois o feto humano movimenta-se na barriga da mãe. Isso, sem falar, que o
“amadurecimento” cerebral só acontece através da motricidade, pois sem
movimento não há mielinização, maturação, concluindo que para haver cognição é
primordial a motricidade.
As estruturas associativas que modulam a motricidade, agora, são
entendidas, elaboradas, reguladas, controladas, executoras e integradoras.
A neomotricidade mexe com as formas de atividades psíquicas mais elevadas,
dando formato e conteúdo.
A motricidade no se humano apresenta a ação e a representação bem
independentes, ou melhor, um aspecto motor e outro ideacional antecipativo.
Apresentam um significado holístico do desenvolvimento humano.
A ontogênese acontece a partir do desenvolvimento intra-uterino onde
ocorre o encontro do óvulo com o espermatozóide gerando uma única célula: o
Zigoto, onde há todas as informações genéticas que influenciarão
seu
desenvolvimento até os 16 anos.
*Zigoto»»»Embrião»»»Feto»»»Prematuro»»»recém nascido»»»criança...
Ocorre em três períodos:
-
Pré-embrionário (da concepção até o primeiro mês)
-
Embrionário (do primeiro ao segundo mês)
-
Fetal (do segundo ao nono mês)
-
Neonatal
Toda esta transformação que ocorre desde o zigoto, é totalmente
influenciada pelo genoma e o meio, que funcionam em conjunto até que ocorra a
completa separação dos corpos da mãe e da criança.
Para que aconteça a ontogênese da motricidade é necessário seguir alguns
axiomas que irão intervir diretamente no desenvolvimento. Estes podem ser
intrauterinos e extra-uterinos, e acontecem normalmente na evolução do ser
humano.
O período neonatal se inicia quando ocorre o nascimento. Agora a criança
passa de um meio fluido, liquido amniótico, para um meio gasoso, o ar. Surgem
novas descobertas e, com elas mudanças necessárias, tanto na respiração, como
na circulação, digestão, o sensorial, e a reativação reflexiva motora.
Após o nascimento observa-se a criança em todo o seu aspecto físico, nos
reflexos, no tônus e na sua mobilidade espontânea. No recém inato, se
evidenciam inúmeros reflexos e através deles ocorre um “amadurecimento” tônico.
A ausência ou persistência de alguns reflexos pode gerar problemas no
desenvolvimento, como exemplo: perturbações neurológicas. De acordo com o
desenvolvimento do recém inato os reflexos desaparecem com o tempo fazendo
com que daí para sempre dêem lugar às aquisições motoras.
Através do tônus se evidenciam as conquistas motoras, sua maturação
ocorre no eixo caudo-cefálico, contrário às aquisições que seguem o eixo céfalo
caudal. Com esse impasse, descobre a idade fetal neurológica (Fonseca, 1998).
Surgiram várias metodologias de desenvolvimento, porém uma das que
mais chamaram atenção foi a de GESELL (GESELL in FONSECA 1998, p. 155),
pois esta se direcionou em cinco elementos (maturação, diferenciação individual,
leis
de
desenvolvimento,
ritmo
de
desenvolvimento
e
setorização
de
comportamentos) primordiais.
Como serão abordadas crianças menores de cinco anos, só alguns
comportamentos serão mencionados. Dentre eles tem-se o adaptativo, que
envolve o sensório motor e a percepção de reações, o motor global que envolve a
postura e a marcha, o motor fino, preensão e dextrabilidade, o lingüístico, que
abrange a concepção verbal e não verbal, finalizando com o pessoal social que
abrange reação social de cada um à cultura social. São todos interdependentes e
se maturam normalmente. Neste caso são formas de comportamento que se
maturam e se integram. Conforme a criança se desenvolve e cresce, o seu
comportamento a acompanha. Tudo acontece de forma harmônica, os seus
movimentos não são contrários às idéias. Ocorre uma maturação evolutiva. O
neurológico “SN e endócrino” e o social (integração, imitação, linguagem)
formando uma unidade de evolução.
Os músculos são instrumentos importantes por onde as pessoas se
comunicam e demonstram suas idéias e suas emoções, percebendo-se então que
através dos movimentos voluntários e sua postura, molda-se o psiquismo e a
comunicação na criança.
No que diz respeito à motricidade a sua influencia no comportamento do
individuo esta diretamente envolvido com a corticalização gradual, além de ser a
base do organograma mental.
A existência da motricidade se dá desde o feto até a
formação global do ser. É por meio do movimento que
prende e solta estruturas, gerando um amadurecimento
interno, promovendo assim conquistas progressivas e
futuras. O conjunto do movimento gera uma unidade
(Início + Fim) que acompanha o ser humano.
De acordo com o processo maturativo, o individuo transforma o movimento
a cada idade cronológica. Este passa a ter significados expressivos e bem
enriquecedores, de acordo com a relação do individuo com o meio. É importante
frisar que quando o movimento acontece de forma isolada, não haverá significado.
2.2 Desenvolvimento Infantil e Psicomotor
“Cada criança é única. O esquema do desenvolvimento é comum a todas as crianças, mas as
diferenças de caráter, as possibilidades físicas, o meio e o ambiente familiar explicam que com a
mesma idade crianças perfeitamente normais possam comportar-se de maneiras diferentes. A criança
que progrediu inicialmente muito rápido pode reduzir o seu ritmo e ser alcançada por aquela criança
que parecia atrasada alguns meses antes”. (ALVES 2003, p 17.).
A primeira infância é primordial para o desenvolvimento global do individuo.
Sabe-se que o cérebro apresenta potencialidades enormes e também que a carga
genética influencia em demasia, porém não se deve esquecer do ambiente e das
pessoas que cercam o individuo desde a sua concepção. É todo um conjunto
evolutivo tomando-se a isso inúmeros fatores. Nos primeiros anos de vida, um
cérebro , tem 400 gramas, podendo chegar a 1 Kg, no indivíduo adulto. Este se
desenvolve pelas variadas conecções que geram um emaranhado de informações
variadas.Para que o ser humano consiga se desenvolver bem, este cérebro tem
necessidade de estímulos, oriundos do meio que o cerca, porém excessos
prejudicam. Todo e qualquer estímulo deve acontecer com equilíbrio, mas sempre
incentivado.
A evolução histórica cultural que aconteceu desde a época dos primatas até
os dias de hoje, modificou o homem das cavernas ao homem contemporâneo. De
um desenvolvimento pessoal, de uma personalidade única, onde o indivíduo
amadurece por etapas (didático), desde a nascença à vida adulta. É uma cultura
complexa por sua diversidade e riqueza no que diz respeito ao ser humano, porém
as crianças se moldam, nos percursos da vida, mas se deve ter cuidado nos casos
traumáticos, pois os danos podem não reverter. Vê–se a necessidade, de um
ambiente acolhedor, aconchegante, cheio de carinho e com equilíbrio, com uma
educação estimulante, sem exageros, que, muitas vezes, colaboram para
amenizar os traumas.
A própria criança modela o seu meio, fazendo com que seja agente diretos
deste processo de desenvolvimento. Ela não é passiva ao seu desenvolvimento
global, mas, é única,e nunca será igual a outra.
É importante frisar que alterações que não percebidas no tempo devido, e,
quando, não resolvidas de forma adequada, afetará as aprendizagens globais
futuras.
0 à 3 meses
Em vigília seu tônus é marcado, que geram flexões nos membros
superiores e inferiores. Apresenta agitação quando está acordada e rotação na
cabeça. Logo de início apresentam reflexos primitivos (moro, encurvação do
tronco, alongamento cruzado de membros inferiores e de marcha), até um mês os
reflexos não são coordenados com informações e sentidos. Alguns movimentos de
orientação de olhos e cabeça, principalmente na direção da luz, descobre as
mãos.Coordena visão aos poucos nas quatro posições, seu olhar agora fala.
Sorrisos vocalizações e mímicas.Reações circulares com as mãos, pegam
objetos, agora, a cabeça já firma, levanta o tronco. Aqueles primeiros reflexos
somem com exceção da marcha automática e do reflexo de moro, que ainda
persiste um pouco mais. Repetem o que gostam às vezes, é através de suas
informações sensoriais, que, iniciam sua coordenação. Surgem as reações
circulares primárias.
4 à 6 meses
Ocorrem importantes modificações, seu tônus agora colabora para uma
amplitude maior, a hipotonia chega aos membros, dando maior agilidade. Seu eixo
corporal, o seu tônus ativo e seu equilíbrio, apresentam melhora, percebe-se que
a cabeça está bem firme. Mãos coordenadas, surge a preensão voluntária, o
controle visual aumenta, as mãos já coordenam separadamente.
Surgem posturas de compensação de eixo corporal, juntamente com seu
equilíbrio. Senta com suporte, fica de bruços, e de costas logo em seguida.
Quanto ao ambiente natural sente a brisa e percebe a sombra (Celso Antunes,
1999, p.21). Na fase sinestésico corporal, brinca com chocalho e o pé vai a boca,
puxa e arrasta qualquer coisa.
7 à 9 meses
A lei céfalo caudal faz com que ocorram evoluções na mielinização.Melhora o controle
tônico postural, sustenta seu corpo com apoio, mas não consegue realizar só. Na
descoberta do espelho se identifica.Através da boca, quer conhecer o mundo.Dá tchau e
bate palmas.Surge a reação de para - quedas como proteção, inicia sua própria proteção
em reações de desequilíbrio. Descobre objetos bem pequenos, faz pinça, solta um objeto
para pegar outro e explorá-lo. As vocalizações iniciam, de forma simples, e, variada,
sem significado (balbucio).Na fase pré - objetal, surge uma simbiose afetiva da criança
em relação à mãe que supre todas as suas necessidades. É através dela como mediadora
que vivencia o seu emocional. A criança liga o prazer à mãe, e a frustração quando ela
está ausente. É a angustia. A mãe é a base inicial simbólica.
10 meses à um ano e três meses
As mãos livres para explorar o mundo que a cerca, mexer em tudo, conhecer
objetos antes inatingíveis,agora sua locomoção é quadrúpede pode engatinhar de
joelhos ou na planta dos pés,com muita rapidez, iniciam ensaios para ficar na
postura bípede( de pé ), fica de pé com apoio, até que aos poucos se liberte dele, e
com seu equilíbrio em ordem inicie a marcha.Suas descobertas são bem
ampliadas.Inicia-se a fase final da lei céfalo -caudal, surgindo a lei próximo–distal.
Dá-se início a motricidade fina. Já percebe algumas partes do seu corpo e brinca
com o espelho aos poucos, descobre o todo e se fascina.
Já consegue falar até cinco palavras, com
significados, mas é importante frisar que a sua linguagem
interior é muito mais ampla, do que a expressiva,
conhecimento do seu corpo (ex: mão, pé,...) e da área
sensório-motora que atua.
Quanto ao ambiente natural, percebe animais e plantas é generosa e
carinhosa com crianças e animais.Não gosta de ficar só e dá beijos em suas
relações.No sinestésico corporal pode folhear livros e revistas (Celso Antunes,
1999, p.21).
2 anos
Antes o interesse era nas pessoas, agora recai sobre os objetos, uma
curiosidade enorme, surge então atividades perceptomotoras, gerando praxias
surgindo funções de ajustamento. Agora a criança descobre o peso e a
resistência. Ao adulto só resta respeitar “o princípio do prazer”, e, sobretudo
colaborar com situações que favoreçam a criança dando valor as suas conquistas,
lógico que no momento de perigo, deve-se impor limites, com isso a criança
vivencia um novo princípio, “o principio da realidade”, que controla seus impulsos.
Já corre e coordena movimentos óculo-pedais Entende o espaço que está no
espelho mais ou menos aos 2 anos e meio, adquire autonomia ,para comer, e,
beber sem ajuda. Quanto a higiene há controle diurno dos esfíncteres. Surge
brincadeiras com cubos, elaborando a função práxica construtiva.Ocorre maior
controle visual no desenho, o movimento é impulsivo. É o olho que segue a mão,
com domínio sobre as coordenações finas distais, nesta fase pintar é de primordial
importância. Utiliza frases mais completas (palavra-frase). Jogos de imitação
melhoram a função de ajustamento. Conversam e respondem, perguntas, surge o
plural e mais de 500 palavras.
Na visão de Celso Antunes (p.21,1999), no que diz respeito à lógica e a
matemática, percebe a ocorrência de fatos, mesmo que não queiram.Já no
sinestésico corporal, anda de triciclo, faz esportes simples, já segura o lápis.Sua
atenção é maior.Ouve e cria histórias.Nas relações, é a fase do “não”. A nível
espacial acreditam em mitos (Papai Noel,...). A criança demonstra pensar com a
sua musculatura.
3 anos
Aos 3 anos sua postura é perfeita, seu equilíbrio amadureceu, já fica
estático,seus gestos já são dissociados( membros superiores e membros
inferiores).Come só, e, de forma harmônica.Seu grafismo de corpo humano é
representado através de um círculo, com olhos, nariz e boca, além de dois traços
saindo deste círculo, representando as pernas.
A criança vivencia a etapa do corpo vivido, onde mistura vivências
emocionais, deste corpo e do meio que o cerca, surge daí praxias, dando a ela a
noção de que seu corpo é um objeto na relação. Este momento é paralelo à crise
da personalidade, onde ela é o centro e daí tudo acontece. É o equilíbrio afetosensório-motor que é a base, para o espaço temporal (Le Boulch, p69, 1992).
Na visão de Le Boulch (1992), a praxia aperfeiçoou-se bem, já a gnosia
ainda é bem crua. Em relação ao espelho, ela começa entender que o que ela
sente é o mesmo que ela vê.A imagem própria é grosseira em sua visão.Ocorre a
estruturação das percepções do meio externo, influenciando na percepção do seu
corpo.Surge a consciência segmentar deste corpo com seu interior. De acordo
com o que vê relaciona esta imagem a sensações sinestésicas com sons, fase
analítica, início da organização do esquema corporal. Ocorre a dissociação
motora, sua imagem corporal é mais afetiva (“corpo fantasma”).Dá-se inicio aos
jogos simbólicos, sem ligação com o real, só para satisfação pessoal. É a
mudança do mundo mágico para o organizado e bem estruturado. Através do
corpo a criança mostra seu emocional consciente ou não.O período pré-escolar é
onde ocorre a mudança do estado topológico para o espaço euclidiano. É a
percepção e estruturação do esquema corporal. Os desenhos são exercícios
percepto motores, traduzindo toda sua vivencia passada. Seus personagens são
desenhados em qualquer direção, só há preocupação na forma. Início da
compreensão da gramática. Quanto a higiene ocorre controle diurno e noturno
dos esfíncteres.
Para Vítor da Fonseca (1998), seus movimentos são harmoniosos e
rítmicos. Seu quadro motor de uma forma geral favorece a eclosão sensória
motora, com isso influencia o ambiente que o cerca, podendo optar pela maneira
de agir.
Na visão de Celso Antunes (p:19, 1999), é a etapa da auto-afirmação.Na
área musical, entende os sons e associa a quem os emite, já na matemática
percebe o que é fino, grosso, largo, estreito curto e comprido.No social já é mais
independente dos pais Quanto à imaginação, descobre monstros nas histórias, e
adoram quando eles são vencidos.No desenvolvimento físico, demonstram que
com o crescimento se alongam, com isso, o motor grosso (pular, correr,...), e, o
fino (copiar abotoar...), acompanham e amadurecem.
4 anos
Na visão de Vítor da Fonseca (1998), suas funções motoras globais e fixas,
estão bem dominadas. Ocorre diferenciações, em sua linguagem. Tem-se o préoperacional. Narcisista, dá-se início de sua personalidade emergente. No seu
grafismo representa o ser humano, desenha círculo para a cabeça, com olhos,
nariz, boca, orelha, cabelo, depois outro círculo será o tronco de onde saem os
braços e as pernas.
Para Le Boulch (1992), a partir de agora os desenhos são figurativos e já
mostram a questão da orientação das figuras ao meio. Apresenta confusão só em
direcionar o corpo humano, que é desenhado de frente, com comprimento e altura,
já os bichos aparecem de perfil (frente, costas). Identifica ângulos, o quadrado é
diferente do círculo, porém é confundido com o retângulo. Surgem as dimensões
(comprimentos e ângulos). Aos poucos identifica as diferenças entre quadrado e
retângulo, identifica triângulos e diferencia círculos. Descobre a reta, dando noção
de eixo. Já brincam em grupos de dois, três, ou, quatro, porém o grupo não é
estável. Até agora o trabalho motor e sinestésico, tem tido prioridade em relação
aos visuais e topográficos, isso se deve à aquisição da dominância lateral
segundo De Ajuriaguerre (in Le Boulch,1992). Surgem os primeiros conceitos de
forma e cor.
Celso Antunes (p. :19, 1999) diz que na lingüística a criança já fala mais ou
menos 10000 palavras. Na questão musical, diferencia os ruídos e sons, além de
reconhecer sons de instrumentos musicais.Já na matemática percebe o
significado de conjuntos e grandezas, na questão da imaginação, descobre os
super-heróis e os amigos imaginários.
Para R. L. Selman (in L. Boulch, 1992) Inicia o egocentrismo.
Jean Piaget (in L. Boulch, 1992) Diz que para a criança a sua forma de
pensar e seu julgamento são iguais para todos.
2.3 Elementos básicos da psicomotricidade no desenvolvimento
2.3.1 Esquema corporal
É um elemento básico na formação da personalidade do indivíduo, é
através dele que a criança se descobre e descobre o mundo através do seu corpo,
que aos poucos lhe dá autonomia.
Segundo Wallon (in F. Alves, 2003) é através do saber desse corpo que a criança
adquire autonomia para seu conhecimento interior e suas relações com o meio, ou
seja, de forma global, científica e diferenciada, deste corpo ela relaciona-se.
“Esquema corporal é a integração das sensações relativas ao próprio corpo,
em relação aos dados do mundo exterior” (P. Vayer, in Alves, p48, 2003)
A criança que vivencia, diferencia e controla o corpo, tem já elaborado, a
sua percepção corporal, o seu equilíbrio, a sua lateralidade, independência de
membros, controle muscular e da respiração. (F. Alves, 2003).
O esquema corporal se desenvolve em três etapas, o corpo vivido, até os
três anos, o corpo percebido de três a sete anos, e por fim o representado, dos
sete aos doze.(F.Alves, 2003).
2.3.2 Imagem corporal
“A absoluta imagem do corpo é função da organização das emoções, o que
naturalmente implica e exige, a relação com o outro, isto é, implica um
determinado tempo e momento”.(F. Alves, p55, 2003).
“A imagem corporal diz respeito aos sentimentos do indivíduo em rela ção a
estrutura de seu corpo como bilateralidade, lateralidade, dinâmica e equilíbrio
corporal” (F. Alves, p53. 2003).
É relacionada com os sentimentos que abordam o indivíduo em torno desse
corpo, mexe com o seu interior.
2.3.3 Coordenação geral e facial segundo F. Alves(2003)
É através dela que ocorre a evolução da cognição, do psicomotor e do
afetivo no ser humano.
Para que haja uma boa coordenação de forma geral há necessidade de
uma harmonia, além de um sincronismo muscular, caso a primeira infância não
seja bem estimulada poderão ocorrer déficits.
Tipos de coordenação:
-Motora fina: É segmentar, faz uso das mãos, realiza atividades complexas
com precisão. Faz uso de pequenos grupos musculares;
-Motora ampla: Movimentos amplos, a princípio não são dissociados, só
mais tarde;
-Visomotora: coordenação da visão com os movimentos efetuados;
-Audiomotora: Através do estímulo auditivo pode modificar o movimento;
-Facial: Através da face, pode-se comunicar e expressar, através da mímica
facial. A sucção, a mastigação e a deglutição, também fazem parte, só que agora
referem-se a sobrevivência.
2.3.4 Equilíbrio
Não há movimento corporal sem equilíbrio, a coordenação global depende
dele, este pode ser estático, são os movimentos sem locomoção, e dinâmico,
qualquer movimento com locomoção.
“A manutenção dum corpo na posição normal, sem oscilações ou desvios.
Igualmente entre forças opostas. Estabilidade mental e emocional”(prof. Aurélio in
F. Alves,p60,2003).
2.3.5 Lateralidade
“É a generalização da percepção do eixo corporal a tudo que cerca a
criança” (F. Alves, p66, 2003).
“A lateralidade é importante na evolução da criança, pois
influi na idéia que a criança tem de si mesma, na formação
de seu esquema corporal, na percepção da simetria de seu
corpo, contribuindo para determinar a estruturação espacial
(percebendo seu eixo corporal)” (F. Alves, p67, 2003).
Problemas de lateralidade levam a problemas futuros na escola. Esta só se
completa ao fim da primeira infância.
2.3.6 Estruturação espaço –temporal
É a relação do corpo com o meio, das pessoas com os objetos, e, com, o
tempo. É a organização do indivíduo com o mundo.
Corpo, espaço e tempo são fundamentais, nesta estruturação com o
mundo, e não funcionam dissociados.
2.3.7 Pré-escrita
Após as aquisições necessárias, quando já se tem um controle gestual,
espacial e temporal, tem-se a base para a fase da escrita, ou melhor, escolar.
III- Distúrbios neuropsicomotores(baseado em, José E. e
Coelho M.T.,1999)
Qualquer distúrbio psicomotor influenciará na organização do esquema
corporal, podendo também em alguns casos, afetar a estruturação espacial e
temporal, porém são bem amplos e variados os casos, com, conseqüências para
toda uma vida, seja no comportamental, psicológico, social, orgânico, etc..., caso,
não educado ou reeducado, onde uma coisa simples, pode se tornar uma bola de
neve.
As seguintes perturbações podem ocorrer:
Motoras
- Atraso no desenvolvimento motor
- Grandes déficits motores
- Problemas de equilíbrio
- Coordenação
- Sensibilidade
Intelectuais
- Debilidade leve
- Debilidade moderada
- Debilidade Severa
Esquema Corporal
- Motor
- Intelectual
- Afetivo
Lateralidade
- Motoras
- Neurológicas
- Sociais
- Psicológicas
Estruturações Espaciais
- Má integração do esquema corporal
- Perturbações de lateralidade
- Manipulação de objetos
- Psicológicos
Orientação Espacial
- Motoras
- Psicomotoras
- Psicológicas
Grafismo
- Coordenação motora
- Rigidez ou crispação de dedos
- Psicológico
Perturbações Afetivas
-Família
Antes de qualquer distúrbio deve-se saber o que é psicomotricidade, para
entender o que eles acarretam e como somá-los.
Segundo Pick e Vayer(in L. Boulch,1992) existe um estreito paralelismo entre o
desenvolvimento das funções motoras e o desenvolvimento das funções
psíquicas. É a relação entre o pensamento e a ação envolvendo a emoção. É uma
perfeita
interação
entre
o
controle
mental
e
a
expressão
motora.
O
desenvolvimento psicomotor evolui paralelamente ao desenvolvimento mental.
Sem o suporte psicomotor o pensamento não poderia chegar ao uso e
compreensão dos símbolos e abstração. É uma determinada organização
funcional da conduta e da ação.
Para a SBTP – Sociedade Brasileira de Terapia Psicomotora, “psicomotricidade é uma ciência cujo objetivo de estudo do
ser humano , através de sua relação com seu mundo interno e externo, assegurando através de sua corporalidade e da consciência de
si mesmo a sua unidade como pessoa. É uma ciência subdividida por outras, biologia, psicologia, sociologia, neurologia, filosofia,
psiquiatria, etc( Fonseca,1998).
Função da Psicomotricidade
Intervir sobre o corpo, através de situações vivenciadas, para estimular a
organização cognitiva, perceptiva e possibilitar a readaptação funcional dos
músculos e da maturidade relacional.
Objetivo da Psicomotricidade
Contribuir para tomada de consciência da realidade pessoal do indivíduo,
possibilitando a este assumir o seu próprio crescimento psíquico, valorizar a
disponibilidade, a perfeição de ajustamento, a autonomia e o investimento
relacional, tendo em vista uma melhor adaptação ao meio.
Existem distúrbios de conduta evolutiva que se evidencia por uma série de
problemas que se apresentam durante a infância, ocorre desvio das normas de
conduta pré-estabelecidas que uma criança em seu desenvolvimento apresenta
em relação ao ambiente familiar, com significados para si própria dos sons; do
motor; do afetivo e do social.
O crescimento e a maturação devem equilibrar-se.
Têm-se também distúrbios do desenvolvimento que afetam a conjugação
das áreas psíquicas e neurofisiológicas.
Os distúrbios psiconeurológicos, pois em sua maioria são determinados por
disfunções cerebrais mínimas ou por maturidades neurológicas além de uma
dificuldade de adaptação e ajustamento da criança em relação ao meio.
Podem ser por causas orgânicas (mielinização tardia), e, por causas
funcionais (ambiente hostil, rejeição, superproteção) que geram alterações de
conduta.
Os transtornos psicomotores são as dificuldades apresentadas, mesmo
aquelas de fundo neurológico ao conjunto da história da criança, seu contexto
sócio-educativo. Tais transtornos são: de atitude, paratonia, sincinesias,
lateralidade e instabilidade.
Atitude – identificado como hábito de postura relacionado ao desenvolvimento
psicológico infantil. É relacionado a um aspecto de comportamento geral onde
uma ação reflete o seu eu.
Paratonia – é a persistência de rigidez muscular particular, está relacionada
com o tônus de base e a maturação nervosa. São insuficiências de inibição
motora.
Conforme o crescimento infantil os movimentos musculares voluntários se
reorganizam a medida que a criança se desenvolve, pode acontecer em crianças
normais, com melhor resultado, e crianças com síndromes neurológicas, e de
origem psico-afetivo. São variados, porém só tem em comum a ligação com o
comportamental infantil, a relação com o outro.
Sincinesias – são movimentos involuntários, que acompanham os movimentos
voluntários. Podem ser de reprodução e tônica. A primeira desaparece de acordo
com o desenvolvimento cronológico. A tônica o aumento é ausente nas idades de
6 a 10 anos, às vezes aos 12. Ambas através de intervenção por desejo resolvemse de forma gradativa, através da musculatura. Quando se consegue intervir por
meio da consciência infantil chega-se a um controle dessas contrações, mesmo na
ausência de algum movimento indevido.
Nos casos através da indução da criança por meio da percepção ao
controle de seu corpo conjuntamente as posturas, a respiração leva a um
desaparecimento das sincinesias em todos os casos, mesmo nos casos
neurológicos, pois estão ligados a evolução do esquema corporal.
Lateralidade – predomínio infantil e geram problemas de estruturação espacial
e problemas na escrita, leitura e ditado; circundados por fracassos e problemas
afetivos.
Neste caso pode-se educar o corpo de forma global, que os problemas serão
sanados.
No início do desenvolvimento infantil normal existem algumas atividades
motoras primitivas que são ditas patológicas. Rítmicas, limitadas em um processo
sensório-sensitivo-motor, as simples. E as complexas, que se juntam e se
completam pela ambigüidade e suas relações.
Instabilidade – pode ser subcoréica, quando não se consegue controlar os
movimentos (neuro-motora), e a afetivo-caracterial relativa as confusões de
personalidade (psico-afetivo). Geram fadiga e transtornos de atenção podendo ser
profundos. Como causa pode-se dizer da carência de atividades lúdicas (sócioeconônicas) entre outras. Acontecem na infância.
Em todos os casos independentes de serem neurológicos ou não ficam
evidente dois aspectos de forma permanente que são o esquema corporal, e
relacional com seu “eu”.
3.1 Hábitos Motores Persistentes
3.1.1 Ritmias Motoras
São processos motores ou psicomotores mais ou menos regulares, de
forma brusca e com amplitude variável dependendo do caso. Podem ser ritmia
cefálica (cabeça), ritmo óculo-cefálico (cabeça e olhos) e ritmo céfalo-corporal
(cabeça e tronco) (M Schater, in José E. e Coelho M.T.,1999).
Segundo R S Lourie(in José E. e Coelho M.T.,1999), esse processo atinge
crianças normais em maior freqüência e mostrou que as partes do corpo
envolvidas dependendo grau de desenvolvimento neuromotor tudo isso é
interrompido de dois anos e seis meses a três anos, porém, poucos casos vão dos
os oito a dez anos.
São movimentos que persistem e aumentam nas mudanças posturais antes
de serem adquiridas.
Balanceios infantis regridem entre nove meses e dois anos, pode ocorrer
que aos três, quatro e cinco anos existam crianças ainda com esse problema.
Alguns autores deixam claro que este fato acontece mais em crianças hipertônicas
e são balanceios prematuros, que chega a dois anos e meio, o que não acontece
com as hipotônicas que apresentam balanceios raros, com surgimento bem mais
demorado e duração curtos. Para R S Lourie( in José E. e Coelho M.T.,1999), tais
movimentos acontecem por necessidades do instinto da satisfação além de
facilitar o desenvolvimento motor e que forma o ego, transformando depois em
expressão emocional.
Existe, também, as ritmias, tanto de dia como de noite, elas diminuem o
nível de consciência realizando em um momento uma auto-hipnose e no outro
através de movimentos libera sua ansiedade.
3.2 Hábitos Motores Pessoais
3.2.1 Head Banging
São cabeçadas em qualquer superfície sólida próxima no momento, bem
barulhenta, acontecem sem horário previsto e podem acontecer de sessenta a
oitenta cabeçadas por minuto, com duração de quinze a sessenta minutos,
percebe-se que existem movimentos que acompanham este. Inicia aos oito meses
durando até os dezessete meses. Desaparecem com o passar do tempo, mas, em
alguns casos persiste além dos quatro anos, às vezes até aos dez. Não passam
da pré-adolescência. Esse problema ocorre em crianças que são muito pouco
estimuladas afetivamente, pela mãe, a criança passa por alguns processos de
isolamento, e a mãe não sabe se relacionar com os filhos.
3.2.2 Tricotilomania
É o impulso irresistível de arrancar cabelos, tais distúrbios aparecem após
trauma do couro cabeludo, puramente ligada, ao emocional.
3.2.3 Onicofagia
Hábito de roer unhas, seu ápice é aos onze e treze anos, em geral são
hiperativos, autoritários e guardam sentimentos. Apresentam pequenos distúrbios
de comportamentos. Na verdade tem instabilidade psicomotora com tensão e
ansiedade e aflições do seu meio relacional ocasionando a onicofagia.
Para L Bovet(, in José E. e Coelho M.T.,1999) a onicofagia é uma descarga
motora primitiva, com movimento pulsional, movimento fenômeno motor. Naquele
momento é a solução para as aflições. Já S A Shentoub(, in José E. e Coelho
M.T.,1999), diz que é uma conduta agressiva, mas com sentimento de culpa,
sendo agressivo consigo mesmo, é uma autopunição.
Por anos as descargas motoras foram consideradas patologias, porém,
descobriu-se que era comum acontecer no desenvolvimento normal da criança.
É usado o termo de atividade auto-erótica para a sucção, a masturbação, os
balanceios, e, as cabeçadas. Percebe-se que alguns levam ao prazer do corpo e
outros a agressões neste próprio corpo. São comportamentos onde as
manifestações são por meio da motricidade, fazem uso do corpo desde que seja
para formação da personalidade.
Há hábitos motores que surgem no desenvolvimento entre eles, têm-se as
descargas exploratórias que geram conhecimento do corpo, descargas rítmicas
redutoras da tensão, que levam a criança ao isolamento e descargas autoofencivas rítmicas ou não rítmicas. Tais comportamentos podem ser desvios no
desenvolvimento, como também posem colaborar, isso depende do momento.
Podem vir através do lúdico pela realização por ela ou virarem uma briga
intrapsíquica.
Considera-se como patologia quando não adicionam estímulos positivos e
geram prazer virando situações estereotipadas impossíveis de serem mudadas.
3.3 Tiques
“Execução súbita e imperiosa, involuntária e absurda,
repetida a intervalos irregulares, porém próximos de
movimentos simples, isolados ou complexos em seu
conjunto, que representam objetivamente um ato adaptado a
um fim determinado” ( R Cruchet,p. :224 , in José E. e
Coelho M.T.,1999).
Para que ocorra, existe a necessidade de não se reprimir, porém à vontade
e a distração acabam com ele, alem do que no período do sono ele aumenta.
Características:
- Brusquidão de movimentos
- Bruscos
- Abruptos
- Variáveis de uma criança para outra e também na mesma pessoa
- Inoportuno
- Estéril
- Incompleto
- Variam em circunstância, posições e situações.
Eles podem ser, faciais, de cabeça e pescoço, de tronco e de membros,
respiratórios, de fonação e verbais além dos digestivos. Os faciais são mais vistos
e aparecem em qualquer ato funcional que interfira em sua musculatura.
“O tique é vivenciado, diz ele, como uma necessidade
imperiosa de executar um ato, necessidade que se impõe
como obsessão e cuja realização provoca uma satisfação”
excessiva “, deslocada” (H Meige e E. Feindel,p. :225 in
José E. e Coelho M.T.,1999).
É importante frisar que o indivíduo tem vergonha e não gosta da
observação do outro no momento.O diagnóstico se baseia em suas próprias
características da execução de movimentos e no eu interno desse indivíduo.
O diagnóstico diferencial se dá inicialmente com os movimentos coreicos
que se diferenciam pela impossibilidade de inibir da coréia e de sua evolução. Já
com os movimentos conjuratórios dos psicatênicos são movimentos simples que
acontecem em intervalos regulares e acontecem na cabeça e no tronco. As
clonias deferem pelo seu contexto clínico, já os espasmos faciais se diferenciam
pelas sincinesias, como elas iniciam o espasmo e como será controlado. Início
tardio. A epilepsia bravais – Jacksoniana quando levam a tiques unilaterais se
diferem também. Os hábitos motores e manipulatórios com o corpo, estes iniciam
de forma mais precoce, não tem brusquidão, tem que ter preparação, a duração é
maior e são complexos: A duração a intensidade e o movimento variam e se
repetem, além de controle voluntário.
Seu início é por volta dos seis e oito anos, pode também na puberdade. Em sua
etiologia têm-se alterações emocionais, distúrbios de linguagem, de defecção,
sintomas obsessivos, hipocondríacos, cólera e depressão.
Algumas teorias tentam explicar a patogenia entre elas tem-se a orgânica,
as psicogenéticas e as psicomotoras.
Existe tratamento psicomotor que levam a redução da instabilidade pela
associação. O relaxamento psicoterápico ocorre com bons resultados. Em
qualquer tratamento deve-se descobrir o foco e direcioná-lo além de apoio de
outros profissionais.
3.4 Debilidade Motora
“Interrupção do desenvolvimento funcional, cuja equivalência
nos primeiros anos de infância, mas que não se baseia no
estudo genético coerente que permita distinguir o que é
patológico do que é fisiológico em uma determinada idade”, (
p. :233, José E. e Coelho M.T.,1999).
Segundo A Collin, (in José E. e Coelho M.T,p. :233, 1999), “Síndrome
infantil normal psiconeuromuscular”.
A sintomatologia na neuropsiquiatria da criança é valorizada de acordo com
a idade cronológica além da evolução do sintoma no tempo. A personalidade, as
sincinesias (de difusão tônica, a de difusão tônico cinética e a imitativa do
movimento) modificações no corpo (partes) as reações tônicas, maturação do
sistema nervoso, reflexos de rótula e do aquileu com exceção de alguns casos e
por fim sinal de weel.
Como
exemplo
psicomotoras,
de
inibições,
debilidades
inaptidões
de
motoras
têm-se
origem
as
emocional,
instabilidades
distúrbio
de
lateralização, dispraxias de evolução, algumas disgrafias, alguns tiques,
tartamudez..
Como exemplo de debilidade psicomotora citam-se as paratonias para que
possa se demonstrar que a terapia psicomotora tem como objetivo a organização
do esquema corporal, modificando globalmente esse corpo inclusive suas
percepções e emoções, atua nas vivências e no eixo de orientação, ( José E. e
Coelho M.T.,1999).
3.5 Síndrome Hipercinética
Tratada como distúrbio do comportamento surgiram hipóteses patogênicas
e opiniões de tratamento bem pessoais para vários estudiosos. Já foi descrita a
hipercinesia como sintoma de uma total desorganização de várias outras
patologias (Síndrome impulsiva hipercinética da criança hiperativa, Síndrome
coreiforme, distúrbio de caráter,...) já os franceses a colocaram como síndrome de
instabilidade psicomotora (distúrbio da conduta e do comportamento além de
ligações com distúrbio de aprendizagem).
Já 1957 foi dita sintomática, mas em 1966 mudou para sindrômica. Surge uma
síndrome
com
características
de
desorganização
total,
mas
com
uma
hiperatividade, instabilidade e impulsividade bem destacadas.
3.6 Distúrbios( DCM)
Primeiro foi conhecida como lesões cerebrais mínimas, mas esse nome foi
modificado para disfunção cerebral mínima.
• Características
- Distúrbio do comportamento motor, hiperatividade e alterações na coordenação.
- Distúrbio da atenção e perceptivos.
- Distúrbios de aprendizagem escolar.
- Distúrbios do controle dos impulsos.
- Alterações das relações interpessoais.
- Distúrbios afetivos.
P H Wender( in José E. e Coelho M.T,p.: 241,1999), separa pelos sintomas
neurológicos, se é leve, ou, importante, e, com o somatório de interações
orgânicas e psicogenéticas.
DCM reativa
não há questão neurológica e sim comportamental em relação
aos ambientes e seus conflitos psíquicos.
DCM sintomática
ligam-se a um retardo mental, uma esquizofrenia.
Os autores apresentam posições diferentes onde um grupo acredita limitar este
diagnóstico hipercinético onde o grave liga-se a outros elementos. Já outro grupo
a hipercinesia liga-se aos distúrbios psicológicos. No geral o cognitivo na
integração conceitual é precário e as hiperativas fazem estratégias e solucionam
seus problemas de forma não tão rápidos como os outros. Valorizam pela idade
individual e evolução. Não há lesão neurológica nos estados hipercinéticos e nos
dias de hoje é chamada de disfunção cerebral. Seria uma disfunção no
metabolismo da norepinefrina de origem genética no sistema de vigília, da
sensibilidade. É importante frisar que só o eletro sem considerar as perturbações
tônico-motoras, psicomotoras e afetivas não tem calor, só o conjunto identifica,
independente do nome dado a com uso de medicações psicotônicas (anfetaminas,
ocorreram melhoras).
Apesar das várias opiniões e estudos sobre o assunto o que se pode dizer é que
quanto aos distúrbios psicomotores em seu conjunto varia do neurológico e o
psiquiátrico entre e que se deseja e o que sofre em relação as vivenciadas.
Não se deve dizer que a hipercinesia é puramente motora, nem colocá-la, nos
variados comportamentos sem levar em consideração a afetividade e as relações
com o ambiente.
3.7 Distúrbios da Realização Motora
Distúrbio da eficiência motora na desorganização das praxias.
Tanto as encefalopatias, como retardo motor e mental. O retardo das
evoluções acompanha a inteligência elaborando assim um paralelo no psicomotor.
3.8 Apraxias Infantis
Apraxia das realizações motoras acontece sem alteração do esquema corporal,
mas em paralelo ao déficit motor neurológico podendo atingir a
organização
motora. Ocorre falta de coordenação com movimentos lentos e desajeitados.
Apraxia construtiva: Acontece isoladamente, junto a uma lateralidade
mal estabelecida, dificuldade de gnosia nas extremidades distais, dificuldade em
gestos.
3.9 Cinesias Espaciais
Desorganiza o gesto em paralelo a falta de organização do esquema
corpora. Interfere na seqüência elementar da execução da tarefa. Dificuldades de
atar, abotoar e ordenar a roupa. Quanto ao esquema corporal, não conseguem
apontar as partes do corpo em alguns casos.
Apraxias especializadas direcionam-se a uma parte do corpo ou a parte gestual,
estas, são a apraxia facial, postural, objetiva e verbal.
Os distúrbios práxicos ocupam área intermediária onde se combinam gestos e
atitudes o que interfere é a pré-figuração do ato na concepção espacial e
temporal.
Já, as dispraxias, que são os distúrbios das apraxias não é a desintegração
da função realizada. Neurologicamente tem-se um, onde, as crianças apresentam
dificuldades motoras explicadas psicologicamente, e, outro, onde, só se percebe a
problemática, quando se exige precisão nas tarefas executadas.
Há casos onde o psicológico é afetado, é bem mais complexo, onde se
afeta muito o esquema corporal.
3.10 A Escrita e seus Distúrbios
Tanto a escrita como o grafismo depende da execução motora para que dê
forma a escrita e praxia e linguagem e depende de organização da motricidade e
de uma coordenação fina além da área espacial que envolve.
Na escrita considera-se a força, a coordenação e a organização dos
movimentos, rapidez, ritmo e forma. É um movimento direcionado com
organização.
Quando a escrita é deficiente, onde a criança não apresenta problemas
neurológicos e nem intelectivos, diz que é disgráfica, são crianças impulsivas, às
vezes lentas.
IV - A relação do brinquedo com a aprendizagem
Esse texto é baseado em monografia, in Figueiredo,1998. Todo brinquedo é
educativo, ou seja, sempre há em qualquer brinquedo um conjunto de relações
implícitas ou explícitas a serem assimiladas ou transformadas pela criança.
Contudo ela tenderá a assumir com plenitude suas mais significativas funções
educativas, na medida em que engendrar mistérios capazes, de sugerir diferentes
recriações por parte da criança.
O brinquedo estimula a inteligência porque faz com que a criança solte sua
imaginação e desenvolva a criatividade.
Ele proporciona o aprender fazendo-o para ser o melhor, o mais proveitoso
e conveniente, oferece atividades dinâmicas e desafiadoras, que exigem
participação ativa da criança.
As situações problemas contidas na manipulação de certas matérias se
estiverem adequados às necessidades do desenvolvimento da criança, fazem-na
crescer através da procura de soluções e de alternativas, mas ao mesmo tempo
possibilita exercícios de concentração e de atenção. Distrai porque oferece uma
saída para a tensão provocada pela pressão do contexto adulto, possibilita
exercícios de atenção e concentração, porque leva a criança a absorver-se na
atividade.
Pode-se aumentar gradativamente a capacidade para a criança permanecer
em uma mesma atividade fornecendo-se inicialmente, brinquedos que exijam
menos tempo para que as atividades sejam realizadas e, à medida que a criança
consegue executá-las, oferecer jogos que solicitem maior tempo de utilização.
Com conseqüência da realização de uma atividade agradável e que
provocou concentração, a criança fica mais calma e relaxada.
Para que um brinquedo seja significativo para a criança, é preciso que
tenha pontos de contatos com sua realidade.
V-A
Importância
do
brincar
no
desenvolvimento
psicomotor.
Esse texto é baseado em monografia, in Figueiredo,1998.
Segundo a visão de Helena Saldanha Marinho, é através do ato de brincar
que a criança cria condições de desenvolver as suas próprias potencialidades e
de descobrir o mundo, criando soluções, fantasias, aguçando sua curiosidade,
expressando seus sentimentos. É nesse momento que os sonhos surgem, e a
imaginação vai longe, tudo é festa, é alegria. A partir desse momento a criança
expressa o seu eu, sua personalidade, cria socializações com o outro.
Em todo o momento que a criança brinca ela aprende, se desenvolve. É o
cantar, fantasiar, deixar a imaginação aflorar, é certo que cada vez mais esse
espaço fica restrito, mas isto serve de alerta para que se encontre alternativa para
o
desenvolvimento
infantil
ser
completo,
pois
brincar
é
vital
para
o
desenvolvimento infantil. No momento do brincar a criança exercita o cérebro,
desenvolve sua linguagem, expressa sentimentos, descobre seu eu, seus limites,
frustrações, alegrias e aprende a competir.
O brincar inicia desde o nascimento, a princípio funciona o binômio mãebebê, e aos poucos isso é ampliado. Esse brincar colabora com o
desenvolvimento global e é essencial para um bom desenvolvimento psicomotor.
O corpo e a mente necessitam de vivências lúdicas.
É através do brincar que a psicomotricidade, encontra formas de relação entre
adultos e crianças, sem contar que através desse trabalho lúdico e espontâneo
por parte da criança, podem-se traçar metas e colaborar precavendo e tratando as
dificuldades das crianças principalmente no que diz respeito à coordenação global
e harmonia corporal.
Pode-se desenvolver trabalhos com inúmeras brincadeiras
e que
apresentam ganhos incríveis, o trabalho psicomotor pode ser desenvolvido através
de parlendas, travalínguas, advinhas, provérbios, construção de brinquedos com
sucata, fórmulas de escolha, jogos,etc....
VI- Educação e Reeducação Psicomotora
Quando se fala de educação psicomotora, fala-se de todo e qualquer
aprendizado individual ou coletivo que acontece com o ser humano; é uma
abrangência global a nível biopsicosocial maturacional evolutiva.
No caso da reeducação é primordial, quando necessário, fazê-la o mais
precoce possível para que se consiga adquirir estruturas motoras e intelectuais
corretas. Caso o tempo passe e demore a fazer a reeducação, com certeza, o
quadro dessa criança piora progressivamente, pois o seu desenvolvimento se
torna cada vez mais desastroso e o meio vai cobrar dessa criança, fazendo com
que ela se angustie cada vez mais; o seu psíquico será bastante afetado. A
negligência dos responsáveis nesses casos, deixa nítido o abandono a elas na
sua dificuldade de viver.
Nos casos afetivos é primordial a reeducação.
É necessário diagnosticar as causas e tudo que envolve a criança inclusive
suas carências afetivas, antes de se iniciar a reeducação, pois será através dessa
reeducação que a criança desabrochará para a vida ficando feliz onde quer que
esteja.
Antes de qualquer coisa é necessário que o
psicomotricista consiga, a princípio com muito cuidado,
o contato inicial que deve ser gradativo, afetuoso,
respeitando, sobretudo a criança, no seu limite. E nada
mais afetuoso de que carinho e à atenção através do
lúdico, do brincar, dividindo a mesma brincadeira. Caso
contrário, à criança criará um bloqueio que não permitirá
o acesso, e uma boa construção, na reeducação.
Na faixa etária de 2 a 4 anos, a criança se prepara para a pré-escola, o
mundo para ela aumenta de forma gradativa.
É esta a etapa do corpo vivido, onde a criança organiza o seu eu através do
seu esquema corporal onde se deve deixá-la descobrir os movimentos e as
potencialidades do seu corpo de forma livre através do andar, do correr, dos
saltos, jogos com bola, equilíbrio, trabalhar a inibição motora, a harmonia desse
corpo.
É importante usar também brinquedos que chamam atenção da criança
(boneca, bola, jogos de encaixe,...) direcionando-os através do brincar ao seu
objetivo.
Depois dessa etapa inicial de esquema corporal, quando a criança conhece
partes do corpo e consegue se colocar neste ambiente pode-se ir para a segunda
etapa que é a orientação espaço temporal, onde já aos quatro anos apura os
sentidos do olfato gustativo, auditivo e tátil. Inicia-se também o aprendizado da
propriocepção onde internamente ela passa a reconhecer seus movimentos.
Como exemplo temos a brincadeira do escultor onde o terapeuta a molda com os
seus olhos fechados para que ela sinta seu corpo e reproduza em seu interior.
Pode-se trabalhar também a lateralidade, que se inicia também aos quatro,
onde ela descobrirá aos poucos seu lado dominante, de forma que o equilibre com
o não dominante.
Deve ser feito de forma lúdica onde são usados pulos, corridas, jogo da
amarelinha, jogos com enfoque aos membros superiores.
Outra etapa importante, nessa reeducação quando necessária é a questão
da estruturação espacial que nesta faixa etária inicia o conhecimento das noções
espaciais, que a princípio é fazer com que essa criança identifique e conheça o
ambiente em que esta. As noções de situação (ex: dentro/fora; longe), de
tamanho, de posição, de movimento, de formas, de quantidade, também são
importantes. Deve-se trabalhar com materiais concretos que façam com que a
criança perceba diferenças nas espessuras, formas, cores, tamanhos, trabalhar as
progressões (altura, tamanhos,...)
Aos quatro anos iniciam-se as noções de situação de plano, trabalha-se
através de loto de posições. Já as situações de três dimensões, como as noções
de perspectiva. Trabalham-se também reproduções, reconstituições, através de
desenho, quebra cabeça.
É o início também da orientação espacial, pois ela aprendeu as
denominações usadas, agora se deve orientar-se e estabelecer em relação às
coisas. Surge a noção de fila. A memória espacial se inicia nesta fase também por
isso pode-se trabalhar através de brincadeiras com dança, corrida, pulos, ou
melhor, com o seu próprio corpo. Deve-se também brincar com o ambiente,
memorizando-o. A memória perceptiva é iniciada nesta fase, nela se trabalha com
o ambiente e objetos, tirando-os para que a criança descubra qual é, pode-se
fazer esta mesma, só que com crianças em grupo.
A questão da organização espacial nesta fase esta sendo iniciada também,
agora é preciso combinar as diversas orientações, os espaços são prédeterminados.
A orientação temporal na questão da ordem e sucessão (antes, depois,
primeiro, segundo,...), faz uso de ontem, hoje e amanhã, reconstitui e reproduz as
ordens das coisas, do que é pedido (vista, escutadas, ouvidas,...). Arrumar na
ordem cronológica os fatos, perceber o tempo de duração, aprendizagem da hora.
Associações de materiais com períodos (manhã, noite, estações). Usar o quando
na interrogativa, sempre através do lúdico. O ritmo através de sons, marchas.
A pré-escrita também se inicia nesse final de etapa onde as crianças devem
trabalhar a força muscular, a flexibilidade articular para que possa entrar bem
estruturada na escrita propriamente dita. Deve-se trabalhar cada articulação
(ombros, punhos, dedos) de forma lúdica, a plasticina (massinha) é uma excelente
aliada. Depois de bem trabalhado é que se inicia o grafismo, onde, a princípio,
trabalha-se com traçados na horizontal, vertical, quadrado, semicírculos, círculos.
Como já foi dito, ao ser reeducar uma criança antes de qualquer coisa é
necessário observá-la, analisá-la, descobrindo as causas para daí direcionar a
reeducação. É uma análise ampla e que deve ser feita de forma criteriosa.
Na psicomotricidade os transtornos apresentam necessidade de uma
educação, e até mesmo uma reeducação.
6.1 Transtornos Motores
Atraso no desenvolvimento psicomotor.
• Sintomas: Debilidade intelectual que leva a um atraso motor psicológico.
• Reeducação: É baseada em estímulos
sensórios-motores, estímulos
motores por movimentos e amparado sempre pelo afeto. Deve-se trabalhar
também a percepção desse corpo em relação ao mundo. Não esquecendo nunca
o esquema corporal.
6.2 Grandes Déficits Motores
Por paralisias, hemiplegias,...
• Sintomas: Causas neonatais.
• Reeducação: Deve-se incentivar a se aproximar do normal, respeitando seus
limites através da consciência do esquema corporal e o seu eixo, trabalha-se
também a estruturação espacial. A nível motor trabalhar o “corpo vivido”( L.
Boulch,1992), através de destrezas e coordenação. A nível corporal trabalha-se
esquema corporal, e com desenhos para perceber como é para ele o problema, e
sua evolução com o trabalho psicomotor. A lateralidade, que ajudará no eixo
corporal. Ao nível de estruturação espacial, pois ela não tem uma boa integração
do lado que está afetado.
6.3 Transtornos no Equilíbrio
• Sintomas: Motores – por problemas de fundo neurológico e sensibilidade
proprioceptiva.
Psicológicas – insegurança, afeto, falta de concentração.
•Reeducação: Deve-se trabalhar a propriocepção, o equilíbrio, o corpo de
forma global, nunca deixando de dar segurança e afeto.
6.4 Transtornos de Coordenação
• Sintomas: Subjetivos – falta de gestos harmônicos, desajeitada, habilidades
manuais falhas.
Objetivos – descronometria (atraso de desencadeamento do
movimento quando pára).
- dismetria (não localiza o movimento)
• Hipermetria = passa do ponto
• Hipometria = não chega ao ponto
- assinergia (incoordenação de movimentos)
- adiadococinesia (dificuldade de fazer movimentos
alternados.
• Causas: neurológicas – vestibulares ou cerebelosas.
sensibilidade – superficial ou profunda.
psicológica – ansiedade, insegurança.
• Reeducação: Trabalha-se a confiança em seus movimentos, através de
movimentos globais, coordenação e motricidade fina, além de exercícios
preparatórios da pré-escrita.
6.5 Transtornos de Sensibilidade
Quando a criança não executa gestos que mostramos, só pelo espelho,
derruba objetos quando segura, costuma torcer os tornozelos, é sensível ao
contato. Acriança pode apresentar dificuldade ou inabilidade.
• Sintomas: Não consegue se fixar, nem executar nenhum movimento com os
olhos fechados. Não localiza sensações táteis, não reconhecem formas, nem
objetos desenhados em suas mãos.
• Causas: Motoras ou Neurológicas.
• Reeducação: Exercícios de reconhecimento interno, tátil, posições, equilíbrio,
coordenação, destreza, exercícios com olhos vendados,...
6.6 Transtornos Intelectivos
Podem ser leves, moderados e profundos, sempre demonstram realizações
de idades menores que a sua.
• Causas: Neonatais, alcoolismo, encefalite, meningite, hemorragia cerebral.
• Reeducação: Exercícios motores amplos, memória de identificação sonora,
tátil.
Transtornos de Esquema Corporal
• Causas: Motoras, intelectuais e afetivas.
• Reeducação: Trabalhar o esquema corporal de acordo com a necessidade
da criança baseando-se na afetividade. Trabalha-se também a lateralidade,
estruturação espacial e temporal.
6.7 Transtornos de Lateralidade
• Causas: Motoras, neurológicas, sociais e psicológicas.
• Sintomas: Problemas de direita e esquerda, desajeitada usa as duas mãos
para realizar a tarefa (não tem preferência), insegura na escolha.
• Reeducação: Trabalhar a lateralidade, no seu lado dominante, gestos no
espelho, esquerda/direita, discriminação visual, direção gráfica.
6.8 Transtornos da Estrutura Espacial
• Causas: Má integração do esquema corporal, problemas de lateralidade,
psicológica.
• Reeducação: Exercícios de estruturação espacial, porém deve-se direcionálos ao tipo de problema que acontece com a criança.
A criança provavelmente terá problemas na organização da matemática e
concordância verbal.
6.9 Transtornos de Orientação Espacial
• Causas: Motoras – ritmo respiratório irregular, problemas auditivos.
Psicomotoras – orientação e organização espacial.
Psicológicas – afetividade.
• Reeducação: Será feita por meio da orientação espacial dependendo do
quadro apresentado.
6.10 Transtornos do Grafismo
• Causas: Incoordenação motora, rigidez dos dedos, transtornos afetivos.
• Causas: Ambiente familiar, escolar.
• Reeducação: Baseia-se na afetividade.
Conclusão
No decorrer deste trabalho fica claro como a atuação psicomotora é
fundamental na educação e na reeducação psicomotora.
É colocado também, a importância
da detecção dos problemas o mais
precoce possível, sem que haja a omissão, ou, mesmo, negligência dos
responsáveis pela criança que devem conduzi-las a um profissional para identificar
o problema e encaminhá-la à terapia quando necessário.
O desenvolvimento do ser humano é fabuloso, pois inúmeras descobertas são
feitas a cada dia e quando este ser tem todo um estímulo biopsicosocial favorável
amparado na afetividade as descobertas fluem de forma espantosa.
A criança deve desde seu nascimento ser estimulada sob todos os aspectos e
não tolhida nem privada principalmente das relações afetivas e do lúdico para que
possa explorar o mundo que a cerca organizando-se e situando-se no mundo.
Finalizando, pode-se dizer que o desenvolvimento neuropsicomotor é muito
importante, pois além de todos os benefícios já mostrados, sobretudo, deixa a
criança feliz.
Bibliografia
ALVES, Fátima. Psicomotricidade :Corpo ação e emoção. RJ: Wak,2003
ANTUNES, Celso. Jogos para a Estimulação das Inteligências Múltiplas.
Petrópolis: Vozes, 1999.
A de Meur e L Staes. Psicomotricidade – educação reeducação. São Paulo:
Manole, 1984.
CANONGIA, Marly Bezerra. Psicomotricidade em Fonoaudiologia. 1986.
FONSECA, V. da. Psicomotricidade – Filogênese, Ontogênese e Retrogênese.
Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.
HERREN & HERREN. Estimulação Psicomotora Precoce. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1989.
JOSÉ,
Elisabete
Dafunção,e,
COELHO,
Maria
Teresa,
Problemas
de
aprendizagem/ Série educação,SP:Editora :Ática,1999.
LE BOULCH, J. O Desenvolvimento Psicomotor do nascimento até 6 anos Porto
Alegre: Artes Médicas, 1986.
LE BOULCH, J. Rumo a uma ciência do movimento humano. Editora Artes
Médicas Sul Ltda. Porto Alegre: 1987.
LEBOVICI, S.;DIATKINE, R. Significado e função do brinquedo na criança. 3 ed.
Porto Alegre: Artes Médicas
LENT ROBERTO, Cem bilhões de neurônios – conceitos fundamentais da
neurociência. Ed. Atheneu. São Paulo, 2004.
MACHADO, Ângelo. Neuroanatomia Funcional. RJ: Atheneu. 1988.
MARINHO, Helena Saldanha. Brincar e Reeducar. Rio de Janeiro: Revinter. 1993.
OLIVEIRA, Paulo Salles. O que é o brinquedo? 2 ed. São Paulo: brasiliense,1989.
Índice
Introdução
Capítulo I
Bases neurológicas
1.1 Sistema nervoso
10
10
1.1.1 Nervos cranianos
17
1.1.1.1 Sensibilidade
17
1.1.2 Tronco cerebral
33
1.1.3 Sistema Nervoso Central
36
1.1.3.1Homeostasia e ou homeostase
40
1.1.4 Sistema Nervoso Autônomo
41
1.2 Sistema motor
43
1.2.1 Tônus
48
1.2.1.1 Função Tônica
50
1.2.2 Músculos
51
1.2.3 Movimentos
52
1.2.4 Cerebelo
56
1.2.5 Núcleos da base
60
Capítulo II
Desenvolvimento infantil
62
2.1 Filogenético e ontogenético
62
2.2 Desenvolvimento infantil e psicomotor
66
2.3 Elementos básicos da psicomotricidade no desenvolvimento
72
Capítulo III
Distúrbios neuropsicomotores
75
3.1 Hábitos Motores Persistentes
79
3.1.1 Ritimias Motoras
79
3.2 Hábitos Motores Pessoais
80
3.2.1 Head banging
80
3.2.2 Tricotilomania
80
3.2.3 Onicofagia
80
3.3 Tiques
81
3.4 Debilidade Motora
83
3.5 Síndrome Hipercinética
84
3.6 Distúrbios( DCM).
84
3.7 Distúrbio de Realização Motora
85
3.8 Apraxias infantis
86
3.9 Cinesias Espaciais
86
3.10
84
A escrita e seus distúrbios.
Capítulo IV
A relação do brinquedo com à aprendizagem
Capítulo V
88
A importância do brincar no desenvolvimento psicomotor
89
Capítulo VI
Educação e reeducação psicomotora
89
6.1 Transtornos motores
92
6.2 Grandes déficits motores
92
6.3 Transtorno de equilíbrio
92
6.4 Transtorno de coordenação
93
6.5 Transtorno de sensibilidade
93
6.6.Transtornos intelectivos
94
6.7 Transtorno de esquema corporal
94
6.8 Transtorno de lateralidade
94
6.9 Transtorno de estruturação espacial
95
6.10 Transtorno do grafismo
95
Conclusão
96
Bibliografia
97
Índice
98