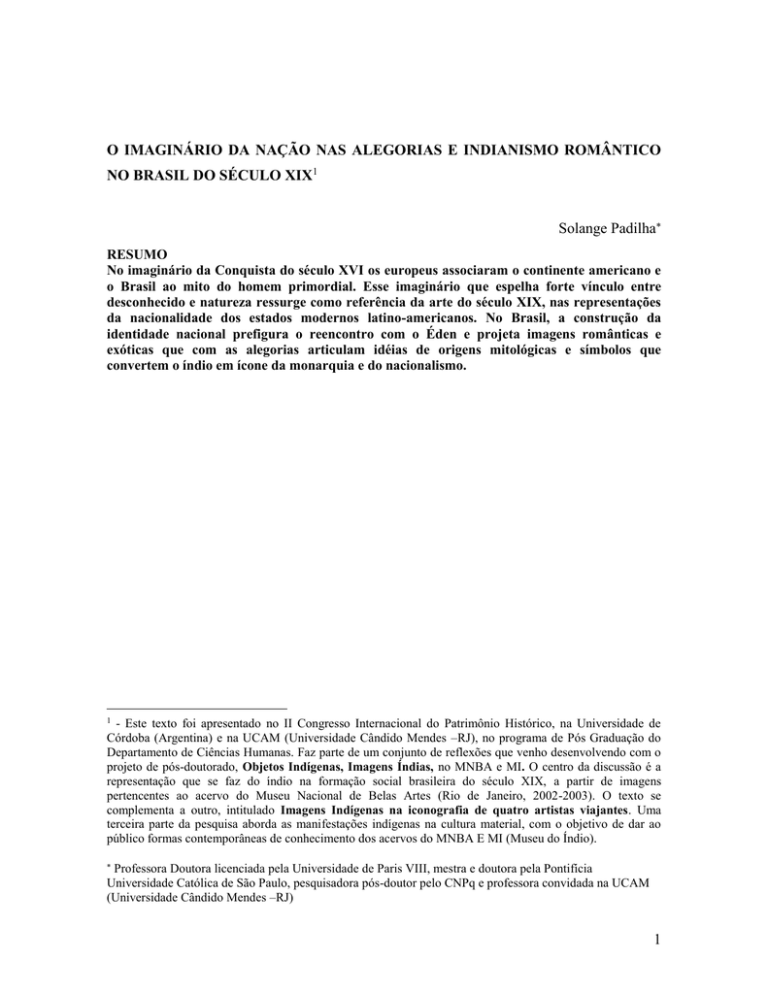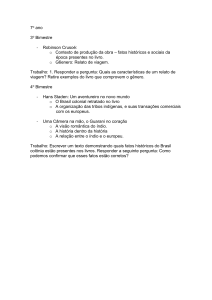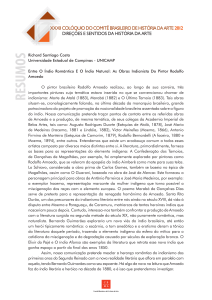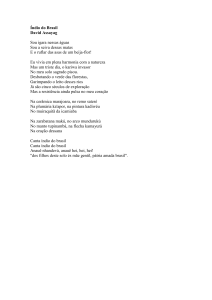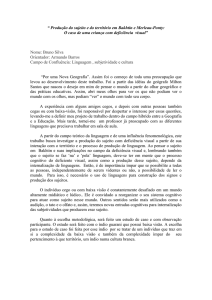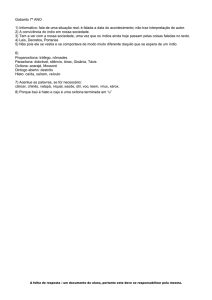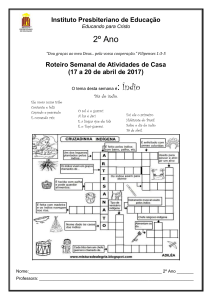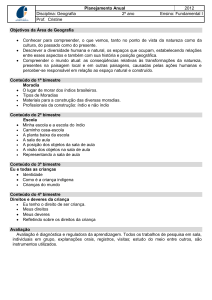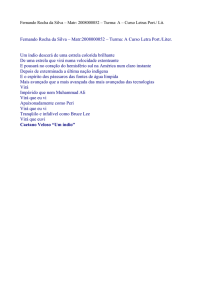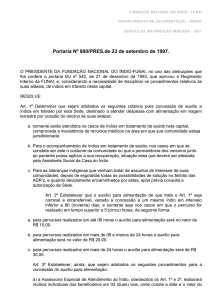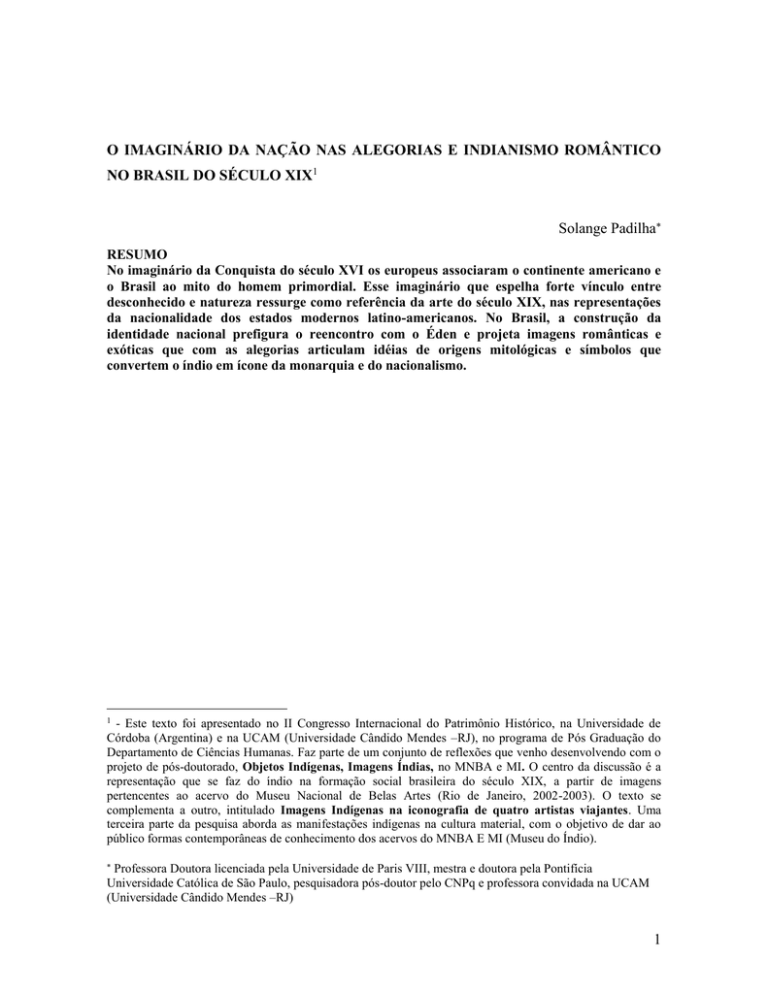
O IMAGINÁRIO DA NAÇÃO NAS ALEGORIAS E INDIANISMO ROMÂNTICO
NO BRASIL DO SÉCULO XIX1
Solange Padilha
RESUMO
No imaginário da Conquista do século XVI os europeus associaram o continente americano e
o Brasil ao mito do homem primordial. Esse imaginário que espelha forte vínculo entre
desconhecido e natureza ressurge como referência da arte do século XIX, nas representações
da nacionalidade dos estados modernos latino-americanos. No Brasil, a construção da
identidade nacional prefigura o reencontro com o Éden e projeta imagens românticas e
exóticas que com as alegorias articulam idéias de origens mitológicas e símbolos que
convertem o índio em ícone da monarquia e do nacionalismo.
1
- Este texto foi apresentado no II Congresso Internacional do Patrimônio Histórico, na Universidade de
Córdoba (Argentina) e na UCAM (Universidade Cândido Mendes –RJ), no programa de Pós Graduação do
Departamento de Ciências Humanas. Faz parte de um conjunto de reflexões que venho desenvolvendo com o
projeto de pós-doutorado, Objetos Indígenas, Imagens Índias, no MNBA e MI. O centro da discussão é a
representação que se faz do índio na formação social brasileira do século XIX, a partir de imagens
pertencentes ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro, 2002-2003). O texto se
complementa a outro, intitulado Imagens Indígenas na iconografia de quatro artistas viajantes. Uma
terceira parte da pesquisa aborda as manifestações indígenas na cultura material, com o objetivo de dar ao
público formas contemporâneas de conhecimento dos acervos do MNBA E MI (Museu do Índio).
Professora Doutora licenciada pela Universidade de Paris VIII, mestra e doutora pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, pesquisadora pós-doutor pelo CNPq e professora convidada na UCAM
(Universidade Cândido Mendes –RJ)
1
INTRODUÇÃO
As alegorias foram imagens comuns na representação do continente americano e do Brasil no início
da conquista européia. Fazem parte da iconografia que tomou o paraíso perdido e reencontrado
como referência.
Em conjunto, essas representações deram ao continente o sabor de uma fantasia provocante e
ambígua encarnando ora, a terra do canibalismo e da barbárie, avessa ao construto da cultura; ora, o
lugar por excelência da harmonia do homem com a natureza e território palpável do Paraíso
desvendado para confirmar as Escrituras. A conquista coincidia com a derrota dos mouros e a
reconquista da Espanha pelos reis católicos Fernão de Aragão e Isabel de Castela que iniciam a
perseguição aos judeus, num momento envolto em doutrinas religiosas entre as quais se sobressaia
o milenarismo do abade Joaquim di Fiori que exerceu forte influência sobre Colombo. O encontro
com Novo Mundo não se limitava ao conhecimento de um novo território, mas no pensamento de
Colombo e de outros conquistadores, oferecia sinais que identificava a idade primeira e o primórdio
dos tempos anunciado por textos proféticos. Malgrado suas seguidas viagens, Colombo continuo até
o fim de seus dias acreditando ter alcançado o Oriente pelo Ocidente e encontrado o Paraíso
Terrestre.
Segundo Darcy Ribeiro, Portugal e Espanha foram Impérios Mercantis Salvacionistas, mergulhados
numa dimensão ideologia mística e épica que reiterava a conquista de novos horizontes comerciais
também como conquista de novas almas para o catolicismo. Para enriquecer esta mística
contribuíam: a beleza da natureza e o ameríndio, o homem do novo mundo. Diários, cartas de
navegadores se referem sistematicamente à formosura das novas terras, a profusão de animais e
vegetais e a temperança do clima. O Brasil é descrito como um imenso jardim de vegetação
luxuriante onde vivem feras dóceis e pessoas inocentes, sem Lei, sem rei, sem Fé que tornavam
ainda mais sedutor o convite à evangelização.
Esses ingredientes chegam ao Velho Mundo através das narrativas dos primeiros viajantes e das
imagens dos gravadores da tradição gráfica flamenga e francesa – das quais se destacam Theodor de
Bry (1592), Marten de Vos, Adriaen Collaert (1600) Étiènne Delaune (1575). Através da estética
renascentista e barroca falam dessa miragem do Paraíso e interpretam o continente com alegorias da
natureza, formas femininas indígenas de beleza clássica ou figuras análogas aos modelos da
antiguidade para descrever visualmente costumes e acontecimentos exóticos. Em resumo, o comum
acordo entre o pensamento profético e a política da conquista mercantilista constituiu uma lente
através da qual a realidade aparecia impregnada pela idéia de Éden e também do inferno que o
sucede. Assim, o antropocentrismo concedia ao homem indígena o papel de alter ego do próprio
homem que, doravante, se abria definitivamente à modernidade. Esta relação paradoxal entre
modernidade e profecia de origem, entre bárbaro e clássico, entre sinal dos tempos de felicidade e
tempo do fim constituíram o modelo imaginário do Brasil durante o período colonial, reaparecendo,
sob novas roupagens, quando ele se torna uma jovem nação.
Uma arte que expresse com imagens a particularidade social e nacional irá acontecer como projeto
político a partir do século XIX. Com a hora emergencial das nações surge a representação dos
anseios de liberdade política e social que tornavam os parâmetros estéticos do barroco
ultrapassados. No Brasil Oitocentista, a complexidade da vida civil desponta com a fabulação da
natureza romântica que se ergue como modelo da identidade nacional, através da linguagem
acadêmica. Origem e liberdade, mitologia e símbolo de raízes culturais projetam no tempo
passado o marco da moderna utopia da origem, propondo com as imagens do índio, uma essência
mítica para a história emergencial, através de uma ótica sentimental. Assim, os artistas laicizados
2
projetaram a nomeação das pluralidades políticas.
A associação entre moderno e primordial constituiu metáforas da nacionalidade que reuniram
caudilhos e figuras primitivas, para falar de heroísmo, independência e conquista da autonomia dos
Estados. Foi muito freqüente naquela época o ressurgimento da linguagem alegórica que, no
entanto, representava no índio o espírito da identidade anti-colonial. Entretanto, a leitura das
alegorias e a representação identitária nutrem - se de mecanismos políticos que projetam as nuanças
dos processos de independência. Assim é que a imagem do índio reflete no imaginário nacional não
exatamente o signo da alteridade, mas conteúdos específicos do processo social e político,
independentemente da realidade indígena.
No Brasil, como sabemos, a independência excluiu a ampliação dos direitos civis e de cidadania ao
conservar o trabalho escravo e o antigo regime monárquico. A elite escravocrata brasileira adotou a
cautela como política buscando evitar rupturas para esquivar-se dos dois grandes fantasmas da
época: a radicalidade da abolição dos escravos no Haiti (1791-1804) de Toussaint L’Overture e
Dessalines cujo sangrento confronto com a elite colonial francesa resultou na esmagadora vitória
dos negros; e, por outro lado, procurou impedir o fracionamento do território que ocorria em vários
países latino-americanos, como conseqüência das lutas de libertação nacional. A escolha de um
compromisso com o poder dos Bragança legava ao príncipe regente o papel de artífice e de
moderador da independência, embora não possamos ignorar os constantes conflitos com a antiga
metrópole, principalmente nos primeiros anos do Primeiro Reinado. Assim, essas particularidades
políticas brasileiras ao invés de projetarem no índio uma identidade anti-colonial tornaram o mito
original da natureza numa representação da face indiscernível da monarquia e do país.
A REPRESENTAÇÃO DO PODER EMERGENTE
A arte acadêmica deu ao país uma imagem oficial a partir do processo de modernização da colônia
e a vinda da família real para o Rio de Janeiro no início do Oitocentos. A Abertura dos Portos
(1808) e o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves (1820) estreitavam as relações comercias
com o mundo, colocando o Brasil na rota do comércio internacional. Novos ares reluziam nas ruas
da cidade, onde se mesclavam nobres, militares, comerciantes e aventureiros. Artistas e cientistas
atraídos pela possibilidade de desenvolverem pesquisas iniciam a valorosíssima produção cientifica
e artística dos viajantes que popularizou costumes nativos e populares, características da sociedade
civil e da paisagem urbana através de uma grande profusão de iconografias e relatos. A
multiplicidade das espécies botânicas revelava a exuberância da floresta tropical e o Rio de Janeiro
tornava-se, junto com Paris, a cidade com maior número de representações naquele século.
Vem dessa época, o desejo das elites constituírem uma linguagem artística cosmopolita que
correspondesse aos anseios culturais despertados com a transferência do príncipe regente para o
Brasil. A complexidade da vida urbana aumentava a demanda de sofisticação e estreitava as
relações entre o mundo do poder e o das artes. A coroa portuguesa ansiando por uma imagem
respeitável se empenhou para concretizar seu projeto convocando o Conde da Barca, representante
da coroa na Inglaterra, o cônsul na França, marquês de Marialva e a proeminente figura de
Alexander Humboldt para articularem diplomaticamente, em Paris, a vinda de artistas franceses ao
Brasil. Assim, em 1816 os esforços da Coroa se consolidavam com o desembarque no Rio de
Janeiro da Missão Artística Francesa dirigida por Joaquim Lebreton. Oriundos do império
napoleônico derrotado, os artistas franceses faziam parte de um grupo de ativistas da estética
neoclássica que, por ironia do destino, terminariam como servidores da monarquia escravocrata.
Ocupar-se-ão de sistematizar a iconografia do poder, e de construir uma estética eficaz para a
comunicação entre a Coroa e seus súditos. Ao mesmo tempo, e, malgrado a resistência dos artistas
portugueses, iniciariam a formação acadêmica de artistas plásticos brasileiros, através da criação de
3
uma Escola de Belas Artes, a segunda experiência do ensino das artes na América Latina. 2
Jean Baptiste Debret e Grandjean de Montigny serão os principais responsáveis pelas obras que
darão ao Rio de Janeiro um novo perfil. Introduziriam modificações urbanas através de arcos do
triunfo e obeliscos que davam ao espaço uma teatralidade que proporcionava à monarquia o verniz
da suntuosidade almejada, além de atrair os populares. Já na coroação de D. João VI (1818) Debret
realizou os primeiros cenários neoclássicos, compondo arcadas recobertas com veludos e pinturas
alegóricas. Ele projeta emblemas, símbolos oficiais e uma iconografia cujos temas mais freqüentes
são as cenas de celebração e os retratos. Paralelamente, emprega parte do seu tempo na
representação do mundo urbano e da sociabilidade brasileira. Surge com Debret uma verdadeira
crônica visual das relações escravocratas, através de aquarelas sobre o trabalho do escravo urbano,
além de seus desenhos de indígenas, cujo valor documental é bem menos importante. Muito
importantes são também as aquarelas de Rugendas, Von Martius e Spix, Maximiliano WiedNewied, Hercules Florence e Adrien Taunay sobre os indígenas.
Durante o reinado de D. Pedro I a arte esteve sob forte influência dos artistas da Missão Francesa e
dos artistas viajantes. O índio é um tema constante na linguagem dos leques comemorativos,
aparecendo como alegoria da monarquia e do país É muito conhecida a peça sobre a independência,
do acervo do Museu Histórico Nacional (RJ), onde um indígena oferece a coroa ao Imperador,
simbolizando a fidelidade do Brasil ao monarca3.
Dentre as obras que celebraram a independência do Brasil, o Pano de boca para a representação
extraordinária dada no teatro da corte por ocasião da coroação de Pedro I em 1822 de Jean
Baptiste Debret projeta os acontecimentos políticos com uma alegoria feminina 4. A obra
encomendada por José Bonifácio três meses depois do grito do Ipiranga veio substituir uma antiga
cortina do teatro, reproduzindo um rei de Portugal. Debret concebeu-a no cenário da Natureza como
um elogio à monarquia. Através da linguagem neoclássica ele fez contracenar cariátides, anjos,
representações do povo e símbolos do império e da fortuna. A cena é uma evocação do apoio ao
imperador. O manto verde bordado em ouro dos Bragança, o escudo real e a espada, a carta da
constituição, a justiça e o comércio idealizam o monarca “iluminista”, enquanto a barca carregada
de sacas de café, os maços de cana de açúcar, a família de negros usando instrumentos de trabalho e
armas, o pedido popular de proteção para o recém-nascido, uma índia, os gêmeos e alimentos que
abundam as escadarias fantasiam, por sua vez, o apoio popular, a fartura e um futuro promissor. Em
torno do trono, índios e forças militares formam a muralha compacta de forças “tribalizadas” que
protegem o Imperador. O índio nesta alegoria tem como atribuição ser a massa uniforme e anônima
de sustentação do regime e, sua imagem, segue coerentemente o papel que assumiu na realidade da
colônia, de aliado dos portugueses para protegê-los dos ataques corsários e invasores do território
nacional. No Brasil que floresce, a representação do índio protetor do império do Brasil é uma
projeção semelhante àquela dada a ele pelo poder colonial: ser o escudo dos colonialistas.
O elogio que espelha no “pano de boca” a idealização do compromisso entre povo e poder extraia
da realidade política apenas uma fantasia amena. Sabe-se do caráter oficial desta obra e também das
manifestações populares de apoio a D. Pedro I, nos primeiros meses de seu reinado. Porém, sabe-se
também, que a permanência do regime monárquico depois da independência refletiu a continuidade
2
- A Academia Real de São Carlos criada em 1785 na cidade do México foi a primeira escola de arte
acadêmica criada na América e a única do período colonial e é considerada como uma das instituições que
geraram as idéias da independência política do México.
3
- Informações sobre esta peça foram fornecidas por Vera Lima do MHN (Museu Histórico Nacional) e por
Maurício Vicente Ferreira Júnior (chefe do setor de museologia do Museu Imperial (Petrópolis).
4
- É conhecido o esboço do projeto através da litografia em papel, medindo16 x 31,7 cm.
4
de estruturas econômicas do período colonial, sem que se modificassem as condições de vida dos
escravos, índios e pobres que permanecerão excluídos da cidadania e submetidos aos preconceitos
sociais e raciais. Portanto, nossa independência se projeta na fantasia de Debret como um hino
exaltação à ideologia paternalista da monarquia e na base de sustentação aparece a obediência da
sociedade nacional às classes dominantes que, seguramente, aplaudiram demoradamente a tela do
artista ao cair o pano da cortina do teatro.
DA ORIGEM À NACIONALIDADE
Malgrado esses ensaios alegóricos, os laços que unirão a arte aos interesses do Estado estavam
ainda, no primeiro império, em fase de consolidação. Também em termos estéticos, há um processo
de adaptação, na medida em que os códigos do neoclássico tornavam-se anacrônicos quando
aplicados á realidade brasileira. É no segundo reinado que a expressão alegórica irá partilhar com o
Romantismo do encontro com o sentimento patriótico. No imaginário conservador a idéia de Nação
amadurece a cooptação do bom selvagem rousseaniano, tornando freqüente a identificação entre
índio e monarquia nas linguagens alegóricas. As relações do regime com a classe artística se
estreitam através da Academia Imperial de Belas Artes cuja criação acontecerá finalmente em 1826.
O mecenato do imperador promove o pólo artístico burguês, amplia as atividades artísticas dos
salões e os prêmios para fora do país, obtendo como resultado, obras que funcionarão como espelho
do Brasil. Assim, a AIBA tornar-se-á o celeiro das imagens da identidade monárquica e nacional.
OS DIFERENTES FORMATOS
Os quadros de batalhas pertencem ao gênero mais apreciado pelo poder. Projetos de grande porte
são encomendados pelo governo para exaltar honras militares e o monumental das telas fala por si
da importância do tema na propaganda política. Combate Naval do Riachuelo, Passagem do
Humaitá, Batalha dos Guararapes, Batalha do Avaí de Victor Meirelles e Pedro Américo
mostram o esforço de dois grandes artistas na edificação do culto ao herói e à Nação. O caráter
oficial desses quadros era equilibrado por um conteúdo de crônica, quase anedótico, no qual o
artista exercia certa liberdade criativa, se distanciando dos aspectos solenes. Um exemplo conhecido
e propagandeado pelos guias do Museu de Belas Artes é a Batalha do Avaí (óleo s/ tela - 600 cm x
1100 cm - 1872-77), onde Pedro Américo representa o rosto de Tiradentes entre os mortos na
batalha, critica Duque de Caxias na representação de sua farda desleixadamente aberta; e, se auto retrata entre os soldados. Porém, evidentemente, a importância principal do gênero expressava a
pomposa construção do sentimento de nacionalidade.
Paralelamente, a romantização das origens (Bosi:1992) constituiu uma das temáticas preferidas do
Romantismo. Na Europa ela provocou o retorno à Idade Média e aos personagens servis; o desejo
de romper limites territoriais, um incentivo a evasão; o conhecimento e o individualismo
característico da desesperança simbolista. No Brasil, ela fez desabrochar o Descobrimento como
argumento de defesa do espaço da identidade: um lugar cuja territorialidade existia como nomeação
de uma subjetividade nacional.
Com a pintura de batalhas e de história, a estatuária em via pública foi um pilar imagético do poder
no Rio de Janeiro. As estátuas erguidas nas praças e nos jardins, desincumbiam o papel de marcos
da ideológica militarizada. Em algumas delas, estátuas indígenas foram usadas como alegorias do
país. É o caso do primeiro monumento erguido no Rio de Janeiro (1862) em homenagem a D.
Pedro I, hoje ocupando o centro da Praça Tiradentes, cuja concepção original de João Mafra previa
uma visão histórica da proclamação da Independência, com Pedro I acompanhado pelos cidadãos
que colaboraram com a causa. Entretanto, esta idéia que retrata a virtude cívica perdeu-se no meio
do caminho e Luis Rochet, escultor responsável pela execução da estátua na França, transformou o
desenho original num panteão indígena sobre o qual a identidade nacional se sustenta. O
monumento foi concebido por elementos que se opõe e se complementam: a estátua eqüestre de D.
5
Pedro I no topo, e o território mítico representado através das figuras indígenas que servem de
metáforas dos grandes rios Amazonas, São Francisco, Madeira e Paraná. O postulado Cívico e
espiritualidade da Natureza tropical são esteticamente polarizados para criar uma unidade entre os
gestos teatrais da proclamação e a gestalt da contemplação. A palavra abaixo de cada rio torna
explícito o sentido alegórico, aliás, única forma possível de unir num cenário oficial índios e
monarca.
O modelo do bom selvagem aparece ainda em várias esculturas da época, sendo a mais expressiva,
Alegoria do Império (Chaves Pinheiro, 1872), onde um índio empunha o cetro, a insígnia do
dragão, o brasão e o manto do Imperador. Vale citar também, um outro monumento que identifica o
índio à independência, na alegoria projetada na Praça Castro Alves, em Salvador, para celebrar as
jornadas de 28 de setembro e a resistência dos soteropolitanos aos portugueses. É um dos poucos
exemplos mostrando o índio como emblema do sentimento anti-colonial. O monumento também
traça um jogo entre as formas que estão em cima e as da base. No topo de um alto obelisco, um
índio “caboclinho” executa solitariamente movimentos de uma dança guerreira, enquanto na parte
de baixo as figuras representam fatos históricos e literários da fundação de Salvador, se destacando
entre elas a personagem de Paraguaçu, que assume também sua identidade cristã como Catarina.
Aqui se mesclam os símbolos nacionais e territoriais: a nação e a cidade sob o mesmo prisma da
história que se mitifica tendo o índio como emblema inequívoco da independência política.
O INDIANISMO ROMÂNTICO
A temática do Romantismo nas artes plásticas sofreu importante influência da literatura e da
história. As imagens de Victor Meirelles, Pedro Américo, Rodolfo Amoedo, Augusto Rodrigues
Duarte, José Maria Medeiros, irmãos Bernardelli, Chaves Pinheiro evocaram a brasilidade
emergente evocando José de Alencar (Iracema, O Guarani, Ubirajara, o Jesuíta), Gonçalves
Dias (I Juca Pirama), Gonçalves de Magalhães (Confederação dos Tamoios); Araújo Porto
Alegre e Pereira da Silva (na revista Niterói - 1836 - 1892) e também do poema Caramuru (1781),
escrito ainda no século XVIII por Frei José de Santa Rita Durão, um épico da fundação de Salvador
e das peripécias de Diogo Álvares Correia, obra inspiradora da estatuária “vinte e oito de
setembro”, citada no último parágrafo.
As características formais dos românticos da Escola Imperial de Belas Artes deram ênfase à
expressividade da luz, ao traço orgânico e as cores vibrantes que enalteciam o sentimento
apaixonado de uma estética oposta à precisão e nitidez fria e exemplar do neoclássico. O paradigma
da emoção sobre a razão valorizou ainda a beleza da mulher indígena, aspectos religiosos e morais,
a bravura e pureza da alma humana.
A morte foi um dos temas preferidos do indianismo, com uma grande quantidade de quadros
representando o indígena morto em conseqüência da sedução amorosa ou de batalhas. O Último
Tamoio (1883 – óleo sobre tela - 180 x 260cm) foi realizado por Rodolfo Amoedo em Paris durante
o período que ele freqüentou ateliês de acadêmicos franceses. Representa a morte de um índio numa
praia deserta do Rio de Janeiro, com um jesuíta que se debruça sobre ele. Este quadro traz
subjacente a realidade histórica da Confederação dos Tamoios (1554-1563) cujo termo, não
corresponde à designação de um grupo étnico, mas o conceito político que significou para os
confederados tupinambás, aimorés e goitacazes revoltados contra a escravidão e o julgo dos
portugueses no século XVI, “aquele que é mais antigo”. A realidade histórica por detrás da cena
tem forte conotação subversiva e numa leitura atual o quadro conjuga o processo de resistência
histórica dos Tamoios ao teor sócio-político dos “mais antigos”.
Entretanto, a intenção de louvação da resistência social ou política, ultrapassaria as intenções de um
artista acadêmico como Amoedo. Sintonizando o quadro com a época, lembramos que o tema
6
inspirou o longo poema de Gonçalves de Magalhães, autor e obra consagrados por Pedro II pela
maneira clássica de abordar o indígena. O retorno ao passado da leitura romântica coloca o elo
sentimental que une religioso e índio, a idéia de superioridade de uma cultura sobre uma outra.
Romântico e defensor do status quo, Amoedo parece exaltar a compaixão cristã, a dor cujo
simbolismo une o padre ao “filho”, muito provavelmente, aludindo a morte do mundo selvagem.
Na concepção formal do quadro, o índio ocupa grande parte da cena, atraindo nosso olhar para o
centro da tela. Uma linha diagonal traçada da esquerda para a direita e outra de cima para baixo
reforçam aspecto do corpo sendo amparado pelo jesuíta. O cenário da praia, as gaivotas ao longe, o
detalhe da tanga desfeita, o sentimento melancólico e a morte aproximam o Último Tamoio do
quadro Moema de Victor Meirelles (1862 – 120 x 190 óleo s/ tela).
A referência à personagem apaixonada por Diogo Álvares Correia, morta afogada pelos esforços de
seguir o barco que rumava para a Europa com seu amado e Paraguaçu, é a obra literária de Santa
Rita Durão, cujo pano de fundo é também a fundação de um território, através da conquista, o da
cidade de Salvador. O idílio entre Caramuru e Paraguaçu celebra a unidade colonial quase perfeita,
tendo como coroamento a conversão de Paraguaçu ao catolicismo. Moema representa, dentro do
triângulo amoroso, as faces mórbida, apaixonada e sensual do feminino. No quadro de Meireles, o
corpo inerte de Moema, se destaca do espaço inferior direito e ocupa o centro da tela através de
uma linha diagonal que corre da direita para a esquerda e outra linha que avança de baixo para
cima, onde a cabeça e os cabelos formam um leque aberto em movimento descendente, ocupando o
espaço inferior do quadro. A oposição simétrica que existe entre esta obra e o Último Tamoio é
clara na composição dos corpos e outros três elementos aumentam a semelhança e intensidade
dramática que existe entre eles: o detalhe da tanga que se desfaz conotando o significado da nudez;
a sinuosidade do movimento do corpo que aumenta a sensação de abandono e o cenário da praia
que acrescenta à morte a subjetividade do retorno à natureza, à areia, terra, chão. Em ambos os
quadros, o modelo foi construído conforme fortes convenções do Romantismo, assim como uma
obra do mexicano Felipe Gutiérrez, A caçadora dos Andes (1891) que lança mão de recursos
análogos para representar a morte de uma nativa solitária. Porém, a semelhança dos detalhes na
obra de Amoedo parece decorrer de uma citação de Meirelles, seu mestre.
Augusto Rodrigues Duarte também se inspirou na literatura, mas desta vez no romance homônimo
de René Chateaubriand (1768 - 1848), publicado em 1801, Exéquias de Atalá (1878 – óleo sobre
tela, 190 cm x 244, 5cm), um clássico da literatura universal. A obra aborda o amor impossível da
índia Atalá por Chactas. A moça encontra o amado e o salva da tortura. Os dois se apaixonam e
fogem para o deserto. Entretanto, Atalá vive o conflito entre a fidelidade ao Deus católico e a
dedicação à paixão humana. A oposição dilacerante entre amor e fé, entre mundo original e valores
ocidentais, culmina com o suicídio de Atalá.
No quadro, dois elementos sinalizam a perda da identidade indígena: a pele embranquecida e o
crucifixo entre as mãos da personagem. O branqueamento era muito comum como atributo de
beleza referenciando o padrão europeu. A cruz é o símbolo que prevalece sobre a união e
continuidade da identidade indígena.
Iracema (1865) é um dos principais romances de José de Alencar. O tema da fundação do Ceará
adquire amplitude continental com o nome da heroína Iracema, que é um anagrama de América. A
virgem da nação Tabajara, sacerdotisa de Tupã, guardiã das águas de jurema e dos frutos do sonho,
um dia vê chegar à sua aldeia, o colonizador português Martim, pelo qual ela se apaixona, apesar
dele ser amigo da tribo Potiguar, inimiga de seu povo. Desse amor nasce o herói mestiço Moacir. A
estilística do romance de Alencar é vigorosa e Machado de Assis considerou-a como um poema em
prosa:
7
“Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba.
Verdes mares, que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas
praias ensombradas de coqueiros;
Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso
resvale à flor das águas.
Onde vai a afouta jangada, que deixa rápida a costa cearense, aberta ao fresco terral a grande
vela?
Onde vai como branca alcíone buscando o rochedo pátrio nas solidões do oceano?
Três entes respiram sobre o frágil lenho que vai singrando veloce, mar em fora.
Um jovem guerreiro cuja tez branca não cora o sangue americano; uma criança e um rafeiro que
viram a luz no berço das florestas, e brincam irmãos, filhos ambos da mesma terra selvagem.
A lufada intermitente traz da praia um eco vibrante, que ressoa entre o marulho das vagas:
-Iracema !
José Maria Medeiros inspirou-se no amor para criar a imagem de Iracema. Outra vez a praia é o
cenário onde a personagem vaga solitária ao lado do arranjo de flores de maracujá, símbolo do
sentimento que a possui. Iracema representa sem disfarces, a mulher de origem indígena Ela é a
imagem do “outro” e nudez e solidão a opõe à mulher branca. Ela é também o oculto, o
conhecimento enigmático de forças da natureza, que ela domina pelo conhecimento da magia e da
propriedade das raízes. O feminino apaixonado aqui representa o mito sacrificial da mulher
indígena que desaparece para “dar a luz” ao povo mestiço, ao Brasil.
Embora a representação e dramaturgia romântica não se proponham a atingir a realidade dos índios,
nem muito menos assumir uma postura crítica da realidade, a insistente repetição da morte nesses
quadros, nos remete à violência da época. Olhando seus personagens em conjunto, eles têm em
comum a perspectiva de estarem apartados da realidade, emudecidos no tempo ou no espaço,
entregues à natureza como num último reduto. Modelos de uma iconografia que recorta o presente
pelo passado, expressam a melancolia do indianismo e são também fragmentos romantizados que
exprimem a malha de sentidos submersos na impotência. De certa forma, é possível ver nessas
imagens metáforas da perda de identidade e inocência: máscaras dos massacres que aconteciam no
segundo império.
Com uma outra linguagem, crua e objetiva, temos na mesma época, a fotografia atuando como
instrumento da “ciência” nas três fotografias que Marcelo Morel apresenta como sendo,
provavelmente, as primeiras tiradas dos índios Botocudos em Paris (1844). São imagens que
formulam uma maneira de “mostrar” o selvagem e a tentativa do fotógrafo de nos dar uma imagem
domesticada do índio, através da roupa, da pose, do enquadramento etc. Como “portrait”
etnográfico do século XIX, a neutralidade do estúdio fotográfico trás para a cena a condição de
objeto do índio e pulveriza aspectos culturais e personalizados daqueles seres humanos. A
domesticação se transfigura em violência no olhar que diz “mais sobre o poder do colonizador do
que do indivíduo e sua cultura5”.
Com uma linguagem moderna e atrevida, o desenhista e jornalista Ângelo Agostini se coloca como
crítico da produção dos artistas acadêmicos e do regime monárquico e abre espaço na imprensa de
oposição, sobretudo na Revista Ilustrada. O índio foi uma caricatura constante do país, seja como
gigante adormecido, seja sugado pelos corruptos. Denunciava manobras parlamentares que
prejudicavam o povo e o país exercendo uma visão contrária daquela dos românticos.Promoveu
campanhas pela Abolição e República evocando a figura da mulher. Sob seu punho a indígena foi
símbolo da abolição no Amazonas e no Ceará (1884). O índio, a mulher, e o negro projetaram a
5
- A referência dessas fotografias está no estudo de Marco Morel publicado pela Revista eletrônica Studium
(UNICAMP).
8
união democrática contra o regime. Agostini era um homem de seu tempo e como crítico impiedoso
denunciava a maneira servil dos acadêmicos se expressarem. Seu estilo mordaz teve forte influência
de Daumier e, do modelo paradigmático da famosa tela de Delacroix (1830), LIBERDADE
GUIANDO O POVO, a partir dos eventos políticos populares que precederam à monarquia de
Luis Felipe. Delacroix deu à Liberdade uma roupagem moderna e revolucionária ao projetá-la como
Mariana, figura símbolo da Revolução Francesa, que guia o Povo no cenário das barricadas
urbanas, sustentando numa das mãos o fuzil e na outra a bandeira branca, azul e vermelha da nação
francesa republicana.
Embora a Abolição dos escravos e a proclamação da República resultem do palpável
amadurecimento da Nação, a visão oficial sobre o índio permaneceu conservadora. Na ideologia
positivista, ele ocupou uma posição servil, infantilizada, dominada pela catequese ou pela
superioridade do sistema racional de pensamento conforme o monumento republicano erguido na
Cinelândia (RJ, 1910) para enaltecer Floriano Peixoto.
BIBLIOGRAFIA
Ades, Dawn, & Buy Brett Stanton Loomis Catin e Rosemary O’Neill – A arte na América Latina:
A era moderna: 1820- 1980. Ed Cosac & Naity Edições, São Paulo, 1997.
Argan, Guilio Carlo – O neoclassicismo Histórico; Romantismo; Histórico; Fotografia. Em A
Arte Moderna. São Paulo, Ed. Companhia das Letras, 1993. pp 21-74 e pp78-82.
Belluzzo, Ana Maria de M. – O Brasil dos Viajantes. Ed Objetiva/Metalivros, 1994.
Bosi, Alfredo – Dialética da Colonização. São Paulo, Companhia das Letras, 1992.
Chauí, Marilena – Profecias e Tempo do Fim. Em A descoberta do homem e do Novo Mundo
(org. Adauto Novaes). São Paulo, Ed. Companhia das Letras, 1998. pp. 453/505
Coli, Jorge – A alegoria da Liberdade. Em Os sentidos da paixão. FUNARTE/Ed. Companhia das
Letras, São Paulo, 1988. Pp.377-416
...........Primeira Missa e a invenção da Descoberta. Em Adauto Novaes (org) A Descoberta do
Homem e do Mundo. São Paulo, Companhia das Letras, 1998, pp. 107-122.
Daniel Ribeiro, Marcus Tadeu – O Romantismo na pintura brasileira do século XIX. Em
Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. nº 29, 2001.
Debret, Jean Baptiste – Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Volume III. Belo Horizonte, Ed.
Itatiaia,1989.
Gullar, Ferreira – Barroco: olhar e vertigem. Em O Olhar, Adauto Novaes (org.) São Paulo,
Companhia das Letras, 1988, pp. 217-224.
Moura de Alencar, Ana Maria – O Romantismo no Brasil: literatura, Artes Plásticas, Música.
Brochura, 1988.
Ribeiro, Darcy – A América e a Civilização – Petrópolis, Ed. Vozes, 1977
Tavares, Ildásio – O Barroco brasileiro. Conferência na Academia Brasileira de Letras. 2003. Xérox
10p.
9