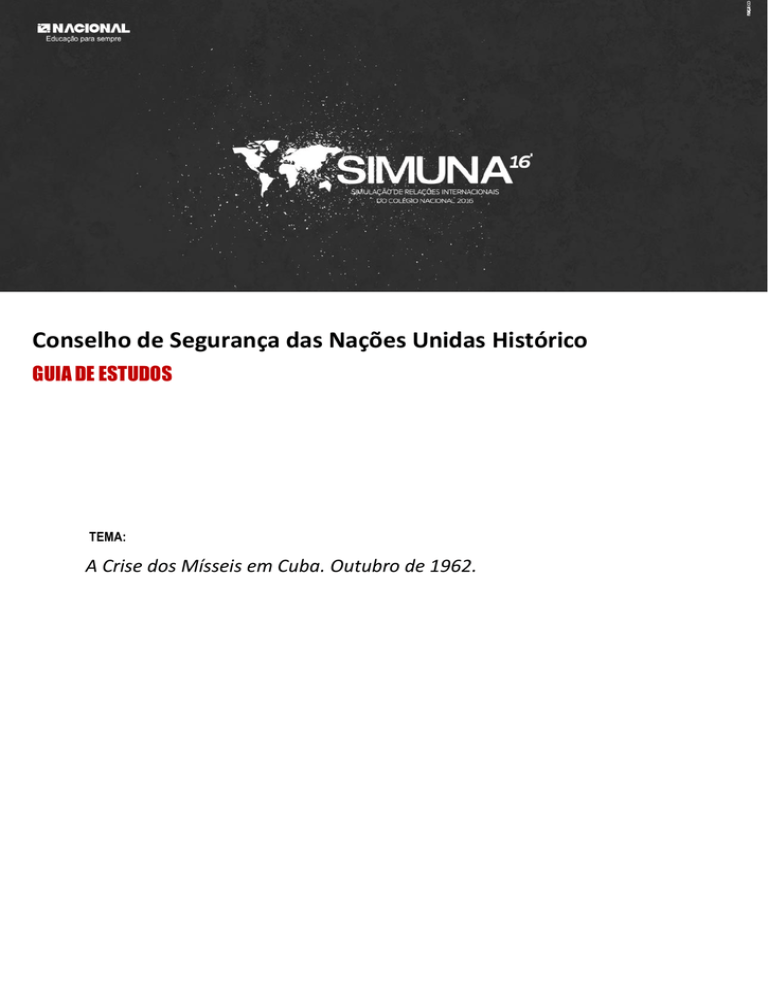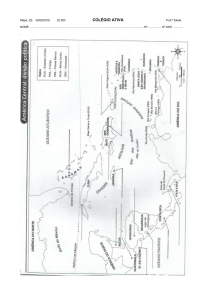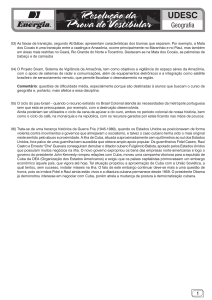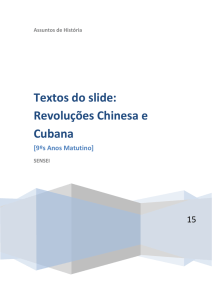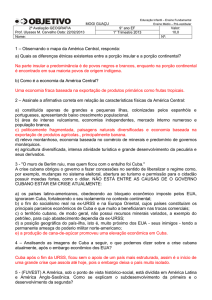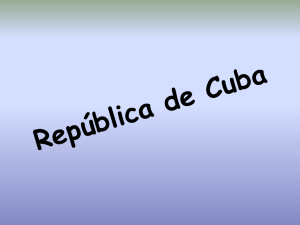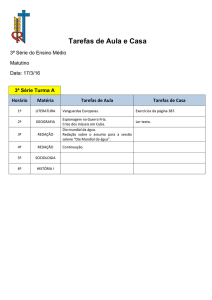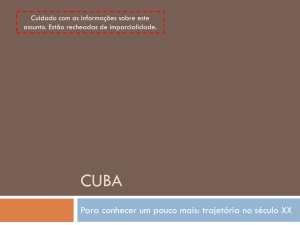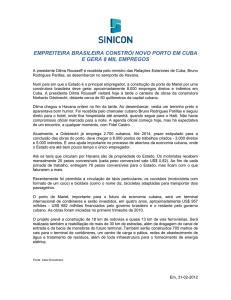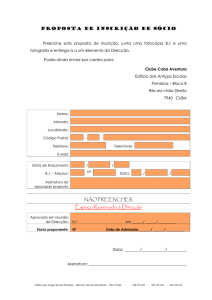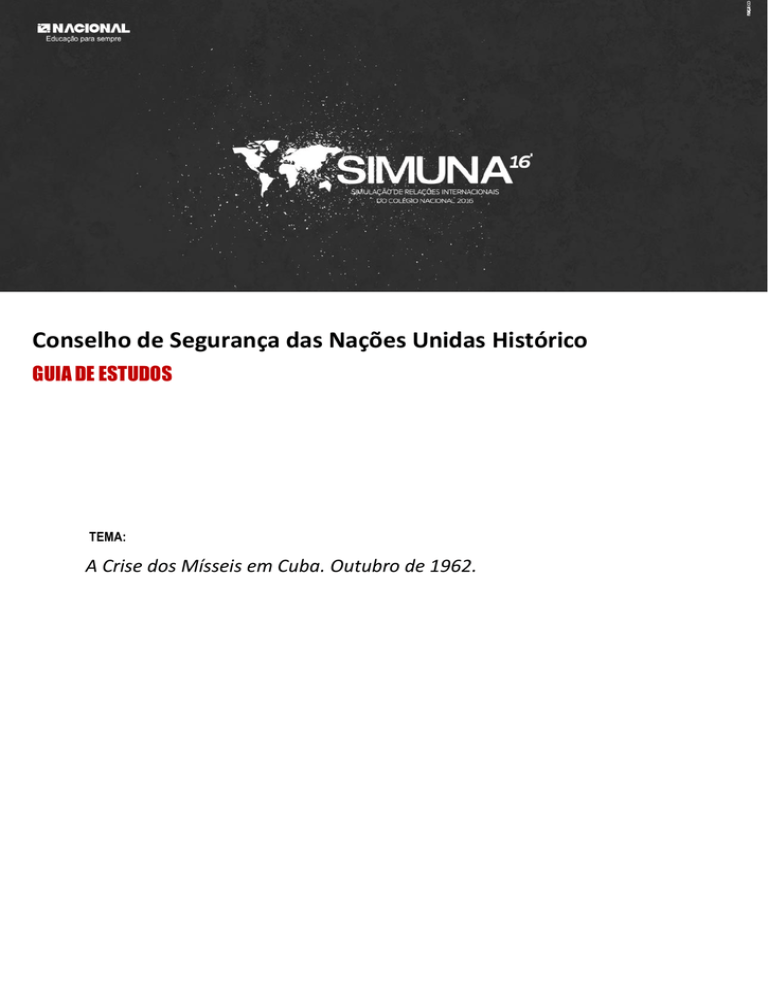
Conselho de Segurança das Nações Unidas Histórico
GUIA DE ESTUDOS
TEMA:
A Crise dos Mísseis em Cuba. Outubro de 1962.
Prezados senhores,
Uma ameaça nuclear paira sobre o mundo. Há aproximadamente uma semana, no último dia 16, bases
de lançamento de mísseis nucleares foram descobertas na ilha cubana pelos aviões U2 dos Estados
Unidos. Mísseis capazes de atingir Washington em minutos e com alcance sobre boa parte do território
estadunidense e da América Central. A reação estadunidense levou a superpotência a bloquear a ilha
socialista nesta segunda-feira, 22, situação que pode resultar em um confronto direto com a União
Soviética. A potência soviética, por sua vez, reclama das várias bases militares estabelecidas na
Europa pelos Estados Unidos, como aquelas que se localizam na Itália, na Inglaterra e especialmente
na Turquia, equipadas com armas nucleares.
Desde a quarentena decretada pelo governo John F. Kennedy contra Cuba (22/10), a situação entre
as duas superpotências se deteriorou perigosamente para o equilíbrio de poder internacional. Em
resposta ao bloqueio naval dos Estados Unidos, N. Kruschev afirmou que seus navios continuarão em
marcha para abastecer Cuba. Será que estamos no limiar de um conflito armado nuclear?
Neste ínterim, o governo americano convocou esta Sessão de Emergência do Conselho de
Segurança das Nações Unidas, que está prestes a se iniciar. Não há tempo para hesitações. Afinal,
nossas decisões poderão custar a vida de milhões e marcar o destino do século XX.
Será possível superarmos nossas divergências ideológicas e nossos interesses geopolíticos,
econômicos e de qualquer instância para construirmos uma agenda de paz?
Caberá aos delegados e delegadas deste Conselho decidir. Trata-se, certamente, de uma decisão
difícil, mas, como sabemos, são nestes momentos que se constroem os grandes marcos que acabarão
por dividir a história. Isto mesmo senhores, estamos em um daqueles momentos que serão lembrados
nos anais e debatidos nas academias, incessantemente estudados, mas que no momento se
apresentam como nuvens disformes para aqueles que o vivenciam.
Neste cenário, marcado por decisões difíceis e fortes divergências políticas, convocamos os Estadosmembros do Conselho e os demais Estados-participantes (sem direito a voto) a resolverem a situação.
Esperamos que todos tenham se preparado adequadamente.
Boa sorte a todos.
23 de outubro de 1962.
Délcio Garcia Gomes
Professor Conselheiro, IX SIMUNA.
2
“Esta inacreditável sucessão de eventos, hoje vista universalmente como a que mais perto levou,
durante a segunda metade do século XX, a uma terceira guerra mundial, proporcionou um
relance de um futuro que ninguém desejava: o de um conflito que se projetaria além dos limites,
da razão e da possibilidade de sobrevivência”.
John Lewis Gaddis. História da Guerra Fria.
3
SUMÁRIO
1. UM COMITÊ HISTÓRICO................................................................................. 05
1.1 Atribuições do Conselho de Segurança
1.2 As delegações e o sistema de votação
2. SITUAÇÃO-PROBLEMA.................................................................................. 12
2.1 Independência, revolução e socialismo
2.2 Fidel, Kennedy e Kruschev
2.3 A Crise dos Mísseis
3. RECOMENDAÇÕES AOS DELEGADOS........................................................ 22
4. REFERÊNCIAS ................................................................................................ 23
5. ANEXOS............................................................................................................ 24
4
1. Um comitê histórico
Não obstante sua criação em 1946, a história do Conselho de Segurança das Nações Unidas
remonta às primeiras décadas do século XX. Nestas décadas, marcadas pela catástrofe política
e humanitária, além da mais grave crise econômica do século, viu-se também um lento, mas
progressivo, amadurecimento do esqueleto do sistema de relações internacionais existente hoje.
Faz-se necessário notar que a diplomacia internacional do início do século XX ainda se moldava
pela força das grandes potências como definidoras da ordem e da paz. Fora assim, por exemplo,
com o Congresso de Viena de 1815 e seu controverso “equilíbrio” político posto nas décadas
seguintes. O mesmo ocorreu no contexto imperialista que precedeu a Primeira Guerra Mundial,
no qual prevalecia os interesses políticos e econômicos de poucas potências capazes de “ditar
as cartas” em encontros como a Conferência de Berlim ou mesmo nas Conferências de Haia, a
partir de 18991.
“Nesse mundo dominado pelas assimetrias de poder, sem restrições legais à coerção militar
unilateral e sem organizações multilaterais de caráter político, Estados pequenos ou potências
médias, quando não assediados, invadidos ou ocupados, eram no mais das vezes relegados a um
status secundário”.
Eugênio Vargas Garcia. Ref.2
A Primeira Guerra Mundial começou a alterar este cenário, abrindo espaço, antes mesmo da
Conferência de Paris de 1919, para propostas como a Liga das Nações3. Pela primeira vez, as
principais nações da Europa, os Estados Unidos, o Japão e outros Estados periféricos,
começaram a delinear uma instituição, composta por um Conselho Executivo, uma Assembleia
e um Secretaria, com a finalidade de preservar a paz, promover a cooperação e garantir a
solução mais adequada para as disputas políticas e territoriais.
Ainda que a Liga das Nações tenha fracassado4 em sua mais nobre finalidade, evitar uma nova
guerra mundial, suas instituições ofereçam uma experiência e um suporte para a formação da
ONU. É o caso do Conselho Executivo da Liga, uma das principais bases para o CSNU. Neste
ponto, vale destacar o sistema de representatividade, o qual, desde a sua formação, reconhecia
cinco membros permanentes (Inglaterra, França, Estados Unidos, Itália e Japão) e outros quatro
não permanentes. Ainda que este modelo tenha sofrido mudanças no decorrer dos Anos 20 e
30, com a saída dos EUA, a entrada e depois retirada da Alemanha, a própria ampliação das
cadeiras não permanentes, a base de poder permaneceu mais favorável para as grandes
1
Neste caso vale destacar a ampliação da representação: a primeira Conferência com 26 Estados e a segunda, realizada
em 1907, com cerca de 44. O objetivo era debater sobre questões de ordem jurídica, procurando preservar a paz. Ainda
assim, a força entre os Estados presentes não era equivalente.
2
GARCIA, Eugênio V. Conselho de Segurança das Nações Unidas. Brasília, FUNAG, 2013. Página 16.
3
Também conhecida como Sociedade das Nações, com vigor entre 1919 e 1946. A Liga foi proposta pela primeira
vez nos 14 Pontos do presidente Woodrow Wilson, apresentados em janeiro de 1918.
4
O fracasso da Liga das Nações pode ser atribuído a vários fatores. Entre eles, destacam-se, a não retificação por parte
dos Estados Unidos ao Tratado de Versalhes e a própria Liga – proposta por eles, com Woodrow Wilson -, a saída da
Alemanha, Itália e Japão no contexto de fortalecimento do nazifascismo e suas ações territoriais expansionista, ocorrendo
o mesmo com a União Soviética em 1939, após a invasão da Polônia, quando ela foi expulsa. No fim, a liga foi atropelada
pelos acontecimentos políticos da época, como a Segunda Guerra Mundial, além de ter se tornado refém dos interesses
anglo-britânicos.
5
potências da época. Situação que, diga-se de passagem, se repetiu no final da Segunda Guerra
Mundial, quando se constituiu o Conselho de Segurança das Nações Unidas.
De uma forma geral, pode-se dizer que a Segunda Guerra Mundial produziu um duplo efeito no
sistema de relações internacionais. Primeiramente, devido a própria situação trágica que levou
à morte aproximadamente 50 milhões de pessoas, destruindo cidades inteiras, economias
nacionais nos territórios invadidos, entre outros aspectos, a guerra resultou na falência da Liga
das Nações, levando a sua desestruturação. Por outro lado, os excessos militares perpetrados
durante os conflitos armados, ou mesmo pela “solução final” nazista, despertaram a opinião
pública e as lideranças políticas para a necessidade de um novo corpo legislativo internacional
que reconhecesse, por exemplo, os Direitos Humanos, julgamentos de pessoas envolvidas em
crimes contra a paz, de guerra e contra a humanidade, tratados de restrição de armamentos,
entre outras importantes conquistas.
Neste contexto, ainda nos primeiros anos da
guerra, as potências aliadas começaram a
rascunhar as bases do sistema das Nações
Unidas,
na
mesma
medida
em
que
progressivamente se envolviam na luta contra o
nazifascismo. Um bom exemplo destes encontros
iniciais ocorreu por volta de agosto de 1941,
quando o primeiro-ministro inglês Winston
Churchill e o presidente Franklin D. Roosevelt
5
aprovaram a Carta do Atlântico . Com o tempo,
Roosevelt e Churchill no convés do HMS Prince of Wales, em
Terra Nova (Canadá), durante o encontro que levou a Carta do
Atlântico. Fonte: U.S. Naval Historical Center Photograph.
outras nações foram aderindo ao documento.
Apesar de todos os avanços diplomáticos obtidos durante o conflito, apenas em seu último ano
tornou-se possível confirmar as Nações Unidas, assim como o seu Conselho de Segurança.
Neste ponto, a ideia dos Estados Unidos, liderados por Roosevelt, era estabelecer um Conselho
sob liderança de grandes potências capazes de fazer valer seu poder a nível global e regional,
compartilhando responsabilidades. Deste modo, estas potências poderiam resguardar a vitória
na guerra perante a Alemanha, a Itália e o Japão e ainda manter a segurança internacional. O
resultado foi a criação de um Conselho de Segurança marcado pela desigualdade de poder entre
seus Estados-membros, situação que com o tempo tornou-se anacrônica, na medida em que
novas potências emergiram no cenário internacional, assim como novas formas de organização
do espaço econômico e da diplomacia.
Acerca da criação do CSNU, veja a análise abaixo de Eugênio V. Garcia:
Roosevelt concebeu um Conselho dominado pelas grandes potências, que deveriam agir
conjuntamente para prevenir futuras agressões dos ex-inimigos e distribuir de forma mais
5
Aprovaram mas não assinaram. A assinatura ocorreria depois, afinal, os Estados Unidos ainda estavam fora da
guerra, situação que gerava alguns empecilhos. Para mais informações e acesso ao documento, consulte:
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-Internacionais-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-1919-a-1945/carta-do-atlantico-1941.html
6
equilibrada as responsabilidades pela segurança em cada região. Na Europa, a Grã-Bretanha
e a URSS conteriam a Alemanha. Na Ásia, a China seria um contrapeso ao Japão, podendo
eventualmente contar com apoio soviético no Extremo Oriente. Quase inteiramente controlada
pelas potências coloniais europeias, a África não representava um desafio estratégico
expressivo. O Império Britânico ainda seria útil do ponto de vista da segurança em áreas como
o subcontinente indiano e o Sudeste asiático. O Hemisfério Ocidental, incluindo a América
Latina e todo o Caribe, era considerado zona de influência por excelência dos EUA, que
continuariam a sustentar seu auto atribuído “poder de polícia internacional”. No Oriente Médio,
Roosevelt flertou vagamente com a ideia de um “assento permanente muçulmano”, mas tal
proposição jamais passou de um pensamento momentâneo. Esse conjunto, ainda segundo sua
visão, permitiria a retirada das forças norte-americanas desdobradas globalmente e
compartilharia regionalmente os custos da segurança coletiva.
Eugênio Vargas Garcia. Conselho de Segurança das Nações Unidas. Brasília, FUNAG, 2013.
Assim sendo, em 1945 e diante de todos estes interesses políticos relacionados a nova ordem
pós-guerra, as regras básicas de funcionamento do CSNU, bem como suas finalidades e os
critérios de participação foram confirmados6, primeiramente na Conferência de Ialta (fevereiro) e
depois em São Francisco (junho,45), na qual 50 países assinaram a Carta das Nações Unidas.
O processo de ratificação da Carta em cada Estado estendeu-se até 24 de outubro de 1945.
Outros países foram entrando na organização com o tempo.
Neste momento, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, definido no artigo 7º da Carta
das Nações Unidas, juntamente com a Corte Internacional de Justiça (CIJ), constituiram-se como
orgãos dentro da ONU cujas decisões são de caráter obrigatório7.
Mas “decisões obrigatórias” não significam, necessariamente, uso de força militar. Afinal, dentro
dos princípios das Nações Unidas, o recurso da força se manifesta em última instância, quando
todas as alternativas para a solução dos conflitos foram superadas, tornando-se necessário uma
ação mais direta e armada. Este princípio foi exposto logo nos primeiros artigos da Carta, pelos
quais os Estados-Membros devem priorizar meios “pacíficos e de conformidade” para resolver
suas respectivas controvérsias, respeitando o direito internacional, o princípio da justiça e da
autodeterminação dos povos.
Segundo os princípios da ONU, o recurso às forças armadas por um Estado fica resguardado
apenas em caso de legítima defesa (e mesmo assim por um período delimitado ) ou quando
autorizado pela própria Organização, por meio do Conselho de Segurança. Deste modo, o
Conselho surgiu como uma peça fundamental do sistema de segurança coletiva estabelecido
6
Tais princípios, regras de funcionamento, critérios de participação e outros aspectos foram debatidos progressivamente
em vários encontros durante a guerra.
7
É pertinente esclarecer, entretanto, que as decisões do Conselho alcançam todos os Estados-Membros da ONU,
diferentemente da Corte Internacional de Justiça, cuja obrigatoriedade de cumprimento limita-se aos Estados envolvidos
diretamente no litigio em debate. As decisões do Conselho de Segurança ultrapassam também o campo do direito
internacional, possuindo interesse político.
7
pela ONU, com a intenção de reduzir a fragilidade manifestada anteriormente pela Liga das
Nações (ou Sociedade das Nações).
Historicamente, a eficiência do sistema de segurança coletiva variou bastante, conforme o
contexto, os protagonistas e demais personagens envolvido no litígio, os respectivos interesses
políticos em jogo, os recursos deslocados, as respostas oferecidas nas áreas de intervenção,
entre outros fatores. Um bom exemplo disto ocorreu durante a Guerra Fria.
Neste contexto, marcado pela bipolaridade entre as áreas de influência comunista e capitalista e
constantes momentos de tensão internacional, a constância dos vetos de ambos os lados
inviabilizou, em muitos casos, a eficácia do Conselho de Segurança. Para alguns críticos da
atuação das Nações Unidas durante os anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, a
Organização tornou-se “refém” das grandes potências, ou mesmo da ineficácia de suas forças
de paz nas áreas de conflito. Segundo este ponto de vista, as decisões historicamente não foram
cumpridas da mesma forma por todos, variando conforme a força política de cada Estado e os
interesses em jogo.
1.1 Atribuições do Conselho de Segurança
Foto: Sala do CSNU em NY. 2004.
O Conselho de Segurança é o orgão mais poderoso dentro do sistema das Nações Unidas, com
um alcance que se estende das recomendações ao Secretário-Geral, passando pela apreciação
de questões procedimentais, a aprovação de sansões econômicas e até mesmo o envio de
forças militares. Desta forma, seu funcionamento é permamente, fazendo-se necessário que
cada delegação integrante mantenha pelo menos um representante na sede da organização.
As reuniões do Conselho são dirigidas por um presidente com cargo rotativo, definido a cada
mês conforme a ordem alfabética8 dos Estados que compõem o CSNU. Por exemplo, durante
as sessões de outubro de 1962, nas quais foram abordados os fatos envolvendo os mísseis em
8
Para saber a sequência histórica das presidências do CSNU, veja o link.
https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_United_Nations_Security_Council
8
Cuba, a presidência era exercida pela União Sovietíca, por meio do diplomata Valerian Zorin,
historicamente conhecido pelos seus embates durante a crise com o diplomata estadunidense
Adlai E. Stevenson.
Quais são as atribuições do Conselho de Segurança?
Os professores e pesquisadores em direito internacional Jorge Mascarenhas Lasmar e
Guilmerme Casarões9 sintetizaram, com base na própria Carta das Nações Unidas, as seguintes
competências:
supervisão do regime de tutela (arts.82 e 83 da Carta);
regulamentação de armamentos (art.26 da Carta);
apreciar as questões que envolvam ameaça à paz e segurança internacionais;
intervenção em situações de crise política e militar;
votar a admissão de novos membros (art.4 da Carta);
votar a suspensão de membros (art.5 da Carta);
votar a exclusão de membros (art.6 da Carta);
votar na nomeação do Secretário-Geral (art.97 da Carta);
eleger juízes para a Corte Internacional de Justiça (art.4 do Estatuto da CIJ);
manter a paz e segurança internacionais;
investigar situações que possam vir a criar conflitos internacionais;
buscar solucionar controvérsias internacionais;
formular um sistema de controle de armamentos;
determinar a existência de uma ameaça à paz e adotar as medidas adequadas;
decretar sanções econômicas e outras medidas que não envolvam o uso da força armada
para parar uma agressão;
adotar medidas militares contra um agressor;
De uma forma geral, conforme os princípios da Carta das Nações Unidas mencionados
anteriormente, as delegações presentes no Conselho de Segurança procuram adotar medidas
progressivas de força, ampliadas conforme a gravidade da situação. Tais medidas variam da
mediação e negociação, convidando as “partes envolvidas no litígio a aceitarem medidas
provisórias que lhe pareçam necessárias ou aconselháveis” 10, passando pelo embargo
econômico, dos meios de comunicação, das vias aéreas, rompimento diplomático até o envio
das missões de paz:
“O Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que, sem envolver o emprego de forças
armadas, deverão ser tomadas para tornar efetivas suas decisões e poderá convidar os
Membros das Nações Unidas a aplicarem tais medidas. Estas poderão incluir a interrupção
completa ou parcial das relações econômicas, dos meios de comunicação ferroviários,
9
Organização das Nações Unidas. BH: Del Rey, 2006, Capítulo V (Conselho de Segurança), p.69-70.
Conforme estabelecido no próprio texto do artigo 40 da Carta das Nações Unidas.
10
9
marítimos, aéreos, postais, telegráficos, radiofônicos, ou de outra qualquer espécie e o
rompimento das relações diplomáticas.”
Art.41. Capítulo VII. Carta das Nações Unidas.
1.2 As delegações e o sistema de votação
Desde a sua criação até a década de 1960, o Conselho de Segurança das Nações Unidas
contava com 11 membros11, sendo cinco permanentes, os quais possuíam e ainda possuem um
peso maior no processo de decisão.
Esta situação desigual, que sobrevive há mais de setenta anos, teve sua origem no papel
desempenhado pelos cinco países permanentes na fundação das Nações Unidas, bem como na
conjuntura dentro da qual foi estabelecido o Conselho de Segurança: os anos posteriores à
Segunda Guerra Mundial12. Uma vez terminada e a guerra e criada a ONU, as principais nações
que derrotaram as forças nazifascistas, mais a China, determinaram que o CSNU fosse formado
reconhecendo um grupo de países fixos e, consequentemente, mais influentes e poderosos do
que os demais. Um bom exemplo para se entender isto é o sistema de votação.
Cada país integrante do Conselho possui direito a um voto, mas tanto nas decisões
procedimentais como nas mais relevantes, considerando o contexto histórico do nosso
comitê, são necessários 07 votos favoráveis para a conclusão dos debates13. A diferença,
contudo, ocorre nas questões mais importantes, chamadas de “não processuais”, nas quais pesa
a regra da unanimidade das grandes potências, comumente conhecida como o poder de veto.
Neste caso, basta que uma entre as cinco potências manifeste sua contrariedade com relação à
decisão em debate para que os procedimentos sejam encerrados.
Mas é preciso lembrar que o voto contrário não é o mesmo que a abstenção do voto. No caso
da última opção, somando-se pelo menos 07 votos entre as demais delegações (sem qualquer
veto dos grandes) é possível garantir a aprovação do pedido no Conselho de Segurança.
As delegações presentes na IX SIMUNA
Além das 11 delegações que em 1962 participavam das reuniões do Conselho, a SIMUNA de
2016 reconhece a participação de delegações convidadas, devido a relevância das mesmas nos
debates e a proximidade com a temática da Crise dos Mísseis. De certo modo, esta decisão
compromete a própria conjuntura dentro da qual ocorreram os debates, na medida em que
delegações que não estavam presentes foram acrescentadas. Por outro lado, as delegaçõesconvidadas possibilitaram a ampliação no número de participantes, abrindo mais oportunidades
para os estudantes interessados no comitê, além de somar novos elementos as discussões. Em
11
Inicialmente eram 11 Estados-Membros. Entre 1963-65 este número foi alterado para 15, pela emenda ao artigo 23º.
O mesmo ocorreu com o sistema de votação, ampliada para 09 votos, com a Emenda ao artigo 27º. Sobre a reforma,
veja: http://csnu.itamaraty.gov.br/a-reforma-1963-65 ou https://www.unric.org/pt/informacao-sobre-a-onu/12
12
Após sua criação em 1945, o CSNU se reuniu pela primeira vez em 17 de janeiro de 1946, em Londres. Os países
participantes foram: República da China, EUA, França, Reino Unido, URSS, e os não-permanentes Austrália, Brasil,
Egito, México, Países Baixos e Portugal
13
O número necessário de votos foi alterado na reforma de 1965.
10
todo o caso, os delegados presentes deverão respeitar os limites históricos dos acontecimentos,
estendendo-os até 25 de outubro de 1962.
Sendo assim, o Conselho de Segurança da IX SIMUNA será organizada da seguinte forma:
PERMANENTES (voto e veto):
Entre 1945 e 1965 o CSNU contava com 5 membros permanentes e 6 membros rotativos.
Entre os permanentes:
Estados Unidos da América
França
União Soviética (URSS)
Reino Unido
República da China (RC) * Devido a Revolução de 1949 e a recém fundada RPC, os chineses passaram a ser
representados na ONU pela RC, atual Taiwan, até 1971.
MEMBROS NÃO PERMANENTES EM 1962 (apenas voto):
Chile
Irlanda
Egito * (República Árabe Unida)
Gana
Romênia
Venezuela
Delegações convidadas devido ao interesse na questão, sem poder de voto.
* Não necessariamente estiveram presentes no encontro histórico.
Cuba
Brasil
Turquia
República Democrática Alemã (socialista)
República Federal da Alemanha (capitalista)
11
2. SITUAÇÃO PROBLEMA
Na primeira foto, os revolucionários entram em Santa Clara, libertara por Guevara em janeiro de 1959. Na segunda
foto, Fidel Castro assume o poder depois de derrubar Fulgêncio Batista. Havana, 1959.
Em última instância, a Crise dos Mísseis e os seus “13 dias que abalaram o mundo”, em
outubro de 1962, pode ser entendida como um capítulo trágico da falência das relações entre
Cuba e os Estados Unidos desde a vitória da Revolução, em janeiro de 1959. Na verdade, desde
a vitória de um dos projetos políticos envolvidos na Revolução: a vertende nacionalista e popular
liderada pelo advogado Fidel Castro. Isto se explica porque, durante a Revolução Cubana, várias
alternativas competiram entre si na Frente Cívico-Revolucionária Democrática, união de forças
contra a ditadura de Fulgência Batista (1952-59) constituída durante o próprio processo
revolucionário, abarcando desde o Movimento Revolucionário 26 de Julho (composto pelos
castristas) até pessoas ligadas a burguesia cubana, também insatisfeitos com o regime
autoritário existente no país.
Sendo assim, antes de delinearmos os acontecimentos da Crise dos Mísseis propriamente dita,
tema central deste comitê, seria interessante recuperarmos alguns pontos fundamentais da
Revolução Cubana, nos anos 50.
2.1 Independência, revolução e socialismo.
É possível falar de Revolução Cubana em dois sentidos: como processo de luta pela tomada do poder
por Fidel Castro e os companheiros que com ele lutaram na oposição insurrecional ao regime do
ditador Fulgêncio Batista. Nessa acepção, foi um movimento guerrilheiro que capitalizou o
descontentamento do povo contra as condições de miséria, corrupção, falta de liberdade e
dependência em relação aos EUA, para instalar um governo revolucionário nos primeiros dias de 1959.
Na segunda acepção, a Revolução Cubana de 1959 foi a continuidade das frustradas lutas de
independência iniciadas na segunda metade do século passado e pode ser caracterizada efetivamente
como uma revolução, não pelo fato de ter tomado o poder, mas por ter desenvolvido um processo de
transformações, radicais das estruturas econômicas, sociais, políticas e ideológicas que fizeram de
Cuba o primeiro país socialista da América Latina e do mundo ocidental. Emir Sader14.
14
Revolução Cubana. Uma revolução na América Latina. Emir Sader
12
Não seria incorreto afirmar que, se a Crise dos Mísseis começa no processo revolucionário
cubano, e nos seus desdobramentos na política internacional, a Revolução, por sua vez, tem sua
primeira referência na própria independência do país, no final do século XIX. Ou ainda, como
afirmou acima o sociólogo e cientista político Emi Sader: “a Revolução Cubana de 1959 foi a
continuidade das frustradas lutas de independência”.
O comentário de Emir Sader se justifica nos próprios acontecimentos da guerra de emancipação
cubana travada entre 1895 e 1898, contra o domínio espanhol. Nesta ocasião, liderados pelo
poeta, advogado e jornalista Jose Martí, grande ideólogo da luta pela emancipação morto logo
nos primeiros combates contra a Espanha, os cubanos conduziram a resistência por meio de
uma guerrilha eficaz que ocupou parte considerável das áreas rurais, empreendendo sensíveis
derrotas ao exército espanhol, mas viram sua soberania escapar diante da intervenção armada
estadunidense15. Assim, em 1898, as forças armadas dos Estados Unidos rapidamente
derrotaram uma Espanha já fragilizada, conquistaram territórios no Caribe e no Pacífico (como
as Filipinas, por exemplo), ao mesmo tempo em que transformaram Cuba em um protetorado.
Entre 1898 e 1903 ocuparam militarmente a ilha, impuseram a Emenda Platt16 e garantiram nas
próximas cinco décadas a sobrevivência e ampliação de seus investimentos econômicos no país.
Ainda que a Emenda Platt tenha sido suspensa nos anos 30, os sucessivos governos cubanos
após a emancipação se tornaram reféns da política externa dos Estados Unidos, situação que
reforçou ainda mais a presenta econômica externa na ilha e inviabilizou um projeto de
desenvolvimento autônomo e centrado nos grupos menos favorecidos. Pelo contrário, a política
cubana nas primeiras décadas do século XX fora dominada ora por militares e governos
autoritários, ora por civis diretamente ligados aos interesses externos ou ao mando das
oligarquias rurais.
A economia do país estava em mãos estrangeiras ou das oligarquias agrícolas nacionais,
especialmente a produção do açúcar. O capital norte-americano avançou sobre as refinarias, a
telefonia, os bancos e companhias elétricas. Havana tornou-se um paraíso para milionários,
gângsteres e investidores de todo o tipo que aproveitavam as facilidades oferecidas pelos
governos locais. Assim, ao lado dos hotéis luxuosos, como o Hilton, o Riviera, o Continental, ou
dos Cadillacs, Studebakers, Chevrolets, da aparente modernização do país, se popularizavam
as favelas (bohios), a superexploração no campo, os cassinos, os bordéis, a especulação
imobiliária e outros problemas que limitavam seriamente o desenvolvimento social cubano.
Por outro lado, cresciam também no final dos anos 40 as organizações estudantis e partidárias
ansiosas pelo fortalecimento da democracia, como, por exemplo, o Partido Ortodoxo, cujo um
dos integrantes e candidato a deputado era o jovem Fidel Castro.
15
Uma intervenção fundamentada em um engodo: o suposto afundamento pela Espanha do navio estadunidense Maine,
em 15 de fevereiro de 1989, ancorado em Havana.
16
A Emenda Platt, imposta a Constituição cubana em 1902, estabelecia aos Estados Unidos o papel de protetor de
Cuba, podendo interferir para preservar “a vida, a propriedade e a liberdade individual”. A Emenda também obrigou Cuba
e ceder a área territorial de Guantánamo, controlada até hoje pela potência do norte.
13
Dentro deste contexto, de uma República “mediatizada” e marcada por contradições internas,
insere-se o golpe de 1952 que levou o general Fulgêncio Batista ao poder e a instauração de
uma ditadura que se estendeu até 1959. Uma ditadura contestada por uma revolução.
“O golpe militar liderado por Fulgêncio Batista em 10 de maio de 1952 interrompeu um
período de oito anos de frágil democracia no país, com as presidências de Grau San Martín
(1944-48) e Prío Socarrás (1948-52). Dessa forma, fechou-se o caminho da política
institucional para inúmeras lideranças que apostavam na legitimidade do sistema como
premissa para o encaminhamento das mudanças socioeconômicas de que o país
necessitava”
Luis Fernando Ayerbe17
Para os opositores de Batista, a incapacidade das instituições democráticas cubanas de
evitarem o golpe ou de revertê-lo mostrava que o único caminho eram a derrubada do ditador,
ainda que por via armada-revolucionária. Nesta direção, aproximadamente 165 homens 18
participaram da fracassada tentativa de tomada dos quarteis de Moncada, em Santiago de Cuba,
e Carlos Manuel de Céspedes, em Bayamo, no dia 26 de julho de 1953. Apesar do
planejamento, os assaltos não alcançaram seus obejtivos: não tomaram os quarteis, não
mobilizaram a população cubana e acabaram terminando em prisões e torturas Talvez a única
herança realmente efetiva do episódio tenha sido a criação do MR-26 de Julho, movimento em
torno do qual seria planejada a Revolução Cubana.
O projeto político do MR-26/07 era democrático e nacionalista. Como ficaria claro no Manifesto
de Sierra Maestra de 1957, os revolucionários pretendiam convocar eleições, respeitando a
Constituição de 1940, repudiavam as intervenções estrangeiras no território cubano, acenavam
com reformas fundamentais nas instituições, na sociedade, defendiam um desenvolvimento
agrícola e industrial autônomo e, por fim, a formação de uma frente cívico-revolucionária, de
composição diversificada.
A revolução foi planejada em Cuba e no México, com auxílio de exilados da Guerra Civil
Espanhola e outros personagens, como o médico argentino Ernesto Guevara. Não era apenas
um movimento em prol da efetiva emancipação cubana, sonhada por José Martí, ou de caráter
anti-oligarquico e contrário ao governo de Fulgêncio Batista. Era também um ato de solidariedade
com Jacobo Arbenz, lider nacionalista derrubado na Guatemala em 1954, ou ainda, Jorge E.
Gaitán, político do Partido Liberal colombiano morto em 1948. Trata-se aqui de um movimento
que clamava pela solidariedade latinoamericana, preocupado com os retrocessos ocorridos nas
democracias naqueles anos, conforme se acirrava o cenário da Guerra Fria.
O início dos combates ocorreu em 1956, após o desenbarque em Cuba de 82 combatentes a
bordo do iate Granma, os quais iriam se somar a uma série de mobilizações dentro do próprio
país organizadas pelo MR-26/07. O fracasso desta nova tentativa armada fez com que os
sobreviventes do Granma se dispersassem em direção a Sierra Maestra, onde finalmente
17
18
AYERBE, Luis Fernando. A Revolução Cubana. SP: Editora UNESP, 2004, p. 26.
Os números variam conforme a fonte consultada.
14
recomeçariam a luta armada, avançando sobre as comunidades camponesas e com o apoio de
outros grupos pelo país, vitoriosa em janeiro de 1959. Segundo Michael Löwy,
“(...) vítima de sérios reveses militares de início, a guerrilha rapidamente se beneficia do
retorno de jovens vindos de Santiago de Cuba e, em seguida, dos guajiros (camponeses)
da região. Instalados em Sierra Maestra, recebem treinamento militar comandados por
Fidel Castro. (...) As vitórias militares reforçam o prestígio do exército rebelde, a revolta se
espalha pelo país, a luta contra a opressão ganha pouco a pouco toda a sociedade. Em
dezembro 0% da popde 1959, os chefes do exército de Batista afirmam que 90% da
população de Santiago apoia a guerrilha. De fato, Fidel Castro tinha o apoio constante da
guerrilha urbana (el llano) organizada por Frank País, que o abastecia de armas,
munições, víveres e medicamentos e contribuíam para torna-lo conhecido na imprensa
internacional. (...)
Cinco anos depois do ataque de La Moncada, a ditadura desmoronou sob os repetidos
ataques do exército rebelde. A vitória de Santa Clara (importante cidade tomada pela
coluna de Guevera em dezembro de 1958) assinala a ruína de Batista. Fidel Castro, que
ainda se encontra em Sierra Maestra, lança um apelo a greve geral. Esta paralisa o país
inteiro. Na noite do Ano Novo, em 1º de janeiro de 1959, Batista foge.” Michael Löwy19.
A Revolução Cubana não foi liderada pelo Partido Comunista, desacreditado no país. Não
possuiu um projeto socialista respaldado pela União Soviética. Na verdade, o levante armado
começou nas fileiras do movimento estudantil e dos setores nacionalistas e democratas do
Partido Ortodoxo, e depois do MR-26 de Julho. Seus líderes, apoiados por forças sociais
diversificadas, derrubaram uma ditadura e partiram progressivamente para a construção de
amplas
reformas
de
base
e
nacionalizações.
Destas,
somando-se
às
ações
contrarrevolucionárias do Estados Unidos e da burguesia cubana, a Revolução entrou em uma
movimento de aproximação com a União Soviética que a levaria para o socialismo, em 1961.
2.2 FIDEL, KENNEDY e KRUSCHEV
A Revolução Cubana ocorreu em um cenário de recrudescimento da Guerra Fria na América
Latina e na Ásia, durante o governo de Dwight D. Eisenhower (1953-1961).
O princípio da Coexistência Pacífica defendido pelo líder soviético Nikita Kruschev (1953-1964)
não foi suficiente para conter as intervenções de todo o tipo, inclusive armadas, em áreas do
“terceiro-mundo” onde as fronteiras ideológicas estavam em disputa, como ocorreu, por exemplo,
com o Vietnã e sua Frente Nacional de Libertação (os vietcongues), o Irã e o ministério
nacionalista de Mohammed Mossadegh20, a Guatemala de Jacobo Arbenz21 e seu projeto de
19
LOWY, Michael. Revoluções. SP: Boitempo, 2009, p. 455-456.
Mossadegh foi derrubado do poder no Irã por um golpe, financiado pela CIA e pelos ingleses, em 1953. Após o
episódio, ganhou corpo a monarquia autoritária e pró-ocidental de Reza Pahlevi, derrubada por uma revolução islâmica
até 1979.
21
Arbenz foi derrubado por um golpe em 1954, com participação da CIA.
20
15
reforma agrária que ameaçava os interesses da United Fruit, a Hungria de Imre Nagy22, ou
mesmo Cuba, na qual avançava um processo revolucionário que certamente influenciaria a
América Latina como um todo.
Neste cenário marcado pela bipolaridade e pelo desrespeito das superpotências pela soberania
política e econômica de seus Estados satélites, o projeto nacionalista-popular encabeçado por
Fidel Castro em Cuba resultou em uma rápida e sistemática reação dos Estados Unidos,
especialmente durante o governo John F. Kennedy (1961-1963).
Não obstante os avanços na política interna dos governos Kennedy e Johnson, como a
aprovação da Lei dos Direitos Civis (1964) e do Direito de Voto (1965) no que tange as questões
raciais, na política externa a situação foi diferente. Durante os Anos 60, os Estados Unidos
intensificaram
seu
financiamento
a
programas
de
treinamento
de
militares
23
latinoamericanos , assim como lançaram a Aliança para o Progresso (1961-69), participaram
de golpes civis-militares como aquele que ocorreu no Brasil, em 1964, ampliaram sua
intervenção militar no Vietnã, entre outros aspectos. Com relação a Cuba, os anos iniciais da
década de 60 conheceram um progressivo distanciamento diplomático, ideológico, econômico,
além de uma fracassada tentativa de invasão territorial.
De certo modo, desde a vitória da Revolução em 1959, exisita nos Estados Unidos uma
desconfiança com relação as possibilidades de uma transição democrática rápida em Cuba que
evitasse reformas estruturais, mantendo-se uma espécie de democracia frágil e dependente. Por
parte de Fidel, Raúl, Guevera, Cienfuegos e dos demais líderes, havia a desconfiança com
relação a disposição dos Estados Unidos em aceitarem reformas nos países latinoamericanos
sem considerarem qualquer intervenção política e militar. Veja o caso da Guatemala, em 1954,
quando o prsidente nacionalista Jacobo Arbenz foi derrubado por um golpe. Guevara estava na
Guatemala nesta ocasião.
Sendo assim, logo no início, os revolucionários cubanos trataram de fazer avançar as reformas
socioeconômicas (reforma agrária, nacionalizações, ampliação dos salários e direitos
trabalhistas, dimiuição dos alugueis, estímulos a industrialização, controle das exportações e
importações, etc) e ao mesmo tempo eliminar as possíveis “ameaças” políticas, sejam estas
ligadas a ditadura de Fulgêncio Batista, ou mesmo a burguesia e aristocracia cubanas.
Os Estados Unidos reagiram com medidas contrarrevolucionárias que se estenderam de
sansões econômicas, contra-propaganda, rompimento de relações diplomáticas, ações
armadas, até a contrução de um isolamento político e econômico da ilha. Veja a síntese deste
processo abaixo, narrada pelo historiador Luis Fernando Ayerbe:
22
Imre Nagy foi um dos líderes da Revolução Húngara de 1956, que pretendia democratizar o país, retira-lo da “Cortina
de Ferro” e do Pacto de Varsóvia. O resultado foi uma intervenção militar soviética, sob aval de Kruschev.
23
Os programas de treinamento militar e ideológico de oficiais latinoamericanos resultou na formulação da DSN, a
Doutrina de Segurança Nacional, elaborada na Escola das Américas sediada no Panamá e em outras instituições das
Forças Armadas e da inteligência dos Estados Unidos. Assim, os militares latinoamericanos, munidos ideologicamente
da DSN, interviram constantemente no sistema político de seus respectivos Estados nos Anos 50, 60 e 70.
16
“Faremos uma breve reconstrução desse percurso, intercalando cronologicamente os fatos
principais que marcaram a trajetória das relações entre Cuba e Estados Unidos entre 1960 e 1962:
- Pressões dos Estados Unidos para restringir a venda de combustíveis a Cuba obrigam o país a
recorrer ao fornecimento soviético de petróleo. Em junho, aTexaco nega-se a refinar o petróleo
soviético. Posteriormente, a Esso e a Shell fazem o mesmo.
- Em julho, o governo dos Estados Unidos reduz a cota de importação do açúcar cubano em 95%.
- Em agosto, o governo cubano nacionaliza as empresas estrangeiras e suas propriedades rurais.
Em outubro, nacionaliza as empresas privadas nacionais.
- Em 3 de janeiro de 1961, os Estados Unidos rompem relações diplomáticas com Cuba. No
mesmo mês, Cuba assina acordos com a União Soviética de venda de cota açucareira a preço fixo,
independentemente das flutuações do mercado internacional, e de importação de petróleo soviético.
- No dia 15 de abril de 1961, aviões dos Estados Unidos bombardeiam quarteis e aeroportos com a
finalidade de destruir aviões cubanos.
- No dia 16 de abril, em concentração popular para velar as vítimas do bombardeio, Fidel Castro
proclama, pela primeira vez, publicamente o caráter socialista da Revolução Cubana.
- No dia 17 de abril, produz-se a invasão da Baía dos Porcos.
- Em janeiro de 1962, Cuba é expulsa da OEA.
- Em fevereiro, os Estados Unidos decretam o bloqueio econômico do país, o que inclui a proibição
de todas as importações de produtos de origem cubana ou importados através de Cuba”.
Luis Fernando Ayerbe. Revolução Cubana.
24
2.3 A CRISE DOS MÍSSEIS
Famosa charge de 1962, onde se vê a “queda de braço”entre Kruschev e Kennedy.
Desde os Anos 50 os Estados Unidos, por meio de seus novos aviões de espionagem U2,
realizavam voos de reconhecimento sobre o território soviético, inclusive sobre as cidades de
Moscou e Leningrado. Os soviéiticos ainda não possuíam a capacidade para derruba-los, coisa
que só conseguiram fazerm em 1960, momento em que capturaram o piloto estadunidense
Francis Gray, posteriormente trocado por um espião soviético também capturado nos Estados
Unidos.
O clima internacional era de competição espacial, lançamento de satélites, aprimoramento de
armadas nucleares de longo alcançe, bombas de hidrogênio, entre outras excentricidades que
24
AYERBE, Luis Fernando. A Revolução Cubana. SP: Editora da UNESP, 2004. 62-63.
17
reforçavam o medo quanto aos possíveis resultados de um descontrole político de um dos lados
da Cortina de Ferro.
Neste cenário, o governo de Nikita Kruschev autorizou a instalação de bases de lançamento de
mísseis nucleares em território cubano. Até hoje os historiadores e outros especialistas
especulam acerca das razões que teriam levado os soviéticos a instalarem os mísseis.
Provavelmente foram duas: a primeira delas, da ordem da busca por um “equilíbrio de poder”,
justificava-se na retaliação a instalação de bases americanas na Inglaterra, Itália e na
Turquia25. Nesta direção, as bases em Cuba compensavam uma possível inferioridade bélica
dos soviéticos e proporcionava um evidente efeito psicológico dentro dos Estados Unidos. Vale
ressaltar que os mísseis instalados - R-12 Dvina, como os soviéticos chamavam ou SS-4
Sandal, denominação usada no Ocidente pela OTAN- tinham a capacidade de atingir alvos no
sudeste dos Estados Unidos como Miami, New Orleans, Houston, St. Louis e até Washington,
além de outras regiões até mais distantes, apesar da falta de consenso entre as informações.
Fonte: Estado de São Paulo 26.
Outro fator responsável pela polêmica decisão de Kruschev diz respeito ao agravamento das
divergências entre Cuba e os Estados Unidos, com destaque para a fracassada tentativa de
invasão da ilha em abril de 1961. Depois deste episódio, a União Soviética entendeu que era
necessário criar em Cuba um mecanismo de dissuasão, evitando-se novas ações
contrarrevolucionárias. O próprio Kruschev possuia uma forte simpatia pela luta revolucionária
travada por Fidel Castro, sendo necessária preserva-la.
Os Estados Unidos, por sua vez, tomaram conhecimento das bases em meados de outubro
de 1962, data reconhecida até hoje como o marco inicial dos “13 dias que abalaram o mundo”.
25
26
Os Estados Unidos colocaram mísseis Júpiter em Esmirna, na Turquia, e também em Giogia del Cole, na Itália.
http://tv.estadao.com.br/videos,internacional,crise-dos-misseis-o-mundo-a-beira-da-guerra-nuclear,21139
18
Aviões U2 sobrevoavam Cuba, como de costume, em 14 de outubro de 1962. Porém, desta vez, as
fotografias tiradas pelos pilotos trouxeram um elemento inesperado: foram descobertas diversas
bases de mísseis nucleares sendo construídas em Cuba. “Segundo a CIA, os mísseis tinham
alcance de 1600 km27 e tinham capacidade de atingir grande parte da orla marítima oriental do país.
Uma vez armados e prontos para o disparo, poderiam explodir sobre Washington em 13 minutos.
Essa informação foi passada ao presidente dos Estados Unidos no dia 16 de outubro – data que
passou a ser conhecida como “o primeiro dia da crise dos mísseis”. O presidente convovou seus
principais acessores para uma reunião de emergência: a questão que se coloca neste momento é
“o que fazer?”. As opções acabam se restringindo a duas alternativas: invadir Cuba ou realizar um
bloqueio marítimo, denominado “quarentena”.
Charles Sidarta Machado Domingos 28
Em 14 de Outubro de 1962, fotografias aéreas americanas de Cuba revelou as instalações de mísseis, tanques de
combustível, rebocadores e outros instrumentos.
Os primeiros dias da crise foram marcados pela indefinição. Afinal, qual a melhor alternativa
para resolver a delicada situação? Alguns parlamentares republicanos da oposição e oficiais
das Forças Armadas defendiam ações mais radicais, como, por exemplo, bombardeios
aéreos a ilha e até mesmo a invasão militar direta. Outros, principalmente os líderes civis que
compunham o governo, defenderam medidas mais brandas, como o bloqueio marítimo.
Nesta direção, John Kennedy e seu Secretário de Defesa Robert S.McNamara decidiram
pela chamada “quarentena” em 22 de outubro de 1962. Neste mesmo dia, o presidente
estadunidense fez um pronunciamento onde oficializava a crise perante a nação.
As ações de Kennedy se estenderam do bloqueio naval – em um momento em que vários
navios soviéticos estavam a caminho de Cuba -, passando pelo reforço da vigilância aérea
até a convocação de uma reunião de consulta da Organização dos Estados Americanos e
de emergência do Conselho de Segunrança das Nações Unidas. Reunião esta que será
modelada neste comitê da SIMUNA.
27
28
(Veja uma síntese das ações no Anexo 1).
Neste caso, vale ressaltar que os dados técnicos de alcance dos mísseis variam muito, conforme a fonte consultada.
Fonte: 50 anos da crise dos mísseis: horror nuclear em tempos presentes. Revista Historiae. RS. Vol. 4, nº 2. 2013.
19
Durante uma das sessões do Conselho de Segurança, o diplomata dos Estados Unidos Adlai
Stevenson apresentou as provas fotográficas das instalações em Cuba e consequentemente
pediu ao Conselho a aprovação de uma resolução pedindo o desmantelamento e a retirada
das bases de mísseis soviéticos de Cuba sob supervisão das Nações Unidas. Até então, o
embaixador soviético Valerian Zorin afirmava categoricamente sobre a não-existência dos
mísseis.
Embaixador Adlai Stevenson mostra evidências fotográficas nas Nações Unidas, 25 de outubro de 1962.
Historicamente, os Estados Unidos não admitiram qualquer participação de Cuba no processo
de negociações. Na SIMUNA 2016, entretanto, não apenas Cuba mas outras delegações foram
convidadas. A ideia é permitir um maior dinamismo aos debates.
Não seria incorreto afirmar que a Crise dos Mísseis desdobrou-se perigosamente pelos dias
seguintes, no final de outubro de 1962. Um dos momentos mais tensos ocorreu no sábado, 27
de outubro, quando um avião estadunidense U2 foi abatido em Cuba, ao mesmo tempo em que
navios e submarinos soviéticos se aproximaram da zona de “quarentena”. Apenas nas décadas
seguintes é que o mundo pôde tomar conhecimento de determinados episódios que mostraram
a situação trágica que poderia ter se desdobrado da crise dos mísseis.
“Um sujeito chamado Arkhipov salvou o mundo”, disse Thomas Blantom, do Arquivo de Segurança
Nacional em Washington, (...). Ele se referia a Vasili Arkhipov, um oficial da Marinha soviética que, a
bordo de um submarino, barrou uma ordem de lançar torpedos nucleares em 27 de outubro, no momento
20
mais tenso da crise, quando os submarinos estavam sendo atacados por destróieres americanos. Era
de se esperar uma reação devastadora, detonando uma guerra de grandes proporções”. Ayerbe29.
Por fim, o desfecho da crise acabou ocorrendo de negociada. O primeiro passo aconteceu ainda
em 26 de outubro, quando o primeiro-ministro soviético Kruschev decidiu enviar uma carta ao
presidente Kennedy defendendo um acordo: os soviéticos retirariam o armamento nuclerar de
Cuba em troca da preservação da ilha socialista de Fidel Castro, sem quaisquer tentativas de
invasão. No dia seguinte, a proposta foi completada com outra reivindicação: a retirada dos
mísseis da Turquia.
Por mais que os Estados Unidos não tenham declarado publicamente o cumprimento da
segunda parte do acordo, eles acabaram retirando os mísseis sigilosamente depois. Deste modo,
a crise dos mísseis terminou sem resultar no tão temido conflito nuclear. Mas a história poderia
ter ocorrido de forma muito diferente, potencialmente mais trágica, caso algumas escolhas
tivessem sido diferentes, ou mesmo sob uma ação precipitada de alguns dos lados do conflito.
Vejamos agora como nossos delegados se comportarão nas sessões históricas do Conselho
de Segurança. Quais serão as suas escolhas?
___________________________________________________________________________
Mapa com o alcance dos mísseis de Cuba. As instruções da CIA para JFK mostra a escala dos mísseis. Fonte: National
Security Archive. Disponível em http://www.cubanmissilecrisis.org/background/original-historic-sources/photo-gallery/
29
AYERBE, Luis Fernando. A Revolução Cubana. SP: Editora da UNESP, 2004. Página 50.
21
3. RECOMENDAÇÕES AOS DELEGADOS
Todas as considerações feitas até agora procuraram apresentar o comitê e delimitar um
problema, que precisa de solução. Assim sendo, possibilitaram apenas um conhecimento inicial
da temática, assim como procuraram lançar as bases para que os senhores delegados (as)
possam aprofundar nos estudos e pensar em propostas. Lembrem que o Guia de Estudos é
apenas um ponto de partida. Para um bom desempenho é recomendável que cada delegação
procure saber mais sobre o comitê, acerca do tema e da legislação vigente, sem desrespeitar a
política externa do Estado representado.
Além das questões postas acima, recomenda-se também que:
Elabore seu DPO (DOCUMENTO DE POSIÇÃO OFICIAL) de forma objetiva, sem extensões
desnecessárias sobre a história do país ou informações geográficas. O mais relevante é o
posicionamento de sua delegação quanto ao problema e possíveis propostas de solução.
As informações básicas sobre o DPO serão fornecidas durante os eventos preparatórios
para a IX SIMUNA. Portanto, procure seus diretores de mesa e informe-se.
Durante os debates, tenha o máximo possível de clareza e objetividade em suas
argumentações, observando as regras de decoro e a seriedade do problema e ser tratado.
Não fuga do tema central: a instalação de bases e misseis nucleares soviéticos em
Cuba. Trate de temas relacionados apenas como forma de reforçar seu posicionamento
dentro do comitê.
Não se esqueça que estamos em um comitê histórico e, enquanto tal, precisamos respeitar
o contexto e a conjuntura da época em questão. Não apresente dados, fatos ou quaisquer
outros elementos posteriores a 25 de outubro de 1962. Pesquise sobre a Guerra Fria, os
embates entre os Estados Unidos e Cuba, o papel da União Soviética, entre outros fatores
históricos de grande relevância.
Estude os demais países presentes no comitê. Qual delegação possui problemas
internos e interesses semelhantes? Quais defendem interesses divergentes a sua delegação?
Conheça o máximo possível sobre o tema.
(Se possível, construa um dossiê com informações
pertinentes aos debates. Registre propostas, dados estatísticos, documentos que possam reforçar sua
argumentação, sugestões de documentos de trabalho, entre outros).
Não se esqueça de pesquisar no site das Nações Unidas, do CSNU, de organizações não
governamentais e universidades.
Elabore propostas para o problema. NÃO deixe para fazê-lo apenas com o comitê em
andamento.
22
Por fim, lembre-se: não é o país que determina o desempenho dos seus delegados, mas
são os delegados que, com sua competência, desenvoltura, interesse e preparo acadêmico
que determinarão o desempenho de cada Estado.
4. REFERÊNCIAS:
Carta de Princípios da ONU: http://nacoesunidas.org/carta/
Declaração Universal dos Direitos Humanos: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf
Security Council Report, instituição sediada em NY que reúne documentos e artigos de interesse sobre o Conselho.
http://www.securitycouncilreport.org/
Página do Ministério das Relações Exteriores do Brasil sobre a reforma no CSNU. http://csnu.itamaraty.gov.br/
Histórico da criação das Nações Unidas, a luz de seus 70 anos, em 2015.
http://www.unric.org/pt/actualidade/31873-carta-das-nacoes-unidas-celebra-70-anos-com-eventos-em-sao-francisco
Especial Estadão sobre os 50 Anos da Crise dos Mísseis.
http://topicos.estadao.com.br/crise-dos-misseis
Excelente site da Harvard Kennedy School com documentos sobre a Crise dos Mísseis. Fotos, mapas.
http://www.cubanmissilecrisis.org/
___GARCIA, Eugênio V. Conselho de Segurança das Nações Unidas. Brasília, FUNAG, 2013.
http://funag.gov.br/loja/download/1075-conselho%20-seguranca-das-nacoes-unidas.pdf
___AYERBE, Luis Fernando. A Revolução Cubana. SP: Editora UNESP, 2004
___AVILA, Carlos Frederico D. Crise dos mísseis soviéticos em Cuba: um estudo das iniciativas brasileiras
Revista Varia História, Belo Horizonte, vol. 28, nº 47, p.361-389, jan/jun 2012.
http://www.scielo.br/pdf/vh/v28n47/17.pdf
23
5. ANEXO
5.1 Neste contexto, o presidente Kennedy determinou a imposição das seguintes medidas
em 22 de outubro de 1962.
• Uma estrita quarentena – eufemismo utilizado para mascarar o bloqueio naval – de todos os
navios que se dirijam a Cuba com material militar de natureza ofensiva, podendo se estender a
medida a cargas de outra ordem, se assim for necessário. Cumpre acrescentar que, segundo a
documentação consultada, na época da imposição do bloqueio naval norte-americano pelo
menos 20 navios soviéticos – ou alugados por Moscou em outros países – estavam navegando
com destino à ilha de Cuba.
• Intensificar a vigilância aérea sobre Cuba; o que significava uma clara violação do espaço
aéreo cubano por aviões espiões U-2 norte-americanos e a eventual derrubada desses por
baterias antiaéreas cubanas ou soviéticas.
• O estabelecimento do princípio de que qualquer ataque de foguetes teleguiados contra os
Estados Unidos ou qualquer outro país do continente americano passaria a ser considerado
como um ataque da União Soviética contra os Estados Unidos, o que implicaria uma retaliação
imediata contra a União Soviética.
• A evacuação do pessoal civil da base norte-americana de Guantánamo.
• O pedido imediato de reunião de consulta da Organização dos Estados Americanos, nos
termos dos artigos seis e oito do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Cumpre
adiantar que a intenção de Washington era aprovar imediatamente no foro hemisférico uma
declaração recomendando aos Estados membros adotar todas as medidas, individual ou
coletivamente, inclusive o uso da força, que eles – isto é, que o governo dos Estados Unidos –
considerassem necessárias para assegurar que o governo de Cuba não pudesse continuar
recebendo das potencias socialistas material militar, cargas nucleares e outros suprimentos
susceptíveis de ameaçar a paz e a segurança no continente, bem como prevenir que os mísseis
em Cuba com capacidades ofensivas se tornassem ameaças operativas contra os países
americanos removendo-os daquela ilha.
• Convocar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das
Nações Unidas a fim de estudar a situação e recomendar a desmontagem e a retirada das
instalações de natureza ofensiva em Cuba.
• A expedição de mensagem ao premier Nikita Kruschev demandando seus bons ofícios e
apelando-o para lograr a eliminação da – suposta – ameaça soviética em Cuba e, nos fatos,
atribuindo-lhe a maior parte da responsabilidade da crise e suas consequências. Cumpre
acrescentar que essa foi a primeira das 24 cartas trocadas entre ambos governantes de outubro
a dezembro de 1962.7
• Finalmente o presidente Kennedy declarou que seu governo não poderia contemporizar e que,
embora pronto para negociar, não o faria sob ameaças; exigindo-se, portanto, a retirada prévia
e incondicional dos mísseis soviéticos já instalados em Cuba como condição inicial para outros
acertos com Moscou e com Havana. Em outras palavras, o mandatário estadunidense alertava
24
que o bloqueio só cessaria quando observadores imparciais – possivelmente da ONU –,
admitidos em território cubano, comprovassem o desmantelamento dos mísseis.
_______________________________________
Fonte: Crise dos mísseis soviéticos em Cuba: um estudo das iniciativas brasileiras. Carlos Frederico D. Avila. VARIA
HISTORIA, Belo Horizonte, vol. 28, nº 47, p.361-389, jan/jun 2012. Disponível em
http://www.scielo.br/pdf/vh/v28n47/17.pdf
25