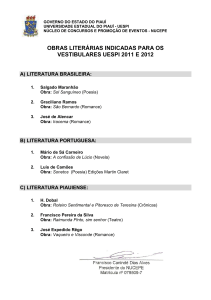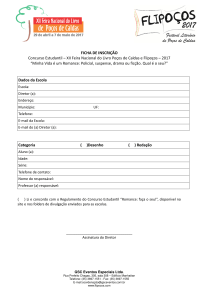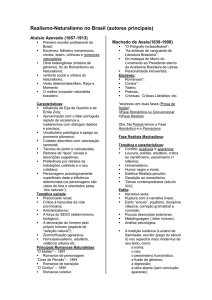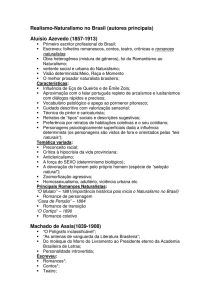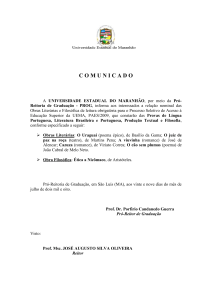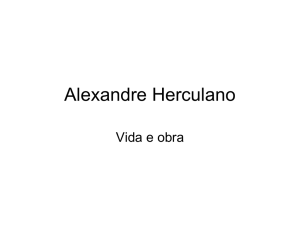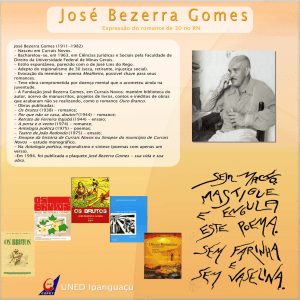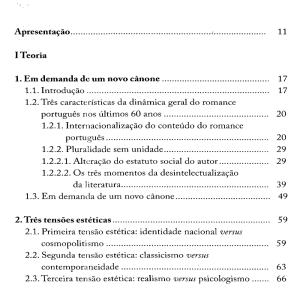REVOLUÇÃO, RENOVAÇÃO:
CAMINHOS DO ROMANCE PORTUGUÊS NO SÉCULO XX(*)
José Rodrigues de Paiva – UFPE
Para Elizabeth Dias Martins e Roberto Pontes
A crítica literária, o ensaísmo e a historiografia da cultura que em Portugal e no
Brasil se têm dedicado à análise da produção literária portuguesa dos últimos cinqüenta
anos situam, mais ou menos à unanimidade, no movimento militar de 25 de Abril de 1974,
a popularmente chamada “revolução dos cravos”, não só o início de uma nova etapa da
história do país profundamente marcada por transformações de ordem política e ideológica,
aquisição de novos hábitos culturais, sociais e mesmo pela descoberta ou instauração de
uma nova “psicologia” coletiva, novos comportamentos e formas de estar na vida, mas
também, com esse movimento, relacionam um ponto de viragem estético, abrangente de
todas as manifestações da Arte porventura mais sensivelmente perceptível na literatura. É
natural que assim seja ou tenha sido – quer se considere este específico caso português,
quer, em tese, o abstrato de qualquer hipótese semelhante – uma vez que é sobre o território
da História e da Sociedade que a Arte se situa, aí se tecendo a rede de interações e interrelações que nelas – na História e na Arte – haverão de se materializar. É, pois, natural que
a Revolução portuguesa de 25 de Abril de 1974 tenha vindo a ser o ponto de partida para
uma fase de renovação da literatura com a definição de novos caminhos da escrita surgidos
a partir de então no cenário português. No nosso ensaísmo e na nossa historiografia cultural
é já isto ponto pacífico, com resultados testados em pesquisas e trazidos à reflexão, por
exemplo, por Eduardo Lourenço, Maria Alzira Seixo, Luís Mourão ou Carlos Reis, do lado
português, e de Aparecida Santilli ou Nelly Novaes Coelho, do lado brasileiro1. Estes
(*)
Conferência apresentada no II Encontro Norte/Nordeste de Professores de Literatura Portuguesa, realizado
em Fortaleza, na UFCE, de 1 a 3 de outubro de 2008.
1
A propósito das relações entre a literatura e o movimento revolucionário português do 25 de Abril, importa
referir os seguintes estudos: COELHO, Nelly Novaes. A guerra colonial no espaço romanesco. In: _____ .
Escritores portugueses do século XX. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007, p. 377-387.
ensaístas (e decerto outros que aqui não cito o fizeram também) perspectivaram, já com o
benefício do distanciamento de uma ou duas décadas, as relações verificáveis entre o novo
tempo histórico português e o novo contexto cultural e mesmo um novo texto literário.
Do ponto de vista formal essa “nova” escrita literária haveria de ampliar, porventura
mais ousadamente, algumas experiências de ordem estética já anteriormente intentadas,
prosseguindo um caminho de renovação textual (sobretudo estrutural) começado a trilhar,
principalmente no romance, por alguns autores já nos anos de 1960, em particular pelos que
promoveram a saída estética do impasse e do esgotamento em que o neo-realismo fizera
mergulhar a narrativa ficcional. Por outro lado, a “nova” escrita pós-revolução encontra, na
queda do regime repressor, na democratização do país e na liberdade de expressão que tal
cenário permite, a possibilidade de tematizar, sem limites, tudo quanto até ali fora proibido.
Natural que, estando a guerra colonial na origem mesmo da Revolução de Abril, viesse ela
a constituir um dos principais temas dessa nova literatura. Pôde então falar-se numa
“literatura da guerra”, de tal forma o tema se tornou recorrente. O mesmo diga-se quanto à
reorganização política do país, igualmente tematizada e representada ficcionalmente em
obras a aparecer após o rescaldo revolucionário.
A representação literária dessa traumática metamorfose da vida nacional portuguesa,
cujo processo passou pelo desgaste do regime que cegamente sustentou por mais de uma
década em várias frentes africanas uma guerra sem esperanças e de duvidosa justiça, pelas
conseqüências humanas, econômicas e sociais da descolonização apressada e precipitada
pela revolução, pelo delineamento de um novo regime à procura dos caminhos da
democracia, fatalmente implicava o súbito desmonte de uma organização antiga, e,
desmontada esta sem outra que de imediato a substituísse, gerava-se o caos, o vazio, o
“buraco negro” sem horizonte em que se vislumbrasse um novo cosmos. Sem teto entre
LOURENÇO, Eduardo. Situação da literatura portuguesa. In: _____ . O canto do signo. Existência e
literatura. Lisboa: Presença, 1993, p. 268-279; Literatura e revolução. Ibidem, p. 292-301. MOURÃO, Luís.
Abril em Portugal. In: _____ . Um romance de impoder. Braga-Coimbra: Ângelus Novus, 1996, p. 97-137.
REIS, Carlos. Trajectos e sentidos da ficção portuguesa contemporânea. Camões. Revista de Letras e Culturas
Lusófonas. Lisboa, n. 1, p. 32-39, abr.-jun. 1998. SANTILLI, Maria Aparecida. A renovação do discurso na
literatura portuguesa da atualidade: o texto infinito. In: Encontro de Professores Universitários Brasileiros de
Literatura Portuguesa, 14, 1992, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: CECLIP/CPGL – EDIPUCRS, 1994, p.
21-38. SEIXO, Maria Alzira. Dez anos de ficção em Portugal (1974-1984). In: _____ . A palavra do romance.
Ensaios de genologia e análise. Lisboa: Horizonte, 1986, p. 48-65; Para uma leitura crítica da ficção em
Portugal no século XX. Anos quarenta a noventa. In: _____ . Outros erros. Ensaios de literatura. Porto: Asa,
2001, p. 21-44.
ruínas, título de um romance de Augusto Abelaira publicado em 1978 reflete muito bem
esse sentimento de desagregação e desamparo. A necessidade de tudo reconstruir. Tal como
em Signo sinal (1979), romance de Vergílio Ferreira iniciado em 1973, de algum modo
premonitório do que historicamente sucederia ao país a partir do ano seguinte e que
metaforiza a situação com a destruição repentina de uma aldeia por um terremoto que tudo
arrasou e que é preciso reerguer a partir do nada. A representação ficcional de tão drásticas
e dolorosas transformações teria de passar necessariamente pela própria escrita, ela mesma
abalada nas suas estruturas, quebrada na sua organicidade canônica, fragmentada,
desestruturada, tal como esse mundo arrasado que era preciso soerguer dos escombros.
Quando se reconheceu vitoriosa a Revolução de Abril, imaginou-se que grande
número dos escritores portugueses de então aparecesse subitamente a publicar obras até ali
de edição impossível face ao severo patrulhamento ideológico do regime deposto. Não foi
bem assim. As gavetas dos escritores não guardavam tais pretendidos originais e foi preciso
esperar para se ver surgirem os resultados literários desse novo tempo histórico. Não que
não houvesse uma literatura (e outras expressões artísticas) de rejeição ou de reação ao
sistema político finalmente encerrado, sendo bastante lembrar o longo percurso do neorealismo e mesmo a sua manifestação nas artes visuais (particularmente na pintura) ou
lembrar a canção universitária de protesto, vinda principalmente da Coimbra dos anos 60 e
70 nos poemas, nas vozes e na música de Manuel Alegre, Adriano Correia de Oliveira, José
Afonso... Houve, sim, uma literatura que fez a pregação da mudança política do país, mas
ela exauriu-se, como arte, no seu esquematismo, no seu populismo, na repetição e no
esgotamento das suas formas simples e da sua força de programa ideológico que não
conseguiu, como o movimento pretendia, realizar a histórica intervenção transformadora da
vida social e política portuguesa. Foi preciso então mudar o neo-realismo para que a
literatura continuasse. É dos anos 60 (e principalmente do emblemático 1968) essa
mudança de rumo, embora ela tenha antecedente bastante anterior num certo romance que
Vergílio Ferreira publicou em 1949, que significativamente se intitulava Mudança e
apontava noutra direção que não a da arte social, mas a da reflexão existencial, a do sentido
da vida e da presença do homem no mundo. Mais ou menos indiferente ao que se passava à
sua volta, embora duramente criticado pelos que se mantiveram fiéis à ortodoxia neorealista, Vergílio Ferreira deu continuidade ao percurso solitário inaugurado com esse livro
desenvolvendo o trajeto por Manhã submersa (1953), Apelo da noite (escrito em 1954 e só
publicado em 1963), Cântico final (escrito em 1956 e publicado em 1960), Aparição
(1959), Estrela polar (1962), Alegria breve (1965) abrindo caminho para um romance
“diferente” daquele que então se escrevia em Portugal e que alguma crítica da época, e
mesmo posterior, classificou de “existencialista”.
Se em Mudança se percebe claramente o jogo dialético entre o social e o existencial
– que o próprio Vergílio situa como o confronto entre o relativo e o absoluto – os romances
seguintes indicam, passo-a-passo o predomínio do segundo elemento do confronto. É o
existencial, é o absoluto que virá a interessar predominantemente ao autor e a orientar a sua
busca e o seu caminho. Seja esse absoluto o da afirmação de uma vontade ou da escolha de
um destino (Manhã submersa), seja o da opção entre o abstrato de uma idéia e o concreto
de uma ação (Apelo da noite), seja o da plenitude da entrega à criação artística como forma
de justificar a vida (Cântico final), seja o da descoberta do Eu na fugaz aparição do ser a si
mesmo (Aparição), seja o do conhecimento da identidade profunda do Outro (Estrela
polar), seja a solitária autodescoberta do homem frente a si mesmo num mundo
completamente despovoado (Alegria breve). Se em Mudança, Manhã submersa e Apelo da
noite ainda se percebem os “cenários” e os ecos de uma problemática social em diluição, já
nos demais romances – Cântico final, Aparição, Estrela polar e Alegria breve – a sua
reverberação se apagara por imposição de uma crescente tendência de problematização
fenomenológica. Mesmo o que neles se pudesse ainda vislumbrar de “cenários” neorealistas (a aldeia na montanha, por exemplo) estava agora transformado em metáfora,
símbolo ou alegoria. No plano estrutural os romances de Vergílio Ferreira desenvolvem,
também, um sentido de pesquisa – tal como ocorre nos seus temas – à procura de novas
possibilidades de linguagem e de “desenho”, promovendo passo-a-passo a ruptura com o
“modelo clássico” em termos gerais mantido até Aparição. Estrela polar e Alegria breve
realizam a passagem desse romance ainda baseado em algumas “certezas” narrativas para
aquele em que essas “certezas” deixam de existir, em que o romance se apresenta a si
mesmo como uma ficção que já não pretende parecer que o não é e em que se faz a
representação de um mundo permanentemente ameaçado pela desagregação, pelo caos, ou
já mesmo nele mergulhado. Nítido nulo, publicado em 1971, é o ponto de chegada desse
percurso vergiliano, o romance desse universo caótico no qual o homem é
irremediavelmente prisioneiro. Mas este ponto de chegada é apenas o de uma etapa do
caminho com desdobramentos futuros.
Entretanto, encetada esta mudança de rumo na condução do romance de Vergílio,
experiências análogas se lhe foram seguindo em experimentações literárias realizadas por
outros autores. O neo-realismo estava definitivamente esgotado nas suas possibilidades
estéticas (aliás desprezadas na sua primeira hora), o que viria a ser reconhecido até mesmo
por neo-realistas “históricos” e, sobretudo, pelos que ao longo do caminho foram aderindo
aos seus postulados. Tal romance, se limitado à pregação ideológica, à propaganda, ao
panfleto, à defesa da revolução proletária ou campesina contra as estruturas do poder, era
insuficiente para a realização da literatura como arte. Vergílio Ferreira (como também
Agustina Bessa-Luís) viu isso muito cedo. Outros o veriam depois, o próprio Redol,
iniciador (com Gaibéus – 1940) desse romance sem estética, o reconheceria mais tarde,
implicitando esse “reconhecimento” nas qualidades artísticas dos seus últimos romances
(Uma fenda na muralha [1959] ou Barranco de cegos [1962], por exemplo). E assim,
aqueles que se sentiam mais escritores literários do que simples “apóstolos” da utopia de
uma revolução sem esperanças (a do campesinato ou do operariado marxistas) buscaram na
construção literária, na consciência estética, nos mistérios e fulgurações da invenção
artística novas linguagens e novas estruturas romanescas que lhes permitissem ultrapassar o
impasse em que o movimento mergulhara, pelo menos do ponto de vista literário. Vem daí,
de dez ou quinze anos antes dos cravos de Abril de 74, a renovação do texto romanesco
português. Vem da saída estética para os emparedados do neo-realismo encontrada ou
construída por um Vergílio Ferreira, um Namora, um Cardoso Pires, Abelaira, Urbano
Tavares Rodrigues, Carlos de Oliveira ou mesmo por Saramago, que retematiza (e
reenergiza) o neo-realismo num romance muito posterior a este movimento: Levantado do
chão (1980).
Todos mais ou menos fiéis aos preceitos neo-realistas – à exceção de Vergílio
Ferreira, que deles se afastou muitíssimo cedo –, estes autores, em sintonia com
movimentos de reformulação narrativa desencadeados em outras literaturas, como por
exemplo o nouveau roman, o estruturalismo ou as influências da lingüística, passaram a
“testar”, na construção dos seus romances, novas linguagens e estruturas que servissem à
saída do esgotamento em que se encontravam e assim acabaram por dar início a uma
importante fase de renovação da narrativa ficcional portuguesa.
São efetivamente notáveis as diferenças formais e de linguagem – constituindo
verdadeiras e radicais transformações – verificadas, por exemplo, em Vergílio Ferreira,
entre Vagão “J” (1946) ou Mudança (1949) e Nítido nulo (1971) ou Rápida, a sombra
(1974). Sem falar nos romances da sua última fase – de concepção muito mais ousada –,
porque estabeleci a década de 70 como limite para esta comparação sugerida. Diga-se o
mesmo com relação a Fernando Namora e aos seus romances neo-realistas – Casa da malta
(1945), A noite e a madrugada (1950) ou O trigo e o joio (1954) –, que, se postos em
comparação com Domingo à tarde (1961), Diálogo em setembro (1966), Os clandestinos
(1972) e particularmente com os seus dois últimos livros, as narrativas de Resposta a
Matilde (1980) e o romance O rio triste (1982), tornam evidente, no autor, a intenção de
renovar estruturas ficcionais e possibilidades temáticas. Intenção comum a todos estes
escritores citados, já foi dito, e que em alguns se manifesta em mais breve intervalo
temporal. Por exemplo, em Cardoso Pires, a comparação que se faça entre Os caminheiros
e outros contos (1946) ou O anjo ancorado (1958) com O Delfim (1968) apontará
transformações radicais, a todos os níveis, na arte do escritor. Transformações que ainda
mais se aprofundam na estruturação e na estilística dos dois romances futuros, Balada da
Praia dos Cães (1982) e Alexandra Alpha (1987). Caso idêntico é o de Augusto Abelaira,
radicalmente diverso entre a narrativa convencional do seu primeiro romance – A cidade
das flores (1959) – e o experimentalismo da estrutura narrativa de Bolor (1968). O Delfim e
Bolor, romances publicados no já mitificado e revolucionariamente renovador ano de 1968
têm, ambos, o seu quê de “revolucionário” no que significaram (e significam) no processo
de renovação da narrativa portuguesa. O Delfim de algum modo “reescreve” o neo-realismo
– presente no romance não só pela valorização do cenário rural, mas também pelas
diferenças de classe evidenciadas, geradoras de ódios –, mas “reescreve-o” com refinada
arte narrativa, com uma construção estrutural complexa e habilmente desenvolvida. Este
romance de Cardoso Pires ainda é (embora vagamente...) mas já não é obra do neorealismo. É uma saída perfeita, uma ponte segura para a travessia sobre o impasse. Quanto
a Bolor, nada mais tem a ver com a literatura social inaugurada trinta anos antes.
Tematizando o desgaste de uma relação conjugal e a impossibilidade da
comunicação entre o casal, este romance de Abelaira – cujo título é de significativa carga
simbólica – revoluciona a estrutura narrativa com a representação de um diário
alternadamente escrito ora pelo homem ora pela mulher e em que cada registro é uma
espécie de resposta ao outro. É nesse “lugar” – o diário –, que é o “lugar da escrita”, que a
narrativa acontece e que se dá, em silêncio, a (im)possível comunicação entre os parceiros
de um casamento em crise. Assim o romance problematiza também o ato de escrever, no
que coincide com O Delfim, em que se faz a representação da escrita do protagonistanarrador (que a si mesmo se apresenta como “Autor”), que observa a aldeia da Gafeira e os
seus
habitantes
(ricos
e
pobres),
caça,
investiga
um
homicídio
e
escreve.
Extraordinariamente moderno, este romance recupera o “clássico” recurso da mise-enabyme e a partir dele (mas não só com ele) elabora a sua modernidade. É com este romance
que José Cardoso Pires estabelece um diálogo estético entre o presente e o passado recente
da literatura nacional ao mesmo tempo em que prepara o salto para o futuro (o que só muito
depois se poderia perceber) na direção de uma narrativa temática e estruturalmente muito
mais ousada, como viria a ser Balada da Praia dos Cães, livro de 1982 cuja publicação só
se tornou possível graças à mudança de regime político operacionalizado a partir do Abril
de 74.
Também com relação a Carlos de Oliveira se pode pensar na problematização da
escrita, de tão recorrente presença na narrativa portuguesa contemporânea. Mas neste autor
talvez de forma mais insólita do que quanto aos demais da sua geração, porque a escrita por
ele problematizada não é a que numa obra de ficção imaginariamente se fizesse representar,
mas a escrita real, a verdadeira escrita, a sua, a escritura dos romances que ele publicou ao
longo de uma década, de 1943 a 1953 – Casa na duna, Alcatéia, Pequenos burgueses, Uma
abelha na chuva – todos rigorosamente reescritos para as suas reedições num lento,
constante e consciente processo de depuração estética destinado a afastar, das obras
reescritas, as marcas mais que evidentes do neo-realismo inicial e programático. Todo esse
processo de paciente reescritura de uma obra inteira não deixa de ser preparatório para a
elaboração do livro mais complexo do escritor, o seu último romance, publicado em 1978,
Finisterra: paisagem e povoamento, salto do autor para o experimentalismo da linguagem e
da estrutura romanesca, percurso e “aventura” de uma experiência estética, uma “poética”
da escrita lentamente elaborada entre as diferenças e incertezas da modernidade literária.
Começa com estes autores a aquisição de uma nova consciência do fazer literário,
sobretudo quanto ao gênero romanesco. Para usar a feliz expressão de Jean Ricardou, “o
romance deixa de ser a escrita de uma aventura e passa a ser a aventura de uma escrita”2.
Finalmente sintonizados com tendências da estética literária internacionalmente
desenvolvidas, os romancistas portugueses, sobretudo a partir do final dos anos 70
entregaram-se cada vez mais a essa aventura. Mas não tinham, em 1974 – como
supostamente se poderia pensar – originais que a repressão, finalmente abatida, impedia de
publicar, o que então se tornava possível com o despontar daquela primavera de liberdade.
Foi preciso esperar que essa estação florisse, abrindo esse tempo que veio já
demasiadamente tarde para alguns, assim se queixou Vergílio Ferreira, embora ele ainda
tenha usufruído dos benefícios desse tempo novo.
O primeiro livro a fazer a representação dessa nova era política portuguesa, terá
sido, segundo alguma crítica faz constar, Crônica do cruzado Osb., romance que Agustina
Bessa-Luís publicou em 1976. Aí a escritora, dando vazão ao seu gosto pela História que
vem a ser núcleo de várias obras suas (algumas, inclusive, de escritura recente), invoca
vários movimentos revolucionários (da Revolução Francesa ao Maio de 68), a partir da
figura do guerreiro-cronista Osberno ou Osberto ou simplesmente Osb., o cruzado inglês
que participou do cerco de Lisboa, em 1147, destinado a libertar a cidade do domínio árabe
e desse tempo e ação deixou o seu testemunho escrito. Compondo o “aparato” estético do
romance de Agustina tem-se que esse “testemunho” ou relato do cruzado, documento real
(divulgado em Portugal por Alexandre Herculano), existente como “carta” numa biblioteca
da Universidade de Cambridge, é tomado, como representação literária, por Josué,
personagem de Agustina, escritor, autor de um livro que se chama Crônica do cruzado Osb.
Assim, mais uma vez, a presença da mise-en-abyme, textos que se encaixam dentro de
textos, tematização ou representação ficcional da História e da ficção, uma ficção que
representa outra ou outras, além de realidades ficcionalizadas. Recurso moderno embora de
sempre, porventura oriundo dos primórdios da literatura. Sobre as relações diretas deste
romance de Agustina com a nova realidade político-social portuguesa, diz Álvaro Manuel
2
Cf. RICARDOU, Jean. Problèmes du nouveau roman. Paris: Seuil, 1967, p. 111.
Machado que ele “desmonta o processo histórico e sócio-político [além do econômico,
cultural e psicológico] do movimento revolucionário de 25 de Abril de 1974”, motivo
temático já preludiado, segundo o mesmo ensaísta, no anterior romance da escritora, As
pessoas felizes (1975). Crônica do cruzado Osb., ainda conforme Manuel Machado, “é bem
um romance sobre a revolução nas suas relações com o tempo e com as paixões humanas”
no qual Agustina “tenta definir a revolução interrogando-se sobre a sua ambivalência
passional e temporal”, [...] pondo em relevo não só a impossibilidade de voltar ao passado
mas também, talvez sobretudo, os obscuros males desse passado.”3. A escritora
desenvolveria ainda o tema em romances posteriores: As fúrias (1977) e Os meninos de
ouro (1983), análise, este último, da nova sociedade portuguesa (e dos seus expoentes
políticos e econômicos) surgida a partir do movimento de abril.
O pós-25 de Abril de 74 tornava enfim possível análises sociais dessa ordem,
enfocadas, criticamente, as novas estruturas políticas e administrativas, as novas lideranças,
as novas ideologias. Tornava possível, também, o aparecimento da vertente temática da
guerra colonial representada em toda a sua violência principalmente nos romances de
António Lobo Antunes (sobretudo os da fase inicial do escritor) – de tal forma recorrente
neste e em outros autores que se poderia falar numa “literatura da guerra” –, tal como
possibilitava o surgimento de uma “literatura do exílio” (destacado o tema em experiências
ficcionais do ensaísta Álvaro Manuel Machado: Exílio [1978] e A arte da fuga [1983]), ou
ainda a retomada do velho tema da emigração (por João de Melo), a visão literária do póscolonialismo – radicalizada em excessos de violências e de irreverências ditas “pósmodernas” no Lobo Antunes de As naus (1988) – na qual se pode inscrever Partes de
África (1991), de Helder Macedo, e de que A costa dos murmúrios (1988), de Lídia Jorge,
tem figurado entre os melhores resultados. Da mesma autora, a propósito da renovação da
narrativa portuguesa centrada nos anos 70, O dia dos prodígios (1979) como representação
fantástica da sociedade revolucionária é praticamente referência obrigatória. Também o
são, frente ao inevitável “diálogo” entre colonialismo e pós-colonialismo, mas acentuando
uma pessoalíssima vertente lírica e quase elegíaca, obras como A árvore das palavras
(1997), de Teolinda Gersão ou A noite transfigurada (2006) de Filomena Cabral, narrativas
3
MACHADO, Álvaro Manuel. Agustina Bessa Luis. A vida e a obra. Lisboa: Arcádia, 1979, p. 65 e 66.
da recuperação memorialística de um tempo em que a alegria foi possível, mesmo num
cenário sombrio.
Desta literatura, na qual, como referência cronológica e temática a Revolução de
Abril se levanta como fronteira a separar o imediatamente antes do imediatamente depois,
dois aspectos (entre tantos outros pesquisáveis) fazem-se notar por sua expressividade. Um
deles situado apenas quanto a questões de gênero no universo autoral, mas com inegáveis
desdobramentos de interesse no universo e caracterização da criação literária: o de uma
intensa e crescente presença e participação feminina no processo de renovação da escrita
portuguesa. O outro ligado a questões estruturais dessa renovação: o da auto-reflexividade
na narrativa ficcional. Agustina Bessa-Luís pode muito bem ser pensada como símbolo
para os dois aspectos: mulher de grande destaque na literatura portuguesa contemporânea,
tematiza, antes e depois da revolução, tanto a problemática feminina quanto a reflexão que
a literatura pode fazer sobre si mesma. Mas é sobretudo a partir das Novas cartas
portuguesas (livro de 1971) e do “escândalo” e processo judicial que envolveu a obra e as
três Marias que a escreveram (Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Tereza
Horta) que se pode efetivamente falar, em Portugal, de uma “literatura da condição
feminina”. Aí, se em tempos hoje bastante distanciados já estavam, por exemplo, uma Irene
Lisboa ou uma Maria Archer, e nos mais próximos ou atuais uma Maria Judite de Carvalho
e a própria Agustina, inseriram-se a Fernanda Botelho de A gata e a fábula (1960), a
Natália Correia de A madona (1968), às quais vieram juntar-se, além das três Marias da
obra coletiva, as autoras de obras individuais: a Maria Velho da Costa, de Maina Mendes
(1969) e Casas pardas (1977), a Isabel Barreno e a Tereza Horta das ficções intensamente e
programaticamente feministas publicadas depois das Novas cartas. Notáveis, e destacadas
nesse panorama e nos dias de hoje, são Teolinda Gersão, desde O silêncio (1981) e
Paisagem com mulher e mar ao fundo (1982) ou Os guarda-chuvas cintilantes (1984) até A
casa da cabeça de cavalo (1995) ou aos contos do recente A mulher que prendeu a chuva
(2007), e Lídia Jorge, desde O dia dos prodígios (1979) até Combateremos a sombra
(2007), passando pelo Cais das merendas (1982) e por Notícia da cidade silvestre (1984).
O feminino (ou o feminismo) a que estas e outras escritoras deram continuidade tem hoje
em Inês Pedrosa uma das maiores representantes.
Como se o pretendido espírito renovador da revolução política se estendesse aos
domínios da literatura, esta ingressou, também – e particularmente no romance –, num
tempo de renovação de linguagens, estruturas e propósitos em que é predominante o traço
da auto-reflexividade da narrativa, reforçando a tendência de um romance ao qual passava a
interessar menos a representação realística e mais a problematização do próprio gênero
romance ou tematizações variadas que vão da História à religião, à biografia, às Artes,
passando pela literatura, pela pintura, pela música, pela dança. Cada vez mais esse romance
seria o da “aventura de uma escrita”, em que, cada obra ou cada “passo” pode constituir
uma diferente experiência, um diferente “episódio”.
Essa “aventura da escrita” – tendência moderna ou até pós-moderna da literatura na
qual é possível vislumbrar como ilustres e “clássicos” antecedentes o Eça de Fradique ou o
da Ilustre Casa de Ramires, o Pessoa do fingimento e dos heterônimos e particularmente o
do Livro do desassossego, e mesmo Sá-Carneiro, notadamente o da Confissão de Lúcio –
passaria pela reescritura dos universos tematizados e conseqüentemente pelo processo de
“contaminação” da escrita produzido pela inserção, na obra literária, de vários gêneros
textuais não literários: cartas, diários, relatórios, termos de depoimentos policiais, páginas
de processos judiciais, laudos de perícias, notícias e reportagens jornalísticas, etc. Neste
aspecto impõe-se como exemplo o livro de Cardoso Pires Balada da Praia dos Cães, sem
descaso, claro está, pelos nomes de Almeida Faria, Saramago, Mário Cláudio, Lobo
Antunes, Helder Macedo.
Os extremos da “aventura” têm conduzido a resultados igualmente extremos, como
é o da produção de uma nova escrita sem cultura nacional correspondente, assim disse
Eduardo Lourenço de Maria Gabriela Llansol já em 1979, a propósito da primeira obra
desta autora, O livro das comunidades (1977)4. Ou o da radicalização das experiências
narrativas de Maria Velho da Costa e as da própria Llansol, na restante obra. Ou o do
império da alegoria (por vezes de “inspiração” kafkiana) associado a processos de
renovação da escrita: Saramago. O da diluição (iniciada em agora já velhos movimentos de
vanguarda) cada vez mais radical, das estruturas e da identificação terminológica dos
4
LOURENÇO, Eduardo. Contexto cultural e novo texto português. In: Encontro Nacional de Professores
Universitários Brasileiros de Literatura Portuguesa, 7, 1979, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte:
Centro de Estudos Portugueses / Faculdade de Letras / UFMG, 1979, p. 24-30. Também incluído em
LOURENÇO, Eduardo. O canto do signo. Existência e literatura. Lisboa: Presença, 1993, p. 280-283.
gêneros literários – e particularmente do romance – que leva um autor como Lobo Antunes
a classificar como “poema” um seu livro (Não entres tão depressa nessa noite escura,
publicado em 2000) cujos leitores haverão de tentar ler como romance. “Tentar” ler, porque
na verdade, este, como outros da fase mais recente do escritor, são “romances sem
narrativa”: sem ação que se possa seguir, porque tudo é labirinto, tudo é caos de onde
emerge, apenas, a experiência de uma escrita que sustenta a obra na representação, quando
muito, de uma memória atormentada, mas, sobretudo, do labirinto e do caos. Lobo Antunes
é também um dos extremos (e dos mais radicais) da “aventura” da escrita literária
contemporânea.
É bem verdade que nesse processo de renovação nem tudo foi por todos levado a
tais extremos. Seria de lembrar que, contribuindo para a renovação do romance e
considerando-o como tal, na qualidade de gênero, Vergílio Ferreira, havendo tematizado
em Signo sinal (1979) a “suspensão” da História, a pintura e a dança em Cântico final
(1960), o romance em Rápida, a sombra (1974), novamente a pintura, o desenho e a
fotografia em Na tua face (1993), realizaria uma experiência estrutural com a arte da
música no Em nome da terra (1990). Agustina Bessa-Luís, depois de uma longa fixação na
História viria a problematizar, ficcionalmente, a própria literatura, recriando, em caráter e
espírito e na paisagem duriense do Vale Abraão (1999), um dos mitos maiores do realismo
oitocentista: Ema Bovary, a “Bovarinha”, no romance de Agustina. No mais recente
romance da escritora, A ronda da noite (2006), a pintura de Rembrandt vem a ser o tema
nuclear. Com Saramago, tematizada a História (Cerco de Lisboa, 1989), a pintura e a
escrita (Manual de pintura e caligrafia, 1977), a religião (Evangelho segundo Jesus Cristo,
1991), também a literatura (e particularmente a pessoana) o seria, e Ricardo Reis teria
finalmente (no Ano da morte – 1984) a sua “biografia” concluída. No romance mais
recente, As intermitências da morte (2005), a arte da música estaria na base de uma nova
experiência estrutural. Entre os mais novos, Almeida Faria tematizou o pós-25 de Abril na
Trilogia lusitana (composta por Cortes, 1978; Lusitânia, 1980 e Cavaleiro andante, 1983)
e o mito sebastianista em O conquistador (1990). Também do sebastianismo já se havia
ocupado Agustina Bessa-Luís em O mosteiro (1980). Mário de Carvalho, refinado cultor de
fina ironia em paródias da História e da ficção histórica como o é A inaudita guerra da
Avenida Gago Coutinho (1983), permaneceria fiel à História antiga, recriando com intensa
beleza literária um momento da Ibéria românica em Um deus passeando pela brisa da tarde
(1994), embora voltasse à paródia, agora da história portuguesa recente (guerra colonial, 25
de Abril, descolonização) em Fantasia para dois coronéis e uma piscina (2003). Mário
Cláudio tematizaria biografia e pintura, música e arte-cerâmica na “trilogia das mãos” – que
compreende os romances Amadeo (1984), Guilhermina (1986) e Rosa (1988) –, ampliaria o
conceito de biografia, “biografando” a Casa senhorial e familiar de A quinta das virtudes
(1990), e também se ocuparia ficcionalmente da literatura, regressando ao Eça de “A
catástrofe” em As batalhas do Caia (1995) e, recentemente, a Fernando Pessoa/Bernardo
Soares em Boa noite, Senhor Soares (2008).
Estes e outros são, de algum modo, trégua na vertigem dos experimentalismos
literários mais radicais, no equilíbrio que fazem entre a tradição e a renovação. É
provavelmente por seu intermédio que melhor se vêem perigos e injustiças de tais
radicalismos e “ousadias” nem sempre consistentes. A vertigem do “novo” tem conduzido a
um rápido e injusto esquecimento de alguns velhos (mas nem tanto) escritores que há
apenas alguns anos (duas ou três décadas) ocuparam a linha de frente da narrativa
portuguesa. Paralelamente, alguns novos são projetados como cometas (por vezes de vida
curta), confirmando a eficácia das estratégias de marketing e as dos agentes literários, as de
mercados, de ideologias, da alta rotatividade da fama representada por ou conseguida em
maratonas de lançamentos, entrevistas e viagens para feiras, congressos e bienais. Quem
hoje fala, por exemplo, em Fernando Namora ou Nuno Bragança? Mesmo em Cardoso
Pires ou Abelaira? O que fez despencar tão rapidamente para o silêncio do esquecimento a
obra de Vergílio Ferreira? Que teoria da recepção poderia explicar tal fenômeno? Talvez se
pudesse considerar as novas características ou estruturas da sociedade na explicação disso,
ou uma certa “consciência” econômica capaz de tudo transformar em possibilidade de
ganhos e que retira da criação artística (literatura incluída) o que havia nela de
saudavelmente “romântico” ou de superiormente elevado. Não há nenhum romantismo nas
“maratonas” visivelmente mercantilistas a que se submetem hoje os novos “profissionais”
das letras. Para a confirmação destes, tão numerosos e tão presentes nos noticiários de
periódicos, páginas e suplementos de cultura será necessário aguardar, ao lado da avaliação
(nem sempre isenta) da crítica imediata, o infalível julgamento do tempo. Como qualquer
outra atividade humana – sobretudo em tempos modernos – também a literatura está sujeita
aos efeitos da promoção de mercados, de “sistemas” de moda ou do fenômeno dos
modismos. E parece haver uma comunicação ou um “contágio” entre isto que acontece no
mundo da criação e o que vai acontecendo entre os que se ocupam dela para a avaliarem
criticamente. Também a crítica, inclusive a acadêmica, parece, por vezes, vulnerável a
esses modismos. Surgem cada vez mais velozes (e talvez duvidosos) novos
experimentalismos crítico-teóricos. Novas “metodologias” e novas terminologias vão
estendendo vasta rede de relações na reflexão estético-literária levando à ampliação de
conceitos tidos como cada vez menos capazes de significar, e, por conseqüência, a uma
permanente tendência para a procura de “novos olhares” para a focalização da literatura.
Multiplicam-se modos e perspectivas de abordagens crítico-teóricas para o estudo do
fenômeno literário: a crítica em si – por exemplo, a de raiz estética, hermenêutica ou
fenomenológica – já não é suficiente ou desejada, necessitando de aparatos que
identifiquem traços de “atualidade”, de “novidade”, que, numa certa vertigem, rapidamente
se desatualizam e envelhecem, sejam eles do tipo sóciocrítica, psicocrítica, mitocrítica,
estruturalismo, culturalismo... e as invenções que não param de crescer: ecocrítica,
etnocrítica, estudos de gênero, crítica homoerótica, desconstrucionismo, inter e
multiculturalismo, etc., etc,... Não se sabe se as radicais invenções produzidas nos textos
literários mais recentes estimulam a uma idêntica sintonização da crítica e a idênticas
invenções teóricas ou se o contrário disso... Seria o caso de perguntar se a criação segue a
teoria ou se a teoria vai seguindo a criação. Se os escritores escrevem para a teoria ou se a
teoria vai teorizando para os escritores... Alguém dirá que neste mundo moderno,
tecnológico, virtual e vertiginoso na informação/comunicação tudo é pós-moderno. Mas
pode ser um erro acreditar que efetivamente assim seja, em termos absolutos.
Olinda, julho-agosto de 2008.