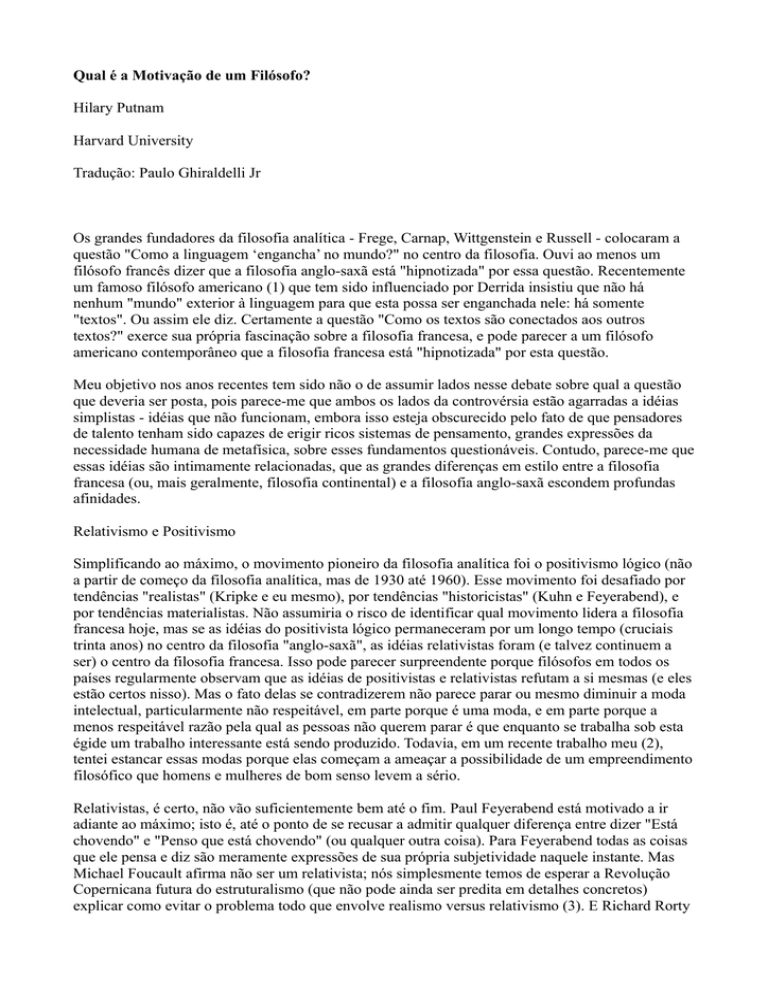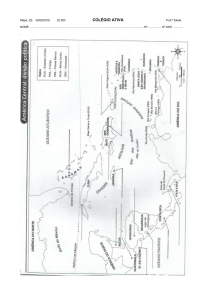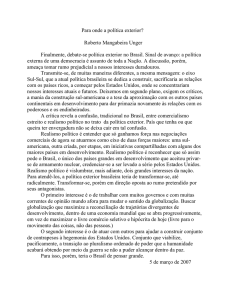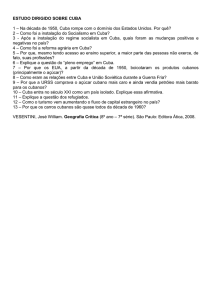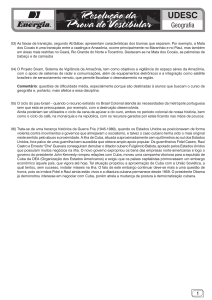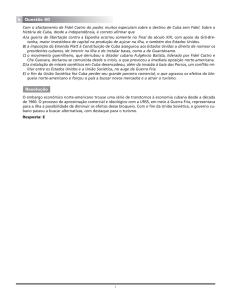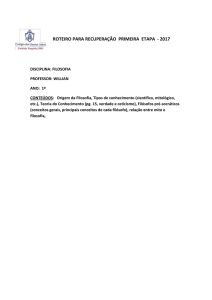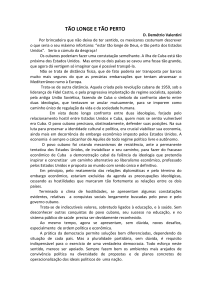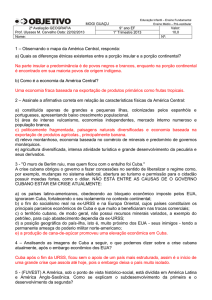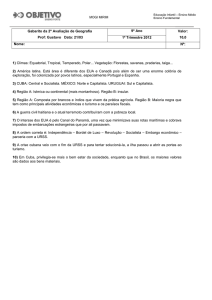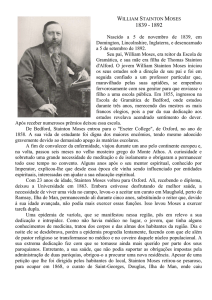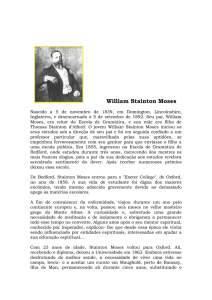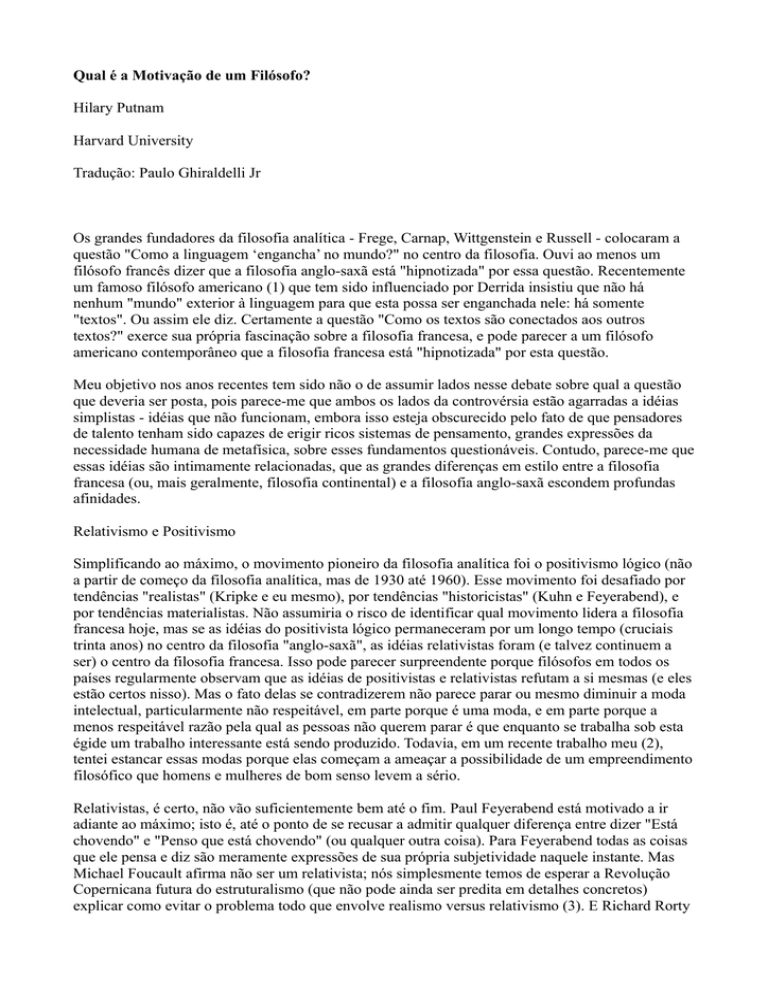
Qual é a Motivação de um Filósofo?
Hilary Putnam
Harvard University
Tradução: Paulo Ghiraldelli Jr
Os grandes fundadores da filosofia analítica - Frege, Carnap, Wittgenstein e Russell - colocaram a
questão "Como a linguagem ‘engancha’ no mundo?" no centro da filosofia. Ouvi ao menos um
filósofo francês dizer que a filosofia anglo-saxã está "hipnotizada" por essa questão. Recentemente
um famoso filósofo americano (1) que tem sido influenciado por Derrida insistiu que não há
nenhum "mundo" exterior à linguagem para que esta possa ser enganchada nele: há somente
"textos". Ou assim ele diz. Certamente a questão "Como os textos são conectados aos outros
textos?" exerce sua própria fascinação sobre a filosofia francesa, e pode parecer a um filósofo
americano contemporâneo que a filosofia francesa está "hipnotizada" por esta questão.
Meu objetivo nos anos recentes tem sido não o de assumir lados nesse debate sobre qual a questão
que deveria ser posta, pois parece-me que ambos os lados da controvérsia estão agarradas a idéias
simplistas - idéias que não funcionam, embora isso esteja obscurecido pelo fato de que pensadores
de talento tenham sido capazes de erigir ricos sistemas de pensamento, grandes expressões da
necessidade humana de metafísica, sobre esses fundamentos questionáveis. Contudo, parece-me que
essas idéias são intimamente relacionadas, que as grandes diferenças em estilo entre a filosofia
francesa (ou, mais geralmente, filosofia continental) e a filosofia anglo-saxã escondem profundas
afinidades.
Relativismo e Positivismo
Simplificando ao máximo, o movimento pioneiro da filosofia analítica foi o positivismo lógico (não
a partir de começo da filosofia analítica, mas de 1930 até 1960). Esse movimento foi desafiado por
tendências "realistas" (Kripke e eu mesmo), por tendências "historicistas" (Kuhn e Feyerabend), e
por tendências materialistas. Não assumiria o risco de identificar qual movimento lidera a filosofia
francesa hoje, mas se as idéias do positivista lógico permaneceram por um longo tempo (cruciais
trinta anos) no centro da filosofia "anglo-saxã", as idéias relativistas foram (e talvez continuem a
ser) o centro da filosofia francesa. Isso pode parecer surpreendente porque filósofos em todos os
países regularmente observam que as idéias de positivistas e relativistas refutam a si mesmas (e eles
estão certos nisso). Mas o fato delas se contradizerem não parece parar ou mesmo diminuir a moda
intelectual, particularmente não respeitável, em parte porque é uma moda, e em parte porque a
menos respeitável razão pela qual as pessoas não querem parar é que enquanto se trabalha sob esta
égide um trabalho interessante está sendo produzido. Todavia, em um recente trabalho meu (2),
tentei estancar essas modas porque elas começam a ameaçar a possibilidade de um empreendimento
filosófico que homens e mulheres de bom senso levem a sério.
Relativistas, é certo, não vão suficientemente bem até o fim. Paul Feyerabend está motivado a ir
adiante ao máximo; isto é, até o ponto de se recusar a admitir qualquer diferença entre dizer "Está
chovendo" e "Penso que está chovendo" (ou qualquer outra coisa). Para Feyerabend todas as coisas
que ele pensa e diz são meramente expressões de sua própria subjetividade naquele instante. Mas
Michael Foucault afirma não ser um relativista; nós simplesmente temos de esperar a Revolução
Copernicana futura do estruturalismo (que não pode ainda ser predita em detalhes concretos)
explicar como evitar o problema todo que envolve realismo versus relativismo (3). E Richard Rorty
(4) nega simultaneamente que há, absolutamente, um problema a respeito da verdade (um problema
de "representação") e insiste que algumas idéias "valem seu preço" e outras não.
Se há uma tal coisa como uma idéia que vale seu preço, isto é, que está correta, há, inevitavelmente,
a questão da natureza desse "estar correto". O que torna a fala mais do que apenas uma expressão de
nossa momentânea subjetividade é que ela pode ser apreciada em relação à presença ou ausência
dessa propriedade - chamada "verdade", ou "correta" ou "valendo seu preço" ou o que se desejar.
Mesmo se ela é uma propriedade culturalmente relativa (e que relativista realmente pensa que o
relativismo é somente verdadeiro-para-minha-cultura?), isso não nos isenta da responsabilidade de
dizermos qual propriedade ela é. Se ser verdadeiro (ou "valer o preço para alguém", enquanto uma
idéia) é apenas ser útil para os padrões de pares culturais, por exemplo, então o passado inteiro
torna-se simplesmente um tipo de construção lógica exterior à cultura própria de alguém.
É quando alguém nota isso que este alguém também se torna ciente de como todo relativista é,
realmente, em geral, positivista. O próprio Nietzsche (cujo Genealogy of Morals é o paradigma para
muitos escritos contemporâneos de relativistas ligados ao pós-estruturalismo) está no seu momento
mais positivista quando escreve sobre a natureza da verdade e do valor. Parece-me que o que
incomoda tanto positivistas quanto relativistas sobre o problema da representação é que a
representação - o que é dizer, intencionalidade - simplesmente não se ajusta à nossa imagem de
mundo reducionista pós-darwinista. Antes do que admitir que essa imagem é somente uma verdade
parcial, somente uma abstração do todo, tanto positivistas quanto relativistas buscam satisfação para
si mesmos com uma super simplificação, e de fato com respostas patentemente absurdas aos
problemas da intencionalidade.(5)
O Empirismo Lógico e a Reação Realista
Nos Estados Unidos, essas perspectivas historicistas e relativistas foram virtualmente ignoradas até
os anos 60. As correntes dominantes nos anos 40 e 50 eram tendências empiristas - o pragmatismo
de John Dewey e (muito mais) o empirismo lógico transportado para os Estados Unidos por Rudof
Carnap, Hans Reichenbach e outros. Para estes filósofos o problema da natureza da verdade ficou
em segundo plano em relação ao problema da natureza da confirmação.
A primeira espécie de o que está correto e o que está incorreto, como uma propriedade que a
sentença possui, foi pensado como o equivalente do suporte indutivo que a sentença recebe na base
da evidência, enquanto os falantes percebem e rememoram tal evidência. Para Quine, que tem
muitas afinidades com esses filósofos, embora ele deva ser contado como um pós-positivista, a
verdade não é, de modo algum, uma propriedade; "dizer que uma sentença é verdadeira é
meramente reafirmar a sentença." (Quine também diz que a única verdade que ele reconhece é a
"verdade imanente" ¾ a verdade a partir de dentro da doutrina envolvida. Note como tudo isso soa
"francês"!) Mas se a verdade e a falsidade não são, de modo algum, propriedades - se uma sentença
"correta" ou "errada" em um sentido substantivo, somente espistemicamente (somente no sentido de
ser confirmada ou desconfirmada pelas memória e presença do falante) -, então como fazemos para
escapar do solipsismo? Por que não é essa imagem precisamente a imagem do solipsismo-doinstante-presente? (dizer que se trata apenas de um solipsismo metodológico dificilmente é uma
resposta clara. Isso soa como se dizer que há tempos passados outros falantes e verdades, que não
são confirmadas como agora corretas, é "falar com o vulgar", mas não realmente falar a partir do
correto ponto de vista de um pensamento enquanto pensamento de um filósofo.)
Talvez, ao abordar essas questões, no final dos anos 60, comecei a reviver e elaborar uma espécie de
realismo (em combinação com Saul Kripke, que em 1972 eu vi que tinha estado trabalhando ao
longo de uma linha similar). Nosso realismo não era simplesmente um reavivamento de idéias
passadas, até porque estava calcado em grande parte em um ataque às concepções que tinham sido
centrais ao realismo a partir do século XVII.
A Teoria da Referência Direta
O século XVII pensava os conceitos, por um lado, como entidades imediatamente disponíveis na
mente, e por outro lado, capazes de fixar referência no mundo. Nesse quadro, o conceito de ouro,
por exemplo, está na mente de um falante (mesmo se ele usa uma palavra grega ou uma palavra em
latim ou em persa) que pode fazer referência a ouro; a "extensão", ou referência, da palavra "ouro",
ou "chrysos", ou outra qualquer, é determinada pelo conceito. Essa concepção de linguagem é tanto
individualista (cada falante tem o mecanismo de referência de toda palavra que ele usa em sua
própria cabeça) quanto apriorística (há "verdades analíticas" sobre os tipos naturais a que nós
fazemos referência, e esses estão "contidos em nossos conceitos").
Não é difícil perceber que, de qualquer forma, essa concepção violenta os fatos do uso da
linguagem e do pensamento conceptual. Poucos falantes, hoje, podem estar certos de que um objeto
é ouro sem levar o objeto a um joalheiro ou a outro expert. A referência de nossas palavras é
freqüentemente determinada por outros membros de nossa comunidade lingüística a quem estamos
dispostos a ceder. Há uma divisão do trabalho lingüística que a concepção tradicional ignora
completamente. (6)
Kripke mostrou (7) que essa divisão do trabalho lingüística (ou "comunicação", ou "intenções de
referência", na sua terminologia) vai até a fixação de referências de nomes próprios. Muitas pessoas
não podem dar uma descrição identificante do profeta Moses, por exemplo (A descrição "o profeta
hebreu que era conhecido como ‘Moses’ não é, mesmo, correta; em Hebreu, Moses é chamado
"Moshed", não Moses.) Isso não significa que as pessoas não estão fazendo uma referência quando
falam "do profeta Moses"; entendemos que elas estão se referindo a uma figura histórica definida
(assumindo que Moses realmente existiu). Experts, hoje, podem contar para nós que aquela figura
foi chamada (algo como) "Moshed", mas que não é uma descrição identificante de Moses. Poderia
ter havido profetas hebreus que foram esquecidos e que eram chamados "Moshed", e o atual
"Moshed" pode ter tido um nome egípcio que se transformou em "Mosheh" séculos mais tarde. O
Mosheh ou Moses "correto" é alguém no fim de uma corrente, uma cadeia que nos conduz de volta
no tempo. Ou, para falar de modo correto, o Moses "correto" - o único ao qual estamos nos
referindo - é aquele do início da história, a história que através de causalidade fixa nossos usos
presentes e que são costurado juntos pela intenção dos falantes ao se referirem à pessoa que falantes
anteriores previamente se referiram.
Podemos usar descrições para indicar quem ou o que queremos dizer com uma palavra ao fazermos
uma referência, mas mesmo quando essas descrições são corretas elas não se tornam sinônimas da
palavra. Palavras adquirem um tipo de conexão "direta" com aquilo a que elas se referem, não por
meio de estarem ligadas a tais coisas a que se referem através de um adesivo metafísico, mas por
meio do uso do nome das coisas a que se referem mesmo quando supomos que a identificação pode
ser falsa, ou quando consideramos situações hipotéticas na qual ela é falsa. (Já demos um exemplo
disso: podemos fazer referência a Moses como "Moses" mesmo quando sabemos que este não era o
nome de nascença. E posso explicar que por Richard Nixon eu quero significar "alguém que foi
presidente dos Estados Unidos" e então imaginar a situação em que "Richard Nixon nunca foi eleito
presidente dos Estados Unidos". Repito, chamar esses casos de "casos de referência direta" é
meramente negar que o nome - "Moses" ou "Richard Nixon" - é sinônimo de uma descrição: "o
profeta hebreu de nome ‘Moses’" ou "o presidente dos Estados Unidos chamado ‘Richard Nixon’".
Os mecanismos pelos quais essa "referência direta" é estabelecida são justamente o oposto do
envolvimento direto com as cadeias de comunicação lingüística e com a divisão do trabalho
lingüística como elas agem.)
Um segundo modo no qual o modelo do século XVII de referência, enquanto fixada por conceitos
em mentes individuais, violenta os fatos é, talvez, mais sutil. A referência de nossas palavras é
determinada (em alguns casos) por um meio ambiente não-humano tanto quanto por outros falantes.
Quando falo de "água" quero estar falando do líquido que cai com a chuva em nosso meio
ambiente, que preenche lagos e rios que nós conhecemos, e assim por diante. Se em algum lugar do
universo há uma Terra gêmea onde tudo é igualzinho a esta Terra aqui exceto que o líquido que
desempenha o papel de "água" lá na Terra gêmea não é H20 mas XYZ, então isso não falsifica
nosso enunciado de que "água é H20". O que nós nos referimos por "água" é qualquer líquido da
composição etc. do nosso exemplo paradigmático de água. Descobrir a composição ou as leis do
comportamento da substância poderia conduzir cientistas a dizer que algum líquido que um nãoexpert tomaria como água não é, de modo algum, realmente água (e o não-expert adiaria seu
julgamento). Desse modo, a referência dos termos "água", "leopardo", "ouro" etc. é particularmente
fixada pelas próprias substâncias e organismos. Como o pragmatista Charles Peirce disse a há
tempos, o "significado" desses termos está aberto às descobertas científicas futuras.
Reconhecer esses dois fatores - a divisão do trabalho lingüística e a contribuição do meio ambiente
no estabelecimento da referência - vai bem na direção de superar a concepção filosófica
individualista e apriorista que tem sido associada ao realismo. Se a que um termo faz referência
depende de outras pessoas e, na seqüência, a sociedade toda está incorporada no meio ambiente,
então é natural olhar com ceticismo para a afirmação de que a poltrona confortável da "análise
conceptual" pode revelar algo de grande significância sobre a natureza das coisas. Este tipo de
"realismo" caminha junto com um extremo espírito falibilista em filosofia. De qualquer forma, os
problemas tradicionais conectados com o realismo estão portanto consideravelmente apontados.
Cérebros em uma Cuba
O novo realismo abandona a idéia de que nossas representações mentais tem qualquer conexão
intrínseca com as coisas a que elas se referem. Isso pode ser visto no exemplo das Terras gêmeas já
mencionado: nossas "representações" de água (tendo aprendido, antes, que água é H2O/água é
XYZ) poderiam ter sido fenomenologicamente idênticas às "representações" feitas na Terra gêmea,
mas de acordo com a "teoria da referência direta" nós estaríamos nos referindo a XYZ desde
sempre. A diferença na referência está, por assim dizer, "adormecida" na própria substância desde
sempre, e foi acordada pelas descobertas científicas que as duas culturas fizeram. Não há nenhuma
conexão mágica entre o caráter fenomenológico da representação e o conjunto de objetos que a
representação denota.
Agora, imagine uma raça que tenha sido literalmente criada por um super cientista louco. As
pessoas dessa raça tem cérebros como os nossos, mas, vamos supor, não possuem corpos. Elas têm
apenas a ilusão de que possuem corpos, a ilusão de que têm um meio ambiente igual ao nosso e
assim por diante; na realidade elas são cérebros dentro de cubas químicas. Tubos conectados aos
cérebros cuidam da circulação do sangue, e fios conectados aos terminais nervosos produzem a
ilusão de impulsos sensórios vindos dos "olhos", "ouvidos" e dos "corpos" executando comandos
motores desses cérebros. Um cético tradicional teria usado esse caso (que é apenas um versão
científica do gênio maligno proposto por Descartes) para mostrar que poderíamos estar
radicalmente enganados sobre a existência de um mundo exterior em geral, como este que
habitamos. A premissa principal nesse argumento cético é que a raça que nós apenas imaginamos é
uma raça de seres que estão radicalmente errados quanto a suas crenças. Mas eles estão errados?
Certamente parece que estão. Por exemplo, essas pessoas acreditam que: "Não somos cérebros em
uma cuba. Toda suposição de que poderíamos ser isso é um absurdo da fantasia de filósofos". E
obviamente eles são cérebros em uma cuba. Assim, eles estão errados. Mas não muito!
Se a palavra cuba na linguagem dos da raça dos cérebros-em-uma-cuba faz referência ao que nós
chamamos "cubas" e a palavra em (dentro) na linguagem dos da raça dos cérebros-em-uma-cuba faz
referência ao conteúdo espacial interno e a palavra cérebro na linguagem dos cérebros-em-umacuba faz referência ao que chamamos de "cérebros", então a sentença "Somos um cérebro é uma
cuba" tem as mesmas condições de verdade para a linguagem dos da raça dos cérebros-em-umacuba como ela tem para nós (pondo de lado a diferença na referência ao pronome nós). Em
particular, (nessa suposição) "Somos cérebros em uma cuba" é uma sentença verdadeira, uma vez
que as pessoas que a pensam são, de fato, cérebros espacialmente contidos em uma cuba, e sua
negação, "Não somos cérebros em uma cuba", é uma sentença falsa. Mas, se não há nenhuma
conexão intrínseca entre a palavra cuba e o que nós chamamos "cubas" (nenhuma a mais do que há
em uma conexão intrínseca entre a palavra água e o líquido particular, H20, que chamamos pelo
mesmo nome), por que deveríamos dizer que a que a palavra cuba faz referência na linguagem dos
da raça dos cérebros-em-uma-cuba é aparência fenomenológica de cubas e não cubas "reais"? (e da
mesma maneira cérebro e em.) Certamente, o uso de cuba na linguagem dos da raça dos cérebrosem-uma-cuba é dependente da presença ou ausência de cubas reais. De fato, se supomos que hão há
quaisquer cubas reais no mundo do cientista maluco exceto aquela na qual os cérebros estão, então
parece como se não houvesse nenhuma conexão, causal ou de qualquer outro tipo, entre as cubas
reais e o uso da palavra cuba em cérebros-em-uma-cuba (exceto que os cérebros não seriam capazes
de usar a palavra cuba se a cuba real quebrasse ¾ mas isso é uma conexão entre uma cuba real e
toda palavra que eles usam, não uma conexão diferencial entre cubas reais e usos da palavra cuba).
Essa reflexão sugere que quando os cérebros-em-uma-cuba pensam "somos cérebros em uma cuba"
a condição de verdade para seus enunciados devem ser aquelas que são cérebros-em-uma-cuba na
imaginação, ou algo desse tipo. Assim, essa sentença pareceria falsa, não verdadeira, quando eles a
pensam (mesmo que ainda elas sejam cérebros em um cuba do nosso ponto de vista). Pareceria que
eles não estão decepcionados - não estão pensando algo radicalmente falso. É claro, há verdades
que eles não podem mesmo expressar; mas isso é, sem dúvida, verdadeiro para todo ser finito. A
hipótese de uma "radical decepção" completa parece depender da idéia de uma conexão
predeterminada, quase mágica, entre palavras ou signos de pensamento e objetos externos, aquela
da qual o realismo transcendental depende.
De fato, a lógica simbólica conta-nos que há muitos "modelos" diferentes para nossas teorias e
muitas "relações de referência" diferentes para nossas linguagens. (8) Isso põe um problema antigo:
se há muitas "correspondências" diferentes entre signos de pensamento ou palavras e objetos
externos, então como pode algum desses ser distinguido?
A forma inteligente desse problema (que, é claro, retoma a Idade Média) é devida a Robert Nozick
(comunicação não publicada). Tomemos C1 e C2 como duas diferentes "correspondências"
(relações de referência, no sentido de teoria modelo) entre nossos signos e algum conjunto fixo de
objetos. Escolhe-los, então, de modo que as mesmas sentenças sejam verdadeiras, isso não importa
se interpretamos nossas palavras como "referindo" ao que eles correspondem no sentido de C1 ou
como referindo ao que eles entendem no sentido de C2. Que isso pode ser feito - que há modos
alternativos de colocar nossos sinais em correspondência com coisas que deixam o conjunto de
sentenças verdadeiras invariante - foi enfatizado por Quine em sua doutrina famosa da Relatividade
Ontológica. (9) Agora, imagine que Deus arrumou as coisas de modo que quando um homem usa
uma palavra ele faz referências a coisas que são da correspondência-C1 para tal palavra (as coisas
que são uma "imaginação" da palavra na relação C2) enquanto que quando uma mulher usa uma
palavra ela faz referência a coisa que são da correspondência C2 para tal palavra. Desde que as
condições de verdade para a totalidade das sentenças são não afetáveis, ninguém repararia! Assim,
como não sabemos (como podemos até mesmo dar sentido para a suposição) que há uma
correspondência entre palavras e coisas?
Há muitas respostas rápidas a essa questão. Assim, um filósofo provavelmente pode dizer: "Quando
aprendemos o uso da palavra cuba (ou outra qualquer), não associamos meramente a palavra com
certas sensações visuais, táteis etc.. Somos causados a ter essas sensações, e as crenças que
acompanham tais sensações, por certos eventos externos. Normalmente esses eventos externos
envolvem a presença de cubas. Assim, indiretamente, a palavra cuba é associada com cubas".
Para ver porque essa resposta falha ao replicar sobre o que nós estamos indagando, imagine-a sendo
dada primeiro por uma homem e, então, depois, por uma mulher. Quando a mulher diz isso ela está
mostrando que certas crenças e sensações de um falante estão em uma certa relação - a relação
efeito2 - com certos eventos externos. De fato, eles são causados2 pela presença2 de cubas2.
Quando um filósofo (homem) diz isso, ele está mostrando que as mesmas crenças e impressões são
causadas1 pela presença1 de cubas1. É claro, ambos estão certos. A palavra cuba está "associada
indiretamente" a cubas2 (no modo apontado pela mulher) e também "associada indiretamente" a
cubas1 (no modo apontado pelo homem). Não nos tem sido dadas, ainda, nenhuma razão para
acreditar em Uma correspondência metafisicamente distinta entre palavras e coisas.
Algumas vezes sou acusado (especialmente por membros da corrente materialista em filosofia
analítica) de caricaturizar a posição realista. Um realista, tenho dito, não afirma que a referência é
fixada pela conexão em nossa teoria entre os termos "referência", "causação", "sensação" e assim
por diante; o realista afirma que referência é "fixada pela própria causação". Aqui, o filósofo está
ignorando sua própria posição epistemológica. Ele está filosofando como se o realismo ingênuo
fosse verdadeiro para ele, ou equivalentemente, como se ele e exclusivamente ele estivesse em uma
relação absoluta com o mundo. O que ele chama "causação" realmente é causação, e é claro há de
alguma maneira como que uma correspondência selecionada entre a palavra e uma relação definida
em seu caso. Mas como isso pode ser assim é exatamente o que está em questão.
Realismo Interno
Devemos então voltar à perspectiva de que "há somente o texto"? Que há somente a "verdade
imanente" (verdade de acordo com o "texto")? Ou, como a mesma idéia é posta por muitos filósofos
analíticos, que "é verdadeiro" é somente uma expressão que usamos para "subir o grau de
linguagem"? Embora Quine, em particular, pareça tentado por essa perspectiva (apoiado pela idéia
de que uma história de pura causa-efeito é uma descrição filosófica e científica completa do uso de
uma linguagem), o problema com uma tal perspectiva é óbvio. Se a descrição causa-efeito é
completa, se tudo que há para dizer sobre o "texto" é que ele consiste na produção de barulhos ou
expressões mentais postas graficamente de acordo com um certo padrão causal; se a história da
causa não é para ser suplementada, necessariamente, por um história normativa; se não há nenhuma
propriedade substantiva ou de garantia ou de verdade conectadas com as asserções - então não há
nenhum modo pelo qual ruídos que emitimos ou inscrições que anotamos ou as expressões do
mental em palavras que ocorrem em nosso corpo são mais do que a expressão de nossa
subjetividade. Como Edward Lee dispôs em um bom artigo sobre Protágoras e Platão (10), um ser
humano se assemelha a um animal produzindo vários grunhidos em resposta a várias contingências
naturais, em uma tal visão, ou melhor, uma planta produzindo uma pétala e em seguida uma flor.
Uma tal história omite que somos pensadores. Se uma tal história está certa, então não somente a
representação é um mito; toda a idéia de pensamento é um mito.
Em resposta a essa situação desagradável, a situação de ser solicitado a escolher entre uma posição
metafísica de um lado e um grupo de posições reducionistas de outro, eu sigo Kant na distinção
entre dois tipos de realismo (se Saul Kripke, cujo trabalho já aludi no início, me seguiria nesse
movimento, aí eu tenho dúvidas). Chamo esses dois tipos de "realismo metafísico" e "realismo
interno". (11) O realismo metafísico insiste que uma relação misteriosa de "correspondência" é o
que torna a referência e a verdade possíveis; o realismo interno, em contraste, é motivado a pensar
sobre a referência como interna aos "textos" (ou teorias), na condição determinada de reconhecemos
que há melhores e piores "textos". "Pior" e "melhor" podem, exclusivamente por eles mesmos,
dependerem de nossa situação histórica e de nossos propósitos; não há nenhuma noção aqui de uma
Visão da Verdade a Partir do Olho de Deus. Mas a noção de uma resposta correta (ou ao menos uma
resposta "melhor") a uma questão está sujeita a dois constrangimentos: 1) Algo correto (rightness)
não é subjetivo. O que é melhor e o que é pior dizer sobre o máximo do interesse humano real não é
apenas uma questão de opinião. Reconhecer que isso é assim é o preço essencial para a admissão
em uma comunidade mentalmente sadia. Se isso se torna obscuro, é em parte porque tendências em
teoria filosófica têm feito muitas abstrações em torno das palavras objetivo e subjetivo. Por
exemplo, tanto Carnap quanto Husserl têm afirmado que o que é "objetivo" é o mesmo que o que é
"intersubjetivo", o que é, em princípio, público - embora esse princípio seja, ele próprio, incapaz de
ser demonstrado. Se alguém interessado em filosofia, política, literatura ou artes deveria realmente
igualar a melhor opinião com a verdade "intersubjetiva" é uma coisa bem fantástica! 2) Algo correto
(rightness) está para além de justificação. Embora Michael Dummett (12) tenha sido extremamente
influente ao advogar um tipo de visão realista não-metafísica e não-subjetivista da verdade que
tenho sugerido, sua fórmula de que "verdade é justificação" está iludida de vários modos, e é por
isso que tenho evitado falar dela em meus próprios escritos. Isso que ele diz sugere algo que ele
certamente acredita e eu não: que alguém pode especificar de um modo efetivo o que são as
condições de justificação para as sentenças de uma linguagem natural. Segundo, sugere algo sobre o
qual os escritos de Dummetts são mais ambíguos: há uma tal coisa como justificação conclusiva,
mesmo no caso de sentenças empíricas. Minha perspectiva é a de que a verdade deve ser
identificada com justificação idealizada, e não com justificação-sobre-evidência-presente.
"Verdade", nesse sentido, está tanto em um contexto sensitivo quanto nós estamos. As condições de
assertibilidade para uma sentença arbitrária não são investigáveis.
Se condições de assertibilidade não são investigáveis, como fazemos para aprende-las? Aprendemos
adquirindo uma prática. O que os filósofos agarrados ao quadro reducionista erram é que o que
adquirimos não é um conhecimento que pode ser aplicado como se fosse um algorítimo. A
impossibilidade de formalizar as condições de assertibilidade para sentenças é apenas a
impossibilidade de formalizar a própria racionalidade humana.
A Dicotomia Fato-Valor
Se me aventuro a ser um metafísico, penso que criaria um sistema no qual não haveria nada exceto
obrigações. O que seria um ultimato metafísico, na visão que eu criaria, seria o que devemos fazer
(o que devemos dizer, o que devemos pensar). Em minha fantasia, na qual eu mesmo sou um superherói metafísico, todos os "fatos" se dissolveriam em "valores". Há uma cadeira nessa sala, isto
seria analisado (metafisicamente, não conceitualmente - não há nenhuma "análise da linguagem"
nessa fantasia) dentro de um conjunto de obrigações: a obrigação de pensar que há uma cadeira
nessa sala se as condições epistêmicas são (fossem) suficientemente "boas", por exemplo. (Em
linguagem chomskiana, alguém poderia falar que um falante competente idealmente diria (pensaria)
há uma cadeira nessa sala se houvesse condições "ideais" suficientes). Em vez de dizer com Mill
que a cadeira é uma "possibilidade permanente de sensações", diria que é uma possibilidade
permanente de obrigações. Iria ao ponto de dizer que meus "dados dos sentidos", amados por
gerações de empiristas, não são nada exceto possibilidades permanentes de obrigações, no mesmo
sentido.
Não sou - ai de mim! - tão corajoso para tal aventura. Mas a tendência reversa - a tendência de
eliminar ou reduzir tudo a descrições - parece-me simplesmente perversa. O que penso, já fora da
minha fantasia, é que fatos e obrigações são profundamente interdependentes; não há quaisquer
fatos sem obrigações, tanto quanto não há obrigação sem fatos.
Isto é, de certo modo, construir um quadro sobre a verdade como justificação (idealizada). Dizer
que uma crença está justificada é dizer que ela é o que devemos acreditar; justificação é uma noção
normativa diante dela.
Os positivistas tentaram dar um passo ao largo dessa questão dizendo que a definição de
justificação que alguém aceita é convencional, ou uma questão de utilidade, ou, em um último
retrato, simplesmente um questão de aceitar uma "proposta". Mas propostas pressupõem fins ou
valores; e é uma doutrina essencial do positivismo que a bondade e a maldade dos fins últimos são
inteiramente subjetivas. Uma vez que não há nenhuma concordância universal sobre fins ou valores
a respeito dos quais as propostas dos positivistas são as melhores, segue-se da doutrina que a
própria doutrina é meramente a expressão de uma preferência subjetiva por certas formas de
linguagem (as científicas) ou certos objetivos (os de predição). Temos o resultado estranho de que
um positivista completamente consistente deve terminar como um total relativista. Ele pode evitar
inconsistência (em uma sentido dedutivo estreito), mas ao custo de admitir que todas proposições
filosóficas, incluindo a sua própria, não tem nenhum status racional. Ele não tem nenhuma resposta
ao filósofo que diz, "Sei como você se sente, mas, vocês sabe, o positivismo não é racional em meu
sistema".
Realistas metafísicos tentaram tratar com a mesma matéria sugerindo uma total ruptura lógica entre
a questão do que é verdadeiro e a questão do que razoável de acreditar. Mas o que é verdadeiro
depende do que nossos termos se referem, e determinar a referência de termos - em qualquer
concepção - demanda sensitividade às intenções referenciais dos falantes reais e de uma capacidade
de tornar decições nuançadas como as melhores reconstruções dessas intenções. Por exemplo, como
notei no capítulo 2, dizemos que o temo "flogisto" não se refere a nada. Em particular, não se refere
à valência de elétrons, embora um cientista famoso (Cyril Stanley Smith) uma vez brincou que "há
realmente uma tal coisa como o flogisto; ela revela que o flogisto é a valência de elétrons".
Consideramos como razoável, da parte de Bohr, manter a mesma palavra, elétron (Elektron), em
1930 e 1934, e portanto tratar suas duas teorias totalmente diferentes, sua teoria de 1900 e sua teoria
de 1934, como teorias que descrevem os mesmos objetos, e consideramos não razoável dizer que o
"flogisto" faz referência à valência de elétrons.
É claro, um realista metafísico poderia ser um realista sobre razoabilidade tanto quanto um realista
sobre verdade. Mas isto é, de certo modo, minha posição: nem um positivista nem um realista
metafísico podem evitar absurdos se tentam negar qualquer objetividade seja lá o que for a questão
sobre o que constitui a razoabilidade. E essa questão, metafisicamente falando, é uma questão típica
de valor.
O argumento que apenas esbocei, de modo breve (ele está mais desenvolvido no meu livro Reason,
Truth, and History) tem sido chamado de o argumento de "parceria na culpa". A estrutura é: "você
diz [imagine isso endereçado a uma filósofo que acredita em uma dicotomia aguda entre fato e
valor] que julgamentos de valor não tem nenhum valor de verdade objetivo, que eles são expressões
puramente de preferência. Mas as razões que você fornece - que há discordâncias entre culturas (e
dentro de uma cultura também) sobre o que é e o que não é valioso; que essas controvérsias não
podem ser resolvidas ‘intersubjetivamente’; que nossas concepções de valor são condicionadas
historicamente; que não nenhuma explicação ‘cientifica’ (redutível) do que é o valor - são todas
aplicadas imediatamente, e sem a menor mudança, para julgamentos de justificação, garantia,
razoabilidade - e geralmente valores epistêmicos. Assim, ao invés de dar-nos uma dicotomia fatovalor, você tem de dar-nos uma razão para abandonar conceitos epistêmicos, conceitos semânticos,
certamente, abandonar a noção de um fato, inteiramente." Falando mais simplesmente, a questão é
que nenhuma conclusão deveria ser tirada a partir do fato de que não podemos dar uma explicação
"científica" da possibilidade de valores até termos visto que uma "explicação" da possibilidade de
referência, verdade, garantia e coisas similares é possível. E as dificuldades com a teoria da
correspondência sugerem que solicitar por essa última coisa é solicitar por um não-sei-o-que.
Por que Não Sou um Relativista?
Meu fracasso em dar qualquer relato metafísico, afinal, ou explicar mesmo a possibilidade de
referência, verdade, garantia, valor e o resto, freqüentemente evoca a questão: "Mas então, porque
você não é um relativista?" Posso simpatizar com a questão (e até com a tendência de desprazer que
a acompanha) porque não posso simpatizar com o impulso de saber, de ter uma explicação
totalizante que inclua o pensador no ato de descobrir a explicação total na totalidade do que se
explica. Não estou dizendo que esse desejo é "opcional", ou que é o produto de eventos no século
XVII, ou que se baseia sobre uma falsa pressuposição porque realmente não há tais coisas como
verdade, garantia ou valor. Mas estou dizendo que o projeto de fornecer uma tal explicação tem
falhado.
Tem fracassado não porque é um desejo ilegítimo - que pressão humana poderia ser mais
importante que o desejo de conhecer? - mas porque segue para além dos limites de qualquer noção
de explicação que temos. Dizer isso, talvez, não seja afastar, para bem, os grandes projetos de
metafísica e de epistemologia - o que outro milênio, ou outra virada na história humana tão
profunda quanto o Renascimento, poderia trazer não está para nós, hoje, supor - , mas dizer que tem
de chegar o tempo para uma moratória ontológica e uma moratória epistemológica. Ou antes, que
tem de chegar a época para uma moratória sobre o tipo de especulação ontológica que busca
descrever a Mobília do Universo e quer contar-nos o que é que Realmente Há e o que é que é
Somente uma Projeção Humana, e uma moratória para o tipo de especulação filosófica que busca
contar-nos O Método pelo qual todas nossas crenças pode ser avaliadas.
Dizer "uma moratória desses projetos" é, de fato, se opor ao relativismo. Antes do que olhar com
suspeita sobre a afirmação de que alguns julgamentos de valor são razoáveis e alguns não são
razoáveis, ou algumas perspectivas são verdadeiras e algumas são falsas, ou algumas palavras
fazem referência e algumas não fazem nenhuma referência, estou interessado em trazer-nos de
volta, de modo preciso, a essas afirmações que fazemos, após tudo, constantemente construindo-as
em nossas vidas diárias. Aceitar a "imagem manifesta", o Lebenswelt, o mundo como nos realmente
experienciamos, solicita de nós, que temos (para melhor ou para pior) sido treinados
filosoficamente, que recobremos tanto nosso senso de mistério (pois é misterioso que algo possa
tanto ser mundo quanto ser a respeito do mundo) quanto nosso senso do comum (pois que algumas
idéias são "não razoáveis" é, afinal, uma fato comum - são somente as noções esquisitas de
"objetividade" e "subjetividade" que temos adquirido da ontologia e da epistemologia que nos
tornaram inadequados à vida no que é comum).
Estou deixando algo, afinal, para a labuta dos filósofos? Sim e não. A idéia toda de que um poeta
poderia contar "o que fazer" aos poetas que vem após ele ou um que um romancista poderia contar
"o que fazer" aos romancistas que vem após ele pareceria e deveria parecer um absurdo. Todavia,
ainda podemos esperar filósofos não somente para realizar o que eles podem realizar, ter insights e
construir distinções e expor argumentos e todo o resto, mas filósofos que vem após filósofos para
contar "o que fazer". Proponho que cada filósofo deveria de deixar mais problemático o que é
deixado para a filosofia fazer. Se concordo com Derrida em alguma coisa é nisso: que a filosofia é
escrita, e que ela deve aprender agora a ser uma escrita cuja autoridade está em sempre ganhar
novamente, não uma autoridade herdada ou doada porque ela é filosofia. Filosofia é, afinal, uma das
humanidades e não uma ciência. Mas isso não é excluir qualquer coisa - nem a lógica simbólica, ou
equações, ou argumentos, ou ensaios. Filósofos herdam um campo, não autoridade, e isso é
suficiente. É, após tudo, um campo que fascina uma grande quantidade de pessoas. Se não temos
inteiramente destruído essa fascinação por conta da nossa rigidez ou por conta de nossas posturas,
isso é algo pelo qual deveríamos ficar verdadeiramente agradecidos.
(*) Título original: "Why Is a Philosopher?". Do livro: Putnam, H. Realism with a Human Face.
Cambridge; Havard University Press, 1990. As notas desse texto são de Putnam, e não foram
traduzidas.
(**) Paulo Ghiraldelli Jr é professor titular da UNESP, campus de Marília, onde trabalha com
filosofia contemporânea e filosofia da educação.