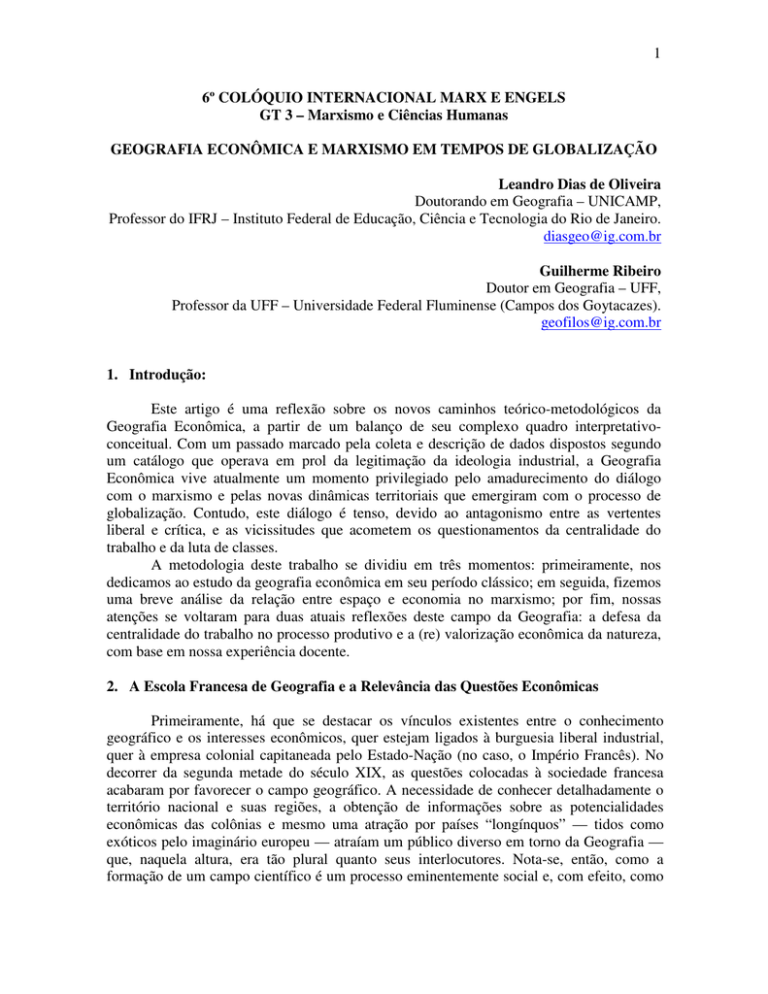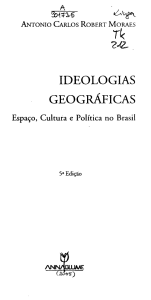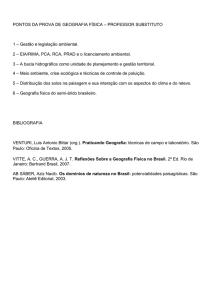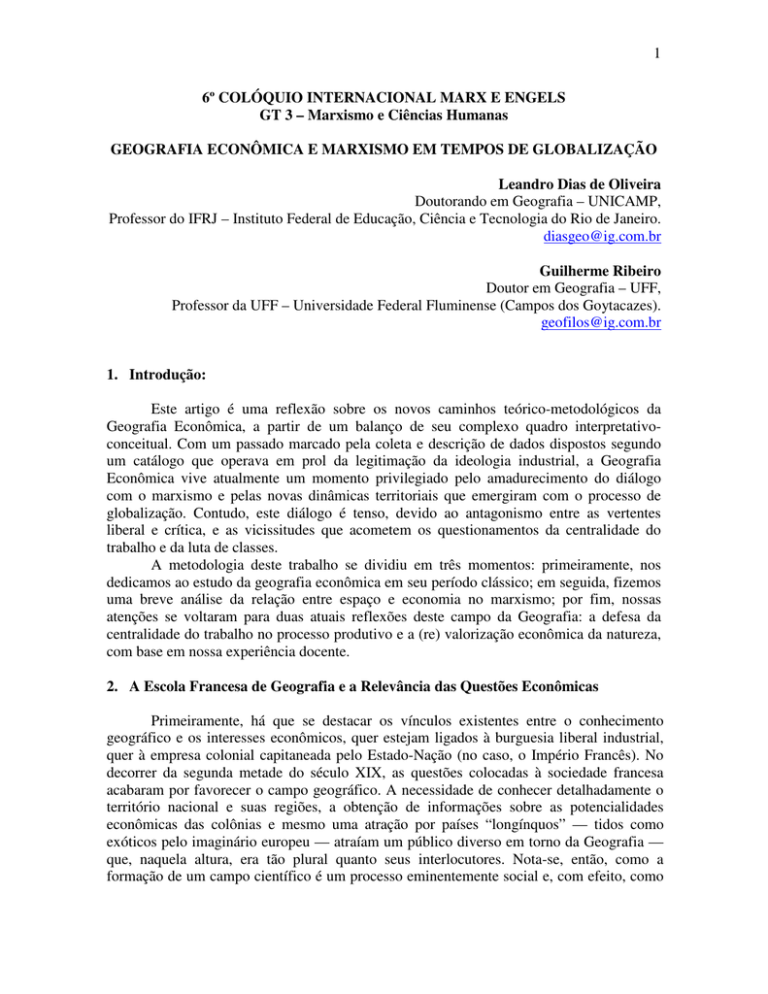
1
6º COLÓQUIO INTERNACIONAL MARX E ENGELS
GT 3 – Marxismo e Ciências Humanas
GEOGRAFIA ECONÔMICA E MARXISMO EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO
Leandro Dias de Oliveira
Doutorando em Geografia – UNICAMP,
Professor do IFRJ – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro.
[email protected]
Guilherme Ribeiro
Doutor em Geografia – UFF,
Professor da UFF – Universidade Federal Fluminense (Campos dos Goytacazes).
[email protected]
1. Introdução:
Este artigo é uma reflexão sobre os novos caminhos teórico-metodológicos da
Geografia Econômica, a partir de um balanço de seu complexo quadro interpretativoconceitual. Com um passado marcado pela coleta e descrição de dados dispostos segundo
um catálogo que operava em prol da legitimação da ideologia industrial, a Geografia
Econômica vive atualmente um momento privilegiado pelo amadurecimento do diálogo
com o marxismo e pelas novas dinâmicas territoriais que emergiram com o processo de
globalização. Contudo, este diálogo é tenso, devido ao antagonismo entre as vertentes
liberal e crítica, e as vicissitudes que acometem os questionamentos da centralidade do
trabalho e da luta de classes.
A metodologia deste trabalho se dividiu em três momentos: primeiramente, nos
dedicamos ao estudo da geografia econômica em seu período clássico; em seguida, fizemos
uma breve análise da relação entre espaço e economia no marxismo; por fim, nossas
atenções se voltaram para duas atuais reflexões deste campo da Geografia: a defesa da
centralidade do trabalho no processo produtivo e a (re) valorização econômica da natureza,
com base em nossa experiência docente.
2. A Escola Francesa de Geografia e a Relevância das Questões Econômicas
Primeiramente, há que se destacar os vínculos existentes entre o conhecimento
geográfico e os interesses econômicos, quer estejam ligados à burguesia liberal industrial,
quer à empresa colonial capitaneada pelo Estado-Nação (no caso, o Império Francês). No
decorrer da segunda metade do século XIX, as questões colocadas à sociedade francesa
acabaram por favorecer o campo geográfico. A necessidade de conhecer detalhadamente o
território nacional e suas regiões, a obtenção de informações sobre as potencialidades
econômicas das colônias e mesmo uma atração por países “longínquos” — tidos como
exóticos pelo imaginário europeu — atraíam um público diverso em torno da Geografia —
que, naquela altura, era tão plural quanto seus interlocutores. Nota-se, então, como a
formação de um campo científico é um processo eminentemente social e, com efeito, como
2
as idéias e noções que emergem deste campo estão diretamente ligadas aos interesses
econômicos, políticos e ideológicos de determinados grupos.
É assim que a III República, traumatizada pela perda da Alsácia e Lorena e abalada
pela Comuna de Paris, promoverá uma ampla reforma educacional. Cultuando a pátria, a
ciência e a laicidade, o ensino deveria estabelecer o civismo e a harmonia entre as classes.
Propunha-se um “exame coletivo de consciência” e, nesta esfera, a “educação geográfica da
nação deveria ser repensada”1. Dois foram os protagonistas desta operação: Émile
Levasseur e Auguste Himly, ambos historiadores. Se é verdade que o ensino de Geografia já
vinha sofrendo melhoras desde a segunda metade do século XIX — incorporando, p.ex., a
observação da realidade através do “método intuitivo”, partindo da aldeia ao departamento
até chegar à França como um todo —, os dois percorreram o território francês a fim de
conhecer suas reais condições. Mas os papéis da Geografia não se circunscreviam às
demandas republicanas por patriotismo. As reformas educacionais souberam abordá-las a
partir de outros ângulos. Segundo Catherine Rhein, um deles residia na Economia. No seio
de suas preocupações com o progresso civilizatório e o crescimento econômico, a doutrina
liberal — vigente no ambiente francês do século XIX — enfatizava, p.ex., a influência do
clima e a exploração dos recursos naturais como dados a serem pesquisados. Admitindo o
território como força produtiva, o planejamento da agricultura, comércio e indústria
passava, necessariamente, por um amplo levantamento de suas especificidades.
Nesta trilha, sendo Levasseur um dos mais eminentes representantes da economia
política liberal, o programa escolar de 1872 concebia a Geografia como matéria-prima da
riqueza e porta de entrada para os estudos econômicos. Em 1883, o título de sua lição
inaugural no curso de história e geografia econômicas no Collège de France — Da
importância da geografia física para o estudo das forças produtivas das nações — ratifica
o potencial econômico do conhecimento geográfico, assim como sublinha a centralidade da
geografia física como chave explicativa da geografia política e econômica2.
Assim, após a derrota para a Prússia, a reconstrução econômica tornara-se matéria de
urgência. Com a Geografia ocupando uma das linhas-de-frente desta empreitada, o grande
ímã desta campanha é o Colonialismo. Se Berdoulay parece ter razão em alertar-nos acerca
do perigo de igualar a geografia colonial à geografia econômica, na medida em que aquela
atendia anseios tanto de natureza econômica quanto política3, é indubitável que a doutrina
colonial conseguiu reunir a ambos. A propósito, aqui entra em cena um ator de peso: as
Sociedades de Geografia. Independente da assertiva de Rhein de que a institucionalização e
o consequente progresso da Geografia universitária francesa dar-se-ão sem o apoio direto
daquelas Sociedades e do movimento liberal pró-colonial — na medida em que estas
possuem uma concepção de Geografia como algo prático e utilitário, voltada para questões
comerciais, algo que seria banido das instituições acadêmicas e universitárias —, Capel,
Berdoulay e Broc são unânimes em sustentar exatamente o contrário. Para este último, “é
em grande parte sob pressão das Sociedades de Geografia, reunidas anualmente em seus
congressos nacionais, que os poderes públicos serão induzidos a organizar um verdadeiro
ensino superior de Geografia”4. Depois de 1870, sensíveis às reformas de Levasseur, a
1
Numa Broc. “L’établissement de la géographie en France: diffusion, institutions, projets (1870-1890)”.
Annales de Géographie, 459, sept/oct.,1974, p. 547.
2
Catherine Rhein. « La Géographie, discipline scolaire et/ou science sociale? (1860-1920)”. Revue française
de Sociologie. Paris, XXIII, 1982, p.228-232.
3
Vincent Berdolay. La formation de l’école française de géographie. Paris, Éditions du CTHS, 1995, p. 75.
4
Broc, op. cit., p. 552.
3
Sociedade de Geografia de Paris torna-se mais dinâmica, sobretudo no tocante à questão
comercial. Divulgando a causa colonial, espalhar-se-ão pelas províncias: Lyon (1873),
Bordeaux (1874), Marseille (1876), Montpellier, Rochefort, Oran (1878), Nancy, Rouen
(1879), Alger, Bourg, Dijon, Douai, Lille, Lorient, Nantes, Toulouse, Tours...
A despeito da tentativa de uma “operação historiográfica”5 a exorcizar o discurso
geográfico de seu conteúdo político — “mácula” atribuída, sobretudo, aos trabalhos
“imperialistas” do alemão Friedrich Ratzel —, os geógrafos franceses influenciaram e
foram influenciados pelo Colonialismo. Se Pierre Foncin parece ser seu militante mais
engajado, Vidal de la Blache, p.ex., atua em várias frentes: favorável às pretensões do
Comitê da África Francesa, faz conferências sobre as colônias e sua revista é um espaço
privilegiado de atuação em prol da expansão colonial, “à qual nossa época ligou a sua
glória”6. O outro fundador dos Annales de Géographie, Marcel Dubois, beneficia-se da
política imperialista de Jules Ferry e torna-se o primeiro a ocupar a cadeira de geografia
colonial na Sorbonne, em 1885. Em seu Dictionnaire de Géographie, Albert Demangeon
(1872-1940) recobre o verbete Colonisation de um sentido histórico, como se quisesse
naturalizar e renovar o esforço francês de levar a civilização a países novos e bárbaros. Não
hesita em escrever que a principal motivação é a necessidade da indústria moderna em obter
matérias-primas e mercados compradores ao redor da metrópole e dos Estados civilizados e
protecionistas. Declara que a colonização se dá através da esfera de influência fixada pelos
Estados, direito conquistado através das viagens de exploração, por missionários ou apenas
segundo suas conveniências. Porém, a efetivação da autoridade carece, seguidas vezes, da
intervenção de operações militares, “vez por outra atroz, mas sempre custosa”7.
Enfim, a natureza da Geografia estava sendo profundamente alterada. Passando da
descrição regional do globo ao estudo das relações homem-meio revestida de um conteúdo
econômico, parece lícito lembrar que houve um avanço no tratamento da matéria geográfica
e que — como destaca Broc — Levasseur teve papel essencial na modernização do ensino
de Geografia8. Todavia, observando criticamente a totalidade da reforma escolar, Rhein
nota que a Geografia atuou como um “Cavalo de Tróia” atendendo às demandas liberais —
mais preocupadas em difundir suas doutrinas que desenvolver uma ciência geográfica9.
3. Marxismo e Geografia Econômica
A tarefa é relacionar a abordagem materialista histórica e dialética e a ciência
geográfica, destacando a riqueza espacial implícita no pensamento de Marx e seu
aprofundamento pelo filósofo francês Henri Lefebvre e pelo geógrafo britânico David
Harvey. Explicitamente, há aqui uma tomada de posição: o referencial marxista foi
fundamental para o impulso dos estudos de Geografia Econômica.
Sobre Marx, a perspectiva da luta de classes examinando temas como propriedade
privada, trabalho assalariado, produção de mercadorias, mais-valia, separação cidadecampo, natureza como recurso, desenvolvimento desigual e expansão do capitalismo em
escala global estão presentes em seus trabalhos mais importantes. O Manifesto, p.ex.,
5
Michel de Certeau. A Escrita da História. 2ª ed. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2006, p. 65-119.
Paul Vidal de La Blache. Princípios de Geografia Humana. Lisboa, Cosmos, 1954, p. 46.
7
Albert Demangeon. Dictionnaire de Géographie. Paris, Armand Colin, 1907, p. 193.
8
Broc, op. cit., p. 549.
9
Rhein, op. cit., p. 228-233.
6
4
ressalta a dissolução das bases nacionais da indústria, o cosmopolitismo da produção e do
consumo e mesmo a criação de uma literatura universal, como se estivesse a analisar as
principais características da Globalização de nossos dias10.
Por sua vez, A Ideologia Alemã explora a indissociabilidade do homem junto à
natureza, metabolismo que se transformou em dicotomia para que a natureza como fonte
primacial de lucro fosse consumada no seio do modo de produção capitalista. A natureza
passa a ser algo exterior ao homem (e, por conseguinte, o espaço geográfico!), abrindo
caminho para sua exploração pela burguesia11. A propriedade comunal torna-se privada, o
camponês é apartado da terra, o campo subordina-se à cidade, os burgos são antípodas aos
subúrbios. Existe uma espacialidade típica do capitalismo. Não é por outra razão que Marx
observa os liames entre industrialização e urbanização, atentando para o aumento do preço
dos aluguéis nas cidades e o agrupamento de trabalhadores em um mesmo espaço (o fabril
e o urbano). Sensível aos problemas geográficos, percebeu a ocorrência do processo de
valorização do espaço, conforme podemos ler em uma expressiva passagem d’O Capital:
Já a situação habitacional é fácil de entender. Qualquer observador desprevenido percebe que,
quanto maior a centralização dos meios de produção, tanto maior o amontoamento
correspondente de trabalhadores no mesmo espaço e, portanto, quanto mais rápida a acumulação
capitalista, tanto mais miseráveis as habitações dos trabalhadores. Os ‘melhoramentos’ urbanos
que acompanham o progresso da riqueza, a demolição de quarteirões mal construídos, a
construção de palácios para bancos, lojas etc., desalojam evidentemente os pobres, expulsandoos para refúgios cada vez piores e mais abarrotados de gente.12
A interpretação é inequívoca: ele vinculava diretamente o espaço geográfico com a
política habitacional e a economia capitalista, entendendo que o primeiro era manipulado
pela classe dominante. Um instrumento político de dominação, erigido com o objetivo de
garantir a reprodução das relações de produção. Portanto, poucos motivos justificam o
predomínio do historicismo no pensamento crítico, um historicismo cego para a Geografia,
relegando o espaço geográfico a uma posição secundária e recôndita no seio do próprio
marxismo13.
O esforço por reverter tal situação encontra na reflexão de Henri Lefebvre a pedra
angular. Sua leitura do marxismo passa, inequivocamente, pelo entendimento de três
aspectos: (i) o capitalismo vem se apropriando do espaço desde sua gênese; (ii) o processo
de urbanização se afigura como revolucionário; (iii) o processo de produção do espaço
assume um papel central na produção e reprodução do modo de produção capitalista, isto é,
como condição de sobrevivência do mesmo14. Eles estão ligados à sua preocupação com as
mudanças históricas nas condições da exploração capitalista. Durante o século XIX e o
início do XX, a produção do espaço era restrita, limitada pelos poderes do mercado e pelo
Estado. Na extração da mais-valia absoluta, a organização do tempo era muito mais
relevante do que a do espaço. Já no capitalismo contemporâneo, a ênfase se dá cada vez
10
Karl Marx, Friedrich Engels. “O Manifesto Comunista”. Textos – Vol. 3. São Paulo, Ed. Sociais, s/d, p. 25.
Karl Marx, Friedrich Engels. A Ideologia Alemã. São Paulo, Martins Fontes, 2001.
12
Karl Marx. O Capital: Crítica da Economia Política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,1975, p. 764.
13
Derek Gregory. “Teoria social e Geografia Humana” In: D. Gregory, R. Martin, G. Smith (orgs.).
Geografia Humana: Sociedade, Espaço e Ciência Social. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1996. E
também: Edward Soja. Geografias Pós-Modernas. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1993.
14
Henri Lefebvre. La Pensée Marxiste et la Ville. Paris, Casterman, 1972; e também, do mesmo autor:
Espacio y Politica. Barcelona, Ediciones Península, 1976; e O Direito à Cidade. São Paulo, Centauro, 2001.
11
5
mais na extração da mais-valia relativa através, p.ex., das transferências geográficas de
valor e do desenvolvimento geograficamente desigual.
Voltado obsessivamente para o consumo, o capitalismo cria incessante espaços
abstratos onde impera o valor de troca — em detrimento do espaço vivido, que possui
apenas valor de uso15. Assim, ergue-se um shopping onde antes era uma praça, um
estacionamento põe fim a um campo de várzea. A impessoalidade, o não-contato e a
permuta de mercadorias substituem a rua, o encontro e a troca de experiências. Afirma que
“O espaço e a política do espaço ‘exprimem’ as relações sociais, mas reagem sobre elas”16.
Em Lefebvre, as preocupações se manifestam de forma assaz plural: quando trata da
classe trabalhadora, não se preocupa apenas com a exploração de sua força-de-trabalho,
mas também com sua vida cotidiana, produto da alienação dado pela explosão do valor de
troca; quando faz menção ao espaço, transita com facilidade tanto no plano epistemológico,
criticando o espaço newtoniano-cartesiano vazio e desprovido de conteúdo social, quanto
no plano da prática, reconhecendo a dimensão ideológica do planejamento racional e
estratégico sobre o mesmo; ao refletir sobre a ideologia, capta com muita sensibilidade não
apenas o caráter classista dos discursos dominantes, mas simultaneamente uma ideologia
urbanística voltada para a neutralização do poder da manipulação do espaço, isto é, uma
ideologia contida nos objetos materiais, onde espaços vividos cedem lugar aos espaços
abstratos que garantem a reprodução das relações de produção.
Sobre David Harvey, pode-se dizer que se apresenta como um geógrafo singular
devido, principalmente, à sua inquieta trajetória intelectual: encantado com a filosofia
positivista num primeiro momento, quando a Geografia inicia um processo de repúdio à
linguagem lógico-matemática-acrítica, começando a se servir do materialismo marxista
como referencial teórico de seus escritos, ele se mostrará um dos ícones desse movimento
de renovação indo, destarte, contra a corrente de pensamento que ele mesmo abraçara. Sua
posição de destaque no interior de uma geografia voltada para o materialismo merece que
façamos aqui um breve resgate de suas principais concepções acerca do tratamento dado ao
espaço e ao marxismo.
Embora Derek Gregory declare que essa transição não tenha sido tão revolucionária
assim, encontrando um positivismo residual em seus primeiros escritos “marxistas”17, hoje
é consenso que Harvey se apresente como um dos mais importantes geógrafos marxistas
contemporâneos, na medida em que, após ter apreendido e realizado as conexões essenciais
entre o marxismo e a Geografia, admite uma séria lacuna a ser preenchida nas obras de
Marx. Percebendo que as teorias sociais caracterizavam-se por uma ênfase secundária no
espaço, seu intuito é o de espacializar o materialismo marxista, dando continuidade aos
esforços pioneiros de Lefebvre de engendrar um materialismo histórico e geográfico.
Todavia, a relação estabelecida entre Harvey e o espaço não é tão estreita como
pode parecer num primeiro momento. O percurso desse autor até a definitiva espacialização
de seu pensamento tem sido permeado por uma série de idas e vindas. Em seus primeiros
encontros com o marxismo, sua postura era a de marxificação da Geografia, ou seja, de
uma apropriação desmedida dos conceitos e categorias pertencentes ao marxismo; como
este estava limitado a uma visão historicista dos fatos, ele acabou por reproduzir tal
restrição, liderando esta marxificação. Tais fatos levaram Soja a defini-lo, nesse sentido,
15
Henri Lefebvre. La Production de l'espace. Paris, Anthropos, 2000.
Henri Lefebvre. A Revolução Urbana. Belo Horizonte, Ed. da UFMG, 2002, p 26-27.
17
Gregory, op. cit, 1993, p. 103.
16
6
como “ambivalente”, além de ter sido meio que repreendido por alguns de seus melhores
alunos em especial Richard Walker e Neil Smith18. Mas este último autor o considera o
precursor na análise do espaço criado... como o princípio supremo da organização
geográfica”19.
Realizar uma reflexão sobre a Geografia Marxista sem sermos remetidos ao
pensamento de David Harvey torna-se praticamente impossível. Para nós, sua maior
contribuição situa-se entre a espacialização do marxismo e a consideração de que as
mudanças das práticas econômicas, culturais e ideológicas, engendradas a partir da década
de 1970 particularmente a relação modernidade e “pós-modernidade” e a transição do
fordismo para o regime do que chama de “acumulação flexível” impõem,
simultaneamente, uma mudança qualitativa em nossas concepções de tempo e espaço, e é
nessa imposição que se encontram algumas das principais pistas para a construção de um
materialismo histórico e geográfico20.
4. A Geografia Econômica em Tempos de Globalização
Com o advento da globalização, a importância da geografia econômica tem sido
evidenciada, seja no que se refere à valorização produtiva dos territórios, à mobilidade do
capital e, ainda, no papel do trabalho humano.
Quanto à primeira questão, embora haja um discurso que procura minimizar o papel
do Estado-Nação como principal gestor do território, sabemos que isto não condiz com a
realidade: a retórica neoliberal é incapaz de obscurecer, por exemplo, a força dos Estados
Unidos e dos países centrais na geopolítica mundial, nem tampouco os documentos de
organismos internacionais, que inevitavelmente evocam o papel jurídico e institucional do
Estado na promoção das mais variadas políticas públicas. Além disso, o território continua
sendo não somente a base imprescindível das atividades econômicas e da vida social em
geral, mas temas como o desenvolvimento sustentável e a guerra dos lugares revelam o
potencial inscrito nas riquezas naturais, nos tecnopólos de algumas cidades
contemporâneas, nos novos modelos de urbanização (flexível, turística) e na fluidez das
redes técnico-comerciais que se impõem como necessidade do capitalismo atual.
Acerca da mobilidade do capital, se historicamente a geografia econômica
assemelhava-se ao inventário dos fixos (tipos de indústrias, produções agrícolas, tamanho
da mão-de-obra, vocação do território), em tempos de globalização há uma aceleração das
mudanças, que gera a necessidade de apreender os movimentos fugazes e efêmeros das
redes concretas e virtuais das finanças e negócios em escala mundial. Se o padrão fordista
pressupunha uma rigidez locacional quanto à organização do espaço de circulação, nota-se
atualmente uma superposição de lugares, atores e setores que permite combinações
“imprevisíveis” como a deslocalização industrial21, a obsolescência da tradicional
18
Soja, op. cit, 1993, p. 68-75.
Neil Smith. Desenvolvimento Desigual: natureza, capital e a produção de espaço. Rio de Janeiro, Bertrand
Brasil,1988, p. 139.
20
David Harvey. Condição Pós-Moderna. São Paulo, Loyola, 1992, e também, do mesmo autor: Produção
Capitalista do Espaço. São Paulo, Annablume, 2005.
21
Immanuel Wallersteiin. “Mundialização ou Era de Transição? Uma Visão de Longo Prazo da Trajetória do
Sistema-Mundo”. F. Chesnais, F Duménil, G. Leéy, I. Wallerstein. Uma Nova Fase do Capitalismo? São
Paulo, Xamã, 2003
19
7
setorização econômica trinitária22 a transnacionalização e a diversificação do capital –
observáveis na instabilidade constante da esfera financeira dos nossos dias, com destaque
para a ciranda especulativa e sua debilidade concreta.
Por fim, ainda que a aparência do modo de produção capitalista possa sugerir um
decréscimo do trabalho e sua dissolução frente ao aparato técnico-científico, poucas coisas
são tão indiscutíveis quanto à centralidade do mundo do trabalho23. A fragmentação
industrial após a década de 70 que, por sua vez, conduziu a alterações na própria
organização classista do proletariado, enxugando quantitativamente a mão-de-obra e sua
participação sindical, não significa de maneira alguma a irrelevância qualitativa do trabalho
humano. Ao contrário: este processo criou no trabalhador um caráter multifuncional que, no
entanto, não foi acompanhado de benefícios diretos. Este “novo” trabalhador, ao ter sua
importância questionada pela capacidade sedutora da técnica, como se a mesma fosse
resolver todos os problemas da humanidade24, observa a diminuição de seus salários, a
disputa brutal por postos de trabalho, as demissões em massa, a “falência” das garantias
trabalhistas e mesmo um controle direto de seu tempo livre. Cabe ressaltar que, a despeito
do que a ideologia neoliberal conclama, insistindo em incorporar o trabalho dentro do
relicário conceitual das ciências sociais, não é possível conceber uma geografia econômica
independente da ação humana realizada por intermédio do trabalho, tanto físico quanto
intelectual.
5. Considerações Finais
Ao mesmo tempo, há um discurso que prega o fim da geografia e do espaço como
um todo. Há que se enfrentar esta questão, que é, antes de tudo, uma questão política.
Como docentes, encaramos o ensino de geografia, sobretudo, como uma práxis que começa
na sala de aula, mas que não se encerra na mesma. Problematizar temas como o
desenvolvimento desigual e combinado, a reestruturação produtiva do capital, o bloqueio
econômico a Cuba, a exclusão da África após séculos de exploração colonial, a
globalização e a fragmentação do mundo contemporâneo fazem parte de uma estratégia de
luta e contestação frente àquilo que Milton Santos chamou de pensamento único25.
22
José Eli da Veiga. “A Face Territorial do Desenvolvimento”. In: Encontro Nacional de Economia, 27.º,
1999, Anais. Belém, p. 1301-1318.
23
Ricardo Antunes. Os Sentidos do Trabalho: Ensaio sobre a Afirmação e a Negação do Trabalho. 4. Ed. São
Paulo, Boitempo Editorial, 2001.
24
Jurgens Habermas. “Técnica e ciência enquanto ‘ideologia”. In: Benjamin. Habermas. Horkheimer.
Adorno. Seleção de Textos. São Paulo: Abril Cultural, 1983.
25
Milton Santos. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de
Janeiro/São Paulo, Record, 2000.