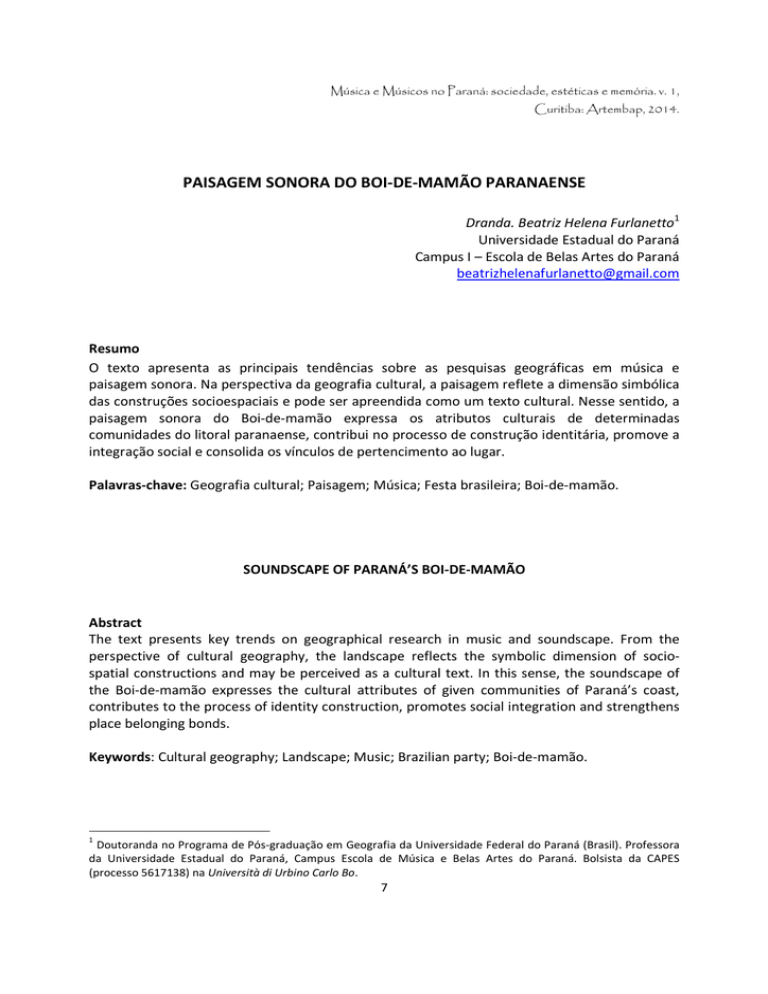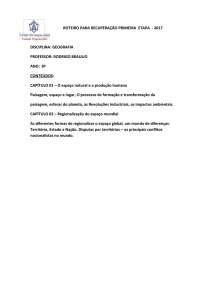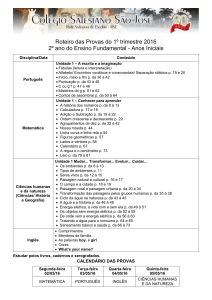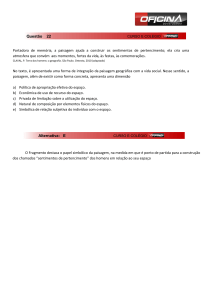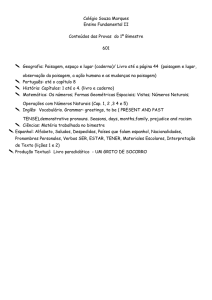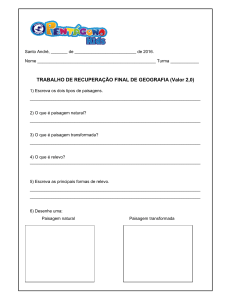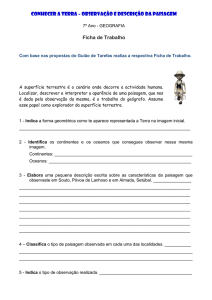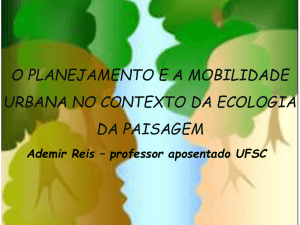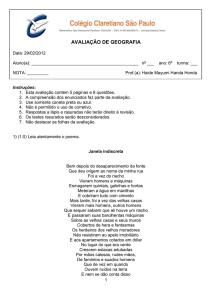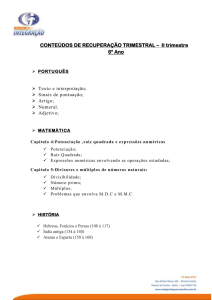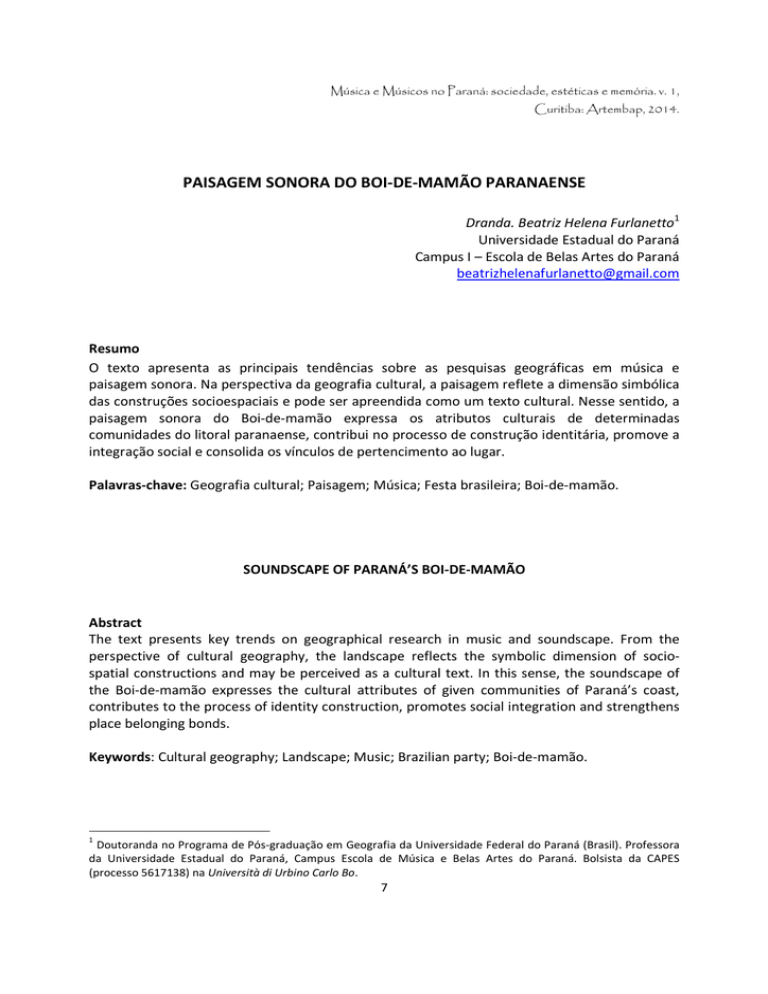
Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,
Curitiba: Artembap, 2014.
PAISAGEM SONORA DO BOI-DE-MAMÃO PARANAENSE
Dranda. Beatriz Helena Furlanetto1
Universidade Estadual do Paraná
Campus I – Escola de Belas Artes do Paraná
[email protected]
Resumo
O texto apresenta as principais tendências sobre as pesquisas geográficas em música e
paisagem sonora. Na perspectiva da geografia cultural, a paisagem reflete a dimensão simbólica
das construções socioespaciais e pode ser apreendida como um texto cultural. Nesse sentido, a
paisagem sonora do Boi-de-mamão expressa os atributos culturais de determinadas
comunidades do litoral paranaense, contribui no processo de construção identitária, promove a
integração social e consolida os vínculos de pertencimento ao lugar.
Palavras-chave: Geografia cultural; Paisagem; Música; Festa brasileira; Boi-de-mamão.
SOUNDSCAPE OF PARANÁ’S BOI-DE-MAMÃO
Abstract
The text presents key trends on geographical research in music and soundscape. From the
perspective of cultural geography, the landscape reflects the symbolic dimension of sociospatial constructions and may be perceived as a cultural text. In this sense, the soundscape of
the Boi-de-mamão expresses the cultural attributes of given communities of Paraná’s coast,
contributes to the process of identity construction, promotes social integration and strengthens
place belonging bonds.
Keywords: Cultural geography; Landscape; Music; Brazilian party; Boi-de-mamão.
1
Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Paraná (Brasil). Professora
da Universidade Estadual do Paraná, Campus Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Bolsista da CAPES
(processo 5617138) na Università di Urbino Carlo Bo.
7
Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,
Curitiba: Artembap, 2014.
O BOI-DE-MAMÃO NO LITORAL DO PARANÁ
O boi-de-mamão2 é uma das mais ricas manifestações do folclore brasileiro, na qual o boi
é a principal figura de representação. Surgido no Nordeste do Brasil no século XVIII, ao espalharse pelo país recebeu diferentes denominações, narrativas, formas de apresentação,
indumentárias, personagens3, ritmos e instrumentos musicais. Assim, o folguedo se chama
Bumba-meu-boi nos estados do Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoas e Piauí; Boi-bumbá no
Pará, Rondônia e Amazonas; Boi-de-mamão no Paraná e em Santa Catarina, entre outras
denominações regionais.
O espetáculo é uma espécie de ópera popular que reúne música, dança e teatro,
mesclando elementos das culturas europeia, africana e indígena. Os atores populares ou
brincantes encenam, na maioria das apresentações, o mito da morte e ressurreição do boi,
resgatando elementos da vida cotidiana do Nordeste brasileiro, durante o período colonial.
Àquela época, séculos XVI ao XIX, as relações econômicas e sociais eram marcadas pela
plantation, criação extensiva de gado e pelo trabalho escravo. É este cenário que se projeta na
narrativa tradicional, na qual o boi de estimação de um rico fazendeiro (elemento branco) é
roubado pelo escravo Pai Francisco (elemento negro), que mata o animal para satisfazer a
vontade de sua esposa grávida, Mãe Catirina, desejosa em comer a língua do boi. Pajés e
curandeiros (elemento ameríndio) são convocados para reanimar o animal e, quando o boi
ressuscita, os brincantes cantam e dançam em uma grande festa para comemorar o milagre.
2
O Boi-de-mamão ou Bumba-meu-boi é uma dança dramática, segundo Andrade (1959), ou um folguedo popular,
de acordo com Meyer (1993) e Câmara Cascudo (1967). Folguedos são festas populares de espírito lúdico que se
realizam anualmente, em datas determinadas, em diversas regiões do Brasil. Bumba pode se referir ao instrumento
zabumba ou a uma pancada; bumba-meu-boi significa bate ou chifra meu boi.
3
Os personagens principais são: o Boi, corpo feito de arcabouço de madeira recoberto de pano, dentro do qual um
homem faz o animal mover-se; o Dono do boi, também denominado Capitão, Cavalo-marinho, Amo ou Fazendeiro;
o Pai Francisco e sua esposa Catirina; o Vaqueiro Mateus; o Pajé, às vezes representado por um Médico,
Benzedeiro ou Doutor. Ao lado desses, em cada região aparecem diferentes personagens secundários que, segundo
Alvarenga (1982), podem ser classificados em três tipos: humanos (como a Velha, a Rosa, a Sinh’Aninha, o Fiscal, os
Galantes e as Damas); animais (entre eles o Urubu, a Ema, a Burrinha, a Cobra Verde); fantásticos (como a Caipora,
o Gigante, o Diabo, o Morto-e-vivo, a Bernúncia).
8
Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,
Curitiba: Artembap, 2014.
Quanto à manifestação no litoral do Estado do Paraná, região Sul do Brasil, há quatro
grupos de boi-de-mamão: o Boi do Norte e o Boi Barroso, no município de Antonina; o Boi
Mandicuera, na Ilha dos Valadares, em Paranaguá; o Boi-de-mamão, do Grupo Folclórico de
Guaratuba. O Boi-de-mamão é uma tradição cultivada pelos migrantes do Estado de Santa
Catarina que fixaram residência no litoral paranaense e, nesses dois Estados, é comum
acrescentar a Dança da Balainha4 e a Dança do Pau-de-fita5 ao folguedo.
Os grupos paranaenses têm um caráter acentuadamente lúdico, mas apresentam
distintos personagens, narrativas e músicas que dão vida ao boi bailante, elemento recorrente
em todas as modalidades do folguedo, em torno do qual se agregam os brincantes. É
interessante destacar que o grupo Boi do Norte remonta ao início do século XX, revelando quão
forte é sua tradição. Apesar disso, o Boi-de-mamão é um festejar com pouca visibilidade no
Paraná: apenas uma pequena parte da população mantém viva essa manifestação cultural.
Na perspectiva da geografia cultural, a paisagem é entendida como um produto da
transformação do ambiente em cultura e reflete a dimensão simbólica das construções
socioespaciais, revelando a maneira como o homem se relaciona com o seu meio e o sentido a
ele atribuído.
Cosgrove (1998) considera a paisagem como um texto cultural, que apresenta a
possibilidade de muitas leituras diferentes e simultâneas, e defende a ideia de aplicar à
paisagem humana algumas das habilidades interpretativas de que dispomos ao estudar um
romance, um poema ou um quadro, de tratá-la como uma expressão humana intencional
composta de muitas camadas de significados.
Assim, na área da ciência geográfica, é possível investigar a paisagem da festa do Boide-mamão, considerando-a uma criação coletiva capaz de revelar as representações e os
valores sociais que um determinado grupo atribui ao seu espaço. A investigação é orientada
4
A Balainha, também denominada Arcos Floridos ou Jardineira, é uma dança introduzida no Brasil pelos
portugueses, a qual se desenvolve com os pares de dançantes, cada um deles sustentando um arco florido.
5
A Dança do Pau-de-fita é popular em Portugal e na Espanha, a coreografia se desenvolve em torno de um mastro
no qual se prendem várias fitas no topo, cada figurante segura a extremidade de uma das fitas e o grupo evolui,
trançando-as.
9
Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,
Curitiba: Artembap, 2014.
pela abordagem fenomenológica, fundamentada na análise documental, bibliográfica e na
pesquisa de campo.
AS INVESTIGAÇÕES GEOGRÁFICAS EM MÚSICA E A PAISAGEM SONORA
Os geógrafos investigam os sons, os ruídos e a música em sua dimensão espacial há quase
um século, mas apenas no final do século XX percebe-se o crescimento das produções
acadêmicas nesta área. Guiu (2006) e Panitz (2012) apresentam uma síntese das pesquisas em
geografia e música e atestam uma gradual consolidação deste campo investigativo, apontando
os Estados Unidos, a Inglaterra e a França como centros de discussão avançada. A revisão dos
estudos que envolvem geografia e música mostra uma variedade de abordagens e objetos, e
reflete as diferentes orientações da disciplina geográfica contemporânea como um todo.
Segundo Panitz (2012), nos países anglo-saxões percebem-se dois momentos distintos das
pesquisas geográficas em música: a abordagem difusionista da escola saueriana e a renovação
crítica, inspirada nos estudos culturais. Na França predomina um ponto de vista territorial, que
invesRga a música na construção e na afirmação da idenRdade territorial e a produção de
políRcas territoriais voltadas à música, entre outros. O autor ressalta a pluralidade de
abordagens e tratamentos metodológicos das pesquisas em geografia e música no Brasil, que
destacam a “diversidade musical do país e suas relações com as idenRdades regionais e
nacionais, a construção de territorialidades e de discursos geográficos e as transformações do
espaço urbano” (PANITZ, 2012, p. 7).
Para Guiu (2006), os trabalhos recentes revelam uma orientação privilegiada em direção a
uma análise segundo critérios múltiplos: há uma pluralidade de abordagens, mas de
perspectivas convergentes. Os atores, os agentes de distribuição e os eventos musicais são
objetos geográficos mapeáveis. As práticas e os comportamentos musicais – como os eventos, o
consumo e a produção musical – podem ser medidos e avaliados na perspectiva da
espacialidade, em diferentes escalas, considerando-se o contexto social, cultural e
10
Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,
Curitiba: Artembap, 2014.
mesmo econômico. O fato musical promove a divulgação e a disseminação de ideias e gêneros
musicais, e pode ser considerado um geoindicador dos sentimentos de pertença, mobilidades,
valores e comportamentos sociais. Nos estudos geográficos, a música pode refletir o sentido
dos lugares, das representações territoriais, das identidades regionais, da paisagem cultural ou
dos traços culturais. O elemento musical também é um produtor de territórios e está presente
nos processos que envolvem a definição de identidades.
Ao discutir os trabalhos na interface entre a geografia cultural e a música, Castro (2009)
apresenta as contribuições de George Carney e Lily Kong e as análises que esses geógrafos
realizaram sobre as diferentes linhas de pesquisa na área.
Kong (2009) enumera cinco tendências para os estudos geográficos sobre música: a
distribuição espacial de formas musicais, atividades, artistas e personalidades; os locais de
origem musical e a sua difusão; a delimitação de áreas que partilham certos traços musicais; o
caráter e a identidade dos lugares a partir das letras das canções; a relação da identidade dos
compositores com o seu espaço e a visão de mundo transmitida pela música. A autora aponta,
ainda, novas possibilidades de abordagens, entre elas, a análise dos significados e o papel
simbólico da música na vida social; a música enquanto comunicação cultural; as políticas
culturais e os aspectos econômicos referentes à música; o papel da música na construção e
desconstrução de identidades.
Carney (2007) apresenta algumas taxonomias para as pesquisas geográficas referentes à
música, como a relação da música com o meio ambiente; o lugar de origem e a difusão dos
fenômenos musicais; o efeito da música na paisagem cultural; os gostos musicais das pessoas
em diferentes lugares; os elementos psicológicos e simbólicos da música, relevantes na
modelagem do caráter de um lugar; a evolução de um estilo, gênero ou música específica de um
lugar. Para o autor, os sons musicais podem evocar um sentimento de lugar, ajudando o homem
a criar uma ligação emotiva com o lar, a cidade, o estado, a região ou a nação.
Diante do exposto, percebem-se as inúmeras possibilidades de abordagem para as
pesquisas geográficas em música e a abrangência deste campo investigativo.
11
Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,
Curitiba: Artembap, 2014.
Entre as pesquisas transdisciplinares sobre a paisagem sonora6 e os ruídos, destaca-se, na
década de 1970, o projeto acústico (World Soundscape Project) do compositor canadense
Robert Murray Schafer, uma iniciativa de inventário, de arquivo sonoro com uma abordagem
acústica, ecológica, simbólica, estética e musical. O autor percebe o mundo como uma grande
composição musical que se desdobra à nossa volta, preocupa-se com a crescente poluição
sonora e propõe a preservação e reconstrução dos ambientes acústicos, por meio de uma
reeducação da escuta para o desenvolvimento de um ouvinte que ouve e pensa o seu entorno
sonoro. Considerando os sons como indicadores de época que revelam acontecimentos sociais
e políticos, Schafer (1991, 2001) apresenta as peculiaridades das paisagens sonoras de
diferentes lugares, suas transformações no decorrer da história da sociedade ocidental e como
essas mudanças afetaram o comportamento humano. Para o autor, os sons afetam os
indivíduos de modo diferente e um único som pode estimular uma variedade de reações. Ele
considera que diferentes grupos culturais têm atitudes variadas perante os sons ambientais.
Depreende-se que o objeto sonoro possui um contexto social, cultural e auditivo e que a
paisagem sonora pode ser entendida como o ambiente sonoro da humanidade, um conjunto
sempre presente de sons que estão constantemente em mutação: sons naturais provenientes
da natureza, sons mecânicos produzidos por máquinas, sons agradáveis e desagradáveis, fortes
e fracos, ouvidos ou ignorados, com os quais os homens convivem.
Na área da música, as composições do tipo Paisagem Sonora7, que se caracterizam pelo
uso explícito do som ambiental como material constituinte da composição, têm gerado
discussões em relação ao fazer musical e à atividade compositiva e perceptual.
6
O termo Soundscape (paisagem sonora), em analogia à palavra Landscape (paisagem), foi criado por Schafer (2001, p. 23):
“a paisagem sonora é qualquer campo de estudo acústico. Podemos referir-nos a uma composição musical, a um programa
de rádio ou mesmo a um ambiente acústico como paisagens sonoras”. A obra teórica e artística desse compositor é ampla e
complexa. Importa ressaltar que, para tentar humanizar a paisagem sonora mundial, Schafer propõe um projeto cujo
modelo acústico é subjetivo, o ouvinte é o centro do processo, o qual se fundamenta no relacionamento entre ouvinte e
paisagem sonora. O modelo acústico tradicional é objetivo, considera o som como o centro do sistema no ato de ouvir.
7
Toffolo (2004), com base na classificação de José Iges, apresenta três tendências em composições do tipo Paisagem
Sonora produzidas em meios eletroacústicos: composições baseadas na noção de reeducação da escuta, decorrente dos
estudos realizados por R. M. Schafer; composições que utilizam gravações ambientais sem processos de alteração de
sinal sonoro, privilegiando a referencialidade auditiva; composições elaboradas com a captação de sons ambientais que
utilizam processos eletroacústicos para eliminação de qualquer traço de referencialidade à fonte sonora.
12
Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,
Curitiba: Artembap, 2014.
No campo da etnomusicologia, perceber e pensar a produção sonora musical como parte
de uma paisagem sonora mais abrangente é um assunto relativamente novo, conforme Pinto
(2001). O autor distingue a soundscape natural, que envolve as sonoridades dos fenômenos
naturais, da soundscape cultural, que resulta das atividades humanas e marca o potencial
comunicativo, emocional e expressivo do som. A música faz parte da paisagem sonora e “tem a
propriedade de influenciar e mesmo de caracterizar paisagens sonoras. Uma paisagem sonora é
tão diversificada quanto são diversos os ambientes que a produzem”, afirma Pinto (2001, p. 24).
Percebe-se que a paisagem sonora tem sido investigada por diferentes áreas do
conhecimento, evidenciando a diversidade e a amplitude das perspectivas de escuta dos sons
produzidos pelo homem e pelo meio ambiente.
A diversidade e a complexidade da paisagem sonora se evidenciam no Boi-de-mamão
paranaense: a música se mostra como o fio condutor das apresentações, mas, apesar da
proximidade geográfica, os grupos brincam embalados por diferentes toadas e cantorias
(composições musicais que apresentam os personagens e cenas do folguedo), instrumentos e
narrativas (texto falado), despertando múltiplas possibilidades de escuta. Na perspectiva da
geografia cultural, a paisagem sonora do Boi-de-mamão contempla a dimensão material e
simbólica das relações espaciais.
A PAISAGEM SONORA DO BOI-DE-MAMÃO
Os sons marcam diferentes tempos e lugares: vozes, sotaques, ruídos e músicas de
determinados lugares fazem parte das sensações ali experimentadas, das percepções ali
adquiridas. Mediante a música e a linguagem a comunicação se estabelece, os valores culturais
são construídos e repassados. Portanto, a paisagem sonora é cultural.
“Todas as paisagens possuem significados simbólicos porque são o produto da
apropriação e transformação do meio ambiente pelo homem” (COSGROVE, 1998, p. 108).
13
Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,
Curitiba: Artembap, 2014.
O simbólico referencia a cultura do grupo ao qual o indivíduo pertence e cada sociedade
tem uma maneira muito particular de interpretar o espaço geográfico. Portanto, a paisagem
não se restringe ao meio, mas expande-se em significados, fala do homem e manifesta seu ser.
Segundo Berque (1998), a paisagem exprime o sentido que uma sociedade dá à sua
relação com o espaço e com a natureza: a paisagem é, simultaneamente, marca e matriz da
cultura, pois expressa uma civilização e transmite usos e significações de uma geração à outra.
Percebe-se que a paisagem emerge segundo as experiências de cada indivíduo e daqueles
que o precederam. Ao envolver aspectos objetivos e subjetivos do mundo vivido, a paisagem
reflete a identidade dos grupos culturais.
Os grupos paranaenses de Boi-de-mamão revelam identidades singulares e se apresentam
de forma livre e variada em festas carnavalescas e religiosas e em eventos públicos diversos. O
Boi do Norte e o Boi Barroso constituem-se como blocos folclóricos que, no carnaval, desfilam
nas ruas conduzidos por mais de duzentos participantes. Nos demais eventos, os grupos reúnem
cerca de trinta brincantes: o Boi do Norte encena o mito da morte e ressurreição e o Boi Barroso
realiza a Dança da Balainha. Na cidade de Guaratuba, no Paraná, apesar da falta de apoio local e
das dificuldades financeiras, um pequeno grupo familiar mantém viva a tradição do Boi-demamão e a Dança do Pau-de-fita. O Boi Mandicuera é composto por jovens e faz parte da
Associação de Cultura Popular Mandicuera que, com o apoio do Ministério da Cultura, busca a
formação de novos fandangueiros e a preservação da cultura caiçara.
O Boi-de-mamão é uma tradição repassada por meio da oralidade – os artistas populares
aprendem a cantar, dançar e tocar os instrumentos musicais por imitação. Assim, os elementos
míticos e mágicos se mantêm presentes no imaginário popular e revitalizam o fazer poético,
legitimando o folguedo como referência cultural local.
Cada lugar tem uma identidade sonora, afirma Roulier (1999), e há uma variação de
sons entre um lugar e outro, bem como entre os tempos e as culturas. O autor discute as
diferentes possibilidades de estudo da paisagem sonora, como as variações dos ruídos, a
poluição sonora, as heterotopias sonoras (as diferenças entre os lugares, a partir da análise
14
Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,
Curitiba: Artembap, 2014.
dos sons) e a topofilia sonora (sentimento de pertencimento a um lugar com relação à sua
sonoridade).
O sentimento de pertencimento que liga uma pessoa a um lugar resulta de uma história,
um vínculo construído a partir das relações que se estabelecem com o agrupamento humano e
com o espaço por ele ocupado. A música é um poderoso instrumento para estabelecer um
sentido de conexão e solidariedade entre as pessoas.
No Boi-de-mamão, a música se destaca como fio condutor do espetáculo: as letras das
toadas e cantorias veiculam os valores e hábitos compartilhados em cada comunidade,
promovendo a integração social e consolidando os vínculos de pertencimento ao lugar.
No Paraná, os grupos apresentam distintas formações instrumentais, desenhos rítmicos e
toadas, entre as quais se ouvem melodias do folclore nacional. Cantores e instrumentistas
acompanham os grupos e, em geral, não participam da encenação. No grupo de Guaratuba, a
cantoria é acompanhada por violão, rabeca e tambor. No Boi Mandicuera, o ritmo musical
parece referenciar o fandango8, com rabeca, violão, pandeiro, alfaia, tambor, caixa e triângulo.
Nas toadas do Boi do Norte ouvem-se vozes, violão, viola, tambor, caixa, surdo, repique,
chocalho e reco-reco. No Boi Barroso, melodias folclóricas embalam a Dança da Balainha.
Para Kong (2009), a música pode veicular as imagens de um lugar e servir como fonte
primária para a compreensão da natureza e da identidade dos lugares. Enquanto uma forma de
comunicação cultural, a música pode ser um meio pelo qual as identidades são
(des)construídas, como se verifica em Paranaguá.
Ao revitalizar as manifestações culturais tradicionais – como o Fandango, a Dança do Paude-fita, o Boi-de-mamão, o Terço Cantado e a Romaria do Divino Espírito Santo – nas quais a
música se destaca, o Grupo Mandicuera resgata valores que permanecem na imaginação
coletiva da comunidade, atribuindo significados à cultura popular caiçara. Portanto, a música
parece contribuir no processo de construção identitária.
A representação da identidade ocorre na intersecção que se estabelece na condição de
homem, entre sua posição de ser produtor e ser produzido em uma realidade social. Para
8
Para esclarecimentos sobre o fandango e a paisagem sonora da Ilha dos Valadares, ver Torres (2009).
15
Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,
Curitiba: Artembap, 2014.
Persi (2006), a paisagem e a identidade são conquistas humanas diárias, processos em construção,
desconstrução e reconstrução no tempo e no espaço.
A tradição do Boi-de-mamão é concebida na experiência dos artistas populares e seu
repasse se dá por meio da memória e da história oral. Enquanto manifestação popular, o
folguedo encontra-se entre as forças da preservação e da mudança, refletindo o dinamismo
cultural.
O Boi Mandicuera faz constantes releituras do folguedo, com o objetivo de manter a tradição
viva, próxima dos jovens participantes, os quais recriam continuamente as apresentações. Seus
dirigentes reconhecem que a cultura possui uma dinâmica própria, e que as transformações
fazem parte de todas as manifestações tradicionais.
Já o Boi de Guaratuba e o Boi do Norte apostam na tradição como um valor que legitima o
Boi-de-mamão, efetuando poucas mudanças ao longo dos anos. O Boi do Norte tenta preservar
elementos criados na fundação do grupo, em 1922, como sua narrativa, a bateria formada por
crianças e adolescentes que vestem camisa xadrez e chapéu de palha e a toada principal que
embala os brincantes.
O Boi Barroso constituiu-se recentemente e busca inspiração no folclore nacional para as suas
apresentações, cujo foco principal é o desfile carnavalesco.
Abordando a geopoética das paisagens, Kozel (2012, p. 67) destaca a essência do ser humano
e as relações que estabelece com o mundo por meio de sua cultura, sentimentos e valores,
entendendo a paisagem como “o resultado da contemplação, primeiramente no sentido ótico e
em seguida espiritual da natureza, correlacionando os diversos objetos e a imaginação subjetiva
dos mesmos”.
Andreotti (2010, 2012) e Persi (2006, 2010) acentuam a perspectiva emocional da geografia
cultural e a complexidade acerca da definição da paisagem, do seu ser, do seu devir e da sua
essência como relação entre o homem e o espaço.
Para Andreotti (2012), a paisagem não pode ser separada do homem, do seu espírito, da
sua imaginação e percepção. A paisagem marca o homem e é por ele marcada, reflete o
homem e a sua história, e cada comunidade inscreve na paisagem sua própria ética e estética.
16
Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,
Curitiba: Artembap, 2014.
Cada cultura se expressa segundo uma ética, um patrimônio dos costumes e valores
tradicionais, que estabelecem códigos de comportamento e padrões de escolha desenvolvidos
dentro dessa mesma cultura. Tais padrões delineiam a fisionomia dos lugares, a sua estética.
Portanto, a invisibilidade, que é a ética da paisagem, gera o seu visível, a sua estética. Assim, de
acordo com a autora, a paisagem cultural é histórica, geográfica, filosófica, religiosa, artística,
ética e estética.
A paisagem é alma, é psique, é uma construção humana que provém de longa data, da
integração de almas para almas, é um diálogo entre o passado e o presente, entre a natureza e
o espírito, a paisagem é “tudo que está dentro de nós: é uma emoção, um estado de espírito”
(ANDREOTTI, 2010, p. 275).
Persi (2010) destaca a profunda ligação que os homens estabelecem com os lugares e seus
patrimônios culturais, reconhecendo o valor que os lugares e as situações vividas têm sobre as
emoções e os sentimentos que integram a experiência humana do mundo. Segundo o autor, os
lugares estão impregnados de vida e de paixões e sob essa luz devem ser compreendidos,
analisados e planejados: “Il paesaggio è emblema di umanità, della fervida genialità e
apassionata creatività, ma anche della fragilità e contradizione della condizione umana: è
creatura dell’uomo, che dialoga con l’universo e dell’uomo como condiziona l’esistenza” (PERSI,
2006, p. 25).
Depreende-se que a paisagem é emocional porque exprime o homem e ao mesmo tempo
faz o homem, é parte integrante da história cultural de um determinado lugar, dotada de
valores espirituais. A paisagem emocional é criada pelo próprio observador, carregada de
sentido, investida de afetividade e envolve todas as complexidades da alma humana.
As narrativas, os personagens e as músicas de cada grupo de Boi-de-mamão tecem
paisagens emocionais ímpares, que expressam os valores e as histórias de vida dos brincantes.
O Boi de Guaratuba é muito semelhante aos grupos do Estado de Santa Catarina, com os
personagens do Boi, Cavalo-marinho, Barão, Catirina, Onça, Doutor e Bernúncia. O dirigente do
grupo é filho de um migrante catarinense e a brincadeira faz parte da sua infância e das suas
memórias, o que confere originalidade às apresentações do folguedo.
17
Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,
Curitiba: Artembap, 2014.
No município de Paranaguá, não é o Boi mas o Vaqueiro Mateus que morre ao levar uma
chifrada do animal e depois é reavivado pelo Doutor Girão. Além desses personagens, há o
Delegado, a Vaca, o Cavalinho, a Bernúncia e a Mariola (ou Maricota), uma armação de madeira
com uns três metros de altura e fisionomia de mulher. No Boi-de-mamão, as tradições culturais
locais se evidenciam na roupa de tecido colorido, geralmente chitão, na cara preta tisnada de
carvão, na narrativa e nos personagens que mesclam o folguedo aos valores do espaço vivido.
Os grupos de Antonina compartilham o mesmo espaço geográfico, mas são bastante
distintos. Nos desfiles carnavalescos, ambos agregam elementos do imaginário popular às
apresentações, usando adereços diferenciados: no Boi do Norte predominam os materias
recicláveis e no Boi Barroso destacam-se fitas, flores e lantejoulas coloridas.
No folguedo, o Boi do Norte brinca com o Boi Xodó, o Dono do boi, o Médico, a
Enfermeira, a Rainha, o Palhaço, o Fazendeiro, o Toureiro, a Porta-estandarte e o Nanico, uma
espécie de pássaro. Na narrativa, o boi morre (Fig. 1) porque estava comendo a plantação de
um fazendeiro e ressuscita (Fig. 2) pelo poder da música, evidenciando o valor artístico que o
grupo atribui à música. A maioria dos participantes tem poucos recursos financeiros e o boi-demamão estreita os laços afetivos e solidários entre eles.
Fig. 1 - O Boi morto na apresentação do grupo Boi do Norte
Fonte: Beatriz H. Furlanetto, 2013
Fig. 2 - O Boi ressurreto na apresentação do grupo
Boi do Norte
Fonte: Beatriz H. Furlanetto, 2013
18
Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,
Curitiba: Artembap, 2014.
No Boi Barroso, o escravo negro mata o boi para satisfazer o desejo da sua esposa de
comer a língua do animal, que depois ressuscita, e os personagens são: Boi, Toureiro, Cavalinho,
Pai Francisco, Sinhazinha, Catirina, Pajé, Bernúncia, Palhaço, Rei e Rainha.
Os grupos paranaenses têm um caráter acentuadamente lúdico e o riso se mostra como
elemento de coesão social: as peripécias dos personagens despertam muitas risadas,
promovendo uma interação festiva e jocosa entre os atores e o público em geral. Mas o riso é
ambivalente, esconde e revela ao mesmo tempo, e “pode ser associado a uma multidão de
elementos positivos e negativos” (MINOIS, 2003, p. 612). Nesse sentido, o riso se mostra
multifacetado no Boi-de-mamão e, se visivelmente revela a alegria, a beleza e a união entre os
brincantes, pode ocultar a tristeza, a luta, a denúncia, a religiosidade, a possibilidade de
libertação.
No Paraná, a comicidade do Boi-de-mamão parece ocultar os aspectos religiosos do
folguedo, que se mostram diluídos nas apresentações. O tema da morte e ressurreição revela,
por si só, uma dimensão simbólica do sagrado, representa o ciclo da continuidade e cria uma
circularidade na qual vida e morte se encontram no milagre da ressurreição.
As diferentes formas de brincar com o Boi-de-mamão demonstram a diversidade e a
riqueza artística dos grupos paranaenses, expressam os atributos culturais de cada comunidade
e as variações locais dessa manifestação popular.
OS SONS ECOAM NA PAISAGEM
Na perspectiva da geografia cultural, os estudos sobre a paisagem podem contribuir para a
compreensão dos significados que os homens atribuem aos espaços. A paisagem pode ser
entendida, poeticamente, como uma polifonia modulante: entre os tons e os sons da razão e da
emoção, o homem se relaciona com seu mundo, modelando-o e sendo por ele modelado.
A paisagem sonora do Boi-de-mamão revela a identidade singular dos grupos
paranaenses, os valores do espaço vivido e as visões de mundo presentes em cada
19
Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,
Curitiba: Artembap, 2014.
comunidade, bem como as transformações que o tempo e o espaço imprimem às
manifestações populares. A transmissão oral dos ideais e significados do Boi-de-mamão parece
revitalizar essa tradição popular, legitimando-a enquanto elemento de ligação afetiva com o
lugar e como referência no processo de construção identitária.
Os participantes do folguedo trabalham voluntariamente para realizar um espetáculo cheio
de beleza. A confecção das fantasias, o compartilhamento dos sentimentos e dos
conhecimentos comunitários, os ensaios coletivos e as apresentações públicas transformam o
ritmo de vida dos brincantes, reafirmando laços de solidariedade e consolidando os vínculos de
pertencimento ao lugar.
A paisagem sonora do Boi-de-mamão é impregnada de sonhos e esperanças, tecida pelas
histórias de vida de homens e mulheres que agem e interagem no espaço litorâneo paranaense,
modelando-o em conformidade aos seus valores e práticas socioculturais. O mito da morte e
ressurreição, tema original do folguedo, é uma forma simbólica de celebrar a vida. O Boi-demamão é arte, uma festa em determinados contextos sociais e espaciais nos quais a vida se
desenvolve e cujas sonoridades, plenas de múltiplos simbolismos, ecoam na paisagem.
REFERÊNCIAS
ALVARENGA, Oneyda. Música Popular Brasileira. 2. ed. São Paulo: Duas Cidades, 1982.
ANDRADE, Mário de. Danças dramáticas do Brasil. São Paulo: Livraria Martins, 1. v., 1959.
ANDREOTTI, Giuliana. O senso ético e estético da paisagem. Tradução de: FURLANETTO, Beatriz
Helena. Ra’e ga, Curitiba, n. 24, p. 5-17, 2012.
ANDREOTTI, Giuliana. Paisagens do espírito: a encenação da alma. Trad.: GABRIEL, Kelton. Ateliê
Geográfico, Goiânia, v. 4, n. 4, p. 264-280, 2010.
BERQUE, Augustin. Paisagem-marca, paisagem-matriz: elementos da problemática para uma
geografia cultural. In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDHAL, Zeny (orgs.). Paisagem, tempo e
cultura. p. 84-91. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998.
CÂMARA CASCUDO, Luís da. Folclore do Brasil. Rio de Janeiro, Lisboa: Fundo de Cultura, 1967.
CARNEY, George O. Música e lugar. In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny (orgs.).
Literatura, música e espaço. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2007. p. 123-150.
20
Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,
Curitiba: Artembap, 2014.
CASTRO, Daniel. Geografia e música: a dupla face de uma relação. Espaço e Cultura, UERJ, n. 26,
2009, p. 7-18. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/
article/view/3551> Acesso em: 27 out. 2013.
COSGROVE, Denis. A geografia está em toda parte: cultura e simbolismo nas paisagens
humanas. In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDHAL, Zeny (orgs.). Paisagem, tempo e cultura. p.
92-123. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998.
GUIU, Claire. Géographie et musiques: état des lieux. Une proposition de synthèse. Géographie
et cultures, n. 59, p. 7-26, 2006.
KONG, Lily. Música popular nas análises geográficas. In CORRÊA, Roberto L.; ROSENDHAL, Zeny
(orgs.). Cinema, música e espaço. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2009, p. 129-175.
KOZEL, Salete; TORRES, Marcos A. Le Paysage Sonore de L’ile des Valadares: Perception et
Memoire Dans la Constrution de L’espace. Revue Geographie et cultures, Vu du Bresil, n. 78, été,
L´Harmattan, Paris, 2011.
KOZEL, Salete. Geopoética das paisagens: olhar, sentir e ouvir a ‘natureza’. Caderno de
Geografia, PUC/MG, v. 22, n. 37, 2012, p. 65-78.
MEYER, Marlyse. Caminhos do imaginário no Brasil. São Paulo: Ed. da Universidade de São
Paulo, 1993.
MINOIS, Georges. História do riso e do escárnio. Trad.: ASSUMPÇÃO, Maria Elena O. São Paulo:
UNESP, 2003.
PANITZ, Lucas M. Por uma Geografia da música: um panorama mundial e vinte anos de
pesquisas no Brasil. Para Onde, Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 1-10, 2012. Disponível em:
<http://seer.ufrgs.br/paraonde>. Acesso em: 27/10/2013.
PERSI, Peris. Geografia ed emozioni. Genti e luoghi tra sensi, sentimenti ed emozioni. In: PERSI,
Peris. (org.). Territori Emotivi. Geografie Emozionale. V CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE BENS
CULTURAIS. Fano (Itália): 2010, p. 3-10.
PERSI, Peris. Recondita armonia. Il paesaggio tra progetto e governo del territorio. In: PERSI,
Peris. (org.). Recondita armonia. III CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE BENS CULTURAIS. Urbino (Itália):
2006, p.15-26.
PINTO, Tiago de Oliveira. Som e música: questões de uma Antropologia Sonora. Revista de
Antropologia, São Paulo, v. 44, n. 1, p. 1-29, 2001. Disponível em: <http://www.scielo
.br/scielo>. Acesso em: 21 mar. 2012.
ROULIER, Frédéric. Pour une géographie des milieux sonores. Cybergeo: European Journal of
Geography. Environnement, Nature, Paysage, article 71, 1999. Disponível em:
<http://cybergeo.revues.org/5034>. Acesso em: 29 maio 2012.
21
Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,
Curitiba: Artembap, 2014.
SCHAFER, R. Murray. A afinação do mundo: uma exploração pioneira pela história passada e
pelo atual estado do mais negligenciado aspecto do nosso ambiente: a paisagem sonora. Trad.:
FONTERRADA, Marisa T. São Paulo: UNESP, 2001.
SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. Trad.: FONTERRADA, Marisa T. São Paulo: UNESP,
1991.
TOFFOLO, Rael B. G. Quando a paisagem se torna obra: uma abordagem ecológica das
composições do tipo paisagem sonora. 125 f. Dissertação (Mestrado em Música). Setor de
Musicologia e Etnomusicologia, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2004. Disponível em:
<www.acervodigital.unesp.br>. Acesso em: 27 out. 2013.
TORRES, Marcos Alberto. A paisagem sonora da Ilha dos Valadares: percepção e memória na
construção do espaço. 152 f. Dissertação (Mestrado em Geografia). Setor de Ciências da Terra,
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009. Disponível em: <http://dspace.c3sl.ufpr.br>.
Acesso em: 7 mar. 2012.
22