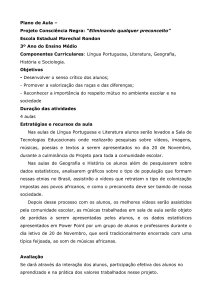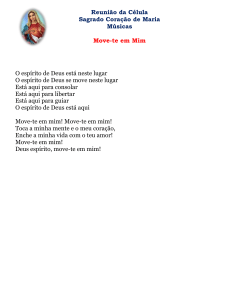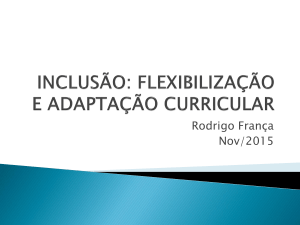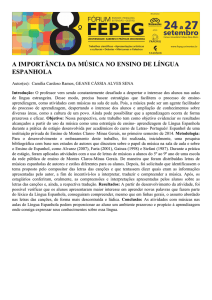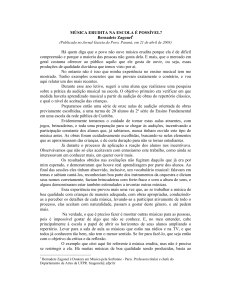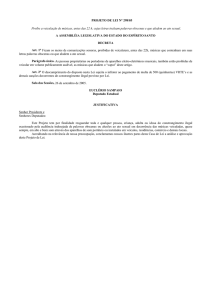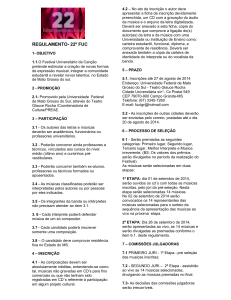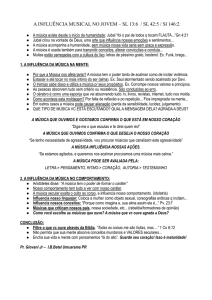1001
MÚSICAS
PARA OUVIR ANTES DE MORRER
EDITOR GERAL ROBERT DIMERY
PREFÁCIO DE TONY VISCONTI
O DJ Terry Dawson mostra sua coleção em 1967.
P
1001musicas_p001-011.indd 3
23/05/12 11:49
SUMÁRIO
Prefácio
6
Introdução
10
Índice de músicas
12
Capítulo 1: Antes de 1950
18
Capítulo 2: Anos 1950
46
Capítulo 3: Anos 1960
106
Capítulo 4: Anos 1970
256
Capítulo 5: Anos 1980
456
Capítulo 6: Anos 1990
640
Capítulo 7: A década de 2000
788
10.001 músicas para ouvir . . .
900
Colaboradores
958
Créditos das imagens
960
Agradecimentos
960
PREFÁCIO
Por Tony Visconti, produtor e músico
No início havia o single, a gravação de uma única música. O fonógrafo, inventado
por Thomas Alva Edison em 1877, continha um cilindro que armazenava cerca de
dois minutos de música ou recitação – este era o limite da mídia. Feitos de cera, os
cilindros resistiam a apenas algumas dezenas de reproduções antes de se desfazerem. Quanto ao som, era agudo e horrível, e ficava ainda pior a cada execução. Mais
tarde, os cilindros plásticos, mais resistentes, se tornaram o padrão da indústria, mas
o som era áspero e chiava demais. O público, porém, estava determinado a comprar
os singles.
Edison estava satisfeito com seu sucesso quando um inventor em ascensão, Emile
Berliner, apresentou uma nova mídia de gravação e reprodução: o disco plano.
Girando a 78 rotações por minuto, o disco era basicamente preto, como o famoso
Modelo T do Sr. Ford. O disco plano de Berliner produzia um som de qualidade superior e oferecia dois minutos a mais de música, pois possuía dois lados. Apesar desses
méritos óbvios, Edison estupidamente defendeu seu formato cilíndrico, levando sua
empresa à falência ao tentar manter sua posição como única indústria gravadora
da cidade. Berliner (assim como Nikola Tesla, inventor da corrente alternada) não
apenas derrotou Edison como também, sem querer, inventou o lado B – sobre o
qual falaremos mais tarde.
Meu pai, Anthony, era um ávido colecionador de singles. Quando eu era criança,
tentava ler o rótulo de seus discos enquanto os observava girar. A música jorrava de
nosso aparelho – canções curtas de jazz da Glenn Miller Orchestra, dos Irmãos Dorsey (Tommy e Jimmy), músicas de harmonia simples dos The Pied Pipers (cujo vocalista e líder era Frank Sinatra) e até singles egípcios cantados em árabe e comprados
em lojas de imigrantes na Atlantic Avenue, no Brooklyn. Eu observava o ritual de
meu pai: tirar da capa o precioso disco preto envernizado com goma-laca e colocá-lo
cuidadosamente na plataforma giratória. Via a descida delicada do braço da agulha
sobre as primeiras ranhuras e, prendendo a respiração, ansiava pelo instante em que
aquele ruído alto de repente se transformava em música – era uma experiência
que eu reviveria incontáveis vezes durante minha vida, apesar de me dizerem para
jamais tocar nos discos ou no aparelho de som do meu pai.
Aprendi do modo mais difícil a respeitar essa delicada mídia. Aos 4 anos me entusiasmei com a ideia de segurar os sensíveis discos de 25cm de diâmetro paralelos ao
chão, soltá-los e me deliciar vendo-os se quebrar em pedacinhos. Num intervalo de
cinco minutos eu havia dizimado uma parte importante da coleção do meu pai. Foi
quando meu traseiro não muito acolchoado recebeu várias palmadas, seguidas por
uma enxurrada de lágrimas, não só minhas, mas dele também.
Meu pai adorava gravações de músicas cômicas. Nos anos 1940, ele me mostrou
paródias de músicas populares da época feitas por Spike Jones, líder da banda City
6 | Prefácio
Slickers. Minha preferida era “All I Want for Christmas Is My Two Front Teeth” (Tudo o
que quero neste Natal são meus dois dentes da frente), na qual o cantor desdentado
(o trompetista George Rock) me fazia rir pelo modo como cantava a palavra “Christmas”, pronunciando os “s” com um assobio. Quando ouvi “Cocktails for Two”, de
Jones, instintivamente soube que a banda não poderia tocar os instrumentos e, ao
mesmo tempo, produzir aqueles efeitos sonoros extravagantes (eu já era um jovem
e entusiasmado tocador de ukulele). Algo estranho acontecia no estúdio, e eu queria
descobrir o que era e como fazê-lo. Basta dizer que, desde então, passei incontáveis
horas em estúdios, tentando aperfeiçoar a antiga arte de produzir algo esquisito!
O primeiro disco que comprei foi Blueberry Hill, de Fats Domino. Na época eu
já tinha responsabilidade suficiente para usar o fonógrafo de meu pai e escutei o
single até que tivesse decorado cada nuance – das oito notas do solo de piano da
introdução até a artimanha dos tambores que se interrompem abruptamente no
último acorde. Escutei mais ainda o lado B, pois nunca tinha ouvido aquela música
no rádio. Era “Honey Chile”, cantada com um sotaque de Nova Orleans tão marcante
(pelo menos para mim, na época) que eu não conseguia entender o primeiro verso
da música, embora o tivesse decorado foneticamente. Esse single era meu, minha
propriedade cultural! Era um belo começo para minha pequena coleção de singles
de 78rpm, que cresceu a ponto de incluir Tutti Frutti, de Little Richard, e Flying Saucer, de Buchanan & Goodman (eu ainda gostava de músicas cômicas). Tocava esses
discos (e seus lados B) incessantemente depois da escola. Meu pai costumava gritar
quando voltava do trabalho: “Tire essa porcaria de disco!” As músicas do meu pai
eram as minhas músicas, mas é claro que as minhas músicas não eram as músicas
do meu pai!
Pouco depois de dar início ao viciante passatempo de colecionar discos, tornei--me vítima da hoje conhecida “guerra dos formatos”. Discos de vinil quase inquebráveis eram a nova mídia, com uma superfície resistente capaz de suportar o peso e
o desgaste da agulha por muito mais tempo do que seu antecessor. Singles de vinil
eram menores e mais compactos do que os de goma-laca, e muitos deles cabiam
perfeitamente numa caixa portátil com uma alça de plástico que ainda tenho. Eu
era filho único e meus discos de 45rpm eram meus companheiros de todas as horas.
Comprava singles dos meus ídolos: Elvis Presley, Chuck Berry, Buddy Holly, Buddy
Knox e Mickey (Baker) & Sylvia (Vanderpool), cuja música “Love Is Strange” (lado B
de No Good Lover) foi um marco da guitarra. Aprendi a tocar no violão tudo o que
podia do estilo de Mickey “Guitar” Baker ouvindo aquele disco sem parar. Em 1957
encontrei meu herói na saída dos fundos da Brooklyn Paramount. Mickey e Sylvia
estavam em cartaz, fazendo até seis apresentações por dia. Mickey, que estava correndo depois da apresentação da manhã, provavelmente para tomar café e comer
alguma coisa, gentilmente parou e autografou a capa do meu disco. Ele até me deu
Prefácio | 7
uma palheta, que guardei na carteira durante anos, até que a quebrei, usando-a
numa apresentação.
Meus primeiros discos de vinil foram That’ll Be the Day (1957), de Buddy Holly
& The Crickets; You Can’t Catch Me (1956), de Chuck Berry – apesar de gostar mais
do lado B, “Havana Moon”; All Shook Up (1957), de Elvis Presley; Let the Good Times
Roll (1956), de Shirley & Lee; To Know Him Is to Love Him (1958), de The Teddy Bears
(disco que marcou a estreia de Phil Spector como produtor e integrante do grupo);
A Rose and a Baby Ruth (1956), de George Hamilton IV (e sabia de cor cada palavra
da música do lado B, a verborrágica “If You Don’t Know”); e uma versão psicodélica
obscura de “Muleskinner Blues”, rebatizada de Good Morning Captain (1956), de Joe
D. Gibson. Mas foram os singles da Invasão Britânica dos anos 1960 – Beatles, The
Rolling Stones, The Zombies, e um disco em particular, Happy Jack, do The Who –
que acabaram por me tirar de Nova York e me levar para Londres, onde comecei
aprendendo a fazer discos para a banda T. Rex.
Esse período extremamente fértil do início do rock progressivo compõe cerca
de metade do meu DNA musical. Os discos, o cheiro do vinil, os rótulos, com suas
mensagens enigmáticas (os nomes dos compositores entre parênteses, os números
de série, as advertências jurídicas), fazem parte de mim; foram eles que determinaram quem sou e o que faço hoje. Claro que naquela época a indústria fonográfica já
fabricava LPs, discos de vinil maiores, de 30cm de diâmetro, que rodavam a 33rpm,
mas eles eram para fãs adultos de Doris Day – e caros demais para garotos. Eu quase
não comprava LPs porque na época não parecia fazer sentido comprar novamente
os mesmos singles com seus lados B somente para ter algumas canções a mais, que
preenchiam o espaço restante. Quando comprava um single, era de um artista de
que gostava, como o Oh Boy, dos Crickets, com a incrível “Not Fade Away” no lado
B. A indústria fonográfica chamava o single de “compacto”; para mim, era um compacto de puro prazer.
Por fim, os LPs, com sua capacidade maior de armazenamento, foram aceitos
pelos artistas pop, que queriam expressar profundidade e nuance maiores sem
que precisassem se sujeitar às pressões comerciais que as gravadoras exerciam
quando se tratava de singles. Nos Estados Unidos durante os anos 1970, o single
foi forçado a se retirar quando as estações de rádio FM começaram a tocar lados
inteiros de LPs. A popularidade e o prestígio do disco-conceito de rock estavam
no auge, e os singles serviam apenas como peças publicitárias para os LPs (mesmo
que um single de sucesso nem sempre garantisse o êxito de um LP). Mas continuei
comprando singles porque alguns eram “órfãos” que não apareciam nos LPs-pais; outros tinham enigmáticos lados B, como a irrelevante “Tandoori Chicken”, no
lado B de Try Some, Buy Some, de Ronnie Spector.
8 | Prefácio
Mas o LP de vinil e, a seguir, o CD e os downloads pela internet mudaram o modo
como as pessoas compram música. Neste livro você encontrará muitas músicas
que colecionei na forma de singles e outras tantas que foram lançadas em LPs – e
que hoje as pessoas podem novamente baixar na forma de single. Hoje, mais do
que nunca, o consumidor tem o poder de decidir quais músicas quer ouvir e quais
merecem virar hits.
Ainda assim, os singles, especialmente os de 45rpm, não apenas tiveram um
papel revolucionário na música e na cultura como também mudaram um modelo
muito rígido de negócios. Até o fim dos anos 1960, todos os contratos das gravadoras determinavam que a empresa ficaria com 10% dos direitos do artista por “perdas
com a quebra de discos”, apesar de, em meados dos anos 1950, discos muito resistentes de 33 e 45rpm serem a única forma de distribuição musical. Ao renegociar
um contrato dos Rolling Stones com a gravadora Decca, o empresário Andrew Loog
Oldham insistiu que essa cláusula fosse excluída. Quando os executivos da gravadora disseram que a cláusula obsoleta (do tempo dos discos de 78rpm) era “padrão”,
Oldham tirou um 45 (o disco, não o revólver) do bolso do seu paletó, bateu-o com
toda a força na mesa do executivo e o desafiou: “Quebre isto!” A cláusula deixou de
existir.
Por fim, por que a maioria dos discos de 45rpm ainda hoje é preta? Os produtos
químicos que compõem o vinil são essencialmente claros, mas, durante o processo
de fabricação, os discos se sujam com facilidade por causa das impurezas. A alternativa para manter uma fábrica limpa foi acrescentar carvão à fórmula, tornando
o disco preto. Sei que muitas pessoas têm discos de vinil vermelhos, azuis, verdes,
amarelos e até mesmo transparentes, mas eles custam muito caro para serem
produzidos, imagino que tenham sido feitos numa fábrica virgem, sem germes ou
poeira, no alto dos Alpes Suíços, por um vilão de um filme do James Bond.
Você realmente deve comprar, roubar ou pedir emprestadas as 1.001 músicas
recomendadas neste livro. Não sei se conseguirei fazer isso um dia, mas, como o
título sugere, morrerei tentando.
Tony Visconti, Greenwich Village, NYC
Prefácio | 9
INTRODUÇÃO
Por Robert Dimery, editor geral
É difícil acreditar que já se passaram cinco anos desde que 1001 discos para ouvir
antes de morrer chegou às livrarias. Reunir aquela seleção de grandes álbuns de rock
e pop foi um desafio e tanto, gerando debates acalorados entre a equipe por trás do
livro – e entre os leitores, claro. Desta vez o desafio foi ainda maior: escolher 1.001
músicas fundamentais da rica e incrivelmente variada herança musical popular.
Antes de mais nada, as preferências musicais podem ser muito subjetivas e estão
propensas a revisões regulares. É provável que, ao chegar ao fim deste livro, você
conclua que teria optado por uma seleção diferente de 1.001 músicas. E você não
está sozinho: com o tempo provavelmente farei o mesmo.
Então, por onde começar? Para começar, limitamos um pouco nosso foco e nos
restringimos a músicas que tivessem letras. Assim, nenhuma música instrumental
foi incluída – o que significa que “The Star-Spangled Banner”, de Jimi Hendrix, terá
que esperar outro livro. Mesmo assim, a escolha se provou um trabalho hercúleo,
com as listas sendo constantemente modificadas, músicas obscuras dando lugar
a seleções mais populares (e vice-versa) e, naturalmente, mais debates acalorados.
Como não podia deixar de ser, embora meu nome apareça na capa de 1001 músicas para ouvir antes de morrer, este foi um trabalho extremamente colaborativo, com
sugestões de todos os resenhistas e editores que lançam o livro ao redor do mundo.
As editoras foram essenciais para ampliar o escopo de 1001 músicas, fazendo com
que nele constassem músicas fundamentais de vários países e culturas diferentes.
Embora o mundo seja enorme, ele está ficando cada vez menor: músicos ocidentais
se inspiram livremente em artistas e estilos não ocidentais – que, assim, influenciam
sua música.
Esperamos que você encontre nestas páginas várias canções que provoquem
um prazer inesperado, além dos maiores sucessos. O livro começa com “O sole mio”
e termina com músicas lançadas alguns meses antes do prazo final da publicação.
Entre uma coisa e outra você poderá acompanhar o crescimento do jazz e do blues
e a evolução do R&B e do swing no rock ’n’ roll. Você vai experimentar a abundância
infinita do grande cancioneiro norte-americano e será testemunha da explosão da
soul music em inspiradoras afirmações da consciência e do orgulho negros nos anos
1960 e 1970. Você encontrará os principais momentos da canção francesa, do fado
português, do flamenco espanhol, do calipso caribenho e da bossa nova brasileira.
Ao mesmo tempo, vai se deparar com histórias fascinantes sobre músicas extraordinárias e seus cantores igualmente fantásticos – como o afrobeat incendiário de Fela
Kuti atraiu a ira dos militares nigerianos, como as reflexões mórbidas de um metroviário inspiraram um sucesso de Serge Gainsbourg e como Michael Stipe, do R.E.M.,
nem sempre soube o que suas letras queriam dizer.
Na verdade, entre as belezas de um livro como este estão as fascinantes curiosidades que ele mostra. Em geral, as revelações mais notáveis dizem respeito não
10 | Introdução
apenas aos artistas que ficaram famosos por interpretar as músicas, mas também
àqueles que trabalharam nos bastidores. Este parece um momento apropriado
para homenagear um deles, Hal Blaine, uma verdadeira lenda no mundo da música
popular. Como baterista e membro da famosa banda do estúdio Wrecking Crew
durante a era do rock, Blaine tocou em mais músicas de sucesso do que qualquer
um de seus colegas. E, já que estamos elogiando, The Funk Brothers merecem
aplausos. Como banda da gravadora Motown do fim dos anos 1950 até o início dos
anos 1970, eles tocaram para diversos astros e estrelas, incluindo Marvin Gaye, The
Supremes, Stevie Wonder, The Temptations e Martha & The Vandellas. Você encontrará todos eles neste livro.
Gostaria de concluir esta introdução com algumas palavras sobre nossa apresentação das 1.001 resenhas deste livro. As datas aqui registradas se referem à primeira
versão da música em questão. Nem sempre é a data de lançamento da música como
single, claro, pois às vezes algumas delas já haviam aparecido em álbuns antes de
ganharem vida própria como single.
Junto aos detalhes que você espera encontrar para cada música, acrescentamos
informações adicionais ao final de alguns textos. O símbolo indica uma canção
que pode ter servido de influência para a música em questão. O símbolo sugere
uma música que essa canção possa ter influenciado. Em alguns casos, a influência é
amplamente reconhecida – geralmente pelos próprios compositores – e comumente aceita. Em outros, contudo, o grau de “influência” é às vezes bastante subjetivo.
Certamente não estamos sugerindo que os artistas tivessem a intenção de que as
músicas ficassem parecidas. Entenda essa parte do livro como uma divertida especulação que sugere uma herança musical comum entre duas músicas – depois ouça-as você mesmo e veja se chegamos perto do alvo ou se estamos completamente
errados. Por fim, já no final do livro, você encontrará uma longa lista de músicas que
também merecem sua atenção e que, numa outra seleção talvez fossem descritas
com mais detalhes. Isso nos leva à marca de 10.001 músicas citadas neste livro!
Fizemos todo o possível para manter atualizados os créditos das músicas – há
casos, por exemplo, em que nomes foram acrescentados depois do lançamento da
canção –, por isso eles talvez não sejam iguais aos créditos originais. Quando possível, os créditos foram comparados com os dos bancos de dados da ASCAP e BMI,
mas estamos dispostos a fazer quaisquer correções em reedições futuras.
Agora, chega de conversa. Estas músicas mudaram o mundo. Então ouça-as.
Introdução | 11
O sole mio
Enrico Caruso (1916)
Compositores | Giovanni Capurro,
Eduardo di Capua
Produtor | Desconhecido
Selo | Victor Talking Machine
Álbum | –
St. Louis Blues
Bessie Smith (1925)
Compositor | W. C. Handy
Produtor | Desconhecido
Selo | Columbia
Álbum | –
Assim como Charley Patton e Robert Johnson tornaram o Delta do Mississippi uma referência universal, Enrico Caruso deu a Nápoles um prestígio que as
mais ricas e celebradas cidades italianas de Roma e
Florença jamais seriam capazes de alcançar. O tenor
tinha uma bela voz e se tornou um dos primeiros artistas de fama mundial.
Caruso é um grande ícone da canzone napoletana
(música napolitana) e “O sole mio” ainda é o hino da
cidade – uma balada épica que mistura ópera e música popular sem grande esforço. Os mestres da canzone napoletana podem ser considerados os antepassados do eixo Sinatra/Martin; na verdade, Caruso foi
o exemplo original para todos os cantores de baladas. Sua versão de “O sole mio” se baseia e ganha força com seu grande caráter napolitano. Apesar de Caruso ser um dos maiores tenores do mundo da ópera,
é por este hino da sua cidade natal que a maioria dos
ouvintes o conhece.
“O sole mio” se traduz como “meu sol”, e a música começa celebrando um dia ensolarado antes de
se transformar numa canção de amor. Ela era popular antes de Caruso gravá-la (a música foi escrita em
1898), mas a gravação de Caruso a tornou famosa no
mundo inteiro. Sua apresentação na Ópera de Nova
York foi tão bem recebida que a plateia passou a sempre pedir que ele a cantasse nas outras ocasiões. No
palco e no disco, Caruso ajudou a tornar “O sole mio”
um clássico – e de fato a transformou num segundo
hino italiano. GC
“St. Louis Blues” foi, e ainda é, um fenômeno – um
blues totalmente composto (em vez do improviso
tradicional) que se tornou um enorme sucesso. W. C.
Handy a escreveu em 1913, numa época em que ainda não havia listas para registrar a popularidade de
uma música. Mesmo assim é possível medir seu sucesso graças às vendas geradas pela partitura da música. Durante mais de 40 anos a música lhe rendeu
uma quantia anual de cerca de US$ 25 mil, tornando Handy um multimilionário para os padrões atuais.
A música foi gravada por vários artistas de jazz e
blues, mas nenhuma versão é melhor do que a de Bessie Smith. Acompanhada apenas por Fred Longshaw
na gaita e o magistral Louis Armstrong na corneta,
Smith melancolicamente conta como seu amor fugiu
com uma mulher rica de St. Louis. Handy disse que se
inspirou em uma mulher que conhecera em St. Louis e
que chorava a ausência do marido. “Meu homem tem
um coração duro como um rochedo no mar”, disse ela
– uma frase que Handy incluiu na música.
O talento de Handy é evidente no modo como
ele altera a estrutura tradicional de 12 compassos do
blues introduzindo uma ligação de 16 compassos
no ritmo de habanera – uma batida irregular conhecida como “toque espanhol” – depois da segunda estrofe. Ele acrescenta contraste ao refrão simples do
blues e transforma a música em um dos lamentos
mais tristes do século XX. AS
20 | Antes de 1950
Imperatriz do blues: Bessie Smith numa fotografia de estúdio de 1923.
P
El manisero | Don Azpiazú &
Minnie the Moocher | Cab
Orquestra do Cassino Havana (1929) Calloway & Orquestra (1931)
Compositor | Moisés Simón
(depois “Simons”)
Produtor | Desconhecido
Selo | RCA Victor
Álbum | –
Compositores | Cab Calloway,
Irving Mills
Produtor | Desconhecido
Selo | Brunswick
Álbum | –
“Ma-ní!” é o grito que inicia a música que deu origem
à “moda da rumba” no começo dos anos 1930. Na década anterior, os vendedores ambulantes de Havana
anunciavam assim seus produtos, com uma espécie
de jingle para um pregón. Quando o compositor Moisés Simón uniu esta ideia ao son – um termo genérico
para estilos folclóricos cubanos –, criou “El manisero”.
Sua autoria é motivo de disputa, mas a canção o deixou rico; a venda de partituras (na época muito importante) chegou aos milhões de cópias, assim como
a dos discos de 78rpm.
A estrela cubana Rita Montaner gravou a primeira
versão em 1928, mas a que tomou conta do mundo
foi a versão de Don Azpiazú e sua Orquestra do Cassino Havana, com vocais de Antonio Machín. Eles a gravaram em maio de 1930, logo depois de chegarem
a Nova York. Lá a música se tornou um sucesso em
1931. Também foi um sucesso no Japão e na Europa.
Talvez a influência mais duradoura da música tenha sido na África Ocidental e Central. Os discos de
78rpm importados, na época descritos como “rumba
fox-trot”, fizeram tanto sucesso lá que se acredita que
foi assim que a rumba congolaise ganhou este nome.
Pelo restante do século, “El manisero” se tornou presença obrigatória para qualquer grande “orquestra”
africana naquela região.
“El manisero” foi gravada mais de 160 vezes, com
versões notáveis de Louis Armstrong (1931) e Stan
Kenton (1947): uma prova da influência latina no jazz
norte-americano. JLu
24 | Antes de 1950
O “Hi-de-hoh Man”, como Cab Calloway era conhecido, foi um dos mais bem-sucedidos líderes de orquestra nos anos 1930, famoso por suas apresentações exuberantes. Ele ficou conhecido principalmente por suas improvisações vocais – isto é, o uso de palavras sem sentido, inventadas – como, por exemplo,
o refrão “Hi de hi de hi de hi” de “Minnie the Moocher”,
que lhe rendeu o apelido e a fama.
“Eu me esqueci de outra música que estava cantando e inseri os ‘skee-tee-tuh-bee’ e ‘hi-de-hos’, e
deu certo”, contou mais tarde Calloway, falando sobre sua música mais famosa. “Depois me sentei e escrevi ‘Minnie the Moocher’.” A melodia e a letra da
música se baseiam em “Willie the Weeper”, de Frankie
“Half-Pint” Jaxon, de 1927, cantada por Bette Davis
no filme Escravos da Terra (1932). Ela conta a história
de Minnie, a Vadia, uma prostituta durona, mas com
“um coração grande como o de uma baleia”. A música é cheia de gírias de bêbados: Smokie, o homem
pelo qual Minnie se apaixona, era “cokey”, isto é, cheirava cocaína, enquanto em Chinatown ele “showed
her how to kick the gong around”, isto é, a ensinava
a fumar ópio.
A música foi um enorme e imediato sucesso, vendendo mais de um milhão de cópias. O septuagenário Calloway ressuscitou a música com charme no filme Os Irmãos Cara-de-Pau (1980), e ainda é divertido
ouvi-la hoje. AS
Cab Calloway, provavelmente o mais exagerado homem da Era das Big Bands.
P