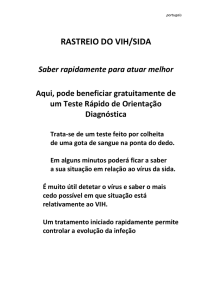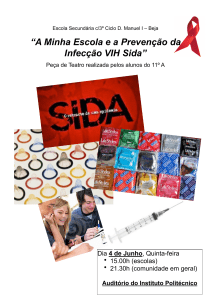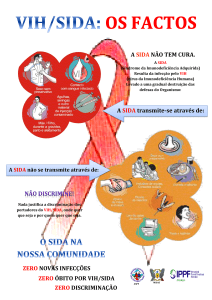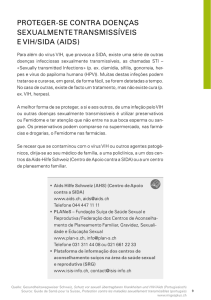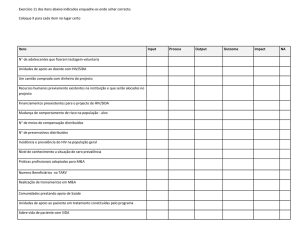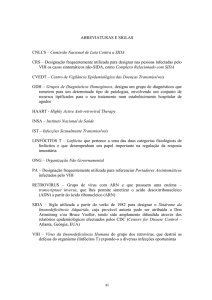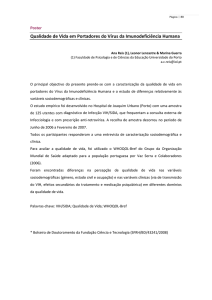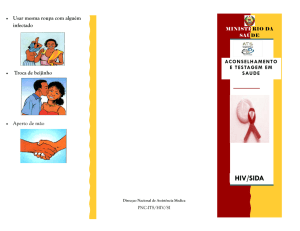SIDA
NET
1
SIDA
NET
2
SIDA
NET
3
©SIDAnet, Associação Lusófona
CAPA
ETAVARES
PRODUÇÃO e PAGINAÇÃO
Metatexto, produção de conteúdos multimédia, Lda. - Santarém
IMPRESSÃO
Normagrafe, Lda. - Santarém
ISBN: 972-95977-4-X
Depósito Legal: 191968/03
Maio de 2005
SIDA
NET
4
SIDAnet - ASSOCIAÇÃO LUSÓFONA
Direcção
Victor Manuel Pereira Bezerra - Presidente
Nuno Eduardo Moura dos Santos da Costa Taveira - Vice-Presidente
Rita de Cássia Vieira de Meireles Corte-Real - Tesoureira
Maria de Fátima Ramos Lampreia da Dores - Secretária
Maria José Manata - Vogal
Eugénio Teófilo - Vogal
Filomena Frazão Aguiar - Vogal
Conselho Fiscal
Pedro Nuno Ramos Roque - Presidente
Maria Teresa Carretero Camilo Branco
Fernando Rosas Vieira - Vogal
Assembleia Geral
Joaquim António Machado Caetano - Presidente
Maria Emília Monteiro - Vice-Presidente
Sofia de Azeredo Gaspar Pereira - Secretária
Conselho Científico
Alfredo Ribeiro-da-Silva - Dept. Pharmacology & Therapeutics - McGill Univ. - Montreal-Canadá
Amilcar Soares - ONG - Positivo
Ana Horta - Infecciologia - H. Joaquim Urbano
Ana Paula Fonseca - Medicina Interna - H. de Faro
Ana Sousa Passos - Enfermagem - H. Cascais
António Dinis - Pneumologia - H. Pulido Valente
Barros Veloso - Medicina Interna - H. Capuchos
Carlos Araújo - Medicina Interna, Infecciologia - H. Egas Moniz
Carlos Vasconcelos - Medicina Interna - H. S. António
Cristina Guerreiro - Ginecologia e Obstetrícia - M. Alfredo da Costa
Domitília Faria - Medicina Interna - H. do Barlavento Algarvio
Eulália Galhano - Ginecologia e Obstetrícia - M. Bissaia Barreto
Fátima Pinto - Medicina Interna - H. de Horta
Fernando Araújo - Biologia Molecular - Imunohemoterapia - H. S. João
Fernando Borges - Medicina Interna - Hospital Egas Moniz
Fernando Rosas Vieira - Medicina Interna - C.H. Vila Nova de Gaia
Fernando Ventura - Pneumologia, Infecciologia - H. Egas Moniz e F. Ciên. Méd. de Lisboa
SIDA
NET
5
Francisca Avillez - Biologia - Instituto Ricardo Jorge
Francisco Antunes - Infecciologia - Faculdade de Medicina de Lisboa
Germano do Carmo - Serviço de Doenças Infecciosas - Hospital de S. Maria
Graça Rocha - Pediatria - H. Pediátrico de Coimbra
Helena Valle - Virologia - Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge
Helena Ângelo - Parasitologia - Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge
Isabel Loureiro - Saúde Pública - CCPES - Ministério da Educação
Jaime Nina - Medicina Interna - H. Egas Moniz
João Brandão - Micologia - Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge
Jorge Cardoso - Dermatologia - H. Curry Cabral
Jorge Nóbrega Araújo - Medicina Interna - C. H. do Funchal
Jorge Pereira - Patologia Clínica - L. Virologia - Instituto Português do Sangue
Jorge Torgal - Epidemiologia e Saúde Pública - Instituto de Higiene e Medicina Tropical
José Calheiros - Saúde Comunitária - Inst. de Ciências Bioméd. Abel Salazar Univ. do Porto
José Carvalho Teixeira - Psiquiatria, Psicologia - Instituto Superior de Psicologia Aplicada
José Poças - Infecciologia - H. Setúbal
José Vera - Medicina Interna - H. de Cascais
Kamal Mansinho - Infecciologia - H. Egas Moniz
Laura Brum - Bacteriologia - Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge
Laura Rosado - Micologia - Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge
Leon Bernardo - Infecciologia- H. Prisional S. João de Deus
Lígia Pinto - Virologia - N.I.H. - USA
Lino Rosado - Pediatria - H. D. Estefânia
Luís Rodrigues - Patologia Clínica - H.S. Francisco Xavier
Luísa Rodrigues - Imunologia - Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge
Machado Caetano - Imunologia - F. de Ciências Médicas - Lisboa
Manuel João Gomes - Medicina Interna - H. de Santarém
Manuel Pinheiro - Infecciologia Pediátrica - H. S. Maria
Manuela Bonmarchand - Infecciologia - H. Pitiè Salpêtrière - Paris
Manuela Mafra - Anatomia Patológica - H. S. José
Maria Helena Lourenço - Virologia - Faculdade de Farmácia de Lisboa
Maria João Faria - Infecciologia - Hospital dos Covões - Coimbra
Maria Jorge Arroz - Patologia Clínica - H. Egas Moniz
Maria José Campos - Medicina Interna - Abraço
Maria José Manata - Infecciologia - H. de Almada
Meliço Silvestre - Infecciologia - H. Universidade de Coimbra
Miguel Castanho - Química Física Molecular - Faculdade de Ciências da U Lisboa
Mota Miranda - Infecciologia - H. S. João e F. Medicina de Porto
Nélio Santos - Patologia Clínica - H.D. de Faro
Nuno Santos - Bioquímica - Faculdade de Medicina de Lisboa
Nuno Taveira - Virologia - Instituto Superior de Ciências da Saúde - Sul
Odete Ferreira - Virologia - Faculdade de Farmácia de Lisboa
SIDA
NET
6
Paula Brum - Psiquiatria - Centro das Taipas - Lisboa
Paula Lobato de Faria - Direito - CNLCS e Escola Nacional de Saúde Pública
Paulo Rodrigues - Medicina Interna - H. Curry Cabral
Ricardo Camacho - Imunohemoterapia - H. Egas Moniz
Rui Sarmento - Medicina Interna - H. Joaquim Urbano
Saraiva da Cunha -Infecciologia - H. Universidade de Coimbra
Teresa Paixão - Epidemiologia - Instituto Ricardo Jorge
Victor Bezerra - Medicina Interna - H. de Santarém
Vítor Duque - Virologia - H. Universidade de Coimbra
Administrador do Registo
Victor Bezerra
Conselho Técnico
Pedro Ferreira
Eduardo Tavares
Victor Bezerra
SIDA
NET
7
SIDA
NET
8
A infecção pelo VIH continua a ser um problema dramático
no mundo e em Portugal, apesar do estrondoso sucesso que
foi a introdução dos inibidores da protease e da estratégia
da terapeutica antiretrovírica altamente eficaz – HAART.
A sobrevida aumentou claramente, em paralelo com uma
marcada diminuição da maior parte dos eventos
oportunistas, particularmente das infecções, menos das
doenças neoplásicas. No entanto, continuamos com uma alta
taxa de novas infecções, com importante número de doentes
sem uma adequada resposta à terapeutica antiretrovírica
e, por outro lado, com importante morbilidade associada às co-infecções, de que se
destaca a infecção pelo VHC. Se na fisiopatologia da infecção pelo VIH as co-infecções
desde logo assumiram papel importante na história natural da doença, ao lado de outros
factores como os genéticos, é nos tempos actuais, tornado particularmente visível pelos
benefícios da terapeutica HAART, que as coinfecções se assumem como determinante
major no prognóstico da doença VIH. E doença se deve chamar e não “apenas” infecção,
tal a diversidade etiopatogénica e heterogeneidade clínica que pode apresentar.
Carlos Vasconcelos - Presidente do V Congresso Virtual
Que dizer passados 22 anos após o início da epidemia de SIDA?
Alguma coisa mudou? Esta pergunta tem, seguramente, uma
resposta ambígua – sim e não. Nunca se investiu tanto no
estudo de um agente infeccioso como este vírus. Passos enormes foram dados na compreensão da estrutura deste e doutros
agentes, dos seus mecanismos de acção, das formas de apresentação das doenças oportunistas, do seu tratamento. Técnicas inovadoras foram postas ao serviço da Medicina em
consequência dos avanços registados no conhecimento do VIH.
Novos fármacos foram introduzidos no armamentário
terapêutico. Os doentes vivem mais tempo e com melhor qualidade de vida. Em
consequência, novos problemas ganharam projecção. A co-infecção do VIH com os vírus
da hepatite B e C era, há alguns anos, ignorada pela maior parte dos clínicos em todo o
Mundo. Os infectados por VIH não viviam o tempo bastante para apresentarem as complicações, geralmente tardias, associadas a estes vírus hepatotrópicos. O panorama está
a mudar, as nossas consultas e as nossas camas hospitalares começam a registar uma
grande afluência de doentes que, porque vivem mais tempo, apresentam descompensação
hepática grave. É hora de dizer que a co-infecção por estes vírus é, hoje, um problema
que não pode ser descurado. Este é um problema actual dos doentes infectados por VIH
que vivem em países desenvolvidos. Mas, será que estas co-infecções constituem preocuSIDA
NET
9
pação noutras regiões do globo? Que dizer de África, nomeadamente a de expressão
portuguesa, onde outra co-infecção, a do VIH com a tuberculose, mal resolvida entre
nós, dizima milhões de indivíduos em cada ano que passa. Que dizer desses países onde
as condições de sanidade, as estruturas de saúde, a prevenção da infecção, são praticamente inexistentes? Que dizer da diminuição da esperança de vida, do drama das mulheres .... e das crianças? Pois é, mudaram muitas coisas! Temos em algumas áreas do
globo PCR, RMN, doseamento das viremias, testes de resistência, fármacos sofisticados
para prescrever e ... em alguns casos para desperdiçar! Mas também temos, noutras
zonas, a realidade da ausência de médicos e enfermeiros, de postos de saúde e de fármacos.
Vivemos num mundo a duas velocidades e, por isso, não podemos estar tranquilos. Nós,
portugueses, temos também responsabilidades. Porque tudo isto me preocupa, foi com
muito gosto que aceitei o convite dos drs. Bezerra, Vasconcelos e Rosas Vieira para
participar no 5º Congresso Virtual sobre a Infecção VIH/SIDA, dedicado à problemática
das co-infecções. Que este forum vivo, que é o Congresso Virtual, contribua para a discussão das co-infecções com os vírus das hepatites sem olvidar que a conjugação do VIH
e da tuberculose constituem uma mistura explosiva.
Rui Sarmento - Vice-Presidente do V Congresso Virtual
Em 2004, realizar-se-á o 5º Congresso Virtual sobre a problemática da Infecção VIH, cujo tema central será “ A importância das co-infecções na Infecção VIH”.
Os novos meios tecnológicos postos à disposição das pessoas
nos últimos anos, permitem que novas formas de comunicação, mais cómodas e eficazes, sejam fóruns de discussão com
virtualidades próprias. O facto é que as edições anteriores
revelaram-se um sucesso, e não obstante o hábito da discussão on – line, não ter sido ainda devidamente interiorizada, o
elevado número de acessos é revelador da importância destas iniciativas.
Porque a morbilidade na infecção VIH, é fundamentalmente determinada pelas doenças
associadas (Condições oportunistas), a acuidade do tema é evidente. As co – infecções
assumem uma relevância particular, não só pela já referida morbilidade, mas também
pelas dificuldades colocadas no diagnóstico e na terapêutica.
Naturalmente que muitas situações serão de certo abordadas, mas não deixaria de lembrar duas situações problemáticas no dia a dia de quem tem que tratar os doentes: a
tuberculose e as co – infecções B e C. Muitas dúvidas acometem os médicos quando
chamados a tratar estas situações. De certo o 5º Congresso Virtual poderá constituir um
espaço privilegiado para troca de opiniões e experiências. Contamos com a sua colaboração e para todos aqueles que nos derem a honra de participar o nosso muito obrigado.
Fernando Rosas Vieira - Secretário Geral do V Congresso Virtual
SIDA
NET
10
AUTORES
Alvarez M R
Havana - Cuba
Amâncio L
Salvador da Baía - Brasil
Antunes I
Lisboa - Portugal
Araújo L F
João Pessoa - Brasil
Baptista T
Lisboa - Portugal
Barros Filho A A
Campinas - Brasil
Benevides S C S
João Pessoa - Brasil
Branco T
Lisboa - Portugal
Cabrita F
Lisboa - Portugal
Calinas F
Lisboa - Portugal
Carlos Vasconcelos
Porto - Portugal
Carneiro F
Porto - Portugal
Castanha A R
João Pessoa - Brasil
Chaves L
Porto - Portugal
Coelho H
Porto - Portugal
Côrte Real R
Lisboa - Portugal
Costa C
Porto - Portugal
Costa H
Lisboa - Portugal
SIDA
NET
11
SIDA
NET
12
Cubas N G
Havana - Cuba
Duarte M
Porto - Portugal
E Monteiro
Lisboa - Portugal
Eiras E
Gaia - Portugal
Escarpulli G C
Havana - Cuba
Farinas L B
Havana - Cuba
Fortes O
Porto - Portugal
Freitas M
Porto - Portugal
Germano I
Lisboa - Portugal
Gomes J A
Rio de Janeiro - Brasil
Gonçalves J
Lisboa - Portugal
Horta A
Porto - Portugal
Lampreia F
Lisboa - Portugal
Leandro-Merhi V A
Campinas - Brasil
Lima A M A
Rio de Janeiro - Brasil
Longa B A
Havana - Cuba
Mansinho K
Lisboa - Portugal
Marluce dos Santos M M
Campinas - Brasil
Mendez J
Porto - Portugal
Monroy S P
Havana - Cuba
Moreira J
Gaia - Portugal
Mota M
Gaia - Portugal
Orquidea Lopes
Seia - Portugal
Pádron E L
Pinar del Río - Cuba
Paiva M S
Salvador da Baía - Brasil
Perdomo Y M
Havana - Cuba
Pereira S
Lisboa - Portugal
Pires N
Porto - Portugal
Ramírez M A N
San Silvestre - Cuba
Recalde C
Porto - Portugal
Relles J C
Pinar del Río - Cuba
Rocha R
Porto - Portugal
Rodriguez C
Porto - Portugal
Rodríguez L E C
Havana - Cuba
Santa-Marta M
Lisboa - Portugal
Sarmento-Castro R
Porto - Portugal
Seabra J
Porto - Portugal
Silva F A
Lisboa - Portugal
Silva Filho N
Botucatu - Brasil
Silva V M N
Campinas - Brasil
Silvano L
Porto - Portugal
Souza L R
Botucatu - Brasil
Tavares AP
Porto - Portugal
Valente J
Gaia - Portugal
Vasconcelos O
Porto - Portugal
Veloso S
Porto - Portugal
Victor Bezerra
Santarém - Portugal
Vieira F R
Gaia - Portugal
SIDA
NET
13
SIDA
NET
14
Indíce
Abertura
Cerimónia de Abertura do V Congresso Virtual HIV/AIDS
21
Vasconcelos C, Bezerra V
Ciência Social e Comportamental
Crenças e atitudes como "Co - Factores" do VIH/SIDA
31
Lopes O
Estrategis de intervención educativa en ITS y VIH/SIDA
45
Ramírez M A N, Fonseca Y H, Rosabal E P,
Blanco L G R, Fernández E Q
Universidade Solidária e Prevenção as IST's/AIDS:
Uma intervenção psicossocial no assentamento rural
51
Araújo L F, Castanha A R, Benevides S C S
Representações sociais da aids: um estudo com agentes
comunitários de saúde do município de Ipojuca-PE, Brasil
57
Castanha A R, Araújo L F
Epidemiologia, Prevenção e Saúde Pública
Co infecção HIV e Hepatites Virais em usuários de drogas
e seus parceiros(as) clientes de um programa de Redução de Danos
67
Lima A M A, Gomes J A
Acidentes com produtos biológicos no C H Gaia em 2003
73
Vieira F R, Mota M, Valente J, Eiras E, Moreira J
Implicações das representações sociais na vulnerabilidade
de gênero para sida/aids entre jovens universitários:
estudo comparativo Brasil Portugal
81
Paiva M S, Amâncio L
Clínica e Tratamento
Severe otitis due to Vibrio Fluvialis in a patient with AIDS.
First report in the world
103
Rodríguez L E C, Monroy S P, Alvarez M R, Farinas L B
Padrão de crescimento de crianças infectadas com o vírus
da imunodeficiência humana
107
Leandro-Merhi V A, Barros Filho A A,
Marluce dos Santos M M, Silva V M N
Variações adaptativas, relações objetais e evolução clínica
em pacientes com infecção pelo HIV-1, doentes ou não
125
Silva Filho N, Souza L R
SIDA
NET
15
Meningitis bacteriana piógena en dos mujeres infectadas por VIH:
Informe de dos casos y revisión
139
Perdomo Y M, Cubas N G
A influência das co-infecções na morbilidade e mortalidade da infecção por VIH
145
Baptista T, Antunes I, Mansinho K
Análisis de la situación de Salud Estomatológica de las personas viviendo con
VIH/SIDA Sanatorio Provincial del SIDA Pinar del Río Año 2003
169
Pádron E L, Relles J C
Dot in hiv-infected intravenous drug-users (ivdus)
173
Sarmento-Castro R, Horta A, Méndez J, Duarte M, Rocha R, Rodriguez C,
Veloso S, Freitas M, Pires N, Fortes O, Recalde C, Costa C, Silvano L
Moderate dose of PegInterferon alfa-2b in combination with ribavirin
in the treatment of HCV patients with or without HIV
175
Sarmento-Castro R, Horta A, Coelho H, Vasconcelos O, Mendez J, Seabra J,
Tavares AP, Duarte M, Fortes O, Chaves L, Freitas M, Pinho L, Carneiro F
Chronic hepatitis c in patients with and without hiv infection
177
Sarmento-Castro R, Horta A, Coelho H, Vasconcelos O, Mendez J, Seabra J,
Tavares AP, Pinho L, Fortes O, Duarte M, Pires N, Chaves L, Carneiro F
Ciência Básica
Controle das concentrações plasmáticas de efavirenze em co-infectados
pelo VHB/VHC - um instrumento de optimização da terapêutica?
181
Côrte Real R, Pereira S, Branco T, Germano I, Lampreia F, Costa H,
Calinas F, Monteiro E
Proteína Vif e imunização intracelular: Um novo alvo e uma nova
estratégia de inibição do HIV-1
187
Silva F A, Gonçalves J, Santa-Marta M
Encerramento
Uma Reportagem Preventiva
213
Cabrita F
Encerramento do Congresso - Dia Mundial da Sida
Vieira F R
SIDA
NET
16
215
SIDA
NET
17
SIDA
NET
18
ABERTURA
SIDA
NET
19
SIDA
NET
20
CERIMÓNIA DE ABERTURA DO
V CONGRESSO VIRTUAL HIV/AIDS
“ A IMPORTÂNCIA DAS CO-INFECÇÕES NO VIH/SIDA”,
Carlos Vasconcelos - Porto - Portugal
Victor Bezerra - Santarém - Portugal
Teve lugar no dia 12 de Outubro de 2004, na Figueira da Foz a abertura simbólica do V
Congresso Virtual HIV/AIDS “ A Importância das Co-infecções no VIH/SIDA”, que
decorreu, por especial deferência da Comissão Organizadora do V Congresso Nacional
sobre SIDA, no início da sessão “A Sociedade Perante a Infecção VIH/SIDA”.
Tomaram a palavra o Dr. Carlos Vasconcelos, como Presidente do V Congresso Virtual, e
Dr. Victor Bezerra, na qualidade de Presidente da Associação SIDAnet :
Dr. Carlos Vasconcelos
Hoje dia 12 de Outubro, pelas 15 horas, declaramos formalmente aberto o 5º Congresso
Virtual sobre SIDA, organização associada ao site aidsportugal.com. Fazemo-lo no decurso
do congresso nacional sobre SIDA organizado pela APECS (Associação Portuguesa para
os Estudos Clínicos sobre SIDA) cabendo desde já um agradecimento à sua comissão
organizadora.
Não podia ser melhor o momento para esta abertura: a APECS é desde a sua fundação
uma estrutura aglutinadora dos profissionais de saúde dedicados a esta área da medicina,
onde estão representados os diversos centros portugueses, muitos dos quais têm colaborado
igualmente nas anteriores edições destes congressos virtuais sobre SIDA. Todos nós, os que
de uma forma ou outra nos interessamos por esta área, e todas as iniciativas continuam a
não ser demais para a luta contra esta doença, crónica sim, mas ainda não curável, capaz
de grande morbilidade e geradora de grande despesa pública.
Este é o 5º destes congressos, virtuais de estrutura, concretos de realidade dorida, concretos
de sonhos inacabados, concretos de participação de profissionais de saúde, de doentes e
de todos os que muito justamente se preocupam com o pesadelo que é esta doença. Os
SIDA
NET
21
anteriores congressos demonstraram à saciedade o seu valor, traduzido no número de
visitas ao site e ao feedback recebido. O número de visitas diárias ao site aidsportugal.com.
tem sido, neste ano, entre 600 a 1300, e de 20 a mais de 40.000 visitas mensais! Cada
visita é uma oportunidade de luta contra a SIDA, potencialmente multiplicada n vezes
pelos contactos do visitante.
Foi-me dada a grande honra de presidir a este 5º Congresso Virtual sobre SIDA, aumentada
pelo valor do vice-presidente, Dr Rui Sarmento, do Hospital Joaquim Urbano, e do
secretário, Dr. Rosas Vieira, do Centro Hospitalar de Gaia, médicos com obra feita neste
domínio.
Pergunta, em jeito de introdução, no site do congresso, o Dr Rui Sarmento: “Que dizer
passados 22 anos após o início da epidemia de SIDA?” E responde: “Passos enormes
foram dados na compreensão da estrutura deste e doutros agentes, dos seus mecanismos
de acção, das formas de apresentação das doenças oportunistas, do seu tratamento. Técnicas
inovadoras foram postas ao serviço da Medicina em consequência dos avanços registados
no conhecimento do VIH. Novos fármacos foram introduzidos no armamentário terapêutico.
Os doentes vivem mais tempo e com melhor qualidade de vida.” Mas, não há bela sem
senão, e a mesma causa dos imensos benefícios que temos vivido na doença HIV, decorrente
da estratégia HAART (terapêutica antiretrovírica de alta potencia), é, ela mesma, a que
põe bem à evidencia a importância das co-infecções. Escreve, no mesmo site, o Dr Rosas
Vieira: “Porque a morbilidade na infecção VIH, é fundamentalmente determinada pelas
doenças associadas (Condições oportunistas), a acuidade do tema é evidente”.
É este o tema do 5º Congresso Virtual sobre SIDA: As Co-Infecções, que se assumem
como determinante major no prognóstico da doença VIH. Entre elas , especial atenção
deve ser dada ás viroses hepatotrópicas, como o vírus da hepatite C e B, mas nunca se
poderá esquecer a importância da tuberculose, problema nunca resolvido no nosso país e
que se revestiu de maior relevância na era SIDA. Mas são muitas mais as co-infecções de
que vale a pena falar na doença VIH.
Espero que todos participem neste congresso, cada um à sua maneira e de acordo com os
seus conhecimentos. Problema não será o participar com uma pergunta aparentemente
simples “e escusada”. Problema é o não participar, não perguntar, não levantar dúvidas,
não gerar discussão. Esse é que o grande problema: é pensarmos que tudo está dito, tudo
está sabido e que não vale a pena a preocupação!
Porque vale sempre a pena, quando a alma não é pequena, como diz o poeta. E a alma,
neste caso é a preocupação connosco e com os outros, afinal com todos nós que estamos em
risco de infecção por esta pandemia do início do 2º milénio.
Bem hajam todos por se preocuparem e por participarem!
Dr. Victor Bezerra
- Depois de agradecer à Comissão os breves momentos disponibilizados, apresentou algumas
estatísticas consideradas importantes de www.aidscongress.net e www.aidsportugal.com,
frisando que estes dois projectos são, sem dúvida alguma, o mais importante suporte
preventivo e informativo na área VIH/SIDA disponível em língua portuguesa.
SIDA
NET
22
Estatísticas de aidscongress.net
Sumário por Mês
Mês
Média Diária
Totais Mensais
Hits Ficheiros Pages Visitas
Sites
KBytes
Set 2004
Ago 2004
3051
2488
2339
1881
683
612
360
331
7269 2045425
6283 1859332
Jul 2004
2077
1542
469
261
Jun 2004
Mai 2004
3266
4294
2454
3256
653
781
Abr 2004
Mar 2004
4909
5300
3761
4082
927
1162
529 12146 3221918
574 13079 3288155
Fev 2004
2535
1890
567
277
Jan 2004
Dez 2003
2238
2678
1655
1835
478
610
252
268
Nov 2003
4203
2713
848
Out 2003
3712
2083
729
Visitas
Pages
Ficheiros
Hits
10456
10275
19815
18974
67857
58329
88480
77149
5349 1596228
8111
14567
47810
64407
363 7575 1917435
444 10403 2673713
10909
13782
19599
24220
73620 98006
100958 133130
15893
17813
27838
36038
112845 147275
126557 164303
6174 1152258
7757
15901
52938
71007
6096 1004099
6219 1056292
7837
7505
14836
17080
51325
51382
69392
74987
358
9504 1802243
10766
25464
81404 126092
278
7462 1318325
8622
22620
64574
129726
256962
889589
10.810 21.412
74.133
Média mensal
64574
Estatísticas de aidsportugal.com
Mês
Set 2004
Média Diária
Totais Mensais
Hits Ficheiros Pages Visitas Sites
KBytes
Visitas
Pages
Ficheiros
Hits
46491
42889 34088
980 19719
2761061
29405
1022669
1286681
1394737
Ago 2004 36460
32303 24457
826 18365
2759685
25608
758179
1001412
1130263
Jul 2004
Jun 2004
23475
27964
20073 12614
24212 13852
655 13964
778 16935
2966169
2987825
20332
23354
391051
415577
622273
726373
727740
838938
Mai 2004 51819
46347 31993
1056 23102
4838831
32745
991798
1436768
1606414
Abr 2004
45092
40010 21248
1326 29592
5394891
39792
637447
1200310
1352780
Mar 2004 54224
Fev 2004 39323
49194 31701
35211 25267
1360 29699
740 17206
4893285
2444839
42175
20740
982737
707489
1525021
985926
1680951
1101065
Jan 2004
21890
17266
8305
651 15630
2909711
20194
257479
535258
678611
Dez 2003
18096
13796
3644
721 19078
2894571
22376
112970
427700
560990
Nov 2003 24536
19324
4576
998 22253
3003737
29957
137303
579720
736082
9008
3727
431 12038
1516048
13361
115545
279259
407040
Out 2002
13130
39370653 320039
Média mensal
6530244 10606701 12215611
26.669 544.187 883.891
SIDA
NET
23
estatísticas de leituras das comunicações do 1.º congresso - À Descoberta de Desafios Partilhados na Luta Contra a SIDA
comunicação
Total leituras
discurso do dr. amílcar soares na sessão de encerramento do I congresso virtual hiv aids
69
da sífilis à sida, que percursos e que futuro?
79
orientações terapêuticas na infecção pelo hiv- creditação e durabilidade
114
aspectos da infecção pelo vih nas prisões portuguesas
131
estudo piloto comparativo da eficácia imunológica e da tolerância da interleucina 2 em doentes infectados pelo vih
134
comunicação das ong's
162
monitorização de fármacos anti-retrovirais
172
resistências aos antiretrovirais
174
conclusões do i congresso virtual hiv/aids
176
infecção pelo hiv e coinfecção hcv - a nossa experiência terapêutica
181
avaliação funcional da reconstituição do sistema imunitário após haart
183
metodologia para a vigilância epidemiológica da infecção pelo vírus da imunodeficência humana em portugal
185
4 hospitais, 4 propostas para uma melhor aderência à terapêutica anti-retroviral na população toxicodependente
195
a problemática da infecção hiv nos doentes toxicodependentes
196
adesão à terapêutica
197
a mulher seropositiva - que direitos e que deveres para a mãe e para o feto na óptica da infecciologista
209
doença pelo vih e a medicina interna
228
os novos medicamentos anti-retrovirais: a diversidade do laboratório e as limitações da realidade
230
aspectos epidemiológicos da toxicodependência em portugal
231
a importância da adesão á terapêutica anti-retroviral
235
coinfecção vih e vjc
236
tuberculose e infecção pelo vih: particularidades e perspectivas
243
reflexões sobre uma "carta universal dos direitos e deveres das pessoas infectadas com o vih"
278
a estratégia de fusão do hiv ao nível molecular
299
perspectivas para a luta contra a sida em portugal
306
dst na infecção hiv
336
portugal 2000 - á descoberta de desafios partilhados na luta contra a sida
349
aspectos neuropatológicos da infecção por vih
357
o doente com sida e a sua família - como integrar cuidados
363
o papel dos cuidados de saúde primários na abordagem da infecção vih
399
infecções oportunistas - posição actual na infecção hiv
419
tuberculose e infecção pelo hiv - interacções imunológicas e clínicas
450
epidemiologia molecular da infecção pelo hiv em portugal
456
vacinas contra o hiv: perspectivas actuais
459
infecção pelo vih e os direitos da criança
525
o ensino da infecciologia - da formação pré-graduada à educação médica contínua na imunodeficiência
531
aspectos éticos e deontológicos da infecção vih
557
aspectos preventivos da infecção pelo vih
615
10659
SIDA
NET
24
Estatísticas de leituras das comunicações do 2.º congresso virtual HIV - Ontem, Hoje e Amanhã
comunicação
total leituras
abertura oficial do II congresso virtual hiv/aids
356
abertura oficial do II congresso virtual hiv/aids
389
tribuna livre
437
drug resistance, subtype polymorphisms and the development of more powerful hiv-1 protease inhibitors
537
terapêutica anti-retrovírica assistida nos estabelecimentos prisionais - um mito ou uma necessidade ?
566
abertura oficial do ii congresso virtual hiv/aids
593
resistência aos anti-retrovíricos em doentes sem experiência terapêutica prévia (drug naive)
601
inserção sócio-profissional de seropositivos - uma abordagem possível!
633
a opção pela utilização de pis ou nnrtis, associados a nrtis, como abordagem terapêutica inicial do tratamento
663
terapêutica inicial da infecção vih
666
áfrica lusófona e a infecção vih/sida
776
expressão de cd38 em células t de doentes com infecção assintomática pelo vih1, sem terapêutica antiretrovírica
783
fatores de risco para a infecção por hiv entre mulheres gestantes
792
a mortalidade por infecção vih na era pós-haart - que mudanças?
847
as percas culturais e a sida
876
esquemas haart numa consulta de imunodeficiência - estudo multifactorial retrospectivo
906
infecção por vih e remune - interleucina 2
952
abertura oficial do ii congresso virtual hiv/aids
987
perspectivas de novas terapêuticas antiretrovirais
1014
hiv/palops - a experiência dos voluntários
1056
o acesso a empréstimos bancários e a seguros de vida por parte de pessoas com um risco de saúde agravado
1059
encerramento: dia 1 de dezembro de 2001 - palmela
1075
estratégias de redução de danos
1102
papel dos vírus recombinantes na epidemiologia da infecção pelo hiv
1136
centro de rastreio - da teoria à prática ...
1142
ensaios clínicos na área vih/sida em portugal
1159
programas de redução de riscos em estabelecimentos prisionais
1160
transmissão materno-fetal do vih: experiência do hospital garcia de orta
1210
monitorização terapêutica de fármacos antiretrovíricos: ontem, hoje e amanhã
1212
linfomas na infecção por vih
1215
transmissão vertical vih - intervenção multidisciplinar: experiência do hospital são francisco xavier
1300
abertura oficial do ii congresso virtual hiv/aids
1467
inibição da fusão do hiv com a célula alvo pelo péptido t-20
1468
a importância dos grupos de auto-ajuda na aderência ao tratamento antiretroviral
1506
à conversa sobre sida em antropologia médica
1576
vacinas contra o hiv: perspectivas actuais
1620
novas metodologias para apoio ao adolescente na área do hiv/aids
1658
a problemática da adesão à terapêutica anti-retroviral
1761
vigilância epidemiológica vih/sida: que modelo de declaração obrigatória
1786
SIDA
NET
25
Estatísticas de leituras das comunicações do 2.º congresso virtual HIV - Ontem, Hoje e Amanhã
a sida e a escola
1890
neoplasias associadas à infecção por vih
2034
o papel da equipa de enfermagem no hospital de dia para o utente seropositivo
2242
citocinas e hiv - revisitação do tema através da análise a nível celular individualizado
2256
prevenção da sida em toxicodependentes
2305
continuidade de cuidados à criança / família seropositiva para o hiv
2445
epidemiologia da infecção vih e sida em portugal
2535
tropismo celular e patogénese da infecção pelo hiv-2
2702
patologia auto-imune na infecção pelo hiv
3262
prostituição sexualidade e sida
6208
síndromes neurológicos agudos na infecção vih
6658
prostituição versus legalização. a questão das drogodependências
6914
81493
estatísticas de leituras das comunicações do 3.º congresso - O HIV no Mundo Lusófono
comunicação
estratégia para uma cooperação horizontal com os palop´s
SIDA
NET
26
total leituras
423
redução de danos como estratégia chave para a resposta de saúde pública à epidemia de aids entre udis
753
sensibilidade aos antibacilares em doentes com infecção pelo vih
891
uma experiência de educação pelos pares na área da educação pela saúde
976
aderência à terapêutica anti-retroviral num hospital distrital
1014
estudo comparativo de sub-populações t naive/memória em doentes infectados pelo hiv-1 ou hiv-2
1015
tuberculose em doentes com sida. tratamento completo sob observação directa.
1032
trends of hiv-1 and hiv-2 in guinea-bissau 1987-2001
1051
o binómio hiv/ tuberculose multirresistente
1080
epidemiologia molecular da infecção pelo hiv-1 em portugal: evolução para um padrão único na europa?
1193
sida- un problema de salud pública
1222
tuberculose e infecção pelo vih: o tratamento
1235
disque saúde - um sucesso brasileiro
1238
o hiv no mundo lusófono - abertura
1257
estudo piloto sobre a compreenção do hiv/aids em jovens timorenses
1294
ninguém sabe
1362
experiência piloto na reinserção sócio-profissional de seropositivos para o hiv na região centro de portugal
1405
tuberculose nos países com língua portuguesa (plp)
1477
aids, direito e comunicação diálogo possível numa perspectiva interdisciplinar
1628
tuberculose e infecção pelo vih: manifestações clínicas
1714
cooperação e luta conta a sida nos palop's
1723
fenotipagem cd4+/cd8+/cd3+ em 133 doentes seropositivos (hiv) para inicio de terapêutica antiretroviral
1810
produção e caracterização de proteínas do invólucro do hiv-2 ali: contribuição para a produção de uma vacina
1981
infeccção pelo hiv-1 em macrófagos
1987
terapêutica da tuberculose multirresistente
1990
estudo sobre preservativo feminino junto a profissionais do sexo em são lourenço do sul
2308
propostas para a interpretação e utilização, no dia-a-dia, da prova tuberculínica
2314
estatísticas de leituras das comunicações do 3.º congresso - O HIV no Mundo Lusófono
aspectos da organização do combate à tuberculose
2325
o hiv no mundo lusófono - abertura
2331
mucosal aids vaccines
2423
tuberculose nosocomial
2526
coinfecção vih / vhc - o crescente protagonismo do vhc
2560
epidemiologia da infecção vih/sida - o impacte em portugal
2668
uma experiência em atendimento psicológico ambulatorial num caps a pacientes portadores de hiv/aids
2669
tuberculose na infecção vih: o papel do laboratório
2684
gênero, relações afetivas e aids no cotidiano da mulher soropositiva
2713
epidemiologia do hiv/aids no distrito federal - brasil de 1985 a 2000
2717
consulta de imunodeficiência do hospital distrital de faro/ primeiras consultas 1997-2002
2746
a construção do adolescer masculino e o uso do preservativo
2851
tuberculose nosocomial: equipamentos de protecção respiratória
2917
tuberculose e toxicodependência
3002
plano estratégico nacional de luta contra a sida 2002-2006
3059
desenvolvimento de competências no âmbito da promoção de comportamentos sexuais saudáveis e prevenção
3063
o rastreio da tuberculose
3131
reacções adversas aos antibacilares
3177
infecção vih e imigração em portugal
3475
a eritropoietina na terapêutica da anemia do doente infectado pelo vih
3547
manifestações cardíacas da infecção pelo hiv
3604
infecção pelo hiv/sida, o que ainda desconhecemos ?
3625
infecção pelo vírus da imunodeficiência humana tipo 2 (hiv-2)
4055
suporte nutricional nos doentes infectados com hiv
4349
profilaxia da tuberculose: o bcg e a quimioprofilaxia
4452
imunologia da infecção do hiv - perspectiva geral
4749
história natural da infecção vih
4774
hiv e infecções fúngicas
4855
impacto demográfico do hiv/sida em moçambique
4877
tuberculose na infecção vih: o papel da imagiologia
5125
tuberculose: pobreza e subdesenvolvimento
6771
manifestações cutâneas da sida
9077
154270
estatísticas de leituras das comunicações do 4.º congresso - A Mulher e a Infecção pelo HIV/SIDA
comunicação
rede mediterrânica de mulheres confrontadas com o vih - inquérito telefónico - 3ª edição
total leituras
445
a mulher e a terapêutica antirretrovírica - indicações para monitorização terapêutica?
466
adesão ao tratamento em alvorada - rs/brasil
498
encerramento do congresso - a mulher e a infecção pelo hiv
516
a arte que preserva a vida
576
vigilância das grávidas infectadas pelo vih e avaliação da taxa de transmissão vertical do vírus
578
prolonged survival of end stage aids patients receiving v-1 immunitor
592
SIDA
NET
27
estatísticas de leituras das comunicações do 4.º congresso - A Mulher e a Infecção pelo HIV/SIDA
comunicação
total leituras
dupla exclusão : esquizofrênica e soropositiva
636
evolução dos esquemas terapêuticos anti-retrovíricos nos hospitais da universidade de coimbra
641
a mulher e a infecção vih no centro hospitalar de gaia
660
isolados primários de hiv-2 que não utilizam os co-receptores ccr5 e cxcr4 para infectar cmsp
689
estudo da transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana (vih) no período de 1991 a 2001
712
a vulnerabilidade feminina à infecção pelo hiv: uma proposta de intervenção
724
infecção vih na grávida - experiência das consultas de medicina/imunodeficiencia
748
rompiendo el silencio: las mujeres y el vih
789
a mulher e a infecção vih/sida
804
a replicação do vih-2 é igual no sexo masculino e no sexo feminino.
833
mulheres, vih e sida - perspectiva epidemiológica
863
experiência da linha s.o.s. sida em aconselhamento telefónico
873
mulher pozythiva
889
a mulher e a infecção pelo hiv/sida no niassa - moçambique
895
uso de condom feminino por mulheres infectadas pelo hiv
906
influência do tratamento anti-retroviral no crescimento de crianças infectadas com o vírus da imunodeficiência humana
956
transmissão vertical do vih - infecção não detectada na grávida
967
transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana
999
abertura do 4º congresso virtual - a mulher e a infecção pelo hiv/sida
1110
el vih, el sida y las mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres (wsw)
1180
projecto phase em portugal: o papel das ong representativas de mulheres na luta contra a sida
1183
vulnerabilidades da mulher frente às dst/hiv/aids
1213
gestantes soropositas e o acompanhamento em grupo junto a um ambulatório dst/aids
1283
transmissão vertical do virus da imunodeficiência humana tipo 2 (vih-2)
1330
vulnerabilidade e construções de enfrentamento da soropositividade ao hiv por mulheres infectadas
1337
conhecimentos, opiniões e comportamentos face à sida de uma população universitária
1368
género e vih: a vulnerabilidade da mulher nos países em desenvolvimento
1464
sigilo médico e sida: breves apontamentos
1467
a detecção da seropositividade para o vih na gravidez
1525
"grupo amizade": relato de vivências realizadas por mulheres usuárias do ambulatório de referência dst/aids
1542
sida no feminino - contracepção, gravidez e intenção de ter filhos(resultados de um estudo)
1695
as campanhas publicitárias de sida (spot), destinadas ao público feminino
1895
aprendendo a escolher: opções contraceptivas e prevenção das dst/hiv.
2232
gravidez e infecção pelo vih / sida - casuística da maternidade bissaya barreto do centro hospitalar de coimbra
2632
a adolescência, a mulher e a sida
2700
hiv/sida - comportamentos de risco em mulheres portuguesas
2720
o vih e o corpo da mulher: a contaminação da imagem feminina
2908
a experiência psicológica da gravidez na mulher seropositiva para o vih
3351
prevenção contra a sida / preservativo feminino
4005
58395
SIDA
NET
28
CIÊNCIA SOCIAL E
COMPORTAMENTAL
SIDA
NET
29
SIDA
NET
30
CRENÇAS E ATITUDES COMO “CO–FACTORES” DO
VIH/SIDA
Orquidea Lopes - Seia - Portugal
RESUMO:
Esta comunicação visa apresentar as conclusões de um estudo realizado em Portugal, e
que se destinou: a) conhecer os níveis de experiências sexuais dos adolescentes; b) a
diagnosticar conhecimentos crenças e atitudes de jovens em idade escolar (14 aos 16
anos de idade); c) demonstrar que as pessoas informadas têm menos comportamentos de
risco ; estão mais predispostas a aceitar novas informações; têm atitudes de tolerância
para com os infectados e doentes de SIDA. Foi usado o questionário como instrumento de
avaliação dividido por três grandes áreas: 1. dados sociológicos; 2. experiências sexuais
e prevenção; 3. conhecimentos, crenças e atitudes sobre o VIH/SIDA. A amostra é
constituída por 1000 sujeitos, com idades compreendidas entre os 14 e os 16 anos de
idade, pertencentes a 32 escolas (norte, centro e sul) de dois graus de ensino (Básico e
Secundário) e distribuídas por 15 distritos. Frequentavam o 9º ano (29,1%); 10º ano
(48,7%) e 11º ano (19,2%). Pertencem a um agregado familiar com baixa escolaridade
(menos que o 9º ano (57% - pai e 56.4% -mãe) e 88.9% não conhecem ninguém com
SIDA. Conclui-se que os sujeitos mais informados têm atitudes de aceitação, compreensão
e de solidariedade para com os infectados e doentes de SIDA. Porém, confirmam-se
outros estudos, que não basta estar informados visto que têm comportamentos preventivos
incorrectos. Ao invés dos sujeitos que têm crenças erradas sobre a doença e infectados,
que revelam ter atitudes de: intolerância, invulnerabilidade,excesso de auto confiança;
homofóbicas, estigmatizantes e com comportamentos de alto risco em contraírem o VIH/
SIDA. É preciso mais e melhor informação, actuando de forma articulada, famílias,
escola e meios de comunicação de massas
Palavras Chave
Crenças e atitudes de SIDA , fontes de informação de SIDA; meios de comunicação e
SIDA; sexualidade; precauções e sida; opinião e sida; programas de informação; prevenção;
custos e benefícios do preservativo
SIDA
NET
31
INTRODUÇÃO
O comportamento sexual dos adolescentes mudou dramáticamente durante as duas últimas
décadas. Têm acesso a uma actividade coital cada vez mais cedo e o comportamento
sexual dos adolescentes faz parte de um estilo de vida, nas quais se incluem condutas
tais como: consumo de tabaco, álcool e drogas, que têm determinantes sócio culturais. A
iniciação precoce em comportamentos sexuais tem sido associada a um conjunto de
consequências negativas e de comportamentos de risco.
É objectivo deste estudo e relativamente ao padrão sexual adolescente procurar conhecer a
conduta sexual dos inquiridos; identificar e medir os níveis de experiências sexuais (que já
tiveram; que têm actualmente e que pensam ter em breve); as diferenças de comportamentos
sexuais entre os géneros e idades. Saber da intenção de terem tomado (ou virem a tomar)
medidas preventivas, com o receio da SIDA. É importante ainda medir a quantidade de informação que os alunos possuem e julgam possuir, sobre conceitos básicos do que se entende por VIH/
SIDA, formas de transmissão, medidas de prevenção e direitos dos infectados. Os que se
consideram mais informados revelam mais ou menos interesse em obter mais informação? O que
pensam sobre a SIDA, que é uma doença só de alguns ou de todos? Qual a relação entre a
informação que possuem (ou julgam possuir) com as atitudes e crenças sobre a doença? Haverá
diferença entre os géneros? Que relação haverá entre os conhecimentos e as precauções que
tomam ou pensam tomar para evitar uma infecção?
É normal que alunos que frequentam a escolaridade básica obrigatória tenham maior
acompanhamento familiar e escolar. As escolas de Ensino Básico (2º ciclo) promovem
diversas actividades extra escolares, de acordo, ou não, com a programação. Nesta
programação é vulgar encontrar actividades que se destinem a sensibilizar os jovens
para o problema do SIDA. Também as ONG têm tido um papel interventivo, sendo chamadas
às escolas para esclarecer e informar sobre o tema, o que leva a supor que os alunos que
frequentam o 9º ano tenham a percepção de estar mais informados. No ensino Secundário
(3º ciclo), este tipo de programas é mais da responsabilidade dos alunos que frequentam
a área de saúde havendo menos actividades que se relacionem com a sexualidade. Em
nosso entender, os jovens de 14 aos 16 anos vão perdendo informação com o aumento da
idade e na razão directa com o aumento dos comportamentos sexuais. Pelas suas
características de desenvolvimento psicosocial, estes (10º e 11º anos) têm a percepção de
que estão mais informados, em comparação com os alunos que frequentam o 9º ano.
O Ministério da Educação, ao pretender implementar programas de educação sexual nas
escolas, urge saber como, quando, como e com quem, se podem ou devem pôr em prática
esses programas. As opiniões divergem. Quem deve informar sobre os problemas
relacionados com a sexualidade, os professores, a família, os meios de comunicação ou
os técnicos de saúde? Qual a opinião dos interessados? Pretende-se, assim, auscultar as
suas opiniões sobre quem deveria fornecer-lhes a informação, programas de prevenção e
preferências por fontes de informação (meios de comunicação, escola, familia etc.).
É sabido que a informação é necessária, mas ela só por si é insuficiente para se poder
SIDA
NET
32
deduzir que provoca mudanças de atitudes e de hábitos. Há um conjunto de crenças em
relação á doença que podem constituir um obstáculo á prevenção. Por exemplo, para
quem tenha a percepção de que o SIDA é uma doença só de toxicodependentes e
homossexuais (Le Poire, 1994; Herek y Glunt, 1988), descurará toda a informação e
abrandará os cuidados preventivos, por se considerar fora desses grupos e imune á doença
(Páez et al. 1991; DiClemente, 1990). Quem possua ainda uma atitude negativa para
com os infectados pelo vírus, tenderá a desvalorizar a informação e a valorizar conceitos
incorrectos (Bauman e Siegel, 1987; Pierret, 1990; DiClement, 1990).
Há diversos estudos sobre as representações cognitivas que os sujeitos têm da doença,
protótipos da doença (Bishop, 1991b) e que podem constituir um factor determinante das
condutas relacionadas com a saúde. Será que há atitudes homofóbicas (Schneider et al.,
1993; Kennamer y Honnold, 1995) ao ponto de aceitarem o princípio do isolamento das
pessoas infectadas, situações de exclusão que contribuirão negativamente para as tarefas
de prevenção? (Bochow et al., 1994, Mann, 1993). Os jovens apesar de possuírem
conhecimentos básicos sobre o SIDA, também se têm deixado levar por equívocos e crenças
incorrectas sobre a transmissão do vírus (ex: um contacto físico, partilha dos mesmos
objectos).
Em suma: será que os adolescentes, têm medo da doença? Têm a percepção de que a
SIDA é um doença de todos? Têm atitudes discriminatórias para com os infectados?
Temem a doença ao ponto de não aceitarem uma bebida, evitar tomar banho numa
piscina, evitar sanitários públicos? Considerar-se-ão imunes á infecção? Têm a percepção
da necessidade de informação? Importa ainda diagnosticar o grau de motivação para
temas relacionados com a SIDA, e a sua opinião sobre o que são e o que devem ser os
programas de prevenção de SIDA.
Em Portugal, é também na adolescência que se pode contrair a doença, revelando-se
esta aos 26, 27 anos de idade. E as variáveis que podem influir negativamente no uso dos
contraceptivos são diversas
a) A idealização da sexualidade. Os jovens podem recusar os anticoncepcionais, porque pensam que desvirtua a relação sexual romântica, apaixonada e espontânea.
b) A dificuldade de acesso a serviços de informação sexual; ao desconhecimento da sua existência; ter medo de que se perca o anonimato.
c) As características próprias da adolescência, que fazem deste período de insegurança,
impulsividade e interesses imediatos, não seja o momento mais adequado para a contracepção
planificada; as consequências não são pensadas e consideram que a eles nada lhes acontece.
d) Não possuir habilidades sociais para conseguir informação e anticoncepcionais, ou mesmo
não conseguir falar com o parceiro sexual.
e) Ter fracas expectativas de futuro.
f) A escassa informação sobre contracepção e gravidez, em parte por ausência de um programa sexual nas escolas;
g) A mudança de atitudes e valores da sociedade actual. Os jovens estão em contacto com
imensas informações, que são por vezes contraditórias. Enquanto que os amigos, e os meios de
comunicação estimulam a sexualidade, os pais e os educadores desaprovam, vendo até com maus
SIDA
NET
33
olhos o facto de os filhos irem a consultas de planeamento familiar; A sociedade é ambígua em
relação á adolescência e sexualidade.
A maioria dos jovens inicia as primeiras relações sexuais sem planificar (Lowenstein y
Furstenberg, 1991), muitas vezes envolvida em elevada dose de romantismo (estar
apaixonado). Têm a percepção de que não estão em risco (sentimento de invulnerabilidade),
que a sua parceira(o) é de confiança, pois pertence ao grupo de amigos. Confiam na sua
capacidade para reconhecer uma pessoa infectadada (por observação), que associam a
grupos marginais (toxicodependentes ou homossexuais). Estas são algumas das muitas
razões que parecem justificar o elevado número de jovens que têm relações desprotegidas
(McLean et al., 1994).
Também a prática contraceptiva tem sofrido alterações e está em função da idade. Enquanto
que nos anos 80 os jovens dos 15 aos 19 anos de idade usavam os contraceptivos orais,
seguido do preservativo, na década de 90 o método mais usado pelos jovens dos 15 aos 17
anos foi o preservativo, enquanto que a pílula é a escolha mais frequente para os jovens
dos 18 aos 19 anos de idade (Brown & Eisenberg, 1995). Os jovens entendem que o
preservativo tem custos: limita o prazer, tira o romantismo á relação; quando se ama não
são precisos; são incómodos; cria dúvidas á outra pessoa acerca do seu estado de saúde;
são caros, não são acessíveis; têm vergonha de os comprar; etc. Reconhecem que têm
também benefícios como: dão segurança a uma relação; são higiénicos; não têm contra
indicações; previnem das doenças sexualmente transmissíveis; são fáceis de obter; etc. O
preservativo será uma metodologia preventiva a seguir pelo indivíduo, se os benefícios
forem superiores aos custos, se teme uma gravidez ou se tem uma relação esporádica. O
uso do preservativo diminui com a idade, o que associado ao uso excessivo de álcool e a
substâncias psicoactivas, constitui factores de risco acrescidos (Robertson & Plant, 1988;
Stall, Mckusick, Wiley, Coates, & Ostrow, 1986).
Procuram-se ainda respostas para o seguinte: Que relação haverá entre as crenças e -atitudes em relação á SIDA e infectados, com os conhecimentos que possuem, a informação
percebida e as precauções para evitar a infecção do vírus? Qual a relação entre as
atitudes e crenças sobre SIDA e infectados e o grau de interesse para temas relacionados
com a SIDA; opinião sobre a doença; fontes de informação; programas de prevenção;
preferências por fontes e crenças sobre o uso do preservativo?
MÉTODO
A amostra.
Participaram nesta investigação 1000 estudantes Portugueses dos ensinos: básico
e secundário, num total de 32 escolas (9 na zona norte; 14 na zona centro e 9 na zona sul
do país) pertencentes a 15 distritos. Frequentam o 9º ano (29,1%); 10ºano (48,7%); 11º
ano (19,2%); outro (2,9%).
1.
SIDA
NET
34
A amostra está distribuída da seguinte forma:
QUADRO 1: Constituição da amostra
Sujeitos
14 - 16 anos
Nível de estudos
Número de Escolas
Distritos (nº)
Norte - 206
Centro - 446
Sul - 348
Ensino Básico
9º, 10º e 11º anos
Norte - 9
Centro - 14
Sul - 9
Norte - 4
Centro - 5
Sul - 6
Total : 32
Total: 15
Total: 1000
Recolheu-se uma amostra, a mais heterogénea possível em termos geográficos, enviando
de forma aleatória, questionários para escolas de Ensino básico 2º e 3º ciclos, que
representassem todos os distritos de Portugal Continental. Foram enviados 25/30
questionários para cada escola (duas por distrito), excepto para Lisboa e Porto para
onde foram enviados 250 questionários aproximadamente (um total de 1560 questionários).
Em apenas três meses foram realizados e tratados estatisticamente no programa SPSS,
1000 questionários (180.000 respostas).
QUADRO 2 : Distribuição dos questionários por distritos
Distritos
Nº
Zona
Nºquestionários
Nº Escolas
1.Guarda
102
Norte
Braga
206
9
2.Viseu
82
Porto
3.Coimbra
149
Vila Real
4.Aveiro
89
Viana Castelo
5.Porto
108
446
14
6.Lisboa
93
Viseu
7.Évora
90
Coimbra
8.Beja
25
Aveiro
9.Leiria
24
Leiria
10.Braga
40
348
9
11.Faro
53
Évora
12.Setúbal
42
Beja
13.Portalegre
45
Faro
14.Viana do Castelo
38
Setúbal
15.Vila Real
20
Portalegre
1000
15
1000
32
Total:
Centro
Sul
Guarda
Lisboa
SIDA
NET
35
2. Instrumento de avaliação
•
Variáveis do questionário
QUADRO 3: Variáveis do questionário - Conhecimentos, crenças e atitudes sobre SIDA
Apartados
Variáveis
Objectivos específicos
Dados Sociológicos
- Idade
- Sexo
- Nível de escolaridade
- Habilitações literárias dos pais
- Identificar o ambiente sociológico dos
inquiridos
Experiências sexuais e
precauções
Comportamento sexual
- Conhecer o nível de experiências que
têm ou tiveram ao longo da vida
-Experiência sexual ao longo da vida.
-Comportamento sexual actual.
- Identificar as precauções que têm,
-Comportamento sexual dentro de pouco tempo. tiveram ou pensam ter, para evitar a
infecção pelo vírus
Precauções para evitar a SIDA
-Correctas.
-Incorrectas
Conhecimentos crenças e
atitudes sobre o
VIH/SIDA
Conhecimentos sobre SIDA
- Conhecimentos
- Informação percebida
-Interesse para temas relacionados com SIDA
- Opinião acerca do problema da SIDA.
Fontes de informação sobre SIDA
- Fontes de informação
- Opinião sobre os programas de prevenção
- Preferências por fontes de informação
Atitudes para com as medidas de prevenção de
SIDA
- Custos e benefícios do uso do preservativo.
- Atitudes para com a SIDA e os infectados
- Medir os conhecimentos dos sujeitos
sobre VIH/SIDA
- Medir a informação que julgam possuir
- Identificar os temas que mais motivam
os sujeitos
- Saber a opinião dos inquiridos em
relação á doença e aos doentes.
- Identificar as fontes de informação.
- Conhecer a opinião sobre os programas
de prevenção de SIDA.
- Quem deveria informar?
- Identificar as crenças sobre os
preservativos.
- Identificar crenças e atitudes em
relação à SIDA e infectados.
Para saber os conhecimentos, crenças e atitudes para com a SIDA e os infectados que os
inquiridos possuem actuou - se do seguinte modo: procedeu -se á análise factorial de
componentes principais da escala de conhecimentos, crenças e atitudes sobre SIDA e
crenças sobre os benefícios e custos do preservativo definiram - se quatro e oito variáveis
explicativas: (Cfr Tabelas 3 e 4)
SIDA
NET
36
Tabela 3: Análise factorial dos componentes principais. Factores atitudinais para com a
SIDA e os infectados e as variáveis a explicar.
VARIÁVEIS EXPLICATIVAS
Factor 1
1. Medo, rejeição a doentes com SIDA e
infectados e atitudes discriminatórias.
Factor 2
2. Confiança, percepção de controlo sobre a
doença e atitudes compreensivas para com
os infectados.
Factor 3
3. Acreditam estar informados e têm a
percepção de que não precisam de mudar a
sua conduta sexual
Factor 4
4. Medo da doença, rejeição social e a não
defesa da SIDA
VARIÁVEIS A EXPLICAR
-
Conhecimentos
Informação percebida
Precauções para evitar a infecção
Grau de interesse
Opiniões sobre a doença
Fontes de informação
Opinião sobre os programas de prevenção
Preferências por fontes
Crenças sobre o uso do preservativo (*)
Leg. (*) A escala de crenças sobre o os benefícios e custos do preservativo foi submetida
a análise factorial dos componentes principais tendo -se obtido 8 factores (Cfr. Tabela 3)
Tabela 4: Análise factorial dos componentes principais. Factores de crenças sobre os
benefícios e custos do uso do preservativo.
Factores
VARIÁVEIS DE CRENÇAS SOBRE O USO DO PRESERVATIVO
Factor 1
Factor 2
Factor 3
Factor 4
Factor 5
Factor 6
Factor 7
Factor 8
1. Os preservativos rompem o romantismo e provocam custos afectivos
2. Os preservativos têm benefícios por prevenirem da SIDA, de uma GND e das DST
3. Os preservativos geram custos sociais como vergonha e preocupação pelo que dirão
4. Os preservativos são acessíveis e baratos
5. Os preservativos geram preocupação pela sua insegurança e ineficácia.
6. Os preservativos nem sempre estão á mão, são de difícil acesso.
7. Os preservativos podem ser um jogo erótico, mas frágil
8. Os preservativos não têm contra indicações médicas.
RESULTADOS
1 - COMPORTAMENTO SEXUAL E CRENÇAS SOBRE AS PRECAUÇÕES PARA
EVITAR A INFECÇÃO.
Os sujeitos inquiridos, são 46.3% do sexo masculino e 52.9% do sexo feminino. Têm 14
(19.6%) 15 (37.8%) e 16 anos (42.6%) de idade. A maioria afirma ainda não ter iniciado
relações sexuais coitais e os que já tiveram relações sexuais coitais (com uma ou mais
pessoas) são preferencialmente do sexo masculino e com 16 anos de idade; Os jovens
(22.6%) afirmam que, ao longo da vida, nunca tiveram quaisquer experiências sexuais;
apenas trocaram beijos e carícias (40.8%); já tiveram intimidades sexuais, próximas ao
coito (16.4%); experiências sexuais coitais (com uma ou mais pessoas) 20.1%. Actualmente,
63.3% não têm relações sexuais e 12.3% têm relações sexuais coitais. Em breve, 39.0%
pensam ter relações sexuais. Os homens são os que já tiveram mais experiências sexuais,
SIDA
NET
37
embora a maioria ainda não tenha tido actividades sexuais que possam constituir
comportamentos de risco. Mas, pensam que ocorra em breve.
2 - ATITUDES E CRENÇAS SOBRE SIDA E INFECTADOS E O RELAÇÃO COM OS
CONHECIMENTOS, INFORMAÇÃO PERCEBIDA, PRECAUÇÕES PARA EVITAR A
INFECÇÃO E GRAU DE INTERESSE PARA APRENDER MAIS.
Crenças de que possuem conhecimentos suficientes. Há uma correlação
significativa entre as crenças sobre SIDA e infectados, com os conhecimentos, a informação
percebida, precauções e grau de interesse. Há quatro perfis de crenças e atitudes sobre
a SIDA e os infectados que requerem medidas de intervenção ajustadas.
1. Os indivíduos que têm a percepção da gravidade da doença e preocupação pela sua
saúde, com um percepção subjectiva de invulnerabilidade e atitudes de rejeição e de
discriminação para com os seropositivos. São pessoas com um baixo nível de conhecimentos,
têm a percepção de que não estão informadas, embora não desejem aprender nada que se
relacione com a doença. Apresentam uma relação significativa entre as crenças e as
precauções, ou seja, as crenças negativas sobre a doença, originam precauções incorrectas.
A relação entre susceptibilidade e a conduta preventiva é inversa ao que postula o modelo
de Crenças de Saúde. Quanto mais temem a doença, menos comportamentos preventivos
têm.
2. Os sujeitos que acreditam nas suas capacidades para evitar a infecção; estão conscientes
dos comportamentos que podem conduzir á infecção, tolerantes e compreensivos para
com os infectados. São pessoas informadas, têm a percepção subjectiva de que possuem
informação, mas desejam aprender mais sobre tudo que se relacione com a doença. Têm
precauções correctas mas também incorrectas. Segundo o Modelo de Acção Racional (ou
de intenção de conduta de Fishbein y Ajzen,1973)as condutas estão relacionadas com as
atitudes. Deste modo, estão também sujeitos a uma possível infecção, na medida em que
assumem ter precauções incorrectas, para evitar a infecção.
3. Os sujeitos que têm a crença de uma baixa percepção da gravidade da enfermidade e
um optimismo realista estão relacionados com uma elevada percepção subjectiva de que
estão informados e têm precauções incorrectas. Não demonstram interesse em aprender
mais.
4. Os sujeitos que têm a percepção da gravidade da doença e atitudes de rejeição social,
são pessoas que carecem de informação e que têm a percepção de um baixo nível de
conhecimentos, mas não estão motivadas para aprender.
3 - CRENÇAS SOBRE SIDA E INFECTADOS RELACIONADOS COM OPINIÕES SOBRE
A DOENÇA.
Em relação á doença acreditam (ambos os sexos) que a SIDA é uma doença que afecta
todos e que deve ser resolvido só por médicos. Os homens distinguem - se das mulheres
pelo cepticismo em relação á existência da doença (têm a crença de que é uma doença
que não existe, que é uma moda e que foi inventada só para evitar condutas reprovadas
socialmente). Pensamos que muitos jovens não acreditam na existência da doença, por
não conhecerem (86.9%) realmente pessoas infectadas.
SIDA
NET
38
Crenças erradas sobre a baixa vulnerabilidade, que geram falsa percepção de segurança
face á doença. Há uma associação significativa entre as crenças que possuem e a opinião
sobre a SIDA. 1: Os indivíduos que têm crenças positivas sobre a doença e os infectados,
acreditam que a doença existe e que afecta a sociedade em geral. Há uma elevada
percepção da susceptibilidade e da gravidade da doença. 2.Ao contrário dos sujeitos que
têm medo da doença, atitudes de rejeição, são a favor da discriminação dos doentes.
Estes são de opinião que a SIDA é uma doença que afecta só alguns grupos, é uma moda,
que a doença não existe e foi inventada, é uma forma de repressão sexual.
4 - CRENÇAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO PRESERVATIVO E INTENÇÃO
PREVENTIVA.
De uma maneira geral os sujeitos acreditam que os preservativos têm mais benefícios (m
= 4.52) do que custos (m = 3.53) e demonstraram ter mais intenções de precauções
correctas do que incorrectas. É um facto que a intenção de conduta é uma possibilidade,
mas não uma certeza da concretização do comportamento. Quando se procuram relacionar
as crenças sobre a doença e as crenças sobre a utilização do preservativo (correlações
significativas) as conclusões são surpreendentes.
1. Os jovens que têm medo da doença, e têm atitudes de discriminação para com os
doentes de SIDA e infectados são de opinião de que os preservativos não têm benefícios
(correlação significativa negativa), mas têm custos (correlação significativa positiva). Se
acreditam que os preservativos têm custos a intenção de conduta deverá estar de acordo
atendendo a que há uma relação significativa com as precauções incorrectas.
2. Os indivíduos que têm crenças positivas para com a doença e os infectados e normas
subjectivas positivas têm a crença de que os preservativos têm benefícios (correlação
significativa positiva, r = .38,p<.01) e custos ( r =.08,p<.05); a intenção de conduta é
a de poderem usar ou não os preservativos como medida de protecção, o que se justifica
pelas precauções correctas e incorrectas que têm (ou pensam ter) para evitar a infecção.
3. Os sujeitos que têm a percepção subjectiva de estarem informados e de que não precisam
de mudar os seus comportamentos sexuais só com o medo da SIDA são de opinião de que
os preservativos têm benefícios e têm custos e intenções preventivas imprudentes (precauções
incorrectas).
4. Os indivíduos que têm percepção da gravidade da doença, atitudes de rejeição social
e a não defesa da SIDA acreditam que os preservativos têm custos e o único benefício é
de que não têm contra indicações médicas. A crer nas investigações se as atitudes são
negativas e as normas sociais negativas a intenção de conduta é negativa.
5 - CRENÇAS SOBRE AS FONTES DE INFORMAÇÃO E PREFERÊNCIAS POR FONTES
Os sujeitos afirmam ter aprendido com a televisão, jornais e revistas, professores e
familiares.
1. Os sujeitos que têm crenças e atitudes de rejeição e de intolerância para com os
seropositivos e doentes de SIDA aprenderam (correlação significativa positiva) com pessoal
sanitário, a televisão e com os professores.
SIDA
NET
39
2. Os sujeitos que têm atitudes positivas de controle, confiança, compreensão e aceitação
dos doentes de SIDA e infectados aprenderam (relação significativa positiva) com a
televisão, jornais e revistas, professores, familiares e amigos. Há ainda um relação
significativa entre crenças sobre SIDA e infectados e as preferências por fontes de
informação.
3. Os jovens que têm crenças negativas em relação á doença, são de opinião de que
deveriam informar os cientistas, os professores ou cada um procurar obter informação
por si próprio. Não concordam que sejam as pessoas que têm a doença ou a família.
4. Os sujeitos com atitudes e crenças positivas para com a doença entendem que deveriam
ser os cientistas, os professores, pessoas que têm a doença, a família, os meios de
comunicação e as instituíções sanitárias; mas não concordam que cada um deva informar
- se por si próprio.
CONCLUSÕES FINAIS
Apesar dos sujeitos afirmarem ter mais precauções correctas para evitar uma infecção
há no entanto alguns erros assinaláveis a merecer atenção.
Há crenças erradas em relação ás precauções que podem dar origem a comportamentos
de risco. Que não estão imunes á doença pelo facto de terem relações: a) com menos
pessoas; b) só com pessoas conhecidas; d) com uma só pessoa; e) ter um(a) namorada(o)
estável; f) que não se conhecem por observação as pessoas infectadas e as pessoas que se
injectaram ou injectam com drogas; g) que as pílulas anticoncepcionais protegem do
vírus; i) associar os preservativos como uma medida de prevenção masculina.; g) que os
rapazes devem procurar informar -se sobre o estado de saúde da sua parceira sexual.
As campanhas/programas devem dirigir mensagens positivas que reforcem o
comportamento e a auto eficácia dos que ainda não iniciaram um comportamento sexual
coital; que a estratégia das mensagens passe por tornar socialmente fascinantes os jovens
que adoptem esses comportamentos; que testemunhem a sua opção livre; e que modelem
estilos de vida saudáveis, usando técnicas persuasivas com imagens de pessoas glamorosas
e plenas de imaginação, para provocar, envolvimento, identificação e empatia da audiência
jovem, à semelhança das campanhas publicitárias comerciais. Que haja uma mensagem
pelo reforço positivo (benefícios) e não pela imposição de um modelo de estilo de vida.
Que se modelem comportamentos, para saber resistir à pressão dos grupos de iguais,
destacando as vantagens para si próprios e para os que assim decidem proceder. Que
evidenciem as vantagens (beleza física; psíquica, socialmente valorizada), para os que
optem por rejeitar uma sexualidade “promiscua” (diversos parceiros sexuais) inconsciente
e irresponsável. Que essa seja a norma e não o contrário.
Para os que desejarem iniciar ou já iniciaram uma relação sexual coital devem ser -lhes
fornecidas, para além das competências cognitivas, as competências sociais e
comportamentais, ou seja, um conjunto de recursos que lhes permitam afrontar as situações,
que possam implicar risco, fomentando uma atitude positiva para com uma prática sexual
de prazer, mas segura, mediante a utilização correcta do preservativo. Este deve ser
anunciado como uma das metodologias preventivas mais seguras (informação); como se
SIDA
NET
40
utilizam (competências); como resistir á pressão dos que não desejem usá - lo (habilidades
sociais).
Os sujeitos que possuem atitudes e crenças negativas sobre a doença e os infectados, têm
baixo nível de conhecimentos e a percepção de que carecem (ou não) de informação, mas
não demonstram interesse para aprender mais. Mesmo os jovens que possuem elevado
grau de informação e a percepção subjectiva de que estão informados, apresentam dados
que indicam possíveis riscos de infecção, visto assumirem precauções incorrectas.
Os resultados evidenciaram carências cognitivas que podem estar na base das falsas
crenças e dos poucos cuidados preventivos. É preciso esclarecer o seguinte: o que é a
doença (o que é o VIH e em que se distingue da SIDA; o que define um seropositivo de
um seronegativo; ou um portador e não portador do VIH; o que simbolizam, no contexto
da transmissão do vírus, cada um dos conceitos); vias de transmissão: correctas (que o
VIH pode encontrar-se no fluxo vaginal) e incorrectas (que a saliva, a urina o suor não
transmitem a SIDA, nem o contacto físico); medidas de prevenção (que a pílula não
protege); formas de tratamento (onde obter a informação; as análises em laboratório e o
tempo real de confirmação, ou não da infecção).
Os jovens têm elevados possibilidades de se infectarem pelo vírus, atendendo: a) ás crenças
de invulnerabilidiade e optimismo excessivo; b) intenções de conduta erradas (precauções
incorrectas); c) á falta de motivação para aprender (julgam - se muito informados); d)
limitados conhecimentos.
Qualquer programa destinado a este tipo de jovens deve: a) motivar para mudar
comportamentos; b) informar de modo a aclarar as crenças e atitudes que possuem em
relação á doença e aos doentes de SIDA; c) envolvê -los de modo a que acreditem que são
susceptíveis de contrair a doença, e as consequências para si próprio caso se infectem;
d)que percebam os benefícios de um comportamento preventivo, antecipando as barreiras
ou custos; e) devem promover a auto eficácia (habilidades necessárias para dar forma ao
comportamento segundo uma variedade de circunstâncias).
A Teoria de Acção Racional defende que as condutas dependem das crenças dos sujeitos.
Se os sujeitos possuem a crença de que os heterossexuais não se identificam com os
grupos de risco, que se conhecem as pessoas infectadas pelo aspecto, as suas condutas
estarão de acordo com as crenças e por conseguinte em risco de infectarem -se visto que
não haverá intenção de conduta preventiva. A dificuldade para perceber o risco é um
factor que determina uma falsa percepção sobre a vulnerabilidade ou invulnerabilidade
de eles próprios, face ao vírus. Estes e outros factores relacionados com as crenças erradas,
em que se associa a doença com alguns grupos específicos, geram nos adolescentes uma
falsa segurança de si mesmos ao concluírem que a doença a eles nunca os afectará por
não se identificarem com esses grupos. Não se consideram individualmente responsáveis
pela propagação da doença; sentem -se protegidos (invulnerabilidade); pensam que só
por muito azar se infectariam pelo vírus (optimismo realista) e tendem a crer que só
acontece aos outros (falsa unicidade).
Sendo os seropositivos (infectados ocultos) a maioria dos infectados (a OMS
acredita haver em Portugal 43 mil seropositivos); e como não se conhecem pelo aspecto,
SIDA
NET
41
como acreditam alguns dos sujeitos inquiridos, é imperioso que a informação se centre
nesta fase da doença e nas suas implicações para a sua propagação.
Há algumas crenças sobre os preservativos que podem contribuir para uma desatenção
para a prevenção. Consideram que os preservativos rompem o romantismo e têm custos
afectivos; têm vergonha de os trazer consigo; não consideram que estejam acessíveis ; são
caros e de difícil acesso, são frágeis, inseguros e ineficazes. Muitos jovens que se envolvem
em relações sexuais acreditam que os seu parceiro(a) não os colocariam em perigo; que
se conhecem as pessoas seropositivas pelo aspecto; quem tem um parceiro estável não
deve temer a doença; receiam que o seu parceiro(a) fique molestado(a) se recusar uma
relação sem preservativo.
Os meios de comunicação como fontes de informação para as famílias. A SIDA só começou
a ser noticia nos últimos 15/16 anos e os pais cresceram num época em que a SIDA não
existia. Se tivermos em consideração o nível baixo de escolaridade que possuem (menos
que a escolaridade obrigatória), não é previsível que possam estar devidamente informados.
Acreditamos que os conhecimentos que a maioria das famílias possui tenham como uma
das principais fontes os meios de comunicação de massas, principalmente a televisão.
Para muitas pessoas, os meios de comunicação (principalmente a televisão) são a única
fonte de informação. A televisão deve dirigir mensagens que informem (números de
telefone, locais onde podem obter mais informação), sensibilizem, motivem o envolvimento
familiar para estes temas, para que possam ser também veículos de informação. Embora
as campanhas na televisão possam ser eficazes para aumentar os conhecimentos e
sensibilizar para os problemas ( Orquídea Lopes, M., 2002ª); 2002 b; 2001) principalmente
para um público disperso e difuso, estas devem ser complementadas com outras formas
de comunicação e de actividades que envolvam as estruturas comunitárias e interpessoais.
Estes contactos são os mais indicados para temas sensíveis e que requeiram formação/
mudanças de comportamento complexos e a longo prazo.
As escolas e o papel dos professores. As escolas não possuem um programa de educação
sexual que permita aos alunos o acesso á informação. Os programas curriculares fazem
uma chamada de atenção para a doença ao nível do 8º ano do Ensino Básico ( 2º ciclo),
mas os professores carecem também eles de informações correctas, limitando - se a traduzir
os conhecimentos que constam do compêndio adoptado. Apenas pontualmente e recorrendo
a programas extra curriculares as escolas têm dirigido a sua atenção para a informação
sobre o problema da SIDA. Acreditamos também na necessidade de proporcionar
informação aos docentes para que se sintam mais ajustados á realidade da doença.
Programas de educação sexual. A escola deve também ser a geradora de informação/
formação, através da Educação Sexual, envolvendo a comunidade educativa na definição
das linhas gerais de um programa afectivo sexual. Este deve assentar em princípios e
valores que: informem; ensinem competências (skills); a formar e fortalecer a
personalidade; aprender a resistir ás pressões, em particular do grupo de iguais e, em
geral, do meio social e cultural em que vivem. Este programa deve iniciar - se aos 9/10
anos (e de forma continuada embora variando nas metodologias e estratégias), até aos
16/17 anos de idade (Orquídea Lopes, 2002)
Crenças sobre os programas de prevenção. Os indivíduos que têm crenças positivas com
SIDA
NET
42
os doentes de SIDA são de opinião de que os programas devem contribuir para educar a
conduta sexual dos jovens e motivar para mudar comportamentos; consideram ainda que
os programas são importantes porque favorecem a aquisição de conhecimentos que ajudam
a mudar comportamentos e atitudes; ajudam a reduzir medos e angústias e contribuem
para evitar a propagação. Os sujeitos que têm crenças negativas e erradas em relação á
doença e aos doentes de SIDA são de opinião de que os programas deveriam informar
apenas sobre as vias de contágio, embora acreditem que nunca dão resultado. Se a
crença é negativa em relação aos programas, a intenção de conduta é não acreditar e
aceitar as informações que veiculam.
É urgente mais e melhor informação, sem alarmismos e espectacularidade. Que ajude a
construir pessoas mais conscientes das suas misérias e grandezas. Uma sociedade
informada poderá viver com a SIDA, como uma ameaça compreendida, uma ameaça
criativa de novos valores. Só as pessoas bem informadas podem ser solidárias e tolerantes.
BIBLIOGRAFIA
BAUMAN, L., SIEGEL, K. (1987). Misperception among gay men of the risk for AIDS associated
with their sexual behavior. Journal of Applied Social Psychology, 17, 329 - 350.
BISHOP, G. D. (1991 b). Understanding the understanding of illness: lay disease representations. In J.
A. Skelton y R. T. Croyle (Eds.), Mental representation in health and illness. Nueva York,
Springer - Verlag.
BOCHOU, M. , CHIAROTTI, F.,DAVIES, P., et al. (1994). Sexual behaviour of gay and bisexual men
in eight European countries. AIDS Care, 6, 533 - 549.
BROWN, S. Y EISENBERG, L. (1995). The best intentions: unintended pregnancy and the well being
of children and families. Washington, DC: National Academy Press.
DICLEMENTE, R. (1990). Adolescents and AIDS: current research prevention strategies and policy
implications. In L. Temoshok y A. Baum (Eds.), Psychosocial Perspectives on AIDS. Hillsdale,
Nueva Jersey: LEA.
FISHBEIN, M. & AJZEN, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: an introduction to theory
and research. Reading, MA: Addison - Wesley.
HEREK, G. Y GLUNT, E. K. (1988). An epidemic of stigma. Public reactions to Aids. American
Psychologist, 43 (11), 886 - 891.
IGARTUA, J. E ORQUIDEA LOPES, M. (2001) Relevância pessoal e tipo de formato como
determinantes do impacto persuasivo em curtas metragens de ficção desenhadas para prevenir
a SIDA. Psicologia: Teoria, Investigação e Prática, 6 (2) , 329-345
IGARTUA, J. Y ORQUIDEA LOPES, M. (2002). La prevención del VIH/SIDA mediante cortos de
ficción. Una investigación experimental. ZER,. Revista de Estudios de Comunicación, Novembre,
13 http://www.ehu.es/zer/zer13/sida13.htm
IGARTUA, LIFEN CHEN, ORQUIDEA LOPES, M. ( Nov- Dec 2003) To Think or Not to ThinkTwo
Pathways Towards Persuasion by Short Films on Aids Prevention, Public Health Communication, V. 8(6).
LE POIRE, B. A. (1994). Attraction toward and nonverbal stigmatization of gay males and persons
with aids. Human Communications Research, 21 (2), 241 - 279.
LOEWENSTEIN, G. Y FURSTENBERG, F. (1991). Is teenager sexual behaviour rational? Journal
of Applied Social Psychology, 21, 12, 957 - 986.
MANN, J. M. (1993). We are all Berliners. Notes from the ninth international conference on AIDS.
American Journal of Public Health, 83, 1378 - 1379.
MCLEAN, J., BOULTON, M. et al, (1994). Regular partners and risk behaviour: why do gay men have
unprotected intercourse? AIDS Care, 6 (3), 331 - 341.
SIDA
NET
43
ORQUIDEA LOPES, M. (2003) As campanhas publicitárias de sida (spots) destinadas ao público
feminino. In A mulher e a infecção pelo HIV/SIDA. IV Congresso Virtual. Aidscongress.net.
Sidanet, 4,169-182.
ORQUIDEA LOPES,M. (2002). Contenidos y estructuras básicas elaboración de spots publicitarios
del SIDA heterosexual en campañas y programas informativos para menores. Tesis Doctoral.
(Prémio Extraordinário). Universidad Salamanca.
PÁEZ, D., ECHEVARRÍA, A., VALENCIA, J. , ROMO, I., SAN JUAN, C. Y VERGARA, A. (1991).
AIDS social representations: contents and processes. Journal of Community and Applied Social Psychology, 1, 89-104.
PIERRET, J. (1990). Evolution de la percepcion sociale des MST: une comparaison international. In
N. Job - Separa, B. Spencer, J. P. Moatti y E. Bouvet (Eds), Santé publique et maladies á
transmission sexuelle. Paris: John Libbey Eurotest.
ROBERTSON, J. A. & PLANT, M. A. (1988). Alcohol, Sex and risks of HIV infection. Drug and
Alcohol Dependence, 22, 75 – 78.
STALL, R., MCKUSICK, L., WILLEY, J., COATES, T. J. Y OSTROW, D. J. (1986). Alcohol and drug
use during sexual activity and compliance with safe Sex guidelines for AIDS: The AIDS behavioral research project. Health Education Quarterly, 13, 359 - 371.
SIDA
NET
44
ESTRATEGIS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA
EN ITS Y VIH/SIDA
Ramírez M A N - San Silvestre - Cuba
Introdução:
Las infecciones trasmitidas sexualmente (ITS) y el VIH/SIDA constituyen un
grave problema de salud a nivel mundial, nuestro país no está exento de esta problemática,
lo cual resulta preocupante si tenemos en cuenta que los adolescentes y adultos jóvenes
constituyen los grupos más vulnerables de padecer estas infecciones. (1)
Las ITS dependen más que ninguna otra epidemia actual del comportamiento
humano, es por eso que la prevención y la promoción de salud en esta esfera rebasa los
marcos de la salud para ser un problema y una responsabilidad de todos los sectores de
la sociedad. (2)
Los trabajadores de la salud y demás trabajadores de las ciencias sociales estamos
obligados a trabajar en la prevención de estas enfermedades, contribuyendo a elevar la
percepción del riesgo y modificando creencias, actitudes y conocimientos erróneos sobre
las ITS.
En los últimos años el municipio Manzanillo muestra una tendencia al incremento
en el número de casos de ITS y el VIH/SIDA, a pesar del subregistro que existe de
algunas de estas infecciones. El área de salud más afectada es la del policlínico “René
Vallejo” y dentro de ella la que corresponde al Consejo Popular ICP - Pesquera, es por
ello que la presente investigación tiene como objetivos:
Objectivo:
Objetivo General:
Diseñar una estrategia de intervención educativa en ITS y VIH/SIDA para el Consejo
Popular ICP - Pesquera.
SIDA
NET
45
Objetivos Específicos:
1. Evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre las ITS y el VIH/SIDA en la
población sexualmente activa del Consejo Popular ICP _ Pesquera.
2. Evaluar la percepción del riesgo acerca de las ITS y el VIH/SIDA en la población
objeto de estudio.
3. Diseñar estrategia con acciones de información, educación y comunicación en ITS y
VIH/SIDA.
Material e Métodos:
Se tomó una muestra al azar de 1360 personas de ambos sexos con las edades
comprendidas entre 15 y 49 años, representando dicha muestra el 20.1% de la población
total de estas edades seleccionadas. Que cumplían con los criterios de inclusión dados
por:
- Ser residente permanente en la comunidad.
- Estar en capacidad mental para responder a la encuesta.
El muestreo utilizado fue el aleatorio simple.
Se empleó un cuestionario que contiene 8 preguntas (abiertas y cerradas) cuyas respuestas
son únicas y de selección múltiple, que evalúan los conocimientos, actitudes y prácticas,
así como la percepción del riesgo de la población estudiada, acerca de las ITS y el VIH/
SIDA.
La aplicación se realizó de forma individual, con carácter anónimo por los profesionales
de la salud que conforman el equipo de investigación.
Para llegar a los resultados se aplicó el método de cálculo porcentual.
A partir de los resultados obtenidos en la evaluación se diseñó una estrategia de intervención
educativa que incluye acciones de información, educación y comunicación, así como sus
indicadores de ejecución o desarrollo e impacto.
Resultados:
Se encuestaron 1360 personas, 790 del sexo femenino (58.1%) y 570 del sexo
masculino (41.9%). Los grupos de edades más representados fueron el de 19 -24 años con
el 32% y el de 15 -19 años con el 26%, coincidiendo con los grupos de edades más
vulnerables de padecer estas infecciones.
El 100% de los encuestados refieren que las ITS y el VIH/SIDA se transmiten
por las relaciones sexuales y el 94% que se transmiten por transfusiones de sangre. El
SIDA
NET
46
16% no señala que el compartir agujas y jeringuillas es una vía de infección, el 15% no
hace referencia a la vía materna y el 18% incorporan otras vías por las cuales no se
transmiten estas infecciones.
Esto evidencia que la población estudiada conoce que la principal vía de
transmisión son las relaciones sexuales. No obstante, consideramos necesario que en la
estrategia de intervención educativa se enfatice en que el uso de agujas no esterilizadas
constituye una de las vías por las cuales se transmite la infección por VIH, teniendo en
cuenta que nuestros adolescentes y jóvenes llevan a cabo prácticas riesgosas, tales como,
la perforación de orejas para la colocación de aretes y la realización de tatuajes.
El 58% de la muestra cita correctamente dos formas de protegerse para no
contraer una ITS y el VIH/SIDA, el 30% cita una forma y el 12% de los encuestados no
nombra ninguna forma de protegerse.
Es importante señalar que el 100% de los que nombran al menos una forma de
protegerse señalan el uso del preservativo y más del 90% señalan la importancia de
tener una pareja estable. Llama la atención que el uso del preservativo sea la forma más
conocida por los adolescentes para evitar una de estas infecciones, por lo que las acciones
de prevención deben ir encaminadas a fomentar en este grupo de edad la práctica del
sexo más seguro, que no se refiere al sexo protegido usando el preservativo, sino a otras
formas de relacionarse sexualmente como besos, caricias, masajes, donde no se
intercambian fluidos corporales infectantes.
El 32.2% de los encuestados expresan que hacen uso del preservativo. De los
438 encuestados que usan el preservativos 175 son mujeres, lo que representa el 22.1%
de la población femenina encuestada y 263 son hombres, lo que representa el 46.1% de
la población masculina que fue objeto de estudio.
Llama la atención el escaso número de mujeres que se protegen en sus relaciones
sexuales, sobre todo si tenemos en cuenta que el riesgo de infección es de 2 a 4 veces más
alto para ellas que para el sexo masculino, lo que pudiera estar relacionado con la
permanencia en nuestra sociedad de prejuicios acerca del derecho que tiene la mujer de
proponer a su pareja el uso del preservativo.
Analizando las causas por las cuales el 67.8% de los encuestados no usan el
preservativo, encontramos que el sexo masculino expone como causa fundamental que no
le gusta, en tanto, el sexo femenino expresa que a su pareja no le gusta. Esto evidencia
una vez más, la situación de desventaja que tiene la mujer con respecto al otro sexo al
no sentirse con derecho a exigir la protección aún sabiendo el riesgo al que se expone.
El 89.2% de los encuestados refiere que el preservativo sirve para evitar las ITS
y el 87.4% considera que se usa para evitar los embarazos no deseados, el 24.8 refiere
que es molesto y el 23,6% plantea que no se siente igual.
Como se puede apreciar, aunque los encuestados reconocen la importancia del
preservativo para evitar las ITS, no hacen uso del mismo en su comportamiento sexual.
SIDA
NET
47
El 75,8% de los encuestados no se considera con posibilidades de contraer una
infección de transmisión sexual, alegan que pueden reconocer fácilmente a una persona
infectada (42.8%), que usan condón (40.4%), que se consideran estables (36.7%) y que
sólo tienen una pareja sexual (33,2%).
En cuanto a las personas que consideran con riesgo de contraer una ITS y el
VIH/SIDA, el 92% refieren que son los promiscuos, el 87% dicen que son las jineteras, el
83% manifestaron que son los homosexuales y sólo el 52.6% señalan que son las personas
que cambian con frecuencia de pareja y no se protegen.
Estrategia de intervención educativa
Esta estrategia tiene como objetivo desarrollar acciones de Información, Educación y
Comunicación (3) para promover prácticas sexuales saludables en la población de esta
comunidad.
Las acciones a desarrollar son las siguientes:
Información
- Informar a los decisores de la comunidad acerca de la situación epidemiológica de las
ITS y el VIH/SIDA en este Consejo Popular, para que participen activamente en la
solución de este problema de salud.
Educación.
- Capacitar a los médicos y enfermeras de la familia del área ICP - Pesquera en el
empleo de técnicas afectivo - participativas para contribuir al desarrollo de las actividades
del componente educativo del programa.
- Capacitar a los decisores en lo relacionado con la prevención de las ITS y el VIH/SIDA
para que se conviertan en multiplicadores de esta información.
- Identificar a los individuos con conducta sexual de riesgo y entrenarlos en la comunicación
de pares.
- Seleccionar algunos líderes informales de la comunidad y entrenarlos como promotores
de sexo seguro.
Comunicación.
- Intensificar la comunicación cara a cara entre el médico de familia y la comunidad
como vía más efectiva para propiciar la adopción de prácticas sexuales menos riesgosas.
- Realizar debates en cada una de las delegaciones de la FMC donde se aborden temas
relacionados con la autoestima y la comunicación asertiva, de manera que las mujeres
asuman el derecho a exigir protección y no dejen el uso del condón sólo a la iniciativa
del hombre.
- Potenciar el funcionamiento de los Círculos de Adolescentes en todos los consultorios de
SIDA
NET
48
la comunidad, para que los adolescentes tengan un espacio donde además de abordar
temas relacionados con la sexualidad, se realicen actividades recreativas que contribuyan
al disfrute sano de su tiempo libre.
- Coordinar con los promotores culturales del Consejo Popular para la realización y
presentación en los barrios de dramatizaciones que aborden el tema de la prevención de
las ITS y el VIH/SIDA, donde los pobladores no sean simples espectadores sino partícipes
de estas dramatizaciones.
- Utilizar los medios de comunicación masiva en la transmisión de mensajes educativos
relacionados con estas infecciones.
- Confeccionar materiales gráficos que refuercen la actividad educativa: murales, carteles
y afiches.
Control y evaluación de la estrategia.
Indicadores de ejecución o desarrollo:
- Materiales educativos producidos
- Programas radiales transmitidos
- Actividades educativas realizadas
- Círculos de adolescentes que se encuentran funcionando
Indicadores de impacto:
- Modificación de los conocimientos, actitudes y prácticas de la población del Consejo
Popular ICP - Pesquera en cuanto a ITS y VIH/SIDA.
- Modificación de la percepción del riesgo que tiene la población de contraer una infección
transmitida sexualmente.
El modo de ejercer el control y evaluación será el siguiente:
- Chequeo sistemático del cumplimiento de las acciones de la estrategia por parte del
equipo de investigación.
- Monitoreo de los mensajes transmitidos por los medios de comunicación local.
- Control sobre la producción y difusión de materiales educativos.
- Evaluación cualitativa (grupos focales) para conocer el impacto de las acciones
educativas en la población.
- Aplicación al concluir las acciones de la estrategia del cuestionario realizado al iniciar
esta investigación.
SIDA
NET
49
Conclusões:
1- La población estudiada conoce que la principal vía de transmisión de las ITS y el
VIH/SIDA son las relaciones sexuales y reconoce las ventajas del uso del preservativo
para evitar estas infecciones.
2- Sólo un escaso número de personas de la muestra estudiada utilizan el preservativo
para evitar las ITS y el VIH/SIDA, lo que coincide con la baja percepción del riesgo que
tiene esta población de contraer una de estas infecciones.
3- La evaluación de los conocimientos, actitudes y prácticas, así como la percepción del
riesgo de la población estudiada nos permitió diseñar la estrategia de intervención
educativa en ITS y VIH/SIDA con acciones de información, educación y comunicación.
SIDA
NET
50
UNIVERSIDADE SOLIDÁRIA E PREVENÇÃO ÀS IST’S/
AIDS: UMA INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL NO
ASSENTAMENTO RURAL
Araújo L F, Castanha A R, Benevides S C S - João Pessoa - Brasil
Introdução
Desde 1995, o Programa Nacional da UNISOL leva estudantes de todo o país a municípios
pobres das regiões Norte e Nordeste tradicionalmente as que mais concentram comunidades
de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no Brasil. Vale mencionar que, a
Universidade Solidária tornou-se uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP) em 2002 e mobiliza diferentes setores da sociedade e do Estado para trabalhar
em municípios pobres de todo país, visando colaborar para melhoria da qualidade de
vida de suas comunidades. Nas três semanas do trabalho de campo, que acontecem no
início e meio do ano, a equipe executa ações essencialmente educativas, por meio de
palestras, feiras e atividades voltadas ao desenvolvimento de áreas específicas da
comunidade. Entre os temas abordados estão saúde, educação, meio ambiente, cidadania
e organização comunitária.
O módulo Nacional envolve intercâmbio de conhecimento entre universitários de todo
país e comunidades pobres de todo Norte-Nordeste do Brasil. Neste sentido, a troca de
conhecimentos entre universidades e comunidades contribui para o fortalecimento da
responsabilidade social dos universitários e procura transformar o cotidiano da população.
Os estudantes desenvolvem uma valiosa experiência de vida e uma visão mais apurada
da realidade brasileira, ao mesmo tempo em que buscam, com a comunidade, soluções
locais para os problemas identificados contribuindo, assim, para seu desenvolvimento
sustentável (UNISOL, 2003).
O município de Pitimbu situa-se na microrregião do Litoral Sul, na Zona da Mata do
Estado da Paraíba, a cerca de 70 km da capital do Estado, João Pessoa. Possui 13.927
habitantes, dos quais, considerando a população maior de 10 anos, 6.666 (ou 63,20%)
são alfabetizados (IBGE 2002). Dos seus 3.302 domicílios, apenas 02 (dois) possuem
rede de esgotamento sanitário (ibidem).
SIDA
NET
51
Apesar de apresentar fortes elementos sugestivos de potencialidades de desenvolvimento
do turismo, a maior fonte de renda do município ainda é a pesca da lagosta, realizada,
porém, por embarcações de médio e grande porte, que empregam pescadores assalariados,
sobretudo no distrito de Acaú. A pesca artesanal, apesar de ser praticada por grande
número de pescadores, ainda se caracteriza por representar pouco mais que uma atividade
de subsistência, sendo o pescado excedente revendido para atravessadores, a preços
extrema e injustificadamente baixos. A situação das “marisqueiras”, mulheres catadoras
de mariscos, é muito parecida.
A Universidade Federal da Paraíba desenvolveu, em março de 2003, uma ação no município
de Pitimbu, no quadro do Programa “Universidade Solidária” (UNISOL – Módulo
Nacional), levando vários professores e técnicos, além de 12 alunos voluntários (dos
cursos de Nutrição, Administração, Educação Artística, Agronomia, Engenharia de
Alimentos, Pedagogia, Psicologia, Turismo, Serviço Social, e Agronomia), para ali
realizarem um conjunto de ações nas áreas de saúde bucal, educação nutricional,
conscientização, administração rural, cooperativismo e empreendedorismo, entre outras.
Posto isto, o presente trabalho versará apenas da intervenção psicossocial, tendo em
vista da sua importância na melhoria das condições de enfrentamento das questões
relacionadas a prevenção de DST’s e AIDS junto aos adolescentes, professores e pais
pertencentes as escolas rede pública Dos Assentamentos rurais.
Objetivos
Geral
Realizar uma intervenção psicossocial nas questões relacionadas à prevenção ao uso
indevido de drogas, as IST’s (Infecção Sexualmente Transmissíveis) e AIDS.
Específicos
Desenvolver ações de extensão para a cidadania e a inclusão social junto às comunidade
escolar (professores, alunos e família) no assentamento rural do município de Pitimbu/
PB, com vistas à implementação de instrumentos e mecanismos permanentes de
emancipação social;
Contribuir para a redução dos fenômenos de exploração sexual de jovens e adolescentes
nos assentamentos, graças à realização de oficinas voltadas para a cultura e auto-estima;
Realização da Tenda Solidária com intuito da prevenção as Doenças sexualmente
transmissíveis e AIDS.
SIDA
NET
52
Metodologia
Participaram deste projeto de extensão cerca de 100 pessoas distribuídas entre crianças,
adolescentes, professores e pais residentes na zona rural (13 assentamentos rurais) da
cidade de Pitimbú-PB, da rede pública de ensino fundamental e médio. Foram
desenvolvidas diversas atividades lúdicas/educativas, dinâmicas de grupo, feira de ciência
na escola, oficinas e a Tenda Solidária, tendo como enfoque principal às questões
relacionadas às drogas e sexualidade. Foram utilizadas metodologias participativas em
que se priorizaram: vivências, aulas dialogadas, oficinas pedagógicas, reuniões de
planejamento e avaliação, projeção e produção de recursos audiovisuais, bem como
oficinas de conscientização e sobre sexualidade infanto-juvenil.
Utilizou-se também, mecanismos e instrumentalização da transversalidade típicos da
Educação Sexual, tais como palestras, dinâmicas de grupo, exibição de vídeos e
teatralização com fantoches e para uma correlação mais objetiva entre as questões da
educação e prevenção em saúde como fenômeno biopsicossocial, e sócio- cultural.
Resultados e Discussão
Denotou-se a formação de multiplicadores de informações de prevenção e promoção em
saúde (Drogas e Sexualidade), bem como o despertar da importância da participação
cidadã em projetos de intervenção comunitária. É oportuno lembrar que os relatórios e
os diagnósticos resultantes da ação da UFPB em Pitimbu no âmbito do Programa
Universidade Solidária (março 2003 – cf., infra, 10.2 – “Histórico”), apontaram um
quadro extremamente preocupante de prostituição e exploração sexual de crianças e
adolescentes. Os integrantes da equipe, inclusive, ao final da experiência, recomendaram
a implementação de ações voltadas para esse aspecto crítico do panorama social do
município. De resto, os marcos referenciais e os documentos elaborados pelas Áreas
Temáticas do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras
têm enfatizado a necessidade e a relevância de ações voltadas para a proteção integral
à criança e ao adolescente, com especial referência à questão da exploração sexual e
para o combate integrado às DST’s.
Neste sentido, denotou-se a necessidade de atividades permanentes que permitam aos
adolescentes, crianças e adultos um conhecimento compartilhado acerca da prevenção e
promoção em saúde, no que tange as doenças sexualmente transmissíveis, posto que
comumente estas atividades são realizadas na comunidade de forma esporádica, não
havendo uma continuidade e acompanhamento permanente da intervenção.
Conclusões
Este projetou veio corroborar a importância da UNISOL, no sentido de possibilitar aos
estudantes universitários seu compromisso social com o intuito de amenizar a exclusão
social e sua vivência na prática profissional/pessoal em comunidades com vulnerabilidades
sociais.
SIDA
NET
53
O fomento de projetos interdisciplinares que veiculem o intercâmbio de experiências,
entre estudantes e a comunidade, devem ser incentivados e propiciados espaços para
superação de dificuldades e limitações operacionais das equipes envolvidas e a comunidade
alvo.
Aponta-se também, a relevância de ações de intervenção de impacto positivo a promoção
de saúde, resgate histórico-cultural, geração de emprego e renda desenvolvendo meios
sustentáveis que permitam a comunidade com seus próprios passos a sua renda familiar.
Desta forma, a experiência na Universidade Solidária nos possibilitou o encontro com a
realidade social, econômica e cultural de uma cidade que dispõem de vastos recursos
que com o incentivo e apoio, sobretudo, dos poderes públicos locais podem desenvolve-los
para amenizar os problemas sociais ali existentes.
Ao mesmo tempo em que se percebe pessoas com potencial fantástico no que concerne a
solidariedade e hospitalidade para com a equipe do UNISOL, também é percebido pessoasjovens sem nenhuma, ou quase nenhuma perspectiva de futuro, de dias melhores, pois a
falta de motivação para tal é flagrante.
Então, percebeu-se que com a estada da equipe do Unisol, despertou em muitos jovens a
possibilidade de perspectivas futuras, bem como da importância da promoção em saúde
e da prevenção no que tange as doenças sexualmente transmissíveis e AIDS.
Sugere-se o fomento de Projetos interdisciplinares que veiculem o intercâmbio de
experiências entre profissionais e estudantes entre a academia e a comunidade, devem
ser incentivados e propiciado espaço para superação de dificuldades e limitações
operacionais das equipes envolvidas e a comunidade alvo.
Evidenciado também por meios midiáticos, e difundido não somente no meio acadêmico,
existe de fato, uma grande relevância na organização de grupos de jovens da comunidade,
no qual possa-se desenvolver atividades para esta categoria social, e que, reflita a
realidade biopsicossocial na qual está inserida.
Aponta-se também, a relevância de ações de intervenção de impacto positivo a sexualidade
humana como mediação formadora de atitudes pró-educativas entre categorias sociais,
na qual os atores sociais, cidadão consciente, portanto, em colaborar com esforços para
a promoção e inclusão social sem preconceito ou distinção de categorias.
SIDA
NET
54
Referências Bibliográficas.
AMÂNCIO FILHO, A. (org.): Saúde, Trabalho e Formação Profissional. Rio de Janeiro: Fio Cruz,
1997.
AUGE, A.P.F ,bJUNQUEIRA, L.A.P: Qualidade dos serviços de saúde e satisfação do usuário. Cadernos
Fundap – Qualidade em Saúde nº19. São Paulo. jan/abr, 1996. 59- 78p.
FOUCAULT, M. História da sexualidade Rio de Janeiro: Graal, 1998.
GEERTZ, C.. O saber local: Novos ensaios em Antropologia interpretativa. Petrópolis: Vozes, 1999.
GUIMARÃES, R.,TAVARES,R. (org). Saúde e Sociedade no Brasil: anos 80. Rio de Janeiro: Relume
Dumorá,1994.
NOGUEIRA, R.P. Perspectivas de Qualidade em saúde. São Paulo: Quality Mark,1994.
OLIVEIRA, J. B. de. Pitimbu e seu passado. Rio de janeiro: Alves Pereira, 1998.
PARA’IWA: http://www.paraiwa.org.br/AssentamentosdePitimbu/ (acesso em 01 de agosto de 2003).
UNISOL - Guia de Referência para Ações do Unisol. Brasília-DF, 2003.
WEREB, M.G. Sexualidade, política e educação. Campinas: Autores associados, 1988.
SIDA
NET
55
SIDA
NET
56
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA AIDS: UM ESTUDO
COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE IPOJUCA-PE, BRASIL
Castanha A R, Araújo L F - João Pessoa - Brasil
RESUMO
Observa-se atualmente no Brasil quatro tendências principais que reorientam o curso da
aids: Feminilização, Heterossexualização, Interiorização e Pauperização. Essas tendências
levaram ao Ministério da Saúde a determinar que os trabalhadores da área de saúde
pública, dentre eles os Agentes Comunitários de Saúde (ACS’s), devem atuar da maneira
mais adequada no sentido de promover a reflexão sobre a realidade da epidemia, realizando
assim um trabalho eficiente de prevenção e assistência aos portadores de DST e do HIV/
aids.O agente comunitário de saúde (ACS) deve trabalhar com famílias de base geográfica
definida.Ele é responsável pelo acompanhamento de, no máximo, 150 famílias ou 750
pessoas, e precisa morar, há pelo menos dois anos, na área onde desempenha suas
atividades.Essa pesquisa teve como objetivo apreender as Representações Sociais da
AIDS por parte dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS’s) do Município de Ipojuca-PE
e foi subsidiada pela Teoria das Representações Sociais (TRS) uma vez que, esta permite
apreender uma riqueza de elementos figurativos do tipo: cognitivo, ideológicos, normativos,
crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens, entre outros.A presente pesquisa foi
desenvolvida com equipe de Agentes Comunitários de Saúde pertencente à Secretária de
Saúde do Município de Ipojuca-PE, localizado na região nordeste do Brasil. Participaram
desta pesquisa 40 Agentes Comunitários de Saúde, escolhidos aleatoriamente.Utilizouse como instrumento para coleta dos dados da pesquisa a técnica de Associação Livre de
Palavras. Esta é uma técnica bastante difundida no âmbito da Psicologia Social,
principalmente quando se trabalha com o suporte teórico/metodológico das Representações
Sociais (RS).
Inicialmente solicitou-se a autorização da coordenação do Programa Saúde da Família
da Secretária de Saúde do Município de Ipojuca-PE objetivando a realização da pesquisa,
bem como aos respectivos ACS’s. Em seguida houve apresentação dos pesquisadores aos
SIDA
NET
57
grupos, no qual explicitou-se os objetivos da pesquisa, e posteriormente iniciou-se a
aplicação do instrumento de forma individual devido às características dessa população.Os
dados coletados foram processados pelo software Tri-Deux-Mots (Cibois, 1998) versão
2.2, que permite a visualização gráfica tanto das variáveis fixas (sexo, idade e estado
civil), bem como as variáveis de (opinião, crenças, estereótipos, enfim, o conhecimento
prático, enunciado pelos participantes frente aos estímulos indutores) e analisados através
da Análise Fatorial de Correspondência (AFC). Os resultados coletados por meio do teste
de associação livre de palavras, enquanto instrumento de apreensão de significados do
conhecimento prático, possibilitou, juntamente com as variáveis fixas, a emersão de
campos semânticos sobre a AIDS. Os atores sociais do gênero feminino objetivaram a
Aids como uma doença que coloca em risco a questão da vida dos soropositivos para o
HIV, sendo necessário atitudes de prevenção com a utilização da camisinha entre os(as)
parceiros(as) nas relações sexuais.Enquanto os ACS’s do gênero masculino objetivaram
as representações sociais da Aids em atitudes de medo e cuidados para com esta doença.
Isto provavelmente deve-se ao fato dos mesmos serem agentes que em sua prática profissional
lidam com a prevenção e promoção em saúde, de modo que atitudes preventivas são
salutares nas relações sexuais e utilização de drogas injetáveis. Denota-se também que,
os ACS’s de ambos os sexos que compreendem a faixa etária de 28-32 representaram que
a infecção com a Aids pode ser através do sexo e das drogas. Assim, faz-se necessário
amor consigo próprio, no sentido da prevenção da Aids.Verificou-se através desse estudo,
a partir das Representações Sociais dos agentes acerca da AIDS ao objetivar a mesma
em atitudes de medo e cuidados para com essa doença, a necessidade de se trabalhar o
preconceito relacionado ao portador do vírus HIV, derivados do medo e do desconhecimento
com relação a AIDS, ou ainda advindos de razões religiosas ou morais (dependendo de
como a contaminação se deu), que podem dificultar ou até mesmo impedir o acesso dos
ACS’s, comprometendo sua intervenção na comunidade. O ACS, por ser um morador da
comunidade, representa uma riqueza de possibilidades pois conhece as pessoas a quem
atende, fala a mesma língua, passa por situações parecidas, divide crenças semelhantes.
Uma orientação levada por um cidadão nestas condições oferece credibilidade que
dificilmente as palavras de um técnico da saúde atingiria.
Palavras-chave: Agentes de Saúde, AIDS, Representações Sociais.
Introdução
Observa-se atualmente no Brasil quatro tendências principais que reorientam o curso da
aids: Feminilização, Heterossexualização, Interiorização e Pauperização. A aids não
está distribuída entre a população de maneira uniforme, o que coloca diante dos
profissionais de saúde a responsabilidade pela identificação das mais diversas vias de
transmissão do vírus, assim como de outras doenças sexualmente transmissíveis (DST).
Nesse sentido o Ministério da Saúde (2000), coloca que os trabalhadores da área de
saúde pública, dentre eles os Agentes Comunitários de Saúde (ACS’s), devem atuar da
maneira mais adequada no sentido de promover a reflexão sobre a realidade da epidemia,
realizando assim um trabalho eficiente de prevenção e assistência aos portadores de DST
e do HIV/aids. Essa consciência é fundamental para se evitar a infecção e controlar as
SIDA
NET
58
DST e a aids.
O agente comunitário de saúde (ACS) deve trabalhar com famílias de base geográfica
definida.Ele é responsável pelo acompanhamento de, no máximo, 150 famílias ou 750
pessoas, e precisa morar, há pelo menos dois anos, na área onde desempenha suas atividades.
O agente desenvolve atividades de prevenção das doenças e promoção da saúde, através
de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na
comunidade.
Dentro dessa perspectiva, os Agentes Comunitários de Saúde tem como um de seus deveres
orientar e aconselhar as famílias sobre a verdadeira dimensão da epidemia de aids e as
suas conseqüências, desmistificando a doença e ensinando as pessoas a cuidarem e
preservarem a sua saúde, como também identificar as verdadeiras situações que as
colocariam em risco de contrair o vírus; e, em caso de necessidade, encaminhar os
indivíduos para um atendimento mais especializado nos serviços da rede pública de
saúde. Sempre respeitando os princípios e valores sociais e culturais do cidadão, entre
eles o uso da linguagem correta e acessível no oferecimento de uma informação objetiva,
clara e honesta; em resumo, educativa e eficaz.
Teoria das Representações Sociais: perspectivas atuais.
A história das representações sociais insere-se na inter-relação entre atores sociais, o
fenômeno e o contexto que os rodeia. São constituídas por processos sócio-cognitivos, têm
implicações na vida cotidiana, influenciando a comunicação e os comportamentos. Desta
forma a representação pode ser considerada como um sistema de interpretações da
realidade, organizando as relações dos indivíduos com o mundo e orientando suas condutas
e comportamento no meio social.
Para compreender melhor o funcionamento do comportamento humano, e o modo como os
atores sociais se agrupam, deve-se considerar conjuntamente os afetos, as condutas, a
organização, a sistematização de como eles compartilham crenças, atitudes, valores,
perspectivas futuras e experiências sociais (Moscovici, 2003).
Assim, a representação social da AIDS, que faz parte do cotidiano social, recebe
significados de acordo com os grupos de pertença e do contexto social no qual se encontram
inseridos. Além disso, esses significados são resultantes da interação entre o senso comum
e o conhecimento erudito, no qual existe uma relação de influência mútua e permanente
entre estes dois universos, resultando numa diversidade de significados que circulam,
através dos meios de comunicação formais e informais, assimilados e re-elaborados
socialmente.
Esta visão coletiva em que a representação social é vista como um processo público de
criação, elaboração, difusão e mudança do conhecimento compartilhado no discurso
cotidiano dos grupos sociais (Doise, 1990; Jodelet, 2001; Moscovici, 2003) é que foi
utilizada no desenvolvimento deste estudo, em que a “representação social é compreendida
como a elaboração de um objeto social pela comunidade com o propósito de conduzir-se
SIDA
NET
59
e comunicar-se” (Moscovici, p.251).
Na elaboração das RS, faz-se necessária a contribuição de dois fatores: a objetivação e
a ancoragem, os quais são responsáveis pela interpretação e atribuição de significados
do objeto social, neste estudo a AIDS. Para Moscovici, esses fatores são condições sine
qua non, pois ambos colaboram na maneira como o social transforma um conhecimento
em representação e a maneira como esta transforma o social, indicando a interdependência
entre a atividade psicológica e suas condições sociais.
A objetivação transforma uma abstração em algo concreto, é responsável pela aproximação
do que é estranho em familiar. É por meio desse processo que os elementos adquirem
materialidade e se tornam expressões de uma realidade vista como natural. A ancoragem
é o processo da inserção de um conhecimento enquanto quadro de referência, a partir de
experiências e esquemas de pensamentos já estabelecidos sobre o objeto em estudo.
Objetivo
Essa pesquisa teve como objetivo apreender as Representações Sociais da AIDS por
parte dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS’s) do Município de Ipojuca-PE e foi
subsidiada pela Teoria das Representações Sociais (TRS) uma vez que, esta permite
apreender uma riqueza de elementos figurativos do tipo: cognitivo, ideológicos, normativos,
crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens, entre outros.
Apreender as RS desses atores sociais se faz por demais necessário pois estas irão reger
a relação destes com o mundo e com os outros, orientando e organizando as condutas e as
comunicações sociais, influenciando diretamente no seu papel preventivo junto à
comunidade.
Método
Campo de Investigação
A presente pesquisa foi desenvolvida com equipe de Agentes Comunitários de Saúde
pertencente à Secretária de Saúde do Município de Ipojuca-PE, localizado na região
nordeste do Brasil.
Participantes
Participaram desta pesquisa 40 Agentes Comunitários de Saúde, escolhidos
aleatoriamente, de ambos os sexos (13% masculino e 87% feminino), com média de idade
de 25 anos, tendo em vista a randomização da amostra optou-se por não considerar as
diferenças de gênero e idades na estruturação dos grupos.
SIDA
NET
60
Instrumento
Utilizou-se como instrumento para coleta dos dados da pesquisa a técnica de Associação
Livre de Palavras. Esta é uma técnica bastante difundida no âmbito da Psicologia Social, principalmente quando se trabalha com o suporte teórico/metodológico das
Representações Sociais (RS), uma vez que possibilita acesso aos conteúdos periféricos e
latentes (Di Giacomo,1981; Le Boudec,1984; De Rosa,1988; Nóbrega, 2001; Albuquerque,
2003; Barros, 2004).
De acordo com Nóbrega (2001), essa técnica projetiva possibilita acesso aos conteúdos
formadores de RS, sem que ocorra a filtragem da censura a sua evocação. Como também,
é um instrumento que se apóia sobre um repertório conceitual, com isso, permite a
unificação dos universos semânticos e a saliência de universos de palavras comuns face
ao estímulo indutor utilizado na pesquisa.
Neste estudo foi utilizado um estímulo indutor: AIDS; previamente definido tendo como
pressuposto o objeto investigado, bem como os atores sociais que fazem parte da amostra
(Agentes Comunitários de Saúde). É válido mencionar que na presente pesquisa
convencionou-se o tempo máximo de 01 (um) minuto para evocação das palavras associadas
ao estímulo indutor, perfilando 01 minuto por cada participante para responder o teste
de associação livre de palavras.
Procedimentos
Inicialmente solicitou-se a autorização da coordenação do Programa Saúde da Família
da Secretária de Saúde do Município de Ipojuca-PE objetivando a realização da pesquisa,
bem como aos respectivos ACS’s.
Em seguida houve apresentação dos pesquisadores aos grupos, no qual explicitou-se os
objetivos da pesquisa, e posteriormente iniciou-se a aplicação do instrumento de forma
individual devido às características dessa população.
Antes da aplicação do estímulo já mencionado, foi feita uma simulação utilizando um
exemplo, com intuito de familiarizar o participante acerca da funcionalidade do
instrumento. Em seguida foi apresentado o estímulo indutor, seguindo a questão, “o que
lhe vem à mente (cabeça) quando digo a palavra AIDS?” Fale as primeiras palavras
que para o Sr (a) lembra a AIDS.
Os dados coletados foram processados pelo software Tri-Deux-Mots (Cibois, 1998) versão
2.2, que permite a visualização gráfica tanto das variáveis fixas (sexo, idade e estado
civil), bem como as variáveis de (opinião, crenças, estereótipos, enfim, o conhecimento
prático, enunciado pelos participantes frente aos estímulos indutores) e analisados através
da Análise Fatorial de Correspondência (AFC).
SIDA
NET
61
Resultados e Discussão
Os resultados coletados por meio do teste de associação livre de palavras, enquanto
instrumento de apreensão de significados do conhecimento prático, possibilitou, juntamente
com as variáveis fixas, a emersão de campos semânticos sobre a AIDS, conforme pode ser
observado no plano fatorial, através dos dois fatores nele contemplados (F1 e F2).
Os dados apresentados no Gráfico 1 correspondem às representações sociais da AIDS sob
a ótica dos atores sociais que participaram desta pesquisa (ACS’s), que se encontram
interligadas nos dois fatores F1 e F2.
No fator 1 (F1) na linha horizontal, em negrito, concerne ao fator de maior poder explicativo
com 46% da variância total das respostas. No que tange ao fator 2 (F2), na linha vertical, em itálico, possui 28% da variância total das respostas. Na totalidade, os dois
fatores têm poder explicativo de 74% de significância, portanto, possui parâmetros
estatísticos com consistência interna e fidedignidade, tendo em vista pesquisas realizadas
no âmbito das RS (Nóbrega , 2001; Coutinho, 2001).
Na parte horizontal esquerda do gráfico 1, encontra-se o campo semântico das R. S. da
AIDS (Estímulo1) elaborado pelos ACS’s. Pode-se perceber que os atores sociais do gênero
feminino objetivaram a Aids como uma doença que coloca em risco a questão da vida
dos soropositivos para o HIV, sendo necessário atitudes de prevenção com a utilização da
camisinha entre os(as) parceiros(as) nas relações sexuais.
SIDA
NET
62
Enquanto os ACS’s do gênero masculino objetivaram as representações sociais da Aids
em atitudes de medo e cuidados para com esta doença. Isto provavelmente deve-se ao
fato dos mesmos serem agentes que em sua prática profissional lidam com a prevenção e
promoção em saúde, de modo que atitudes preventivas são salutares nas relações sexuais
e utilização de drogas injetáveis.
Denota-se também que, os ACS’s de ambos os sexos que compreendem a faixa etária de
28-32 representaram que a infecção com a Aids pode ser através do sexo e das drogas.
Assim, faz-se necessário amor consigo próprio, no sentido da prevenção da Aids.
Em síntese, os dados apreendidos entre os ACS’s acerca da Aids são permeados de
conhecimentos do senso comum que intercalam com o erudito, de modo que a prática
enquanto multiplicador de atitudes preventivas faz-se presente no conhecimento elaborado
e compartilhado por este grupo de pertença.
Conclusões
Os Agentes Comunitários de Saúde desenvolvem atividades de prevenção das doenças e
promoção da saúde, através de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e
na comunidade.
Nesse sentido, faz-se necessário treinar esses agentes, capacitando-os em DST/AIDS,
para que estes orientem, detectem populações de risco, encaminhem para testagem,
conscientizem para a importância do uso dos insumos de prevenção, e a partir deste
trabalho provoquem a diminuição da disseminação das DST/AIDS no Município.
Verificou-se através desse estudo, a partir das Representações Sociais dos agentes acerca
da AIDS ao objetivar a mesma em atitudes de medo e cuidados para com essa doença, a
necessidade de se trabalhar o preconceito relacionado ao portador do vírus HIV, derivados
do medo e do desconhecimento com relação a AIDS, ou ainda advindos de razões religiosas
ou morais (dependendo de como a contaminação se deu), que podem dificultar ou até
mesmo impedir o acesso dos ACS’s, comprometendo sua intervenção na comunidade.
O ACS, por ser um morador da comunidade, representa uma riqueza de possibilidades
pois conhece as pessoas a quem atende, fala a mesma língua, passa por situações parecidas,
divide crenças semelhantes. Uma orientação levada por um cidadão nestas condições
oferece credibilidade que dificilmente as palavras de um técnico da saúde atingiria.
SIDA
NET
63
Referências Bibliográficas
Albuquerque, A. X. de (2003). Representações Sociais de adolescentes grávidas face a questão da
gravidez na adolescência. Dissertação de Mestrado em Psicologia Social (Não-Publicada),
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa-PB.
Barros, D. R. (2004). Representações Sociais de profissionais das áreas de humanas e da saúde acerca
do alcoolismo. Dissertação de Mestrado em Psicologia Social (Não-Publicada), Universidade
Federal da Paraíba, João Pessoa-PB.
Cibois, Philip. (1998). L’analyse factorielle. Paris: PUF, Collecion “Que sais-je?”.
Coutinho, M. P.L. (2001). Depressão Infantil: uma abordagem psicossocial. João Pessoa-PB, EdUFPB.
De Rosa, A S. (1988). Sur l’usage des associaations libres dans l’étude des représentations sociales de
la maladie mentale. Connexions,51, Rome:Université de Rome.
Di Giacomo, J. P. (1981). Aspects méthodologiques de l’analyse des répresentations sociales. Cahiers
de Psychologie Cognitive, 1(1):397-422.
Doise, W. (1990). Les représentations sociales. Em: Ghiglione, R.; Bonnet, C.& Richard; J. F.(Eds.).
Traité de Psychologie Cognitive, 3:190-198.
Jodelet, D. (2001). Representações Sociais: fenômeno, conceito e teoria. Paris: Presses Universitares
de France.
Le Boudec, G. (1984). Contribuition à la méthodologie d’étude des représentations sociales. Cahiers de
Psycologie Cognitive, 4:245-272.
Moscovici, S. (2003). A Representação Social da Psicanálise Rio de Janeiro: Zahar.
Ministério da Saúde (2000). Programa Agentes Comunitário de Saúde/Ministério da Saúde, Secretaria
Executiva – Brasília.
Nóbrega, S.M. (2001).Sobre a teoria das representações sociais. Em: Moreira, A. S.P. (org).
Representações Sociais. Teoria e Prática (pp 55-87). João Pessoa: Editora Universitária
SIDA
NET
64
EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇÃO E
SAÚDE PÚBLICA
SIDA
NET
65
SIDA
NET
66
CO INFECÇÃO HIV E HEPATITES VIRAIS
EM USUÁRIOS DE DROGAS E SEUS PARCEIROS(AS) CLIENTES
DE UM PROGRAMA DE REDUÇÃO DE DANOS
Lima A M A, Gomes J A - Rio de Janeiro - Brasil
Este relatório apresenta o levantamento dos dados sócio-demográficos realizado junto à
clientela do Projeto Redução de Danos na Linha que tem apoio do Programa Nacional de
DST DST/Aids MS e UNESCO.
Até o ano de 2003 o Projeto Redução de Danos na Linha cadastrou 352 pessoas, auto
declaradas usuárias de drogas para o recebimento de preservativos masculinos, através
do preenchimento de uma ficha cadastral que podia ou não ser respondida pelo usuário.
Nesta ficha além dos dados cadastrais, levantou-se dados sócio-demográficos, fez-se
algumas perguntas referentes ao uso do preservativo, perguntas sobre o uso de métodos
anticoncepcionais, pediu-se informações quanto a ocorrência de DSTs, AIDS e Hepatites
Virais.
Não se pesquisou padrões de consumo de drogas entre os usuários, pois a princípio os
redutores de danos do projeto estavam achando difícil abordar as pessoas e aplicar um
questionário sobre padrão de consumo. O mesmo motivo fez com que não se investigasse
em profundidade os comportamentos de risco para as DSTs, AIDS e Hepatites Virais.
Cadastrou-se usuários de todas as Áreas Programáticas de Saúde (AP) da cidade do Rio
de Janeiro, com maior concentração na AP4 e AP3 (Grande Méier, Grande Madureira e
Jacarepaguá).
Segundo o relatório dos redutores de danos que atuam no projeto não há consumo de
drogas injetáveis entre os cadastrados das áreas em que atuaram e as drogas mais
consumidas foram álcool, tabaco, maconha e cocaína. Pretende-se na próxima etapa do
projeto realizar investigação sobre padrões de uso e comportamentos de riscos para as
DSTs, AIDS e Hepatites Virais.
Os redutores de danos do projeto apontaram que há muita resistência por parte dos
cadastrados para procurar serviços de testagem para o HIV e Hepatites virais.
SIDA
NET
67
Das 352 pessoas cadastradas, 299 são do sexo masculino (85%) e 53 do sexo feminino
(15%). Essa distribuição, com tão elevada predominância do sexo masculino, deve-se
não só ao fato do uso de drogas entre indivíduos do sexo masculino ser maior do que entre
do sexo feminino, mas principalmente ao local de abordagem, os redutores de danos do
projeto Redução de Danos na Linha abordaram as pessoas em bares, ruas, bocas de
fumo, colégios. Além disso, a equipe de redutores que atua no projeto é composta de três
homens e uma mulher. A redutora aborda a clientela que vai expontaneamente à nossa
sede situada no bairro do Engenho de Dentro (AP3.2).
DISTRIBUIÇÃO POR SEXO:
Com relação à faixa etária abordamos usuários da faixa entre 10-14 anos (07 indivíduos
- 1,98%) até a faixa 70-75 anos (01 indivíduo - 0,28%). A principal faixa etária da
clientela do projeto situa-se na faixa dos 15 aos 39 anos, compreendendo 281 indivíduos
e 79,5% do total de cadastrados. A faixa etária com maior concentração de cadastrados
é a dos 20 aos 24 anos, com 89 indivíduos, 25,28% dos cadastrados. O número de
cadastrados é menor a partir da faixa 50-54 anos.
SIDA
NET
68
A cor foi auto declarada. Do total dos cadastrados no projeto, se declararam de cor
branca 211 indivíduos, correspondendo a 59,9% do total; declararam ser de cor parda
90 indivíduos, 25,5%; declararam ser de cor negra, 51 indivíduos, 14,5%. Nenhum
indivíduo se declarou de cor amarela.
Quanto ao estado civil, 270 indivíduos informaram ser solteiros (76,70%), informaram
ser casados 66 indivíduos (18,75%). Os separados, os desquitados e os divorciados, somam
13 indivíduos (3,69%). Três indivíduos informaram ser viúvos (0,85%). Nenhum indivíduo
relatou viver no regime de união estável.
Quanto à nacionalidade todos os indivíduos cadastrados se declararam brasileiros.
Quanto à naturalidade 338 indivíduos (96%) se declararam nascidos no Estado do Rio de
Janeiro. Natural do Estado de Minas Gerais: 04 indivíduos (1,1%). Natural do Estado
da Bahia, 02 indivíduos (0,59%). Natural do Estado do Ceará, 02 indivíduos (0,59%).
Natural do Estado de Pernambuco, 02 indivíduos (0,59%). Natural do Estado do Espírito
SIDA
NET
69
Santo, 01 indivíduo (0,29%). Natural do Estado de São Paulo, 01 indivíduo (0,29%).
Natural do Estado da Paraíba, 01 indivíduo (0,29%). Natural do Distrito Federal, 01
indivíduo (0,29%).
Quanto à escolaridade não há analfabetos entre os cadastrados. De outro lado 11 somente
indivíduos (3,1%) concluíram o terceiro grau e não há nenhum indivíduo com pósgraduação entre os cadastrados. Quanto ao primeiro grau 88 indivíduos não o completaram
(25%) e 45 indivíduos o completaram (12,7%). Com relação ao segundo grau 74 indivíduos
(21%) não o completaram e 88 indivíduos o completaram (25%). Vinte indivíduos não
concluíram o terceiro grau (5,6%).
Quanto à situação de emprego 199 indivíduos estão empregados (56,53%) e 153 estão
desempregados (43,46%).
Quanto à profissão ou atividade, 74 indivíduos (21%) declararam não ter profissão, 48
disseram ser estudantes (13,63%), 9 indivíduos (2,55%) declararam estar aposentados, 4
indivíduos (1,13%) declararam ser do lar, 67 indivíduos (19,03%) declararam trabalhar
em atividades do setor de comércio, 129 indivíduos (36,64%) declararam realizar
atividades do setor de serviços, 5 indivíduos (1,42%) declararam trabalhar no setor de
construção civil, 7 indivíduos (1,98%) declararam trabalhar no setor de indústria, 8
indivíduos (2,27%) declararam trabalhar como militar, 1 indivíduo (0,28%) declarou ser
profissional liberal.
Quanto à religião 51 indivíduos não responderam (14,48%), 231 indivíduos se disseram
católicos (65,6%), evangélicos 26 indivíduos (7,38%), 17 indivíduos se declaram sem
religião, 13 indivíduos se disseram espíritas (3,69%), 8 indivíduos disseram ser ateus
(2,27%) e somente um judeu (0,28%) e um budista (0,28%).
Todos os indivíduos cadastrados residem no Estado do Rio de Janeiro.
Com relação a cidade de residência somente 8 indivíduos (2,27%) não forneceram
informação, 329 (93,46%) indivíduos residem na cidade do Rio de Janeiro, os demais
residem no Grande Rio: Sete (1,98%) residem em Paracambi, quatro (1,13%) residem na
cidade de Nilópolis, um indivíduo (0,28%) reside em Itaguaí, um indivíduo(0,28%) reside em Itaboraí, um indivíduo (0,28%) reside na cidade de Belford Roxo e um
indivíduo(0,28%) reside na cidade de Mesquita.
Quanto aos residentes na cidade do Rio de Janeiro, 153 (46,5%) indivíduos residem na
Área Programática de Saúde 3.2 (AP 3.2), 102 (31,0%) indivíduos residem na Área
Programática de Saúde 4 (AP 4), 26 (7,9%) indivíduos residem na Área Programática
de Saúde 3.3 (AP 3.3), 21 (6,38%) indivíduos residem na Área Programática de Saúde
5.2 (AP 5.2), 9 (2,73%) indivíduos residem na Área Programática de Saúde 5.1 (AP
5.1), 8 (2,43%) indivíduos residem na Área Programática de Saúde 1 (AP 1), 5 (1,51%)
indivíduos residem na Área Programática de Saúde 2.1 (AP 2.1), 3 (0,91%) indivíduos
residem na Área Programática de Saúde 3.1 (AP 3.1), um (0,30%) indivíduo residem na
Área Programática de Saúde 2.2 (AP 2.2) e um (0,30%) indivíduo residem na Área
Programática de Saúde 5.3(AP 5.3). Assim as maiores concentrações de cadastrados
SIDA
NET
70
encontram-se nas Áreas Programáticas de saúde 3 e 4 (Grande Méier, Grande Madureira
e Jacarepaguá).
Quanto ao uso em algum momento de preservativo masculino, 330 (93,75%) indivíduos
afirmaram já ter feito uso e somente 22 (6,25%) afirmaram não ter feito uso. Quanto ao
uso do preservativo após o cadastramento 237 (67,32%) indivíduos renovaram sua cota
de preservativos mensalmente e 115 (32,67%) não o fizeram. Isso pode estar refletindo a
saída do projeto de um dos redutores por ter apresentado recaída no uso de drogas e a
dificuldade de conviver com usuários ativos.
Quanto ao uso de métodos de anticoncepção, somente 4 pessoas não informaram. Dos 348
que responderam 332 (95,40%) afirmaram não fazer uso de qualquer método de
anticoncepção e somente 16 (4,59%) indivíduos afirmaram fazer uso de algum método de
anticoncepção. Dentre os que afirmaram fazer uso de métodos de anticoncepção há somente
um homem (vasectomia), todos os demais são mulheres: 11 usam anticoncepcional oral, 3
usam Dispositivo Intra Uterino (DIU) e uma usa anticoncepcional injetável. É interessante
observar que o número total de mulheres cadastrado é de 53, das quais somente 15
(28,30%) fazem uso de algum método anticoncepcional. Quanto aos homens não é surpresa
que somente um faça uso de método anticoncepcional, pois é a tendência observada na
população em geral.
Com relação à ocorrência de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), somente um
indivíduo não respondeu, 281 (79,82%) indivíduos negaram ter tido qualquer DST e 70
(19,88%) indivíduos afirmaram já ter tido DSTs: 63 afirmaram ter tido gonorréia, 4
afirmaram ter tido herpes genital, 5 afirmaram ter tido lesões por HPV (Papiloma vírus)
e 2 afirmaram ter tido candidíase.
Quanto à Sífilis, um indivíduo não respondeu, 342 indivíduos negaram ter tido sífilis e
somente 9 (2,55%) indivíduos afirmaram ter tido sífilis.
Com relação à realização de sorologia anti-HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana),
nove indivíduos não responderam. Dentre os 343 que responderam, 241 (68,46%)
indivíduos afirmaram não ter feito a sorologia anti-HIV. Os demais 102 (28,97%) indivíduos
afirmaram ter feito a sorologia anti-HIV.
Quanto ao conhecimento de ser ou não portador do HIV, somente um indivíduo não
respondeu, 241 (68,46%) indivíduos afirmaram desconhecer sua sorologia para o HIV,
104 (29,5%) afirmaram ter sorologia negativa para o HIV e 6 (1,7%) afirmaram ter
sorologia positiva para o HIV.
Com relação a realização de sorologia anti-HCV (Vírus da Hepatite C), um indivíduo não
respondeu. Dentre os 351 que responderam, 293 (83,23%) indivíduos afirmaram não ter
feito a sorologia anti-HCV. Os demais 58 (16,47%) indivíduos afirmaram ter feito a
sorologia anti-HCV.
Quanto ao conhecimento de ser ou não portador do HCV, somente um indivíduo não
respondeu, 293 (83,23%) indivíduos afirmaram desconhecer sua sorologia para o HCV,
SIDA
NET
71
55 (15,62%) afirmaram ter sorologia negativa para o HCV e 3 (0,85%) afirmaram ter
sorologia positiva para o HCV.
Com relação a realização de sorologia anti-HBV (Vírus da Hepatite B), um indivíduo
não respondeu. Dentre os 351 que responderam, 296 (84,0%) indivíduos afirmaram não
ter feito a sorologia anti-HBV. Os demais 55 (15,62%) indivíduos afirmaram ter feito a
sorologia anti-HBV.
Quanto ao conhecimento de ser ou não portador do HBV, 296 (84,0%) indivíduos afirmaram
desconhecer sua sorologia para o HBV, 50 (14,20%) afirmaram ter sorologia negativa
para o HBV e 6 (1,70%) afirmaram ter sorologia positiva para o HBV.
Fica claro a necessidade da ampliaçao da oferta na rede publica de saúde de testes
rápidos ANTI HIV, não apenas para gestantes, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, bem, como a implantação efetiva de uma rede de testagem para as hepatites
virais.
SIDA
NET
72
ACIDENTES COM PRODUTOS BIOLÓGICOS
NO C H GAIA EM 2003
Vieira F R, Mota M, Valente J, Eiras E, Moreira J - Gaia - Portugal
(Unidade de Doenças Infecciosas – Hospital de Dia – Centro Hospitalar de Gaia)
É sabido que os trabalhadores hospitalares, têm um risco maior que a população em
geral em contraírem infecções no seu local de trabalho. O contacto com produtos biológicos,
as picadas acidentais são frequentes no ambiente hospitalar. Bactérias, fungos, parasitas
e virus coabitam com os doentes e os profissionais no meio hospitalar e por isso a importância
das medidas de precaução universal e a utilização de barreiras de protecção.
O risco de transmissão da Hepatite B, em profissionais não vacinados é elevado estimandose que é 5 vezes superior ao da população em geral. No que respeita à Hepatite C tem um
a taxa de transmissão entre profissionais de saúde da ordem dos 3 – 4 %, o que torna a
transmissão importante entre os profissionais de saúde. O risco de transmissão por picada
acidental com agulha contaminada no que diz respeito ao virus da SIDA estima-se em
cerca de 0,45 %, sendo muito menor no contacto com fluidos.
Felizmente que o número de casos de transmissão a profissionais de saúde é ínfimo se
compararmos com o número de casos estimados. Em 1997 num universo de cerca de 30
milhões de pessoas infectadas em todo o mundo até essa altura apenas estavam
referenciados 95 casos de infecção VIH adquirida por profissionais de saúde
(Eurosurveillance Monthly archives 1999-volume 4-3). Os enfermeiros e os profissionais
dos laboratórios clínicos correspondiam a 71% do total de casos referenciados.
Em Portugal não está registado qualquer caso de transmissão a profissional de saúde.
Da análise dos relatórios do CNVDT apenas há 1 caso ainda não confirmado de transmissão
nosocomial.
Para a Unidade de Doenças Infecciosas do C H Gaia são encaminhados os profissionais
de saúde sujeitos a acidentes com produtos biológicos ou traumatismos acidentais com
agulhas ou outros instrumentos.
SIDA
NET
73
PROTOCOLO DE PROFILAXIA POS EXPOSIÇÃO
Um grupo de trabalho constituído por elementos da UDI – Hospital de Dia e da Comissão
de Controlo de Infecção elaborou algoritmo e protocolo de actuação em caso de acidente
com exposição a produtos orgânicos.
1. Recurso à UDI ou SU
2. Definição do acidente ocorrido – tipo e via de exposição, profundidade da lesão,
quantidade de produto biológico, tipo de produto biológico, etc.
3. Tempo entre o acidente e o recurso a apoio médico.
4. Colheita de produtos biológicos da “vitima”, para marcadores víricos, imunidade
para hepatite B e análises gerais.
5. Se fonte identificada, análise de processo para marcadores viricos, cargas víricas e
eventuais comportamentos de risco.
6. Registo de PEP´s.
7. Cumprimento das observações programadas e da terapêutica instituída.
PROFILAXIAS
1. Hepatite B
Estado da fonte
Pessoa exposta
HBsAg+
HBsAg-
Status desc
Não vacinada
GGHI
Iniciar vacina
Iniciar vacina e se
possível saber
estado da fonte
Vacinada (nível HBsAC
desc.)
Se antiHBs>10mu/ml
não efectuar terap
Não fazer terap
SE antiHBs<10mu/ml
GGIH+1ª dose vacina
2. Infecção VIH
Determinar código de exposição
Material com sangue
Não
Não efectuar PEP
Sim
Membrana mucosa ou pele integra
Pouca quantidade
EC1
Muita quantidade
EC2
Pele íntegra
Não efectuar PEP
Picada percutânea
SIDA
NET
74
Pouco severa, agulha sólida,
escarificação
EC2
Mais severa, agulha oca de
maior secção, picada
profunda, sangue visível,
agulha usada em veia de
fonte de risco
EC3
Determinar código de estado VIH (HIV SC)
Estado VIH da fonte
HIV -
não efectuar PEP
HIV +
Baixo titulo exposição: assintomático,
elevada contagem de CD4
HIV SC1
HIV +
elevado titulo exposição: Doença em
fase de SIDA, carga virica elevada ou
contagem baixa de CD4
HIV SC2
EC
HIV SC
1
1
Considerar regime básico
1
2
Recomendar regime básico
2
1
Recomendar regime básico
2
2
Recomendar regime alargado
3
1 ou 2
Recomendar regime alargado
1, 2, 3
desc
se nível de exposição sugerir
risco de exposição a VIH,
regime básico.
Regime básico
Regime alargado
PEP
ZDV+ 3TC OU D4T+ 3TC
Regime básico + Indinavir ou Nelfinavir ou Abacavir ou Efavirenze
RESULTADOS
PERFIL
Durante o ano de 2003 recorreram à UDI – Hospital de Dia do C H Gaia, 36 pessoas, 26
do sexo feminino e 10 do sexo masculino.
O grupo profissional dominante nesta pequena série era o dos enfermeiros com 13 casos,
seguido dos auxiliares de acção médica com 8 casos. Nesta série estão incluídos 6 médicos.
SIDA
NET
75
6 das pessoas assistidas não eram trabalhadores do C H Gaia e em 2 não foi registado o
seu local de trabalho.
A idade média deste grupo era de 36,176 anos, sendo superior no sexo Masculino.
Idade Média
Sexo Masculino
Sexo Feminino
36.176
38.400
35.250
TIPOS DE ACIDENTE OCORRIDOS
Os acidentes que ocorreram mais frequentemente foram picadas acidentais. Foram
registados 27 casos. O maior número de casos verificou-se em enfermeiros.
TIPO DE ACIDENTE Nº DE CASOS
ENFERM
AAM
MEDICOS
OUTROS
Picada por agulha
27
10
5
5
7
Objecto cortante
3
2
1
Pele lesada
2
1
1
Mucosa
3
1
1
Outros
1
3
Dermojacto
1
Mordedura
1
Sexual
1
1
1
1
Em qualquer dos grupos profissionais o acidente mais frequente foi a picada acidental.
14 picadas por agulha foram profundas e em 18 casos houve contacto com sangue. Nos 3
casos de acidente com objecto cortante houve contacto com sangue.
SIDA
NET
76
Picada por agulha
contacto com sangue
s/ contacto c/ sangue
27
18
6
(picadas profundas 14 picadas superficiais 9)
desc
3
Objecto cortante contacto com sangue
3
3
(corte profundo 1 corte superficial 1)
Nos casos de contacto da mucosa com fluidos orgânicos, em apenas um houve contacto
com sangue.
Na globalidade dos acidentes, em 23 casos foi referenciado contacto com sangue,
sendo a quantidade escassa na maioria.
Abundante
Escassa
Moderada
Não referida
3 casos
7 casos
2 casos
11 casos
Outro dos dados registados foi o intervalo que mediou entre o acidente e o recurso ao
Médico. Os intervalos registados variaram entre 5 minutos e 4 dias.
Até 1 dia (minutos)
Mais de 1 dia
AAM
Médicos
Enfermeiros
média
média
74.7 minutos
3.3 dias
(min. 5 – máx. 420 min)
(min. 1-máx. 10 dias)
74.8 min ( min. 5 min
máx. 164 min) 5.5 dias (1-10)
20 min ( min. 5 min máx. 60 min) 1 dia (1-1)
95.9 min ( min. 25 min máx. 420 min) 3 dias (2-4)
O grupo de Médicos é o que recorre mais rapidamente à Unidade ou ao S.U.
O grupo de Enfermeiros é o que em média demora mais tempo a ser observado.
CARACTERIZAÇÃO DA FONTE
Na maioria dos casos não foi possível determinar o estado dos marcadores por
desconhecimento da fonte, tendo esta situação sido constatada em 24 ocorrências.
VHB
VHC
VIH
POS
12
2
7
NEG
10
10
5
DESC
24
24
24
SIDA
NET
77
CARACTERIZAÇÃO DO AFECTADO
Os marcadores revelaram-se negativos em todos os casos, estando imunizados para a
hepatite B 22 pessoas. Em 12 casos não havia imunidade não obstante vacinação anterior.
Em 20 dos casos era desconhecida a vacinação antitetânica.
PROFILAXIAS
Com base no protocolo em vigor na nossa Unidade foram efectuadas a s seguintes profilaxias:
Imunoglobulina hiperimune
Vacina Hepatite B
Antiretroviricos
3
12
24
Os esquemas antiretroviricos mais utilizados foram:
AZT_Lamivudina
AZT_Lamivudina_Indinavir
15
9
O seguimento foi regular na maioria dos casos (30). Não houve abandonos da consulta.
Num caso, por intolerância à medicação não foi cumprido o regime profilático proposto.
Dos casos ocorridos durante o ano de 2003 não houve registo de aquisição de qualquer
infecção)
COMENTÁRIOS
1. Os acidentes com produtos biológicos e picadas acidentais, são frequentes e mais de 1/
3 dos acidentes ocorreram com enfermeiros.
2. O acidente mais frequente foi a picada acidental, sendo num número significativo de
casos profunda e havendo contacto com sangue.
3. Se num número significativo de casos o recurso à Unidade foi rápido, nalgumas situações
mediaram dias, colocando em risco a eficácia das medidas profiláticas.
4. Na maioria dos casos em apreço era desconhecido o estado dos marcadores da fonte de
contágio.
5. Um número importante de profissionais não estava imunizado em relação à hepatite B
à vacinação antitetânica, sendo em 3 casos administrada IG e tendo-se em 12 procedido
à vacinação para a Hepatite B.
6. Em 24 casos efectuou-se PEP com antiretroviricos, tendo havido seguimento regular
na maioria dos casos, com cumprimento das medidas propostas na quase totalidade.
SIDA
NET
78
7. O pequeno estudo que apresentamos refere-se apenas ao ano de 2003. Apesar de um
número pequeno de casos os dados são sobreponíveis aos da literatura.
8. É importante a informação aos profissionais de saúde sobre as medidas tendentes a
reduzir os acidentes e as medidas a tomar aquando do acidente.
9. Não obstante, apesar de tudo, o risco ser baixo, especialmente no que respeita ao VIH,
este tipo de acidentes condicionam nos profissionais um profundo estado de ansiedade,
pelo que é importante relembrar as medidas de precaução universal e o cumprimento das
normas em caso de exposição acidental.
Bibliografia
José Luís Boaventura, Álvaro Aires Pereira – Risco ocupacional, in Manual sobre SIDA, Ed. Francisco
Antunes, 2ª edição. Pag. 421 - 424
B.G. Evans, D. Abiteboul – Resumo das infecções pelo VIH adquiridas no exercício da profissão,
descritas nos relatórios publicados até Dezembro de 1997, Eurosurveillance Monthly archives
1999, volume 4 /issue 3.
Infecção VIH/SIDA, Situação em Portugal em 30 de Junho de 2004, doc. 132. Centro de Vigilância
Epidemiológica das Doenças Transmissíveis.
The Sanford Guide to antimicrobial Therapy 34ª ed. Pag. 123 - 124
SIDA
NET
79
SIDA
NET
80
IMPLICAÇÕES DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NA
VULNERABILIDADE DE GÊNERO PARA SIDA/AIDS
ENTRE JOVENS UNIVERSITÁRIOS:
ESTUDO COMPARATIVO BRASIL PORTUGAL
Paiva M S1, Amâncio L2 - Salvador da Baía - Brasil
RESUMO
A sida desde o seu surgimento foi representada como uma doença do “outro”, que era do
sexo masculino, homossexual e adulto, e por esta razão, escamoteou a vulnerabilidade
dos homens e das mulheres heterossexuais, bem como de jovens e idosos. Sabe-se que a
vulnerabilidade à infecção pelo HIV guarda relação não só com os comportamentos
individuais, principalmente aqueles relacionados à sexualidade e identidade de gênero,
mas também, com o comportamento dos parceiros, com as condições sociais que deveriam
proporcionar acesso aos serviços de saúde e, com existência de políticas públicas eficazes.
O fenômeno da sida está ligado às práticas sexuais e em decorrência dos papéis sexuais.
Não se discute que medidas de prevenção são necessárias para modificar o estado actual
da epidemia. O papel da sexualidade na prevenção da sida assume um interesse particular quando se considera adolescência e a juventude, pois é nesta etapa da vida que o
adolescente/jovem inicia sua vida sexual. Isto se reveste de fundamental importância,
dado que a proporção de jovens portadores do HIV está em torno de 13% do total de casos
notificados no Brasil e, de 7,53% em Portugal. Esta investigação tem como objectivo
geral comparar o campo das representações sociais da sida de grupos de jovens
universitários(as) brasileiros(as) e portugueses(as) e como objetivos específicos identificar
o conjunto de características individuais e sociais presentes no quotidiano dos/das jovens
que as/os tornam mais vulneráveis à infecção pelo HIV; identificar estratégias de
enfrentamento da infecção pelo HIV e medidas de prevenção a serem adotadas pelos(as)
jovens e identificar as representações sociais da sida, sexualidade, sexo e práticas sexuais
de jovens universitários(as). Tomou-se como suportes teóricos a Teoria Feminista, a
construção teórica sobre vulnerabilidade proposta por Mann (1993) e por Ayres (1999) e
1
Professora do Departamento de Enfermagem Comunitária da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia
Brasil. Pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Saúde da Mulher/EEUFBA. Pós- doutoranda do Instituto Superior de
Ciências do Trabalho e da Empresa - ISCTE. Bolsista da CAPES.
2
Professora do Departamento de Psicologia Social e das Organizações do ISCTE. Pesquisadora do Centro de Intervenção
Social -CIS e do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia – CIES. Orientadora.
SIDA
NET
81
a Teoria das Representações Sociais (TRS) de Moscovici (1961), pela sua importância na
análise de aspectos psico-sócio-culturais que permeiam o processo saúde/doença e as
práticas sociais relativas ao mesmo, assim como pelos actos de comunicação social e os
fenômenos coletivos que contribuem na formação de condutas e, mais precisamente, das
regras que regem o pensamento social. Trata-se de um estudo do tipo descritivo,
exploratório e comparativo (Brasil e Portugal), com abordagem multimétodos, utilizando
o teste de associação livre e a entrevista semi-estruturada. Para a análise dos dados
apreendidos a partir da associação livre de palavras foi feita a Análise Factorial de
Correspondência (AFC) através do Software Tri-deux-Mots. As entrevistas foram analisadas
utilizando-se a técnica análise de conteúdo temática. Os resultados demonstram que a
sida/aids está incorporada nos universos cognitivos e afetivos dos jovens, que é apreendida
a partir de símbolos e significados que compõem suas relações sociais e que articular
representações sociais, relações de gênero, vulnerabilidade e práticas de prevenção da
sida/aids é se defrontar com um todo não homogêneo, onde estão expressas contradições,
similaridades, cognição, afeição, emoções, racionalidade e muitas outras condições que
estão presentes no quotidiano dos(as) jovens e que os(as) tornam mais vulneráveis à
infecção pelo HIV.
INTRODUÇÃO
A epidemia da aids/sida vem apresentando, ao longo dos anos, um recuo na tendência
histórica de seu crescimento em decorrência de inegáveis avanços, principalmente na
esfera política e na articulação entre as atividades governamentais e não governamentais.
Porém, a forma como é representada no imaginário popular continua escamoteando a
vulnerabilidade de homens e mulheres heterossexuais, bem como de jovens e idosos. Isto,
em parte, decorre do fato de que a representação da sida/aids ainda continua sendo a de
uma doença do “outro”, que é do sexo masculino, homossexual e adulto.
A vulnerabilidade à infecção pelo HIV extrapola o controle dos comportamentos
individuais, principalmente aqueles relacionados à sexualidade e identidade de gênero,
dado que depende, também, do comportamento dos outros indivíduos, das condições sociais,
de acesso aos serviços de saúde e da existência de políticas públicas eficazes. Portanto,
não se pode perder a perspectiva de que características sociopolíticas, demográficas e
culturais moldam as manifestações da epidemia, fazendo com que ela assuma as mais
variadas expressões na população.
O fenômeno da sida/aids está ligado às práticas sexuais e resulta dos papéis sexuais.
Para ser compreendido, é necessário conhecer melhor o papel que a variável sexo
desempenha na sua evolução, pois o sexo, além de indicar uma propriedade natural dos
seres humanos, indica padrões psicossociais bastante diferentes quanto à sociabilidade
dos indivíduos (SPENCER, 1993).
É indiscutível o papel que a medidas de prevenção desempenham nas possibilidades de
mudanças do estado atual da epidemia da sida/aids no mundo. É fato, também, que os
padrões de vulnerabilidade experimentados por homens e mulheres são diferenciados em
decorrência dos processos de socialização vivenciados ao longo de suas vidas.
SIDA
NET
82
Por conseqüência de seus processos de socialização, homens e mulheres dispõem de
diferentes possibilidades para implantar em seus quotidianos medidas de prevenção.
Para Aldana (1992), as mulheres se distinguem nisso, pois para elas não existem medidas
realmente eficazes, já que o condom, mesmo quando usado por si própria, requer a
negociação com o parceiro. As dificuldades de prevenção da sida/aids, por parte das
mulheres, desvelam a importância de serem explicitadas as questões de gênero que
circundam todo o enfrentamento da sida/aids, já que a subalternidade de gênero tem se
mostrado determinante na vulnerabilidade das mulheres.
Nesta perspectiva, o estudo realizado por Paiva (2000) mostra que as mulheres adquiriram
o vírus HIV a partir do comportamento sexual de seus parceiros, que tinham
relacionamentos extraconjugais, embora, em muitos casos, contasse com a cumplicidade
delas. Por esta razão, Simões Barbosa (1995) aponta que a estratégia de sexo seguro
para as mulheres precisa ser melhor considerada, já que ela pressupõe diálogo e confiança
mútuos, e que estes esbarram no fato de que, culturalmente, os casais não costumam
discutir questões relacionadas à sexualidade, ao afeto e ao prazer.
Santos (2001) corrobora com essa discussão quando assevera que, pelo fato das doenças
sexualmente transmissíveis ocorrerem num contexto interpessoal de relacionamento íntimo,
os esforços para a prevenção da infecção pelo HIV devem ser no âmbito do aumento das
capacidades individuais de comunicação eficaz com o parceiro sexual.
Todavia, o papel da sexualidade na prevenção da sida/aids assume um interesse particular quando se consideram a adolescência e a juventude, uma vez que é nesta etapa da
vida que o adolescente/jovem inicia sua vida sexual. Isto se reveste de fundamental
importância, dado que a proporção de jovens portadores do HIV está em torno de 13% do
total de casos notificados no Brasil, e de 7,53% em Portugal (BRASIL, 2002; PORTUGAL, 2003; SILVESTRE, 2003). Por esta razão, é importante discutir, a partir do
quotidiano destes jovens, práticas e comportamentos individuais e sociais que possam
deixá-los mais vulneráveis à infecção pelo HIV.
Na tentativa de captar as diversas dimensões desta realidade nos dois países, esta
investigação pautou-se nos seguintes objetivos:
· Comparar o campo das representações sociais da sida/aids de grupos de jovens
universitários (as) brasileiros (as) e portugueses (as);
· Identificar o conjunto de características individuais e sociais presentes no quotidiano
dos/das jovens que as/os tornam mais vulneráveis à infecção pelo HIV;
· Identificar as representações sociais da sida/aids, sexualidade, sexo e práticas sexuais
de jovens universitários (as);
Esta investigação terá como suportes a Teoria Feminista; a construção teórica sobre
vulnerabilidade proposta por Mann; Tarantola (1993) e por Ayres et al. (1999); a Teoria
das Representações Sociais (TRS) de Moscovici (1961), por sua importância na análise
de aspectos psico-sócio-culturais que permeiam o processo saúde/doença e suas práticas
sociais, assim como dos atos de comunicação social e dos fenômenos coletivos que contribuem
SIDA
NET
83
na formação de condutas e, mais precisamente, das regras que regem o pensamento
social.
CONSTRUÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA DO ESTUDO
CAMINHO TEÓRICO
Ao tomar como referencial teórico a Teoria das Representações Sociais (TRS), faço-o por
considerar que, para sida/aids, elas têm um papel importante no modo como os grupos/
indivíduos agem diante dela e da sua prevenção. Para tanto, acolho a visão de Jodelet
(1998), segundo a qual as representações sociais permitem aos sujeitos uma orientação
diante de um objeto que é socialmente relevante, constituindo-se em uma forma especial
de conhecimento compartilhado no seu grupo de pertença ou como uma categoria
socialmente elaborada e dirigida à vida prática.
Moscovici (1978) ressalta que as Representações Sociais têm como foco a maneira pela
qual os seres humanos buscam compreender as coisas que o cercam. Portanto, estudá-las
é considerar que os seres humanos pensam e não apenas manipulam informações ou
agem sem explicações. A partir destas concepções, ele as considera como verdadeiras
teorias do senso comum, conformadas a partir de um conjunto de conceitos e afirmações,
ou seja, ciências coletivas, pelas quais se procede à interpretação e à construção das
realidades sociais.
Por estas características, e por ser capaz de identificar vários aspectos importantes
envolvidos na vulnerabilidade de gênero, nas vivências psicossociais dos/das jovens
universitários(as), como fenômenos de produção de conhecimentos de sujeitos sociais
particulares, a Teoria das Representações Sociais se aplica perfeitamente a este estudo.
Este referencial permite, pois, pontuar as características e modos de expressão da
experiência-subjetividade dos/das jovens universitários(as) e as categorias que possibilitam
organizar e analisar as representações sociais como conhecimentos latentes, resultantes
do modo de atuar socialmente em realidades singulares compartilhadas, assinalando
aproximações ou afastamentos de definições científicas sobre sexo, sexualidade, práticas
sexuais, sida/aids e vulnerabilidade, bem como a concepção do conhecimento prático
nestes campos.
Investiga-se, portanto, sobre o modo como os sujeitos representam a sida/aids e a sua
articulação com seu processo de socialização e suas experiências na esfera da sexualidade
que os torna mais vulneráveis à infecção pelo HIV. Desse modo, concordo com Silva
(2002, p. 17) quando diz, de acordo com a Teoria das Representações Sociais: “as
comunicações e os comportamentos são orientados conforme os processos de interação
social que transformam simbolicamente os objectos e as pessoas representadas”.
Moscovici (1978) salienta que as Representações Sociais, por se constituírem em conjuntos
simbólicos/práticos/dinâmicos que objetivam a produção e não a reprodução ou a reação
a estímulos exteriores, não podem ser consideradas como “opiniões sobre”, ou “imagens
SIDA
NET
84
de”, mas como verdadeiras teorias coletivas sui generis, destinadas à interpretação e à
elaboração do real. Assim, para ele, representar um objeto, pessoa ou coisa não consiste
apenas em desdobrá-lo, repeti-lo ou reproduzi-lo, mas em reconstruí-lo, retocá-lo e modificálo
Embora originária das ciências sociais, a Teoria das Representações Sociais foi, pouco a
pouco, inserindo-se nos estudos da área da saúde, principalmente naqueles que dizem
respeito às concepções da população sobre o processo de saúde - doença.
Spink (1989:10) destaca que:
As representações sociais constituem campo fértil para o estudo do processo saúde
- doença porque permitem explorar a interface entre o senso comum e o pensamento
científico, seja este concebido como corpo de conhecimentos ou como relações
sociais com um grupo definido comparativamente como detentor do saber.
Acreditando que as relações interpessoais quotidianas conseguem interessar e despertar
a curiosidade das pessoas e, conseqüentemente, demandam compreensão e pronunciamentos, Sá (1993) lista, dentro do processo saúde - doença, as doenças de maior impacto
social e histórico, destacando, dentre elas, a sida/aids, através das quais podem ser
produzidas as representações sociais.
A epidemia da sida/aids vem experimentando modificações em seus padrões e, em todo o
mundo, há um deslocamento do padrão homossexual para o heterossexual, desencadeandose, daí, sua feminilização. Aliada a esta mudança de padrão, também foram aflorados
outros processos, como a pauperização, a interiorização e, recentemente, a juventudilização
da epidemia.
No Brasil, é na população de jovens onde tem se dado o maior crescimento de casos
novos, o que levou o governo federal a lançar nas escolas públicas, onde já há um
programa de educação sexual em curso, a distribuição de preservativos masculinos e
femininos, aliada a um programa educativo para prevenção da gravidez indesejada e da
sida/aids.
Em Portugal, não tem sido diferente e, como não há notificação compulsória, os dados
devem ser maiores. Por esta razão, Silvestre (2003) – coordenador da Comissão Nacional
de Luta contra a SIDA – anunciou, em sua posse, a realização de um grande inquérito
nacional com estudantes do ensino superior universitário e politécnico. Justificou, ainda,
o aumento da sida em jovens como decorrência da toxicodependência e do início precoce
das relações sexuais.
Na sociedade contemporânea, a sexualidade é apresentada, mostrada e vendida como
mercadoria pela mídia que, através do excesso de imagens, dificulta o pensar e o refletir
do adolescente, que é levado a consumi-la. Esse fato ajuda a coisificar o sexo, que perde
muito da sua magia, beleza e sentimento.
O processo de socialização faz com que, da menina, espere-se sempre a docilidade,
atitudes meigas, pouca nudez do corpo, submissão e o aprendizado das atividades
SIDA
NET
85
domésticas, embora na atualidade essa expectativa esteja um pouco relativizada. Quanto
aos meninos, a cobrança é para que aconteça o contrário: que sejam fortes, destemidos,
competitivos e não delicados. Na esfera da sexualidade, o homem pode quase tudo,
enquanto a mulher ainda luta por sua liberdade sexual.
A partir da reflexão feita sobre o exercício da sexualidade dos jovens e sua vulnerabilidade
à sida/aids, é possível compreender a magnitude da epidemia nesta população. Tratar do
tema sexualidade e sida/aids é reportá-lo à discussão de gênero. Pois, além de ser uma
categoria que representa uma elaboração cultural sobre sexo, é utilizada na perspectiva
relacional, explicando as relações de poder entre os sexos e evidenciando as desigualdades
presentes nas sociedades, de vez que não há como prescindir das questões relativas à
sexualidade, à vulnerabilidade e às relações de poder entre homens e mulheres e,
principalmente, porque há uma íntima associação entre esta abordagem e as medidas
preventivas da infecção pelo HIV.
Deste modo, o estudo partiu do pressuposto de que a condição de gênero implica na
existência de diferentes elementos nas representações sociais dos/das jovens
universitários(as) sobre a sida/aids, sexo, sexualidade e práticas sexuais, repercutindo
na sua vulnerabilidade à infecção pelo HIV, vulnerabilidade aqui entendida como a
interação entre fatores, níveis e magnitudes distintos que facilitam ou dificultam a exposição
ao HIV.
O conceito de vulnerabilidade permite a compreensão da disseminação da sida/aids na
população a partir de uma perspectiva de gênero, uma vez que esta ocorre no
entrecruzamento de comportamentos e vivências individuais e subjetivas ligadas a questões
como sexualidade, fidelidade, preconceitos, liberdade, morte e com as relações desiguais
de gênero e poder (VILLELA; DINIZ, 1998).
Olhar a vulnerabilidade, de qualquer grupo populacional, requer a apropriação do
conceito que vem sendo desenvolvido por Ayres et al. (1999), a partir dos trabalhos de
Mann. Para estes autores, a vulnerabilidade não deve ser olhada em decorrência da
distinção da probabilidade que um indivíduo qualquer tem de se expor à aids, mas sim,
dizem eles, da busca de elementos que permitam avaliar objetivamente as diferentes
chances que cada indivíduo ou grupo populacional particular tem de se contaminar.
Para tanto, não se deve perder a perspectiva do conjunto formado por algumas
características individuais e sociais presentes no quotidiano que possam ser consideradas
relevantes para sua maior exposição ao risco de contaminação ou sua menor chance de
proteção ao adoecimento.
Nesta mesma perspectiva, Lima (1998) defende a necessidade de uma abordagem
psicossociológica de percepção de riscos que, para compreender as estimativas de
probabilidade que os indivíduos fazem dos riscos a que, porventura, possam se submeter,
considere o contexto social em que elas são produzidas e suas funções individuais.
Considerados estes pontos, ao realizar esta investigação não poderia deixar de fazer o
recorte de gênero, como eixo teórico, pois ele se constitui numa categoria com a qual é
possível explicar as relações de poder que se estabelecem no relacionamento homem mulher e sua interferência no processo saúde - doença, bem como desnudar o fato de que
SIDA
NET
86
a sida/aids não se encerra apenas na doença em si, mas, também, apresenta-se como
uma faceta das condições de socialização de homens e mulheres.
Um dos princípios básicos da categoria gênero salienta que homens e mulheres não se
diferenciam apenas biológica, mas, também, socialmente, e que as diferenças construídas
no plano biológico são conceituadas como sexo, enquanto aquelas que estão no plano
social constituem o que se costuma chamar de gênero.
A sida/aids traz à tona várias questões relacionadas à eqüidade entre os sexos e seus
comportamentos na sociedade. E não se pode deixar de avaliar que, nestas questões, as
relações guardam um certo grau de complexidade.
Por esta razão, torna-se de grande utilidade a apropriação destes conceitos, quando da
realização de estudos dessa natureza, uma vez que, só através deles, será possível explicar
as diferenças existentes entre homens e mulheres, quando se defrontam com a sida/aids
em seus processos de contaminação e adoecimento, bem como identificar estratégias de
enfrentamento à infecção pelo HIV e para a prevenção da sida/aids, estratégias essas
que possam reduzir a vulnerabilidade da população.
CAMINHO METODOLÓGICO
Tratou-se de um estudo de campo comparativo (Brasil - Portugal), com abordagem
multimétodos, realizado na Escola Superior de Enfermagem Maria Fernanda Resende ESEMFR (Portugal), no Instituto Superior Ciências do Trabalho e da Empresa – ISCTE
(Portugal) e na Universidade Federal da Bahia - UFBA (Brasil.), nos cursos de
Enfermagem, Psicologia e Sociologia.
É um estudo do tipo descritivo e exploratório, que apreendeu os fenômenos em cenários
naturais, a partir das representações sociais e práticas construídas pelos sujeitos sociais
que dele participaram, centrado nas variáveis: sexo, sexualidade, práticas sexuais, sida/
aids e vulnerabilidade. Foram pesquisados os conhecimentos e crenças, difundidas
coletivamente no quotidiano dos grupos envolvidos, sobre a sida/aids, a partir da perspectiva
de gênero.
Sujeitos da pesquisa
Participaram desse estudo 152 estudantes matriculados(as) nos cursos de Enfermagem,
Psicologia e Sociologia das instituições selecionadas, os quais concordaram em participar
do estudo, que se pautou pelos critérios éticos estabelecidos para a pesquisa com seres
humanos (BRASIL, 1996). Os universitários
Os(as) estudantes apresentaram idades que variaram entre 18 e 31 anos, sendo que 101
estavam na faixa de 18 a 24 anos. Em relação ao sexo, a população retratou a realidade
hoje encontrada nas universidades, que corresponde a uma maioria de mulheres e neste
particular, foi constituída por 104 mulheres e 18 homens. Quanto ao curso freqüentado
22 eram de sociologia, 47 de psicologia e 83 de enfermagem.
SIDA
NET
87
Instrumentos para Coleta de Informações
Foi adotada uma abordagem multimétodos com o objetivo de comparar os dados obtidos,
conferir maior aprofundamento na compreensão dos mesmos e permitir interpretações
mais fidedignas dos resultados. Para tanto, foram utilizados o teste de associação livre
de palavras e a entrevista semi-estruturada.
O teste de associação livre de palavras foi construído a partir das palavras -estímulos:
sexo, sexualidade, práticas sexuais e sida/aids. Esta é uma técnica que permite às pessoas
entrevistadas, a partir dos estímulos indutores, evocar respostas de conteúdos afetivos e
cognitivo-avaliativos. Ela é amplamente utilizada nas investigações que buscam apreender
as representações sociais, pois possibilita, simultaneamente, uma análise qualitativa de
dados que foram processados quantitativamente, a partir de softwares que façam a análise
fatorial de correspondência.
A associação livre ou evocação livre a partir de palavras, de acordo com Jung (1990)
apud Coutinho (2001, p. 89-90), “é um tipo de investigação aberta que se estrutura na
evocação de respostas dadas a partir de um estímulo indutor”.
Sá (1998) refere que o teste de associação livre, como técnica de coleta de dados para
apreensão dos elementos constitutivos de uma representação, implica em instigar os
participantes para que digam o que pensam ao serem estimulados por um termo que
caracteriza o objeto da representação em estudo.
O instrumento utilizado para coleta de dados foi um formulário construído a partir da
técnica de associação livre de palavras com questões abertas relativas aos objetivos da
pesquisa, a partir dos estímulos indutores, contendo, na parte introdutória, os dados
sócio-demográficos que caracterizam os sujeitos da pesquisa.
O uso de formulários abertos nas pesquisas qualitativas é defendido por Demo (1998, p.
101) “como um caminho adequado para um mundo de representações sociais mais
subjetivas, à medida que permite a fala descontraída, natural e realista dos sujeitos
engendrados na pesquisa”, permitindo, assim, a apreensão das mais profundas e
determinantes representações.
Por ocasião da aplicação do formulário de associação livre de palavras, foram selecionados
estudantes para participarem da entrevista semi-estruturada, a partir de questões
norteadoras fundamentadas nos referenciais teóricos de vulnerabilidade, gênero e
Representações Sociais. No universo deste último referencial, foram contemplados os
conteúdos das representações relativos às dimensões (atitudes, conhecimentos/informações
e imagens ou campo de representações sociais), aos processos (ancoragem e objetivação)
e às funções das Representações Sociais.
Para a análise dos dados apreendidos a partir da associação livre de palavras foi feita a
Análise Fatorial de Correspondência (AFC) através do Software Tri-deux-Mots. Este Software, na forma como foi programado, realiza o processamento dos dados coletados construídos a partir das respostas aos formulários aplicados aos(as) estudantes
universitários(as). A AFC revela o jogo de oposições que são evidenciadas pelos sujeitos
SIDA
NET
88
nas respostas aos estímulos indutores, favorecendo à identificação das representações
sociais nele contido.
Segundo Coutinho (2001, p. 183) o princípio básico da AFC “consiste em destacar eixos
que explicam as modalidades de respostas, mostrando as estruturas constituídas de
elementos do campo representacional ou gráfico”.
A partir das respostas utilizadas pelos sujeitos, foram construídos dicionários de vocábulos
adjetivos concernentes a cada estímulo indutor. Em seguida, procedeu-se a uma análise
semântica de conteúdos para codificação e introdução dos dados no Software “Tri-Deux
Mots” (CIBOIS, 1983).
Os resultados permitiram uma avaliação estatística dos dados no que concerne à frequência
(importância de contribuição das modalidades na construção dos fatores), e representam
graficamente as variações semânticas na organização do campo espacial.
Desse modo, configuraram-se graficamente as representações psicossociais relativas aos
estímulos indutores, revelando aproximações e oposições das modalidades na construção
dos fatores analisadas através da Análise Fatorial de Correspondência – AFC. De posse
desta representação gráfica, foi possível realizar uma análise qualitativa dos resultados
fundamentada na Teoria das Representações Sociais, no conceito de vulnerabilidade e a
partir da perspectiva de gênero.
As entrevistas foram analisadas utilizando-se a técnica de análise de conteúdo temática
(Bardin, 1977) para a categorização dos dados, atendendo às seguintes etapas: préanálise; leitura flutuante das entrevistas; constituição do corpus; seleção das unidades
de contexto e de registro; recorte; codificação e classificação; categorização e definições
das categorias simbólicas.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os resultados obtidos através da apropriação da associação livre de palavras - que se
constituiu numa investigação aberta, estruturada na evocação de respostas aos estímulos
indutores sexo, sexualidade, práticas sexuais e sida/aids - permitiram colocar em evidência
universos semânticos de palavras agrupadas pelos(as) universitários(as) que, após sofrerem
a análise fatorial de correspondência, tornaram possível a apreensão das representações
sociais.
A análise fatorial de correspondência revelada no jogo de oposições evidenciadas pelas
respostas aos estímulos indutores, que foram responsáveis pelas quatro variáveis fixas do
banco de dados Tri-deux Mots – nacionalidade, sexo, curso e faixa etária - demonstrou
que sexo e faixa etária não apresentaram significância diante do percentual total das
respostas.
Esse resultado leva a constatar que, possivelmente por ser a população composta de uma
maioria de mulheres (80,3%), não foram detectadas oposições significativas para a variável
sexo. Isso, entretanto, não impede um olhar sobre a perspectiva de gênero para as
SIDA
NET
89
representações apreendidas, uma vez que a sida/aids traz em si um complexo
engendramento de relações sociais presentes no universo da sexualidade, com relações
desiguais e poder que favorecem a vulnerabilidade de homens e mulheres à infecção pelo
hiv/aids.
No que diz respeito à idade, a ausência de significância na análise fatorial revelou que
o fato de ser um(a) jovem com idade entre 18 e 24 anos ou 25 e mais anos, não influencia
na representação social do grupo sobre os temas estudados.
O tratamento dos dados obtidos através do teste de associação foi efetuado tomando como
referência a freqüência igual ou superior a 8 (oito), para cada estímulo indutor.
A análise obtida dos dois primeiros fatores F1 e F2 está descrita na Figura 1. O mapa
fatorial é determinado pelas respostas aos quatro estímulos indutores para os dois grupos
(brasileiros e portugueses) mais relevantes na formação dos eixos.
O fator 1 (F1), em vermelho, linha horizontal, traduz as mais fortes representações ou
modalidades e explica 34,1% de variância, valor a que foram somados os percentuais de
30,2 % relativos ao fator 2 (F2) em azul, linha vertical do gráfico alcançando 64,3% da
variância total das respostas. Foram evocadas 2094 palavras pelos 122 sujeitos (54
brasileiros(as) e 68 portugueses(as)), das quais apareceram 791 diferentes.
Para o primeiro fator, destacam-se as modalidades correspondentes às respostas evocadas
pelos sujeitos do grupo de estudantes brasileiros(as), as quais se encontram do lado
positivo do eixo 1 e são representadas pelas palavras: orgasmo, preconceito, tesão, medo,
desejo, cuidado e preservativo, seguidas de um número que corresponde a cada estímulo
(Quadro1).
No gráfico, do lado negativo do eixo um ou primeiro fator, destacam-se as modalidades
correspondentes às respostas do grupo de estudantes portugueses(as) representadas pelas
seguintes palavras evocadas: amor, relação, sofrimento, segurança, corpo e doença, que
igualmente têm as evocações sinalizadas por um número ao final de sua grafia referente
ao estímulo indutor.
Quadro – 1 Classificação ordinária dos estímulos indutores.
SIDA
NET
90
Estímulo indutor
Número do estímulo
O que vem a sua cabeça quando
falo a palavra sexo?
01
O que vem a sua cabeça quando
falo a palavra sexualidade?
02
O que vem a sua cabeça quando
falo a expressão práticas sexuais?
03
O que vem a sua cabeça quando
falo as palavras sida/aids?
04
A Figura 1 apresenta as oposições entre as modalidades de respostas que foram evocadas
pelos sujeitos do grupo de estudantes portugueses(as) e do grupo de estudantes
brasileiros(as) mostradas a partir das representações distribuídas ao longo do eixo ou
fator um (F1), que estão situadas no lado direito e esquerdo, respectivamente.
Figura1: Representação Gráfica dos Planos Fatoriais 1 e 2
Legenda
F1
F1
F2
F2
(eixo negativo)
(eixo positivo)
(eixo negativo)
(eixo positivo)
= grupo de estudantes portugueses(as)
= grupo de estudantes brasileiros(as)
= estudantes de psicologia e sociologia
= estudantes de enfermagem
SIDA
NET
91
Com referência ao segundo fator (F2) ou eixo 2, linha vertical azul, o procedimento de
análise baseia-se no tipo de curso frequentado pelos(as) universitários(as) (parte superior
e inferior do gráfico apresentado na Figura 1), ou seja, ocorre uma oposição entre o
grupo de estudantes de psicologia e sociologia, situados na parte inferior e o grupo de
estudantes de enfermagem que ficou situado na parte superior do desenho gráfico. Vale
salientar que o grupo de estudantes de enfermagem estabelece, também, uma oposição
com as modalidades de respostas manifestadas pelos grupos do fator 1 (estudantes
portugueses(as) e brasileiros(as)).
Apreende-se a partir das respostas expressas pelos(as) estudantes de enfermagem, que
podem ser encontradas na parte superior (positiva) do eixo 2, as seguintes palavras:
orgasmo, preconceito, tesão, medo, intimidade, relação, responsabilidade, sensualidade
e preservativo, acrescidas do número correspondente ao estímulo.
Para os(as) estudantes de psicologia e sociologia (parte inferior do lado negativo do eixo
ou fator 2), estão descritas e marcadas pelo número da palavra-estímulo as modalidades
decorrentes das evocações de: cuidado, preservativo, homossexualidade,
heterossexualidade, doença e perigo.
Na análise do estímulo 1 (o que vem a sua cabeça quando a palavra é sexo?), para o
fator 1, os(as) estudantes brasileiros(as) expressam representações que estão ancoradas
em sentimentos de atração sexual, prazer e satisfação das necessidades sexuais (tesão,
desejo, orgasmo). Os(as) universitários(as) portugueses(as), por sua vez, ao representar
sexo pela palavra relação, apresentam uma visão mais romântica, inserida no âmbito
dos fatores interpessoais, do envolvimento. Embora essa seja a expectativa dos seres
humanos, na esfera do sexo/sexualidade, ela torna-se arriscada quando articulada à
prevenção da sida/aids, uma vez que contribui com a possibilidade de eles minimizarem
ou subestimarem sua vulnerabilidade às doenças sexualmente transmissíveis, em particular, à infecção pelo HIV (PAIVA, 2000, LIMA, 1998, MARTIN, 1995).
Exercer a sexualidade baseada nessa concepção de amor romântico - que subentende
encontro, encantamento, paixão, entrega física e emocional ao outro, mas também, e
talvez por isso mesmo, renúncia, sofrimento e desigualdade - tem sido uma característica
das mulheres, dado que os elementos referidos são constitutivos do feminino no espaço
social. Todavia, esse comportamento feminino se traduz na dificuldade de as mulheres
implementarem medidas de prevenção. Isso pode ocasionar processos de adoecimento
que acabam por se tornar uma realidade dolorosa em suas vidas (ÁVILA, 1999).
Com referência ao segundo fator (F2) ou eixo 2, linha vertical azul, embora os(as)
estudantes de enfermagem brasileiros(as) e portugueses(as), diante do estímulo sexo o
representem a partir da palavra relação, eles(as) trazem muito fortemente a representação
de responsabilidade, que possivelmente está ancorada nos conteúdos sobre o tema,
presentes em seu processo de formação profissional, o que deixa a impressão de que estão
mais alertas na percepção do risco de contaminação.
Para os(as) estudantes de enfermagem brasileiros(as) é, também, possível apreender
representações relacionadas aos sentimentos de atração sexual e prazer (tesão e orgasmo),
acrescidas da intimidade, que é a expressão da proximidade e do estabelecimento de
SIDA
NET
92
vínculos decorrentes de investimento emocional. Provavelmente, por conseqüência de ser
um curso eminentemente feminino (o mais feminino dos três cursos estudados) e de serem
as mulheres as que mais empreendem emoções nas relações.
Todavia, como o estabelecimento de vínculos gera o aumento da confiança no relacionamento
e no(a) outro(a) com quem se está relacionando, Costa e Lima (1998) chamam a atenção,
a partir de um estudo que realizaram com jovens universitários, para os resultados a que
chegaram, os quais demonstraram ter sido a percepção da vulnerabilidade à sida/aids
inversamente proporcional à confiança na relação e no(a) parceiro(a). Em decorrência,
instala-se não só a impressão de invulnerabilidade, como também uma falsa sensação de
segurança, o que pode levar à adoção de práticas inseguras e, conseqüentemente, à
possibilidade de contaminação e adoecimento.
Outros estudos apresentam resultados convergentes que respaldam a importância de as
ações preventivas serem efetuadas com base na discussão sobre o contexto do risco e da
contaminação, incluindo o alerta sobre a possibilidade de o amor e a afetividade, por
serem vividos de diversas maneiras, arrefecerem a prevenção e cederem lugar à
vulnerabilidade (SOUSA; PAIVA, 2003; PAIVA, 2000; MARTIN, 1995; CLÁUDIO et al,
1994; PILKINGTON, et al., 19994).
Para os(as) estudantes de psicologia e sociologia não houve significação das evocações
sobre o estímulo sexo, o que pode ser observado no gráfico pela ausência de palavras
marcadas com o número 1.
Quando o assunto foi sexualidade - segundo estímulo - para o fator 1, os(as)
universitários(as) portugueses evocaram as palavras relação, amor e corpo. Com estas
representações eles reforçam a visão romântica referida anteriormente e acrescentam a
palavra corpo, que é o locus onde se dá a expressão da sexualidade.
Todavia, quando esta visão se articula com a prevenção da infecção do hiv/sida/aids, é
preciso considerar aquilo para que Martin (1995) chama atenção em seu estudo, ao
destacar que a sexualidade está situada entre as categorias aids e amor. Salienta, ainda,
que, por ela ser ponto de encontro, acaba fazendo a mediação entre estas duas
possibilidades. Entretanto, continua esta autora, este encontro é inconscientemente evitado,
só passando a ser materializado a partir do momento em que ocorre a confirmação
diagnóstica. Em razão disso, todo esforço precisa ser empreendido nas ações educativas
para prevenção da sida/aids, no sentido de que sejam geradas condições propícias à
percepção das vulnerabilidades.
O gráfico, a partir da ausência de palavras com o número 2 ao seu final e em seu lado
esquerdo, revela que as representações expressas pelos brasileiros, sobre o que é
sexualidade, não foram significativas no jogo das oposições reveladas pela análise fatorial
para o fator 1.
O fator 2 aponta, como representação dos(as) estudantes de enfermagem brasileiros(as) e
portugueses(as) para o estímulo sexualidade, a sensualidade, que exprime a manifestação
dos prazeres dos sentidos e do despertar dos desejos. Já os(as) estudantes de psicologia e
sociologia brasileiros(as) a representaram com as palavras homossexualidade e
SIDA
NET
93
heterossexualidade, denotando uma forte relação com a expressão da opção sexual, o
que, como não se pode deixar de considerar, guarda relação com a representação da
sida/aids no imaginário popular.
O terceiro estímulo indutor era relativo às práticas sexuais e ele se destacou frente aos
demais, por ter sido aquele em que houve uma grande ausência de respostas ou em que
as cinco palavras solicitadas nem sempre foram citadas. Para o fator 1, estudantes
portugueses mais uma vez expressaram o amor como representação. Todavia, agora
fortemente relacionado com a segurança, denotando a importância de se exercerem práticas
sexuais que envolvam menos risco de contaminação pelo hiv.
Explicitar segurança como representação das práticas sexuais é um passo importante
para as ações de prevenção da infecção/reinfecção por doenças sexualmente transmissíveis,
em particular, pelo hiv/sida/aids. Entretanto, é preciso não perder a perspectiva de que
a eficácia de medidas preventivas depende diretamente da ação de homens e mulheres
em seus quotidianos, o que não é tão fácil ou simples, principalmente porque implica
influir em hábitos, representações e atitudes que estão na esfera privada.
Kalichman (1993) chama atenção para outro ponto importante, qual seja, o de que as
possibilidades de incorporar práticas de sexo seguro no exercício da sexualidade, numa
cultura heterossexual machista, são mais restritas, em decorrência da desigualdade no
poder de negociação entre os parceiros.
As representações relativas ao tipo de curso freqüentado pelos(as) universitários(as),
componentes do fator 2, para os(as) estudantes de enfermagem brasileiros (as) e
portugueses(as) são apreendidas a partir do preservativo, o que converge para a realização
do sexo seguro e de medidas preventivas. Com certeza, este é um repertório que, além de
fazer parte de todas as informações veiculadas sobre sida/aids, integra os conteúdos
estudados em seus cursos e que os ajuda nos processos de ancoragem e objetivação dessa
representação. Chama atenção o fato de que, ao evocar preservativo, os sujeitos, em sua
maioria, elegeram uma palavra que representa indiferenciadamente o seu uso, ou se
apropriaram do termo camisinha, que está relacionado ao sexo masculino, dando a
impressão de que o condom feminino não faz parte de seus universos.
A análise fatorial demonstrou que, para os(as) estudantes de sociologia e psicologia, não
há representações significativas no que respeita à sexualidade.
O quarto e último estímulo traz à tona as representações dos(as) universitários(as) sobre
sida/aids e, para o fator 1, elas se revelaram a partir das palavras medo, cuidado,
preservativo e preconceito, para os(as) brasileiros(as), enquanto que, para os(as)
portugueses, através de doença e sofrimento.
Embora a epidemia da sida/aids, em seus mais de vinte anos de existência, venha
experimentando mudanças no seu curso, expressas pela substancial melhora na qualidade
de vida das pessoas que vivem e convivem com a infecção pelo hiv - a partir do advento
da terapia antiretroviral; pelo arrefecimento em sua expansão, manifestado através do
recuo da tendência de crescimento e da letalidade na maioria dos países, e pelo trabalho
do movimento ativista, assegurando e garantindo direitos aos seus portadores, há
SIDA
NET
94
representações sobre ela que persistem como se fora o início da epidemia. Achados similares
foram encontrados por Madeira (1999), Tura (1999), Camargo (2000), Sousa; Paiva
(2003) todos eles realizados com populações de jovens estudantes.
O medo, aliado ao preconceito, ao cuidado e ao preservativo, demonstra que, ao serem
construídas as representações da sida/aids para o grupo de universitários(as)
brasileiros(as), elas foram se estruturando em torno de elementos que se apresentam
relacionados a sentimentos e procedimentos, os quais mobilizam a reflexão sobre a
possibilidade da contaminação, ou seja, de prevenir/contrair a doença, como também, e
principalmente, da proximidade da morte, uma vez que a sida/aids continua sendo uma
doença que dá visibilidade ás impotências humanas.
Os(as) estudantes portugueses(as) estruturam suas representações a partir da doença e do
sofrimento. Na sociedade atual, a doença continua sendo um tabu, sobretudo quando se
trata de uma população jovem para quem estão presentes as convicções de que a juventude
se reveste de padrões relacionados à vida, saúde, beleza, jovialidade, longevidade,
atividade, entre outros. Conjecturar sobre a possibilidade de contrair a sida/aids tornase uma negação destas concepções e se traduz em sofrimento por ensejar a antevisão do
seu próprio adoecimento ou de alguém próximo.
Tura (1999, p.151), ao encontrar em seu estudo resultados análogos, chamou atenção
para o forte valor simbólico e a polissemia presentes nos termos doença e sofrimento. Diz
este autor que eles “representam metáforas, que se associam a situações físicas, mentais,
imagináveis sociais e míticas” e que, por serem “termos vazios de sentido próprio, ou
preciso, estão mais sujeitos a condensar diferentes experiências e situações”.
No que concerne ao fator 2, as representações apreendidas são o medo e preconceito para
os(as) estudantes de enfermagem brasileiros(as), e doença para os(as) portugueses(as),
percebendo-se que, enquanto os(as) brasileiros(as) que cursam sociologia e psicologia
expressaram cuidado e preservativo, os(as) portugueses(as) evocaram perigo.
Chama atenção os(as) estudantes de enfermagem revelarem o medo associado ao
preconceito como representações sociais da sida/aids, pois, por terem adquirido
conhecimentos mais estruturados - advindos das discussões e leituras na academia -, era
de se esperar que, principalmente aqueles relacionados às formas e estratégias de prevenção
frente à infecção pelo hiv, contribuíssem para diferenciá-los da população em geral na
elaboração de suas representações.
Sousa e Paiva (2003), com base em achados semelhantes, avaliam que, embora isso seja
surpreendente, é compreensível. Pois o preconceito e a discriminação, ainda que menores
nos dias atuais, persistem como valores fortes na sociedade em relação às pessoas que
vivem com aids. Além disso, há a influência da condição de doença incurável que tem a
sida/aids.
Os(as) universitários(as) dos cursos de sociologia e psicologia expressaram as palavras
preservativo, cuidado, perigo e doença. Estas evocações apontam que, para os(as)
portugueses(as), a representação da sida/aids é a de uma doença perigosa. Para os(as)
SIDA
NET
95
brasileiros(as), ela é construída a partir da representação da prevenção, já que eles
associam preservativo e cuidado, sendo este na perspectiva da precaução.
As Representações Sociais e a Vulnerabilidade de Gênero
Com a necessidade de ampliar as estratégias de prevenção da sida/aids, o conceito de
vulnerabilidade, elaborado por Mann, em contraposição ao de comportamentos de risco,
foi ganhando cada vez mais espaço na saúde coletiva, isto porque ele aponta para um
conjunto de fatores, de níveis e magnitudes distintos cuja interação amplia ou reduz as
chances de uma pessoa estar protegida do hiv.
Entender vulnerabilidade como a interação entre fatores de natureza individual, social
e política, faz com que melhor se analise a epidemia da sida/aids, pois seu conceito
permite compreender o processo de exclusão social como sustentáculo da disseminação
do hiv e de sua expansão nos diversos segmentos populacionais.
Por esta razão, ele é útil para análise de grupos específicos, tais como o de mulheres e o
de jovens que, atualmente, são aqueles onde a ocorrência da expansão da epidemia tem
sido maior - tanto no Brasil quanto em Portugal -, e, para os quais, ações de prevenção,
assistência e controle devem ser implementadas.
A vulnerabilidade de gênero possibilita a abordagem dos comportamentos individuais na
perspectiva de identificar fatores que a determinam, estimulando a formulação de propostas
de enfrentamento que extrapolem o âmbito das ações sobre o indivíduo. Ainda assim, é
preciso considerar para além das diferenças individuais, pois outros atributos, destacandose entre eles raça, escolaridade, preferência sexual, acesso a renda, são, também,
definidores de variados graus ou tipos de vulnerabilidades (VILLELA; DINIZ, 1998).
Os achados deste estudo demonstram que as representações sociais da sida/aids se
constroem numa complexa teia de relações entre os(as) integrantes de um mesmo grupo
de pertença - o de jovens universitários -, nas quais estão imbricadas normas, valores,
culturas, subjetividades, afeto, desejo e sexualidade, entre outros fatores.
Há que se considerar, ainda, que no jogo das oposições apresentado graficamente, a
partir da análise fatorial, apreendem-se representações que expressam um movimento
contraditório vivido pelos(as) universitários(as) no qual ora subestimam a vulnerabilidade
- quando adotam a visão romântica do amor -, ora demonstram a possibilidade de estarem
alertas para perceberem o risco de infecção pelo hiv.
O acumulo de discussões sobre a perspectiva de gênero permite asseverar que buscar
identificar a vulnerabilidade de gênero e seus determinantes leva à possibilidade de
elaborar estratégias de enfrentamento para a prevenção da infecção pelo hiv. Como essas
estratégias dependem da ação implementada por homens e mulheres, elas acabam por
SIDA
NET
96
estar correlacionadas com as relações de poder, que determinam situações de subordinação
e dominação, as quais se manifestam, principalmente, no campo da sexualidade, (para
as quais, também, se fazem) para o que também se fazem necessárias estratégias.
Até o momento, o principal enfrentamento tem sido a adoção de práticas seguras no
exercício da sexualidade. Todavia, observa-se que, mesmo com o processo de expansão
da aids no segmento feminino, permanece viva, no imaginário social, a representação da
epidemia do Hiv/sida/aids, associada à masculinidade e à sexualidade masculina. Em
decorrência disso, os aspectos sociais das representações da sexualidade feminina acabam
reforçando as características de submissão da mulher frente à dominação masculina,
levando-a ao silêncio diante de situações como infidelidade, negociação de práticas sexuais
e o uso do condom, seja ele masculino ou feminino.
Neste sentido, outra estratégia de enfrentamento é o aumento da capacidade das mulheres
na abordagem sobre sexo e saúde sexual visando a negociação com o parceiro para o uso
do condom e para a adoção de práticas sexuais. Entretanto, ela não pode ser considerada
se não for fazendo parte de uma estratégia mais ampla e continuada de redução da
vulnerabilidade social das mulheres, que desconstrói a visão romântica do amor associada
à prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, em particular da sida/aids, e constrói
práticas geradoras de condições propícias à percepção das vulnerabilidades.
Com isso não se quer dizer que não seja necessário articular às ações preventivas o
impacto das relações de gênero no aumento da vulnerabilidade masculina. Entretanto, é
necessário, sim, desnaturalizar o domínio dos homens na esfera da sexualidade. Só assim
se estará reduzindo as desigualdades e, conseqüentemente, o impacto destas construções
sociais sobre a vulnerabilidade de homens e mulheres à infecção pelo Hiv.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A dimensão da epidemia da sida/aids permite que ela seja olhada sob diferentes
perspectivas para que sejam identificadas suas várias facetas e, como tal, se possa
encontrar caminhos capazes de minorar seu impacto na população, seja de soronegativos
ou de soropositivos para o Hiv.
Neste estudo, os(as) jovens demonstram que a sida/aids está incorporada em seus universos
cognitivos e afetivos, apreendida a partir de símbolos e significados que compõem suas
relações sociais, fazendo dela um objeto já familiarizado.
Articular representações sociais, relações de gênero, vulnerabilidade e práticas de
prevenção da sida/aids é se defrontar com um todo não homogêneo, onde estão expressas
contradições, similaridades, cognição, afeição, emoções, racionalidade e muitas outras
condições que estão presentes no quotidiano das pessoas e que as tornam mais vulneráveis
à infecção pelo HIV. Este contexto não pode ser desconsiderado na elaboração de
estratégias para prevenção e enfrentamento da epidemia, pois são repertórios que
concretamente perpassam suas atitudes e práticas, frente às medidas de prevenção e à
percepção do risco de contrair a sida/aids.
SIDA
NET
97
Enfim, é preciso ter claro que não há uma relação linear entre as representações, os
saberes práticos e as práticas sociais, e que investigar as representações sociais de um
determinado grupo é essencial para guiar as práticas educativas e a adoção de medidas
preventivas de combate à infecção pelo Hiv.
REFERÊNCIAS
A AIDS no mundo: Prefácio à edição original. In: MANN, J., TARANTOLA, D. J. M. (Org.) A AIDS no
mundo. Rio de Janeiro: Relume-Dumará/ABIA/IMS/UERJ. 1993. p. xvii, xviii.
ALDANA, Alda. Mulher, sexualidade e sexo seguro. In : PAIVA, V. (Org.) Em tempo de AIDS. São
Paulo:Summus, 1992, p.158 – 165.
ÁVILA, Maria Bethânia. Direitos reprodutivos, exclusão social e aids. In: BARBOSA, R.M; PARKER,
R. (Org). Sexualidades pelo avesso: direitos, identidades e poder. Rio de Janeiro: IMS/UERJ,
Ed.34, 1999. Cap. 2, p. 40-48.
AYRES, José Ricardo et al. Vulnerabilidade e prevenção em tempos de aids. In: BARBOSA, Regina.Maria;
PARKER, Richard. (Orgs.) Sexualidades pelo avesso: direitos, identidades e poder. Rio de
Janeiro: IMS/UERJ. Ed.34, 1999, p.49-72.
BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977, 221 p.
BRASIL Boletim epidemiológico aids. Brasília:Ministério da Saúde, Ano 15, dez, 2002.
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 196/96. Dispõe sobre pesquisa
envolvendo seres humanos. Rio de Janeiro, Conselho Federal de Medicina, v.4, p.15-25, 1996.
CAMARGO, Brigido Vizeu. Sexualidade e representações sociais da AIDS. Revista de Ciências Humanas.
Florianópolis, v.1, n.1, p.97-110, 2000.
CIBOIS, U.F.R Tri-deux mots. Versão 1.1. Paris, Sciences Sociales , 1989 (3 disquetes).
CLÁUDIO, V; PEREIRA, M. G; ROBALO, P Sida! a falsa protecção que o amor tece. Análise Psicológica.
v.2, n.3, p.211-226, 1994.
COSTA, Carla; LIMA, Maria Luísa O papel do amor na percepção da invulnerabilidade à sida. Psicologia,
Lisboa, v. XII, n. 1, p.41-62, 1998.
COUTINHO, Maria da Penha de Lima. Depressão infantil: uma abordagem psicossocial. João Pessoa:
Editora Universitária, 2001, 215 p.
DEMO, Pedro Pesquisa qualitativa busca de equilíbrio entre a forma e o conteúdo. Revista latinoamericana de enfermagem. Ribeirão Preto., v. 6 (2), p. 89-104, 1998.
JODELET, Denise Representações do contágio e a aids. In: JORDELET, D. ; MADEIRA, M. (org.)
Aids e representações sociais a busca de sentidos, Natal: EDUFRN, 1998, p.17-45.
KALICHMAN, A. O. Vigilância epidemiológica da AIDS: recuperação histórica de conceitos e práticas.
São Paulo: USP, Dissertação (Mestrado). Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo,
1993.
LIMA, Maria Luísa. Factores sociais na percepção de riscos. Psicologia, Lisboa, v. XII, n. 1, p.11-28,
1998.
MADEIRA, Margot Campos. A confiança afrontada: representações sociais da aids para jovens. In:
JORDELET, D. ; MADEIRA, M. (org.) Aids e representações sociais: à busca de sentidos,
Natal: EDUFRN, 1998, p. 47-72.
MARTIN, Denise Mulheres e AIDS: uma abordagem antropológica. São Paulo: USP, 1995, Dissertação
(Mestrado em Antropologia). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade
de São Paulo, 1995.
SIDA
NET
98
MOSCOVICI, Serge La Psychanalyse, son Image et son Public: étude sur la représentation sociale da
psychanalise. Paris, PUF, 1961, 649 p.
---------------------------. A Representação Social da Psicanálise. Rio de Janeiro, Zahar, 1978, 291 p.
PAIVA, Mirian Santos Vivenciando a gravidez e experienciando a soropositividade para o HIV. São
Paulo, 2000.170p.Tese (Doutorado) - Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo.
PILKINGTON, C.; KERN, W; INDEST, D. Is safer sex necessary with a “safer” partner? Condom use
and romantic feellings. The Journal of Sex Research, n. 31, 203-210, 1994.
PORTUGAL Boletim do centro de vigilância epidemiológica das D. T. Instituto Nacional de Saúde.
2003.
SÁ, Celso Pereira de - Representações sociais: o conceito e o estado atual da teoria. In: SPINK, Mary
Jane (org.). O conhecimento no cotidiano: as representações sociais na perspectiva da psicologia
social. São Paulo:Brasiliense, 1993, p.19 - 45.
SÁ, Celso Pereira de. A construção do objeto de estudo de pesquisa em representações sociais. Rio de
Janeiro: UERJ, 1998.
SANTOS, Maria Helena Ramos da Costa Género e etinicidade face à SIDA. Lisboa, 2001.118p.
Dissertação (Mestrado) – Psicologia Social e das Organizações, Instituto Superior do Trabalho
e da Empresa.
SILVA, Antonia Oliveira Situações de trabalho, saúde mental e qualidade de vida: um enfoque
transcultural. Projeto de pesquisa. UFPB. 2002, 27p.
SILVESTRE, António Meliço Radiografia da sida em Portugal. 2003. Disponível em : < http://
sic.sapo.pt>. Acesso em 6 out. 2003
SIMÕES BARBOSA, Regina. As mulheres, a AIDS e a questão metodológica: desafios. In: CZRESNIA,
D.; SANTOS, E.M.; BARBOSA, R. H. S.; MONTEIRO, S. (Org.) AIDS pesquisa social e
educação. São Paulo:Hucitec ; Rio de Janeiro:ABRASCO,1995, p.65 – 83.
SOUSA, Jimi Hendrix Medeiros de ;PAIVA, Mirian Santos Representações Sociais da aids:
vulnerabilidade e gênero. Anais. III Jornada Internacional de Representações Sociais e I
Congresso Brasileiro sobre Representações Sociais, Rio de Janeiro, 2003. [Publicação digital
em CD-room].
SPENCER, B. Contexte normatif du comportament sexuel et choix dês stratégies de prévention. Population. V. XLVII, n.5, p.1411-1436,1993.
SPINK, Mary Jane As representações sociais e sua aplicação em pesquisa na área da saúde. In: II
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e III Congresso de Saúde Pública. São Paulo, 1989,13p.
Mimeo.
TURA, Luís Fernando Rangel Aids e estudantes: a estrutura das representações sociais. In: JORDELET,
D; MADEIRA, M. (org.) Aids e representações sociais: à busca de sentidos, Natal: EDUFRN,
1998, p. 121-154.
VILLELA, Wilza V.; DINIZ, Simone. A epidemia da AIDS entre as mulheres: aprendendo a enfrentar
o desafio. São Paulo:NEPAIDS/CFSS, 1998,60p.
SIDA
NET
99
SIDA
NET
100
CLÍNICA E TRATAMENTO
SIDA
NET
101
SIDA
NET
102
SEVERE OTITIS DUE TO VIBRIO FLUVIALIS IN A
PATIENT WITH AIDS: FIRST REPORT IN THE WORLD
Rodríguez L E C*, Monroy S P*, Alvarez M R*, Escarpulli G C**
Longa B A***, Farinas L B* - Havana - Cuba
Abstract
We report on a case of waterborne otitis in a patient with AIDS, who got infected with
Vibrio fluvialis by swimming in a pool sea water. This is the first case reported in Cuba
and as far as we know in the world. We describe the clinical features associated with this
an unusual case and discuss its significance.
Keywords Otitis, AIDS, Vibrio fluvialis
Introduction
Vibrio species are natural inhabitants of brackish and salty water worldwide. Human
disease is associated with the ingestion of contaminated water or consumption of contaminated shellfish or seafood. Vibrio fluvialis is one of halophic vibrio is distinct from
non –cholera vibrios and have been recognized increasing as potentially pathogenic
bacteria in extraintestinal infections [1]. We describe a case of sharp diffuse external
otitis associated which was caused by Vibrio fluvialis in patient with AIDS.
A 34-year old man with a history of AIDS (CD4 cell count =123 /mm3). Five days after
swimming in a pool of sea water the patient had fever of 38.50C, purulent exudate through
the auditive duct; intense pain in the right ear region, which intensified during mastication, the patient was referred to the “Pedro Kouri” Institute of Tropical Medicine in the
Havana City, Cuba. Physical examination revealed a remarkable edematous and erythematous external auditive duct, with a purulent exudate, and adenopathies in the
*Institute of Tropical Medicine ¨Pedro Kouri¨, Havana City, Cuba.
**Laboratorio de Bacteriología Médica Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Instituto Politécnico Nacional. México.
Becario COFAA,EDD.
*** Laboratorio de Síndromes Urinarios. Universidad de Los Andes. Mérida. Venezuela.
Corresponding author: Bravo Fariñas Laura. PhD. Pedro Kouri Institute of Tropical Medicine, Apartado Postal No
601.Marianao 13 Havana City, Cuba. [email protected]
SIDA
NET
103
auricular and retroauricular regions. Examination of the cardiovascular system as well
as of other system was normal. On his admission to the hospital an ear swab was done
and treatment with 500mg of tetracycline, taken orally every 6h, was started. Treatment
was discontinued after 10 days and the patient’s condition improved clinically.
Laboratory tests revealed: Hemoglobin, 11.6g/l; hematocrits, 37.0%; eritrosedimentation,
74mm/h; leukocyte count, 13.000 x 109; neutrophils, 79%; platelet count, 210 000. Blood
chemistry values were as follows: glucose, 5.5mm/l; creatinine 130mg/dl. The purulent
exudate collected from the lesion before starting treatment was directly plated on Mac
Conkey agar and incubated at 370C for 18h. The isolate, presumably identified as Vibrio
fluvialis by API (Analytical Profile Index /Identification) 20E biochemical testing series
(bioMérieux, France), was definitely identified according to the standard procedures: it
was oxidase positive, esculine negative and string test positive. It grew on thiosulfatecitrate-bilesalts-sucrose agar (TCBS,Oxoid) with yellow colonies due to the sucrose fermentation. The isolate was susceptible to 10mg and 150mg disks of the O/129 compound
(2, 4-diamino-6, 7-diisoprropylperidine phosphate). It also grew in 6.5% NaCl and was
L-lysine Möller (1% NaCl) and L-ornithine decarboxylase negative and arginine dihydrolase
positive. No other bacterial pathogens were isolated [2]. The antimicrobial susceptibility
test, performed with the Kirby-Bauer method [3], showed that the strain was susceptible
to tetracycline, ampicillin, chloramphenicol, trimethoprim-sulfamethoxazole, nalidixic
acid, ciprofloxacin, streptomycin, erythromycin, gentamicin, cefuroxime, polymixin B.
The prevalence of Vibrio fluvialis intestinal infection in patients with AIDS has been
reported in the literature [4-6]. The species most often associated with soft-tissue infections are V.vulnifus, V. alginolyticus, and V. dansela [7]. The isolation of V.fluvialis
without other bacteria suggests that this species had a contributing role in the development of this patient¢s otitis. The patient¢s history would suggest that sea water constituted
infection source in this case. This is the first case reported in Cuba and as far as we know
in the world. As a conclusion, clinicians should consider V. fluvialis infection in the
differential diagnosis when assessing immunocompromised patients.
SIDA
NET
104
References.
Carpenter CCJ 1995. Other pathogenic vibrios. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Mandell,
Douglas and Bennett¢s. Principles and practice of infectious diseases. 4th ed. New York: Churchill
Livingstone; p. 1945-8.
Farmer JJ III, Janda M, Birkhead K 2003. Vibrio. In:Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, Jorgensen
JH, Yolken , eds. Manual of Clinical Microbiology 8 th ed. American Society for Microbiology,
Washington, D.C.p706-717
National Committee for Clinical Laboratory Standards Performance Standards for Antimicrobial
Susceptibility Testing 2001. Eleventh Informational Supplement. NCCLS Document M100S11.Wayne, 2001.
Chin KP, Lowe MA, Tong MJ, Koehleer AL 1987. Vibrio fluvialis infection after raw oyster ingestion in
a patient with liver disease and acquired immune deficiency syndrome related complex. Gastroenterology 92: 796-9.
Laughon BE, Druckman DA, Vernon A 1988. Prevalence of enteric pathogens in homosexual men with
and without acquired immunodeficiency syndrome. Gastroenterology 94: 984-93.
Varghese RM, Farr RW, Wax MK, Chafin BJ, Owens RM 1996. Vibrio fluvialis wound infection
associated with medical leech therapy. Clin Infect Dis 22: 709-10.
Mukherji A, Schroeder S, Deyling C, Procop GW 2000. An unusual soured of Vibrio alginolyticus
associated otitis: prolonged colonization of freshwater exposure. Arch Oto H &N Surg 126:790791
SIDA
NET
105
SIDA
NET
106
PADRÃO DE CRESCIMENTO DE CRIANÇAS INFECTADAS
COM O VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA
Leandro-Merhi V A1, Barros Filho A A2, Marluce dos Santos M M2, Silva V M N2 - Campinas - Brasil
RESUMO
Justificativa: Crianças infectadas com o vírus da imunodeficiência humana freqüentemente
apresentam deficiência de crescimento. A terapia anti-retroviral tem contribuído para
melhora do quadro clínico e conseqüentemente do estado nutricional nesta população.
Objetivo: Estudar o crescimento em peso e estatura, segundo o sexo, de crianças infectadas
com o vírus da imunodeficiência humana por transmissão vertical, de 0 a 192 semanas
de idade, estimando as velocidades de crescimento em peso e estatura.
Casuística e Método: Em um estudo longitudinal, foram avaliadas 101 crianças infectadas
com o HIV e 154 sororreversoras (crianças nascidas de mães infectadas pelo HIV, mas
que não se infectaram com o vírus), por um método utilizando um modelo quadrático
segmentado em duas faixas etárias (de 0 a 48 semanas e de 48 a 192 semanas). A
comparação dos parâmetros entre os dois grupos foi realizada pelo teste de Mann-Whitney
e foram construídas curvas de crescimento e de velocidade de crescimento.
Resultados: Não foram observadas diferenças significativas no padrão de crescimento
entre os dois grupos de crianças. Quando comparado o crescimento em peso e em estatura
de crianças infectadas e sororreversoras com o NCHS, verificou-se um comportamento
dentro dos parâmetros de normalidade.
Conclusão: Hoje, o padrão de crescimento de crianças infectadas é diferente, não ocorrendo
diferenças do comportamento de crescimento em peso e em estatura nos dois grupos,
(1) Nutricionista, Doutora em Ciências Médicas pela Unicamp. Docente da Faculdade de Nutrição, PUC (Campinas) e
UNIMEP (Piracicaba) - SP- Brasil
(2) Departamento de Pediatria - Faculdade de Ciências Médicas - UNICAMP- Campinas - SP Brasil.
SIDA
NET
107
observando-se que as crianças infectadas acompanham o seu ritmo de crescimento normal.
Palavras chaves:- crescimento, crianças, aids.
INTRODUÇÃO
Após a utilização da terapia anti-retroviral intensiva introduzida no início de 1996, a
história natural da AIDS tem se alterado drasticamente. Essa terapia ocasionou uma
redução significativa global do número de mortes pela doença, bem como de sua incidência
e infecções oportunistas 1, embora estes resultados tenham sido mais expressivos em
homossexuais, com um impacto menor observado em mulheres e minorias, que são
geralmente representadas por grupos marginalizados com acesso limitado ao tratamento
2
. A deficiência de crescimento é uma manifestação da infecção pelo HIV em crianças e
tem sido associada com morbidade e mortalidade da doença 3,4. Estudo realizado por
SILVA et al. (1999) 5, no Serviço de Imunodeficiência Pediátrica do Hospital de Clínicas
da Unicamp, revelou 23,5 a 45% de comprometimento pôndero-estatural em crianças
com diagnóstico de AIDS, sendo que 70,3% das crianças estudadas apresentaram
manifestações clínicas até os 9 meses de idade. Esta deficiência é relatada em
aproximadamente 1/3 das crianças infectadas com o HIV e está associada com uma
diminuição da sobrevivência 6. Crianças infectadas pelo HIV podem apresentar deficiência
de crescimento, retardo no desenvolvimento e comprometimento nutricional antes dos 4
meses de idade, antecedendo um declínio da taxa de crescimento linear 3, 4, 7, 8 . Essa
deficiência pode ocorrer na ausência de wasting e antes que a relação peso/altura esteja
comprometida 4, 7. Em estudos anteriores, foi observado que crianças sororreversoras
apresentaram uma taxa de crescimento semelhante à das crianças normais, ao passo que
o crescimento das crianças infectadas foi gravemente comprometido, resultando em curvas
muito diferentes daquelas das crianças normais, na mesma faixa etária 9, 10 . Atualmente
observa-se uma melhora no padrão de crescimento destas crianças, diferentemente de
trabalhos anteriores apontando para a deficiência de crescimento 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Associações entre aumento de carga viral e anormalidades do crescimento têm sido
relatadas em crianças infectadas por transmissão vertical, indicando que um aumento
de carga viral é maior em crianças infectadas com deficiência de crescimento que naquelas
sem estas alterações. Em crianças infectadas por transmissão vertical, o crescimento
linear durante os primeiros 18 meses de vida tem sido correlacionado com carga viral 7.
MILLER et al. (2001) estudaram o efeito do inibidor de protease sobre o crescimento e a
composição corporal em crianças infectadas com dados de 67 crianças com idade média
inicial de 6,8 anos. Medidas de peso, estatura, peso/idade, prega cutânea triciptal e
circunferência muscular do braço foram analisadas num estudo longitudinal prospectivo
por 2,4 anos. Utilizando-se análise de regressão com medidas repetidas, o tratamento
com inibidor de protease mostrou um efeito significativo no escore Z de peso, peso/altura
e circunferência muscular, mas nenhum efeito foi encontrado na prega triciptal, concluindo
que, além da redução significativa de carga viral, o inibidor de protease em crianças
tem um efeito positivo nos parâmetros de crescimento 19. Há poucos estudos semelhantes,
tratando-se estes de pesquisas sobre o crescimento de crianças infectadas, contudo o
SIDA
NET
108
interesse pelo assunto vem despertando a comunidade científica para a necessidade de
mais conhecimentos quanto ao crescimento e estado nutricional desses pacientes, com
possível correção das deficiências nutricionais, objetivando melhora na sobrevida desta
população. A compreensão dos agravos nutricionais relacionados com o tratamento clínico
permite o conhecimento de medidas mais eficazes no controle da doença e seu prognóstico
sobre o padrão de crescimento dessas crianças. O conhecimento da velocidade de
crescimento pode ser útil para a comparação dos efeitos no crescimento das novas
estratégias terapêuticas da combinação dos anti-retrovirais empregados na infecção pelo
HIV em pediatria. Este trabalho propõe-se a estudar o crescimento em peso e estatura
segundo o sexo, das crianças infectadas com o vírus da imunodeficiência humana de 0 a
192 semanas de idade comparadas com crianças sororreversoras, estimando as velocidades
de crescimento em peso e estatura, acompanhadas no ambulatório de Imunodeficiência
Pediátrica e que foram submetidas aos diferentes recursos terapêuticos já descritos e
recomendados pelo Ministério da Saúde e pela literatura pertinente.
CASUÍSTICA E MÉTODO
Durante os meses de julho de 2000 a março de 2001, foram levantados os prontuários de
todas as crianças matriculadas e acompanhadas no Ambulatório do Serviço de
Imunodeficiência Pediátrica do HC Unicamp desde 1989, nascidas de mães infectadas
com o vírus da imunodeficiência humana, diagnosticadas com base nos critérios clínicos
definidos pelo CDC 20, totalizando 412 pacientes, não sendo incluídos nesta amostra os
prematuros. Destes, 118 foram excluídos da pesquisa segundo os critérios de exclusão
como: início do acompanhamento com idade superior a 4 anos, número de consultas
inferior a três (3); indefinição da infecção pela idade; outros mecanismos de infecção que
não o da transmissão vertical. Foi realizado um levantamento de prontuários de crianças
de até 192 semanas de idade que foram infectadas com o vírus da imunodeficiência
humana, sendo estudadas as seguintes variáveis: idade, sexo, medidas de peso e estatura.
Nos prontuários que estavam com registros incompletos, foram utilizadas as informações
disponíveis, em virtude das características da população estudada e por serem muito
variáveis as anotações periódicas correspondentes à faixa etária. Do número de prontuários
inicialmente levantados (412) e excluídos (118), conforme os critérios de exclusão, foram
considerados 294 casos para a análise descritiva da população em estudo. A partir daí,
em razão da metodologia empregada na construção das curvas para o estudo do
crescimento, foi necessário excluir da análise aquelas crianças com um número inferior
a cinco (5) medidas, durante o período de 0 a 192 semanas. Assim, dos 294 casos, foram
estudadas nesta análise 255 crianças, sendo esta pesquisa aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP).
Seleção da amostra
As crianças foram divididas em dois grupos, da seguinte maneira:
a) Criança infectada: as crianças foram consideradas infectadas quando apresentaram
sorologia positiva para o vírus da imunodeficiência humana após teste de ensaio
SIDA
NET
109
imunoenzimático (Elisa para HIV: Kit Cobasâ Core Anti HIV 1/HIV 2 EIA DAGS, Roche
Diagnostics) e confirmação pelo exame de Western Blot ou Imunofluorescência (Western
Blot: Kit Qualicode HIV 1/2 da Immuneticsâ Cambridge, USA), após 18 meses de idade
ou anterior a esta idade, quando a criança apresentava sintomatologia da doença. Estas
foram então classificadas segundo os critérios do Centro de Controle de Doenças
(CENTERS..., 1994). A partir de maio de 1996, outra técnica utilizada na avaliação
laboratorial de criança infectada e sororreversora, pelo Serviço de Imunodeficiência
Pediátrica , foi a do genoma viral: PCR-DNA qualitativo, reação em cadeia da polimerase
(PCR para HIV: PCR, Gibco-BRL, Life Technologies/Tech-line, USA). Para a definição e
classificação clínica das crianças infectadas, foram usados os critérios adotados pelo
CDC norte-americano em 1994 21.
b) Criança sororreversora: as crianças foram consideradas como sororreversoras se
apresentaram completa reversão dos resultados de sorologia (Elisa) até os 18 meses de
idade, com função imunológica normal e sem sintomatologia da infecção com o vírus da
imunodeficiência humana.
Avaliação nutricional
A avaliação nutricional foi realizada por antropometria, com obtenção de medidas de
peso e estatura e utilizando-se as curvas do National Center for Health Statistics 22,
recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como referência internacional
e adotadas pelo Ministério da Saúde como referência para a população brasileira. Para
as medidas de peso, utilizou-se balança da marca Filizola com concha de aço inoxidável
do tipo pesa-bebê com sensibilidade de 10 gramas, para as crianças menores, e balança
de plataforma com haste vertical da mesma marca, para as crianças maiores. Para as
medidas de comprimento, utilizou-se craveira constituída por um suporte longitudinal
com duas hastes laterais com escala métrica com aproximação de 0,5 cm. A medida era
realizada com a criança em decúbito dorsal, despida, mantendo o ápice da cabeça
apoiado no anteparo vertical fixo da craveira e os membros inferiores mantidos em extensão
e juntos, com a planta dos pés em contato com o anteparo vertical móvel, com o qual se
delimita o comprimento (realizado por pessoal treinado). A partir de 2 anos de idade, a
obtenção da estatura foi realizada com antropômetro vertical.
Processamento dos dados
As fichas utilizadas para o levantamento dos dados foram digitadas em um banco de
dados elaborado no programa epi-info, versão 6.04. Os registros de cada criança digitados,
foram previamente analisados por um programa estatístico com o objetivo de detectar
erros lógicos ou de digitação. Todos os erros encontrados foram corrigidos e novamente
submetidos ao mesmo procedimento até que não houvesse mais detecção de erros.
SIDA
NET
110
Análise estatística
Curvas de crescimento em peso e estatura por sexo e grupo
O estudo do crescimento das crianças infectadas e sororreversoras foi realizado pela
análise de regressão linear. Adotou-se o método realizado por DAWSON et al. (1980) 23,
para a construção das curvas medianas de crescimento em peso e estatura, para os dois
grupos de crianças em função da idade em semanas e segmentado por sexo, utilizandose todas as informações disponíveis de cada criança (não sendo realizado faixas de
agrupamento dos dados). Esse método consiste em ajustar modelos de regressão linear
individuais, para a escolha da função que melhor descreva a relação das variáveis em
questão. Escolhido o melhor modelo, aplicou-se em todos os indivíduos, obtendo-se os
parâmetros individuais de cada criança. A curva mediana foi construída utilizando-se os
valores medianos desses parâmetros. DAWSON et al. (1980) 23 referem que seja utilizada
a curva média. Neste trabalho foi utilizada a curva mediana, em razão da variabilidade
encontrada nos parâmetros estimados. Este estudo foi realizado compreendendo a análise
do crescimento segmentado em dois períodos: de 0 a 48 semanas e de 48 a 192 semanas.
O corte foi feito em 48 semanas para melhor divisão do número de medidas disponíveis,
possibilitando informações suficientes para poder se aplicar o método de ajuste,
principalmente após 48 semanas. Após selecionado o melhor ajuste, foram estimados os
parâmetros do modelo de regressão para a curva mediana do peso e da estatura, em
função da idade para ambos os sexos, nos dois grupos. Assim, para o ajuste do peso e da
estatura, os coeficientes de regressão estimados para ambos os sexos, para este método
de análise, foram baseados na função: Peso/Estatura = a + b1 idade + b2 idade2,
seguindo o ajuste quadrático que são os valores medianos dos parâmetros individuais.
Foram ajustados modelos de regressão polinomial em cada sujeito para as duas variáveisresposta em função da idade e o modelo final que descreve o conjunto é composto pelos
parâmetros estimados por meio das medianas dos parâmetros individuais. A comparação
dos parâmetros entre os dois grupos foi realizada pelo teste de Mann-Whitney, sendo este
procedimento adotado para verificar se havia diferença dos parâmetros das curvas entre
os grupos. Foram construídas curvas de crescimento em peso e estatura segundo o sexo,
e comparadas nos dois grupos de crianças: infectadas e sororreversoras.
Curvas de velocidade de crescimento em peso e estatura por sexo e grupo
A velocidade de crescimento em peso e em estatura foi calculada por meio da primeira
derivada das funções de crescimento estimadas para grupo e sexo. Este procedimento de
análise foi adotado para a análise do crescimento no período 0 a 48 semanas e de 48 a
192 semanas.
Comparação com as curvas de crescimento do NCHS
As curvas de crescimento em peso e em estatura estimadas nos dois grupos de crianças
em ambos os sexos, foram também comparadas com as curvas do NCHS.
SIDA
NET
111
RESULTADOS
Verifica-se na tabela 1 que entre as crianças infectadas, 70 (53,4%) pertencem ao sexo
masculino e 61 (46,6%) ao feminino. Entre as crianças sororreversoras 79 (48,5%)
pertencem ao sexo masculino e 84 (51,5%) ao feminino. Quanto à situação de
acompanhamento no Serviço de Imunodeficiência Pediátrica, durante o período de
levantamento dos dados, no grupo de crianças infectadas, 70 (56%) freqüentavam
regularmente o ambulatório. A freqüência de comparecimento às consultas no grupo das
crianças infectadas ocorre de acordo com a evolução clínica, sendo na maioria das vezes,
acompanhadas semanalmente. A maioria das crianças era proveniente de uma população
com baixo nível de escolaridade das mães. Os coeficientes de determinação para a
escolha do melhor ajuste para o peso e a estatura estão ilustrados respectivamente nas
tabelas 2 e 3.
As tabelas 4, 5, 6 e 7 mostram os parâmetros estimados para a curva mediana do peso
em função da idade por sexo em cada grupo. Comparando-se os parâmetros estimados
entre os grupos pelo teste de Mann-Whitney, para obtenção do peso em função da idade
<= 48 semanas para o sexo masculino, houve diferença significativa entre eles, sendo
os respectivos níveis de significância: 0,0370, <0,0001 e <0,0001 (Tabela 4) e para o
sexo feminino, houve diferença significativa entre eles somente para o coeficiente do
termo de primeiro grau, com os respectivos níveis de significância: 0,0727, 0,0139 e
0,5439 (Tabela 5). Comparando-se os parâmetros estimados entre os grupos pelo teste de
Mann-Whitney, para obtenção do peso em função da idade > 48 semanas para o sexo
masculino e feminino, houve diferença significativa entre eles, sendo os respectivos níveis
de significância: 0,0004, 0,0187, 0,0076 (Tabela 6) e 0,0002, 0,0173 e 0,0042
(Tabela 7). Observou-se assim diferença significativa entre os grupos, nas curvas de
crescimento em peso para o sexo masculino e o sexo feminino (não sendo encontrada
diferença no momento do nascimento) (Figuras 1 e 2). As figuras 1, 2, 3 e 4 mostram
respectivamente as curvas de crescimento em peso e estatura comparados às curvas do
NCHS, para ambos os sexos, a qual aponta um crescimento dentro da faixa de normalidade
pelo modelo atual. As tabelas 8, 9, 10 e 11 mostram os parâmetros estimados para a
curva mediana da estatura em função da idade por sexo em cada grupo. Comparando-se
os parâmetros estimados entre os grupos pelo teste de Mann-Whitney, para obtenção da
estatura em função da idade <= 48 semanas para o sexo masculino, não houve diferença
significativa entre eles, exceto para o termo de primeiro grau, sendo os respectivos níveis
de significância: 0,1115, 0,0061 e 0,0685 (Tabela 8), sem diferença significativa para o
sexo feminino (Tabela 9). Para obtenção da estatura em função da idade > 48 semanas
para o sexo masculino e feminino, não houve diferença significativa entre eles (Tabelas
10 e 11). As figuras 3 e 4 mostram as estimativas das curvas de crescimento em estatura
por este método segmentado em duas faixas etárias, e pode ser verificado que não há
diferenças entre os dois grupos. Observa-se diferença para o sexo masculino apenas na
fase inicial. É importante relatar que tais achados apontam para uma situação que hoje
é um pouco diferente, uma vez que temos crianças infectadas de mães tratadas na gestação.
Observa-se, por esta análise segmentada em duas faixas etárias, que a velocidade de
crescimento se comporta de maneira muito próxima, principalmente a velocidade de
crescimento em estatura (Figura 6). A velocidade de ganho ponderal estimado (Figura 5)
mostra que o grupo de crianças sororreversoras parte de 0,24 kg/semana para o sexo
SIDA
NET
112
masculino e quase 0,20 kg/semana para o sexo feminino contra quase 0,14 kg/semana
para o grupo de crianças infectadas em ambos os sexos.
DISCUSSÃO
A análise do crescimento nesta população é muito complicada, pois diversos fatores
como o fato destas crianças nascerem e serem criadas em um ambiente altamente afetado
pela doença e pelas circunstâncias que a acompanham, influenciam o acompanhamento
e a adesão ao tratamento, além da situação social. O padrão de crescimento anterior ao
início da terapia anti-retroviral em crianças infectadas com o HIV em países desenvolvidos
já está bem documentado. Crianças infectadas apresentam pesos de nascimento similares
aos de crianças sororreversoras, mas os valores de peso e estatura diferenciam-se
rapidamente já nos primeiros meses de vida. Intervenções nutricionais podem contribuir
para a melhora do estado nutricional, embora doenças agudas possam levar a uma
redução do peso corporal 3, 15, 17. Relatos anteriores mostram que ao longo do tempo crianças
infectadas vão se tornando menores em peso e estatura. Os dados aqui encontrados,
podem sugerir uma melhora no estado do crescimento em si, quando se observam trabalhos
anteriores estudando crescimento e apontando a deficiência de crescimento nesta população
9, 10
. Hoje observamos uma melhora no padrão de crescimento. O presente trabalho mostra
não haver diferença quanto ao padrão de crescimento, considerando atualmente o efeito
do tratamento anti-retroviral existente, o que apontou para a necessidade de um novo
método de análise, segmentado em duas faixas etárias. Por este método de análise, a
avaliação do crescimento por regressão linear, segmentado em dois momentos, foi utilizada
neste estudo para aprofundar o conhecimento sobre como se comporta o crescimento
desta população. O corte foi feito em 48 semanas para melhor divisão do número de
medidas disponíveis, possibilitando informações suficientes para poder se aplicar o método
de ajuste, principalmente após 48 semanas. Foi utilizado um modelo quadrático
segmentado nas duas faixas etárias. Este, por sua vez, parece ser o modelo mais adequado.
Quanto mais simples for o modelo, melhor do ponto de vista para o estudo do crescimento.
O ideal é se ajustar um modelo matemático que seja capaz de refletir, da maneira mais
simples possível, o crescimento da criança. No caso em questão, os coeficientes de
determinação (R2) não mostraram diferenças nos ajustes entre o modelo de 2º e 3º grau.
Assim, o melhor modelo ajustado permaneceu o de 2º grau. Este modelo de estudo
mostrou que não houve diferença de crescimento entre os dois grupos estudados. É
importante relatar que tais achados apontam para uma situação que hoje é um pouco
diferente, uma vez que temos crianças infectadas de mães tratadas na gestação. A magnitude da deficiência de crescimento associada à infecção pelo HIV, nos quais as
velocidades de ganho ponderal e crescimento em estatura foram comparadas com dados
de crianças sororreversoras, mostra que crianças infectadas já partem de um valor de
ganho ponderal inicial por semana inferior ao grupo de crianças sororreversoras para
ambos os sexos. Estas observações sugerem que o acompanhamento da velocidade de
crescimento em crianças infectadas pelo HIV pode ser útil para o entendimento da
progressão da doença e sua relação com o tratamento. ARPADI et al. (2000) 24 mostraram
que a maior velocidade de crescimento analisada por regressão múltipla em crianças
infectadas foi inversamente relacionada com os níveis de replicação viral. Neste estudo,
a velocidade de crescimento calculada por meio da primeira derivada das funções de
crescimento estimadas, revelou que o grupo de crianças infectadas apresentou uma
SIDA
NET
113
velocidade de crescimento inicial mais baixa, tanto para o peso como para a estatura.
Esta velocidade inicial está comprometida, tornando-se semelhante nos dois grupos, com
o decorrer do tempo. Observa-se, por esta análise segmentada em duas faixas etárias,
que a velocidade de crescimento se comporta de maneira muito próxima, principalmente
a velocidade de crescimento em estatura. Incrementos na estatura são freqüentemente
observados após a melhora do peso 19. Em um estudo realizado por POLLACK et al.
(1997) 7, crianças infectadas pelo HIV demonstraram uma redução precoce na velocidade
de crescimento em comprimento, quando comparadas com crianças sororreversoras. O
padrão da velocidade de crescimento em comprimento permaneceu abaixo do das crianças
sororreversoras após seis meses de idade, embora as diferenças tenderam a diminuir com
a idade. Incrementos na estatura são freqüentemente observados após a melhora do peso
19
. Há poucas intervenções com impacto na velocidade de crescimento em estatura em
crianças infectadas. Observações com terapia de nutrição enteral e estimulantes de apetite
mostram aumentos no ganho de peso, mas não em estatura 25. Em razão do fato de
crianças infectadas com o HIV estarem vivendo mais tempo, são necessárias intervenções
nutricionais no sentido de alcançar o máximo potencial de crescimento. No início deste
trabalho se acreditava que melhoras no crescimento ocorreriam a partir da utilização do
tratamento. Ao término deste estudo, foi observado que o tratamento hoje faz com que as
crianças infectadas cresçam normalmente, salientando-se também que muitas dessas
crianças são filhas de mães tratadas na gestação, o que também pode estar influenciando
esta questão. Outro fator de influência poderia ser atribuído ao ano de diagnóstico, uma
vez que temos neste trabalho crianças diagnosticadas precocemente, conseqüentemente
sendo tratadas mais cedo e por isto com estado nutricional menos comprometido, e outras
que chegam mais tardiamente, por sua vez apresentando quadros de desnutrição difíceis
de serem revertidos. Hoje se pode estimar que o tratamento permite que as crianças
cresçam normalmente, sendo que outras investigações devem ser exploradas com novos
métodos de análise.
CONCLUSÃO
- A avaliação pelo método de análise segmentado em duas faixas etárias permitiu um
melhor conhecimento do crescimento em peso e em estatura nos dois grupos.
- Após os ajustes necessários, crianças infectadas e sororreversoras têm um comportamento
semelhante.
-Comparado com o NCHS, essas crianças crescem dentro dos parâmetros de normalidade,
porém abaixo do p50.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. FLEMING, P.L.; WARD, J.W.; KARON, J.M.; HANSON, D.L.; DeCOCK, K.M. Declines in AIDS
incidence and deaths in the USA: A signal change in the epidemic. AIDS 1998; 12(suppl
a):s55-s61.
2. KEITHLEY, J.K.; SWANSON, B.; MURPHY, M.; LEVIN, D.F. HIV/AIDS and nutrition: implications for disease management. Nursing Case Management 2000; 5(2): 52-59.
SIDA
NET
114
3. McKINNEY, R.E.; ROBERTSON, WR. DUKE PEDIATRIC AIDS CLINICAL TRIALS UNIT.
Effect of human immunodeficiency virus infection on the growth of young children. J
Pedriatr 1993; 123:579-582.
4. PETERS, V.B.; ROSH, J.R.; MUGRDITCHIAN, L.; BIRNBAUM, A.H.; BENKOV, K.J.; HODES,
D.S.; LELEIKO, N.S. Growth failure is the first expression of malnutrition in children with
human immunodeficiency virus infection. Mount Sinai J Med 1998; 65:1-4.
5. SILVA, E.B.; SILVA, M.T.N.; VILELA, M.M. Evolução de parâmetros hematológicos em um grupo
de crianças infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana do tipo HIV 1. J Pediatr 1999;
75(6):442-448.
6. THEA, D.M.; ST. LOUIS, M.E.; ATIDO, U.; KANJINGA, K.; KEMBE, B.; MATONDO, M.;
TSHIAMALA, T.; KAMENGA, C.; DAVAGHI, F.; BROWN, C.; RAND, W.M.; KEUSCH, G.T.
A prospective study of diarrhea and HIV-1 infection among 429 Zairian infants. N Engl J Méd
1993; 329:1696-1702.
7. POLLACK, H.; GLASBERG, H.; LEE, E.; NIRENBERG, A.; DAVID, R.; KRASINSKI, K.;
BORKOWSKY, W.; OBERFIELD, S. Impaired early growth of infants perinatally infected
with human immunodeficiency virus: correlation with viral load. J Pediatr 1997; 130:91522.
8. RICH, K.; SHEON, A.; DIAZ, C.; COOPER, E.; PITT, J.; HANDELSMAN, E.; BRAMBILLA, D.;
MOYE, J. Natural history of somatic growth in pediatric HIV infection: preliminary data of the
women and infants transmission study (WITS). Natl Conf Hum Retroviruses Relat Infect, (1
st.): 180 december 12-16, 1993.
9. LEANDRO-MERHI, V.A., SILVA, M.T.N.; VILELA, M.M.S.; BARROS F., A.A.; LOPEZ, F.A.
Evolution of nutritional status of infants infected with the human immunodeficiency virus. São
Paulo Med J 2000; 118 (5):148-53.
10. LEANDRO-MERHI, V.A., SILVA, M.T.N.; VILELA, M.M.S.; BARROS F., A.A. Características
do crescimento de crianças infectadas com o vírus da imunodeficiência humana. Rev. Ped. S.P.
2001; 23(1):17-26.
11. OLESKE, J.; MINNEFORE, A.; COOPER, R.; THOMAS, K.; de la CRUZ, A.; ABDIEH, H.;
GUERRERO, I.; JOSHI, V.V.; DESPOSITO, J. Immune deficiency syndrome in children. JAMA
1983; 249:2345-2349.
12. LAUE, L.; PIZZO, P.A.; BUTLER, K.; CUTLER, G.B. Growth and neuroendocrine dysfunction in
children with acquired immunodeficiency syndrome. J Pediatr 1990; 117:541-545.
13. HALSEY, N.A.; BOULOS, R.; HOLT, E.; RUFF, A.; BRUTUS, J.R.; KISSINGER, P.; QUINN, T.C.;
COBERLY, J.S.; ADRIEN, M.; BOULOS, C. Transmission of HIV1 infections from mothers
to infants in Haiti. JAMA 1990; 264: 2088-2092.
14. MILLER, T.L.; ORAV. E.J.; MARTIN, S.R.; COOPER, E.R.; MC INTOSH, K.; WINTER, H.S.
Malnutrition and carbohydrate malabsorption in children with vertically - transmitted
human immunodeficiency virus - 1 Infection. Gastroenterology 1991; 100:1296-1302.
15. MILLER, T.L.; EVANS, S.J.; ORAV, E.J.; MONIS, V.; McINTOSH, K.; WINTER, H.S. Growth
and body composition in children infected with the humam immunodeficiency vírus - 1. Am J
Clin Nutr 1993; 57:588-592.
16. WINTER, H.S. MILLER, T.L. Gastrointestinal and nutritional problems in pediatric HIV disease.
In: PIZZO, P.A., WILFER, C.M. Pediatric AIDS: the challenge of HIV infection in children and
adolescent. 2.ed. Baltimore : Willians & Wilkins, 1994. p.513-534.
17. MOYE, J.; RICH, K.C.; KALISH, L.A.; SHEON, A.R.; DIAZ, C.; COOPER, E.R.; PITT, J.;
HANDELSMAN, E. Natural history of somatic growth in infants born to women infected by
human immunodeficiency vírus. J Pediatr 1996; 128:58-69.
SIDA
NET
115
18. CAREY, V.J.; YONG, F.H.; RENKEL, L.M.; McKINNEY, R.E. Jr. Pediatric AIDS prognosis using
somatic growth velocity. AIDS 1998; 12(11):1361-1369.
19. MILLER, T.L.; MAWN B.E.; ORAV, E.J.; WILK, D.; WEINBERG G.A.; NICCHITTA, J.
FURUTA, L.; CUTRONI, R.; McINTOSH, K.; BURCHETT, S.K.; GORBACH, S.L. The effect of
protease inhibitor therapy on growth and body composition in human immunodeficiency virus
type 1-infected children. Pediatrics 2001; 107(5), E77:1170-1171. Abstract.
20. CENTERS FOR DISEASE CONTROL – 1994. Revised classification system for human immunodeficiency virus (HIV) infection in children less than 13 years of age. MMWR 1994; 43:1-10.
22. NATIONAL CENTER FOR HEALTH STATISTICS. Growth curves for children birth 18 years
United States. Washington, D.C.: V.S. Printing Office, 1977. (Vital and Health Statistics,
Series 11, N. 165, DHW Pub. N. 78-1650).
23. DAWSON, D.V.; TODOROV, A.B.; ELSTON, R.C. Confidence Bands for Growth of Head Circumference in Achondroplastic Children During the First Year of Life. Am J Med Gen 1980; 7:529536.
24. ARPADI, S.M.; CUFF, P.; KOTLER, D.P.; WANG, J.; BAMJI, M.; LANGE, M.; PIERSON, R.N.;
MATTHEWS, D.E. Growth velocity, fat-free mass and energy intake are inversely related to
viral load in HIV-infected children. J Nutr 2000; 130(10):2498-2502.
25. HENDERSON, R.A.; SAAVEDRA, J.M.; PERMAN, J.A.; HUTTON, N.; LIVINGSTON, R.A.;
YOLKEN, R.H. Effect of enteral tube feeding on growth of children with symptomatic human
immunodeficiency virus infection. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1994; 18:429-434.
PROGRAMAS COMPUTACIONAIS
CONOVER, W.J. Practical Nonparametric Statistics. New YorK: John Wiley & Sons, 1971.
MATTHEWS, J.N.S.; ALTMAN, D.G.; CAMPBELL, M.J.; ROYSTON, P. Analysis of Serial Measurements in Medical Research. Br Med J 1990; 300(27):230-235.
SAS System for Windows (Statistical Analysis System). Version 8.1. Cary, NC: SAS Institute Inc.,
1999-2000.
SPSS for Windows. Version 10.0. Chicago: SPSS Inc., 1989-1999.
SIDA
NET
116
RESULTADOS
Tabela 1. Análise descritiva da população total
Crianças
Características
Infectadas
N = 131 (44,6%)
Sororreversoras
N = 163 (55,4%)
Total
N
%
N
%
N
%
Sexo (N = 294)
Masculino
Feminino
70
61
53,4
46,6
79
84
48,5
51,5
149
145
50,7
49,3
Situação (N = 284)
Em acompanhamento
Alta
Óbito
Abandono/Ignorada
Transferido
70
1
30
23
1
56,0
0,8
24,0
18,4
0,8
95
3
61
-
59,7
1,9
38,4
-
165
4
30
84
1
58,0
1,4
10,6
29,6
0,4
Reside com (N = 197)
Família de origem
Adotiva
87
8
91,6
8,4
94
8
92,2
7,8
181
16
91,9
8,1
Terapia anti-retroviral (N = 131)
Sim
Não
97
34
74,0
26,0
-
-
97
34
74,0
26,0
SIDA
NET
117
CURVAS DE CRESCIMENTO EM PESO E ESTATURA SEGUNDO SEXO E GRUPO
(análise por regressão linear de 0 a 48 semanas e de 48 a 192 semanas).
Tabela 2. Coeficientes de determinação (R2) para a escolha dos modelos para o peso.
Modelo
Linear (y=a+bx)
Fem. HIV+
Fem. HIV-
Masc. HIV+
Masc. HIV-
<=48 / >48
<=48 / >48
<=48 / >48
<=48 / >48
0,967 / 0,984 0,950 / 0,992 0,797 / 0,980 0,957 / 0,970
2
Quadrático (y=a+bx+cx ) 0,990 / 0,988 0,998 / 0,993 0,889 / 0,980 0,997 / 0,979
Cúbico
(y=a+bx+cx2+dx3)
0,992 / 0,989 0,999 / 0,994 0,900 / 0,981 0,997 / 0,979
Tabela 3. Coeficientes de determinação (R2) para a escolha dos modelos para a estatura.
Modelo
Fem. HIV+
Fem. HIV-
Masc. HIV+
Masc. HIV-
<=48 / >48
<=48 / >48
<=48 / >48
<=48 / >48
Linear (y=a+bx)
0,724 / 0,928 0,939 / 0,946 0,648 / 0,982 0,977 / 0,970
Quadrático
(y=a+bx+cx2)
0,939 / 0,971 0,991 / 0,970 0,725 / 0,982 0,995 / 0,986
Cúbico
(y=a+bx+cx2+dx3)
0,945 / 0,976 0,995 / 0,972 0,802 / 0,988 0,996 / 0,990
Análise do peso
Tabela 4. Parâmetros estimados para a curva mediana do peso em função da idade
(<=48 semanas) para o sexo masculino em cada grupo, segundo a função: α + β1 idade
+ β2 idade2
* Níveis de significância (Comparação dos parâmetros pelo teste de Mann-Whitney).
α mediano
β1 mediano
β2 mediano
HIV+ (n = 21)
3,38974216
0,13179618
-0,00092448
HIV- (n = 60)
3,05549456
0,23988255
-0,00236609
Grupo
SIDA
NET
118
Tabela 5. Parâmetros estimados para a curva mediana do peso em função da idade
(<=48 semanas) para o sexo feminino em cada grupo, segundo a função: α + β1 idade
+ β2 idade2
* Níveis de significância (Comparação dos parâmetros pelo teste de Mann-Whitney).
α mediano
β1 mediano
β2 mediano
HIV+ (n = 17)
2,72634460
0,13641256
-0,00105619
HIV- (n = 56)
3,08038255
0,18902110
-0,00149756
Grupo
Tabela 6. Parâmetros estimados para a curva mediana do peso em função da idade
(>48semanas) para o sexo masculino em cada grupo, segundo a função: α + β1 idade +
β2 idade2
* Níveis de significância (Comparação dos parâmetros pelo teste de Mann-Whitney).
Grupo
α mediano
β1 mediano
HIV+ (n = 54)
4,51944294
0,08201803
-0,00013897
HIV- (n = 38)
6,81397001
0,05200263
-0,00003037
0,0187
0,0076
*
0,0004
β2 mediano
Tabela 7. Parâmetros estimados para a curva mediana do peso em função da idade
(>48 semanas) para o sexo feminino em cada grupo, segundo a função: α + β1 idade +
β2 idade2
* Níveis de significância (Comparação dos parâmetros pelo teste de Mann-Whitney).
Grupo
α mediano
β1 mediano
β2 mediano
HIV+ (n = 41)
3,17787031
0,09241941
-0,00021903
HIV- (n = 38)
6,43985953
0,05862317
-0,00003399
0,0173
0,0042
*
0,0002
Análise da estatura
Tabela 8. Parâmetros estimados para a curva mediana da estatura em função da idade
(<=48 semanas) para o sexo masculino em cada grupo, segundo a função: α + β1
idade + β2 idade2
* Níveis de significância (Comparação dos parâmetros pelo teste de Mann-Whitney).
α mediano
β1 mediano
β2 mediano
HIV+ (n = 16)
50,64221364
0,75240782
-0,00586179
HIV- (n = 56)
49,60463123
0,92313025
-0,00795252
Grupo
*
0,1115
0,0061
0,0685
SIDA
NET
119
Tabela 9. Parâmetros estimados para a curva mediana da estatura em função da idade
(<=48 semanas) para o sexo feminino em cada grupo, segundo a função: α + β1 idade
+ β2 idade2
* Níveis de significância (Comparação dos parâmetros pelo teste de Mann-Whitney).
α mediano
β1 mediano
β2 mediano
HIV+ (n = 11)
47,91002686
0,73518343
-0,00566723
HIV- (n = 46)
47,95147140
0,84174383
-0,00748233
0,7234
0,1426
Grupo
*
0,1723
Tabela 10. Parâmetros estimados para a curva mediana da estatura em função da idade
(>48 semanas) para o sexo masculino em cada grupo, segundo a função: α + β1 idade +
β2 idade2
* Níveis de significância (Comparação dos parâmetros pelo teste de Mann-Whitney).
α mediano
β1 mediano
β2 mediano
HIV+ (n = 47)
59,11321515
0,29387581
-0,00043460
HIV- (n = 32)
62,61541037
0,28754503
-0,00043141
Grupo
*
0,1090
0,7990
0,5391
Tabela 11. Parâmetros estimados para a curva mediana da estatura em função da idade
(>48 semanas) para o sexo feminino em cada grupo, segundo a função: α + β1 idade +
β2 idade2
* Níveis de significância (Comparação dos parâmetros pelo teste de Mann-Whitney).
α mediano
β1 mediano
β2 mediano
HIV+ (n = 32)
54,46727846
0,33630928
-0,00051955
HIV- (n = 35)
60,85395192
0,28883032
-0,00034911
*
0,1014
0,5937
Grupo
SIDA
NET
120
0,3830
Comparação das curvas de crescimento com as curvas do NCHS
F em H IV+ / modelo de c resc imento
F em H IV- / m odelo de c rescim ento
F em P50 NC HS
24
22
20
18
Pe so (Kg)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
12
24
36
48
60
72
84
96 1 08 1 20 1 32 1 44 1 56 1 68 1 80 1 92
Idade (sem anas)
Figura 1. Curvas de crescimento em peso comparadas às curvas do NCHS, para o sexo feminino
M asc HIV+ / m odelo de c rescim ento
M asc HIV- / modelo de cres cimento
Mas c P50 NC HS
24
22
20
18
Pe so (Kg)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
12
24
36
48
60
72
84
96 1 08 1 20 1 32 1 44 1 56 1 68 1 80 1 92
Idade (sem anas)
Figura 2.
Curvas de crescimento em peso comparadas às curvas do NCHS, para o sexo masculino
SIDA
NET
121
F em H IV+ / modelo de cresc imento
F em H IV- / m odelo de c rescim ento
Fem P50 NC HS
1 20
1 10
Es tatura (cm)
1 00
90
80
70
60
50
40
0
12
24
36 48
60
72
84
96 1 08 1 20 1 32 1 44 1 56 1 68 1 80 192
Idade (sem anas)
Figura 3. Curvas de crescimento em estatura comparadas às curvas do NCHS, para o sexo feminino
Masc H IV+ / m odelo de c rescim ento
M asc HIV- / modelo de cres cimento
Mas c P50 NC HS
1 20
1 10
Es tatura (cm)
1 00
90
80
70
60
50
40
0
12
24
36 48
60
72
84
96 1 08 1 20 1 32 1 44 1 56 1 68 1 80 192
Idade (sem anas)
Figura 4. Curvas de crescimento em estatura comparadas às curvas do NCHS, para o sexo masculino
SIDA
NET
122
Curvas de velocidade de crescimento em peso e estatura segundo sexo e grupo
(de 0 a 48 semanas e de 48 a 192 semanas)
0.26
0.24
Fem HIV+
Fem HIV-
Masc HIV+
Masc HIV-
Velocidade Kg/semana
0.22
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
//
0.04
//
0.02
0.00
0
12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192
Idade (semanas)
Velocidade cm/semana
Figura 5. Velocidades de ganho ponderal estimadas em função da idade em semanas, segundo sexo e
grupo
1.0
Fem HIV+
Fem HIV-
0.9
Masc HIV+
Masc HIV-
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
//
0.2
0.1
0.0
0
12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192
Idade (semanas)
Figura 6. Velocidades de crescimento em estatura estimadas em função da idade, segundo sexo e
grupo
SIDA
NET
123
SIDA
NET
124
VARIAÇÕES ADAPTATIVAS, RELAÇÕES OBJETAIS E
EVOLUÇÃO CLÍNICA EM PACIENTES COM INFECÇÃO
PELO HIV-1, DOENTES OU NÃO
Silva Filho N , Souza L R - Botucatu - Brasil
Resumo
Avaliados no Ambulatório Especial da Área de Doenças Tropicais, da Faculdade de
Medicina de Botucatu, UNESP, 31 indivíduos com infecção pelo HIV-1. Dezesseis
realizaram avaliações psicológicas em momentos distintos, sendo utilizados o Teste de
Relações Objetais a Escala Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada. Verificou-se
associações entre dados epidemiológicos, clínicos, laboratoriais e psicodinâmicos,
considerando a história natural da doença. A infecção adquirida por consumo de drogas,
implicou desenvolvimento de aids, doenças neurológicas, internações e adaptação ineficaz
grave. Indivíduos com: aids, predomínio do funcionamento psicótico da mente, gravidez
e/ou sexualidade precoce, impulsividade e irritabilidade apresentaram deterioração da
eficácia adaptativa ao longo do tempo. Pacientes com ideação suicida e/ou adaptação
ineficaz severa ou grave apresentam linha de tendência do CD4+ e CD8+ em queda e
carga viral alta. A maior parte apresentou depressão crônica do tipo psicótica. Observouse correlação positiva entre TRO e EDAO-R, TRO e CD4+, e EDAO-R e CD8+.
Descritores: Psicologia clínica; Aids (Doença); Infecções por HIV; Eficácia adaptativa;
equilíbrio adaptativo
I – Introdução
Segundo dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica, a aids foi identificada no
Brasil pela primeira vez em 1982(Brasil, 2001a, 2001b) . Segundo o Ministério da
Saúde (Brasil, 2002), no período compreendido entre 1980 e dezembro de 2002, foram
notificados 257.780 casos de aids no Brasil.Para ambos os sexos, o grupo etário mais
atingido tem sido o de 25 a 49 anos.
A compreensão das características psicodinâmicas dos indivíduos portadores da infecção
pelo HIV–1, aliadas às informações epidemiológicas, devem permitir ações em prevenção
primária, ao identificar extratos da população sob maior risco de adquirir a infecção
SIDA
NET
125
pelo HIV. Em prevenções secundária e terciária poderão ser úteis na diminuição de
seqüelas e promoção da qualidade de vida dos que convivem com o HIV.
Da mesma forma que em outras doenças crônicas a percepção da perda da saúde mobiliza
nos pacientes sentimentos de angustia (Simon, 2000; Silva Filho, 1995a, 1995b 1996,
1997; Heleno, 1995, 2001; Lopes, 1993; Oliveira, 1993). Na infecção pelo HIV a percepção
da perda da saúde se faz acompanhar, em muitas das vezes, por sentimentos de culpa, de
rejeição por parte dos familiares, da fantasia da morte próxima e de reações
psicopatológicas como tentativas de enfrentamento da situação.
A aids é causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), que é um retrovírus
citopático e não-oncogênico, com genoma RNA. A transcrição do RNA viral para uma
cópia DNA, que pode integrar-se ao genoma do hospedeiro, depende de uma enzima
denominada transcriptase reversa. Uma vez dentro do hospedeiro, ele infecta células
derivadas da medula óssea e linfócitos, sendo os receptores dos linfócitos T com marcador
CD 4+ a via de entrada para o meio intracelular.
Após a invasão do organismo, o vírus causaria uma infecção aguda caracterizada pelo
aumento da carga viral plasmática e pela diminuição de linfócitos T CD4+, podendo
permanecer em latência clínica, por vários anos, e depois evoluir para o quadro de aids,
ocorrendo imunidade ineficiente e surgimento das doenças oportunistas. Atualmente os
tratamentos clínicos, com esquemas anti-retrovirais potentes, tentam postergar o resultado
final da história natural da doença: a aids.
A avaliação do estado imunológico e virológico do paciente com ou sem tratamento antiretroviral, conforme orientações do Ministério da Saúde (Brasil, 2001c), é feita através
da determinação dos linfócitos T com marcadores CD4+ e CD8+ e da determinação da
carga viral plasmática (Brasil, 2000, 2001c; Souza, 1998) que deve ser realizada
periodicamente.
Formas complementares de avaliação, considerando os aspectos qualitativos do
funcionamento imunológico, como indicadores da fase evolutiva são relatados por Meira
et al. (2000), ao proporem a avaliação do nível sérico das citocinas.
Para indicar o início do tratamento (Brasil, 2001c), o médico também leva em consideração
o compromisso do paciente com a adesão aos medicamentos, que depende do desejo do
paciente em se tratar, das possibilidades dele compreender e seguir, rigorosamente, as
orientações quanto aos horários e formas de ingestão dos diversos medicamentos antiretro-virais (ARV), necessitando muitas vezes, de mudanças nos hábitos de vida e tolerância
aos efeitos colaterais dos medicamentos.
O contrato terapêutico, estabelecido entre médico e paciente, é permeado pelas
características psicodinâmicas do paciente, pela inserção e relação que esse estabelece
com o universo cultural e social onde esta inserido.
Todos os ARV produzem efeitos colaterais importantes (Brasil, 2001c; Souza, 1998;
Monreal, 2000), interagem com outras medicações e afetam o comportamento e a
afetividade dos pacientes. Nesse sentido constituem um desafio a mais, além da convivência
SIDA
NET
126
com o HIV e com tudo o que esse representa no imaginário social. Os ARV podem ser
interpretados como marcadores da perda da saúde e da onipotência ingeridos várias
vezes ao dia.
II - OBJETIVOS
Pretendeu-se avaliar (1) o grau de comprometimento psicopatológico apresentado por
indivíduos infectados pelo HIV–1 doentes ou não; (2) a evolução da eficácia adaptativa
dos indivíduos infectados pelo HIV –1 doentes ou não; (3) comparar as características
psicodinâmicas indicativas de funcionamento psicótico com a história natural da doença
causada pela infecção pelo HIV–1; (4) verificar associações entre a deterioração do
estado imunológico e a pulsão de morte.
III - CASUÍSTICA E MÉTODOS
1. CASUÍSTICA
A coleta de dados foi realizada no Ambulatório Especial da Área de Doenças Tropicais,
do Departamento de Doenças Tropicais e Diagnóstico por Imagem, da Faculdade de
Medicina de Botucatu, UNESP. Foram avaliados 31 indivíduos, escolhidos ao acaso,
com história compatível de infecção pelo HIV–1, doentes ou não, e diagnóstico confirmado
pelos métodos laboratoriais, normalmente utilizados para essa finalidade.
Os pacientes foram avaliados no período de agosto de 2001 a janeiro de 2003, sendo 14
homens e 17 mulheres, com média de idade igual a 37 anos, desvio padrão de 10 anos e
mediana igual a 35 anos. Dezesseis deles foram avaliados por meio da entrevista clínica,
sendo realizado um novo diagnóstico da eficácia adaptativa nesse momento, com um
intervalo de tempo que variou entre 143 e 359 dias, sendo a média igual a 262 dias. O
mesmo período foi considerado para a inspeção dos prontuários.
2. MÉTODOS
2.1. Coleta de dados
A pesquisa caracterizou-se como uma pesquisa clínica, observacional e descritiva embora,
a reavaliação de uma parcela da amostra caracterize um estudo clínico, analítico de
coorte.
O projeto foi inicialmente submetido à avaliação da Comissão de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP, e aprovado, com parecer favorável.
Os pacientes foram inicialmente submetidos a uma entrevista clínica, conforme orientações
da Escala Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada (EDAO-R), e posteriormente aplicado
o Teste de Relações Objetais de Phillipson (TRO).
Após as entrevistas e a aplicação do teste, foi realizada a inspeção dos prontuários para
a coleta de dados referentes à história clínica.
SIDA
NET
127
Foram também colecionados dados referentes à contagem de linfócitos T CD4+e CD8+ por
mm3, carga viral plasmática em números absolutos e logaritmo, doenças oportunistas no
período entre as avaliações e/ou término da coleta de dados, internações hospitalares no
mesmo período, medicação tomada, idade, escolaridade, número de anos de estudo, sexo,
estado civil, ano do diagnóstico da infecção pelo HIV, orientação sexual, religião, cônjuges
e filhos portadores do HIV, forma de contaminação, uso abusivo de drogas ilícitas e
lícitas, residir sozinho ou acompanhado, estar trabalhando, tempo de diagnóstico do
HIV, desenvolvimento de sintomas compatíveis com aids.
A segunda avaliação psicológica foi realizada com 16 indivíduos, e nessa ocasião foi reaplicada a EDAO-R.
IV – DISCUSSÃO
Pretendeu-se caracterizar a amostra quanto aos aspectos epidemiológicos, clínicos e
psicodinâmicos, verificar as associações entre aspectos orgânicos e psicológicos, e
identificar fatores relevantes para a sobrevida dos pacientes portadores de infecção pelo
HIV–1, doentes ou não.
O grupo foi constituído randomicamente e apresentou um número de mulheres (n=17)
ligeiramente superior ao dos homens (n=14), provavelmente refletindo a tendência nacional
de aumento do número de casos de infecção pelo HIV, entre as mulheres (Brasil, 1999,
2001a, 2001b, 2001c, 2001d, 2002; Bastos & Szwarcwald, 2000; Bastos, 1995; Marques
& Doneda & Serain, 1999). Da mesma forma, as mulheres apresentaram o menor número
de anos de escolaridade, sendo que 14 mulheres estudaram até 8anos.
Observou-se que a média de idade no momento do diagnóstico da infecção pelo HIV,
quando consideradas as décadas de 1980, 90 e 2000 aumentou, passando de 28 anos na
década de 80 para 36,9 anos na década de 2000.
A maioria dos sujeitos havia contraído a infecção pelo HIV–1, na adolescência, antes
dos 18 anos e até os 24 anos (29,03%), sendo que alguns apresentaram nessa época
gravidez precoce e, outros, doenças sexualmente transmissíveis como sífilis, confirmando
os riscos de contrair a infecção, apontados para essa fase do desenvolvimento (Brasil,
1999, 2001a, 2001b, 2001c, 2001d, 2002, 2003; Bastos & Szwarcwald, 2000; Bastos,
1995; Galduróz & Carline, 1995,1997; Pechansky et al., 2000; Fernandes et al., 2000;
Vieira et al. 2000; Rua & Abramovay, 2001; Knobel, 2000; Aberastury & Knobel, 1981;
Martinez, 1998; Estevão, 1997; Santos & Schor, 2003). Os que apresentaram gravidez e/
ou sexualidade precoce, quando comparados aos que não as tiveram, obtiveram menores
médias na primeira avaliação psicológica, indicando o comprometimento dos setores
afetivo relacional e produtividade. Os dados sugerem os efeitos descritos por Maurício
Knobel, no que se refere ao pensamento concreto, característico da adolescência, aliados
a ausência de um objeto bom firmemente estabelecido, impulsividade e pouca tolerância
à frustração. Os resultados confirmam os riscos inerentes à adolescência, como sugerido
pelos autores ao discutirem as características da adolescência. Esses indivíduos, na quase
totalidade, apresentaram, juntamente com a sexualidade precoce, irritabilidade,
impulsividade e depressão que constituem elementos de risco na adolescência, confirmando
os resultados de Santos & Schor (2003) no que se refere à percepção negativa da vida
SIDA
NET
128
pelos adolescentes após gestação precoce.
O uso de drogas injetáveis não contribuiu de forma significativa para a transmissão da
infecção pelo HIV–1, sendo a via sexual a principal via de exposição. A maior parte da
amostra foi constituída por sujeitos heterossexuais, confirmando a tendência
epidemiológica da infecção pelo HIV–1, no Brasil (Brasil, 1999, 2001b, 2002).
Na primeira avaliação psicológica não houve respostas adequadas no setor orgânico. Os
indivíduos sintomáticos, em sua maior parte referiram adesão aos medicamentos, mesmo
apresentando sintomas clínicos no período entre as avaliações psicológicas, refletindo a
percepção equivocada do paciente detectada no setor orgânico da EDAO-R, na primeira
avaliação psicológica. Quando comparadas às respostas do setor orgânico com a segunda
avaliação psicológica, entre os que foram avaliados em dois momentos, observou-se que
a maior parte permaneceu com a mesma qualidade de soluções, ou seja, respostas pouco
ou pouquíssimo adequadas, mesmo apresentando sintomas no período considerado, não
confirmando as observações de Monreal (2000), quanto a maior aderência em pacientes
sintomáticos.
Entre os indivíduos sintomáticos, observou-se que houve manutenção do diagnóstico
adaptativo entre os que apresentavam adaptação ineficaz grave e depressão do tipo
psicótica. Os que tiveram aumento da eficácia adaptativa apresentaram depressão
neurótica, na primeira avaliação psicológica ou tinham como diagnóstico da eficácia
adaptativa, adaptação ineficaz moderada e depressão psicótica do subtipo maníaco
depressivo. Esse dado sugere que na depressão crônica, tipo maníaco depressivo, na fase
de mania o indivíduo conseguiria cuidar da manutenção da saúde, mas esse cuidado não
se sustentaria por constituir momentos de reparação onipotentes. Quando confrontados
com a perda da saúde e fatores externos negativos, surgem estados de luto patológico
(Steirner, 1989, 1991) não permitindo a continuidade dos cuidados com a saúde, podendo
expressar a necessidade de punição, como apontado por Simon (2000). Esse resultado
sugere a necessidade de se investigar, em estudos futuros, a participação das alterações
da afetividade na adesão aos medicamentos ARV, possivelmente em um estudo clínico
prospectivo.
O fato dos indivíduos apresentarem sintomas clínicos, no período compreendido entre as
avaliações psicológicas, não se traduziu em alterações significativas no diagnóstico da
eficácia adaptativa e do equilíbrio adaptativo. O sintoma não altera os sentimentos,
atitudes e ações com relação a si próprio e nas relações interpessoais, segundo definição
do setor afetivo relacional; da mesma forma que não se traduz em alterações no modo
como se relaciona com a atividade produtiva.
Esse dado sugere que na amostra estudada, o sintoma por si, não é relevante para o
agravamento dos quadros depressivos, não sendo possível afirmar que indivíduos
sintomáticos possuam maior comprometimento psicopatológico, quando considerada a
eficácia adaptativa e o equilíbrio adaptativo.
A maior parte da amostra já havia desenvolvido aids; quando comparados aos indivíduos
que não haviam desenvolvido, apresentaram as maiores médias na EDAO-R, na avaliação
psicológica. O fato de o indivíduo ter desenvolvido aids não implicou em diferenças
SIDA
NET
129
estatisticamente significativas, quanto à presença dos fatores internos e externos negativos
e médias do TRO.
Os dados sugerem que o diagnóstico de infecção pelo HIV, por si, não é o suficiente para
produzir alterações no diagnóstico da eficácia adaptativa, enquanto o indivíduo pode ou
não estar apresentando sintomas, mas quando o comprometimento do funcionamento do
sistema imunológico indica a existência de aids (CD4+ < 200), os indivíduos apresentam
aumento da eficácia adaptativa, mesmo com a concorrência de fatores internos e externos
negativos. O fato de não existir diferenças no equilíbrio adaptativo, medido pelo TRO,
sugere que a hostilidade do mundo interno não é implementada pelo desenvolvimento de
aids.
As diferenças estatisticamente significantes na EDAO-R, correspondente à primeira
avaliação psicológica, não estão associadas às variações dos linfócitos T CD4+ e ao
tempo de diagnóstico da infecção pelo HIV. Quando a contagem dos linfócitos T CD4+ é
maior que 501, os indivíduos apresentam maiores resultados no TRO, indicando maior
equilíbrio adaptativo, ou seja, as forças internas destrutivas estariam menos atuantes.
Os fatores internos negativos: ausência de relacionamento familiar satisfatório na infância,
depressão, irritabilidade, impulsividade, fanatismo religioso, apresentar o predomínio
do funcionamento psicótico da mente e ideação suicida não foram desenvolvidos como
decorrência do agravamento do estado imunológico, com o surgimento da aids.
Possivelmente seriam anteriores à infecção pelo HIV e/ou agravados pelo diagnóstico da
infecção, corroborando os dados de Ferreira (1994, p.473), ao encontrar indícios de que
a “contaminação foi procurada e se efetuou num contexto em que o paciente sabia que
poderia se dar, impulsionado pela culpa, não tanto decorrente de seus comportamentos
adultos, mas principalmente de seus conflitos infantis”.
No setor da produtividade apenas cinco indivíduos apresentaram o predomínio de respostas
adequadas na primeira avaliação psicológica. Em sua grande maioria predominaram as
respostas pouco ou pouquíssimo adequadas.
Os relatos eram sempre acompanhados de uma fala que indicava a impossibilidade de
esboçar reações contra a discriminação. Observou-se uma cumplicidade patológica com
as injustiças sofridas, expressas nas características psicodinâmicas dos quadros de
depressão.
Os relatos de fantasias e vivências, após o diagnóstico da infecção pelo HIV, sugeriram
um aprisionamento dos pacientes, semelhante ao descrito por Bion (1988), no que se
refere à doença aids ou ao HIV, e ao modo como passaram a se relacionar com o mundo.
A hostilidade do mundo interno era confirmada pelos efeitos colaterais dos medicamentos,
pelo estigma que a aids carrega e pela hostilidade do mundo em que viviam.
A investigação da percepção dos pacientes acerca do relacionamento com seus familiares
na infância revelou que quando a percepção era negativa, estava associada em maior
número a outros fatores negativos, tais como: depressão, irritabilidade, impulsividade,
fanatismo religioso, apresentar o predomínio do funcionamento psicótico da mente, ideação
suicida e gravidez e/ou sexualidade precoce, diferentemente daqueles que referiam
SIDA
NET
130
relacionamento familiar satisfatório na infância. Confirmando, portanto, a importância
da qualidade do vínculo com as figuras parentais na infância. Quando não acontece a
“reverie” (Bion, 1988) os objetos bons não estariam firmemente estabelecidos (Klein,
1991; Simon, 1986; Bion, 1988) criando um terreno fecundo para o desenvolvimento de
quadros de depressão crônica, impulsividade, irritabilidade como expressões da baixa
tolerância à frustração e impossibilidade de pensar a ausência do objeto (Bion, 1988).
Essas características comprometeriam a formação de vínculos, podendo conduzir a vida
sexual promíscua e/ou sexualidade e gravidez precoce.
Entre os indivíduos que tiveram um bom relacionamento familiar na infância, as Lâminas
B3 e Branca foram as que tiveram a menor média de pontos. Esses dados sugerem,
através da Lâmina B3, a limitada capacidade de enfrentar aspectos sombrios e
angustiantes da vida, com o predomínio da ansiedade persecutória e o temor das
identificações projetivas. Os resultados da Lâmina Branca sugerem a percepção negativa
do paciente quanto ao seu diagnóstico e prognóstico e o uso de defesas maníacas. Esses
dados qualitativos do TRO parecem confirmar o que foi observado pelo diagnóstico
adaptativo.
Quando se considerou a presença ou ausência dos fatores internos negativos: depressão,
irritabilidade, impulsividade, fanatismo religioso, gravidez e/ou sexualidade precoce,
aids, predomínio do funcionamento psicótico da mente e ideação suicida, observou-se
através da Lâmina AG, a culpa persecutória, o comprometimento egóico devido a negação
onipotente e as defesas maníacas, a angustia confusional e persecutória quando os pacientes
se vêem confrontados com as perdas objetais. Quando o indivíduo fazia uso de drogas
ilícitas, observou-se que a Lâmina B2 obteve a menor média, sugerindo limitações quanto
à possibilidade de aliança terapêutica. Esse dado ajuda a compreender o fato desses
indivíduos terem apresentado maior deterioração da eficácia adaptativa, avaliada pela
EDAO-R.
Entre os 16 pacientes avaliados em dois momentos, quanto à eficácia adaptativa, apenas
um apresentou adaptação eficaz, os demais em sua grande maioria permaneceram com
adaptação ineficaz grave ou severa, indicando a necessidade de acompanhamento
psicoterápico.
Observou-se nos indivíduos com infecção pelo HIV–1 correlação linear positiva entre os
valores do TRO e da EDAO-R na primeira avaliação psicológica, ou seja, quanto maior a
eficácia adaptativa maior o equilíbrio adaptativo.
Esse dado sugere que os indivíduos com menor eficácia adaptativa teriam maiores
dificuldades para estabelecer vínculos terapêuticos, lidar com sentimentos de depressão,
culpa e fazer reparações. Essas características psicodinâmicas contribuiriam de forma
negativa com o enfrentamento da doença e explicariam a ocorrência de sentimentos de
depressão crônica, irritabilidade, impulsividade, fanatismo religioso, predomínio do
funcionamento psicótico da mente e ideação suicida. Esses dados estão em concordância
com Fleck et al (2002, p.438) que encontrou “associação entre maior intensidade de
sintomatologia depressiva e comprometimento psicológico, social e físico”.
Esse dado é confirmado pela correlação linear positiva entre TRO e CD4+ e os resultados
SIDA
NET
131
da EDAO-R, na primeira avaliação psicológica e CD8+.
Quando o enfrentamento da doença é realizado de forma inadequada, os resultados na
diminuição do CD8+ vão se fazer presentes, pois o funcionamento do sistema imunológico
é muito precário. A história natural da doença aids indica que, no final, a contagem dos
linfócitos T CD8+ diminui, juntamente com os linfócitos T CD4+ e ocorre aumento da carga
viral plasmática e das doenças oportunistas.
Esses dados contradizem os relatos de efeitos neuropsiquiátricos dos ARV utilizados no
tratamento da infecção pelo HIV descritos na literatura (Brasil, 2000,2001c). Sugerem
tratar-se de características de personalidade, dos indivíduos, possivelmente em interação
com o mundo externo e com a condição de estar portador do HIV. Possivelmente os efeitos
seriam decorrentes da ativação de quadros psicopatológicos pré-existentes ao diagnóstico
do HIV. As características de personalidades seriam exacerbadas produzindo sintomas
como depressão, irritabilidade, alucinoses, delírios paranóides etc. A capacidade de
enfrentar adversidades na população estudada mostrou-se muito limitada, como
demonstrado pelo TRO e pela EDAO-R. Os dados sugerem a necessidade de se avaliar em
um estudo controlado os efeitos neuropsiquiátricos das medicações potentes anti-retrovirais.
Observou-se através das linhas de tendência dos Gráficos das variações de CD4+, CD8+ e
carga viral plasmática dos pacientes com infecção pelo HIV, doentes ou não, que pacientes
com ideação suicida e/ou adaptação ineficaz severa ou grave apresentam linha de tendência
da variação do CD4+ em queda, CD8+ em queda e carga viral plasmática em alta. Os que
apresentaram ideação suicida, na sua grande maioria, apresentaram linha de tendência
da carga viral plasmática em alta e, os que apresentaram pelo menos mais de uma
avaliação de carga viral plasmática alta, com linha de tendência da carga viral em
baixa, e CD4+ e CD8+ em alta ou estável apresentaram adaptação ineficaz severa ou
grave.
No grupo com predomínio do funcionamento psicótico da mente, a média da EDAO-R na
primeira avaliação psicológica foi menor do que naqueles que não o apresentavam,
sugerindo o maior comprometimento na eficácia adaptativa como uma das decorrências
dessa característica de funcionamento psicodinâmico e as dificuldades para haver melhora
espontânea da eficácia adaptativa, quando esse fator agravante está presente. Isso
dificultaria obter informações e seguir recomendações sobre o tratamento, confrontar-se
com a condição de ser portador da infecção pelo HIV e mitigar as fantasias persecutórias
do que essa representa para o indivíduo, interagir com as pessoas e instituições. Esse
fator de agravamento, identificado na deterioração da eficácia adaptativa, sugere a
presença de organizações patológicas.
Quando isolado o fator interno negativo, predomínio do funcionamento psicótico da mente,
a Lâmina A1 obteve a menor média, indicando que esses indivíduos frente a situações
novas não conseguem reconhecer que vivem um conflito e se negam a entrar em contato
com sentimentos de solidão, com as fantasias de doença e saúde, a mobilizar os aspectos
adaptativos do ego e a enfrentar os aspectos patológicos, sendo um grupo com maior risco
de suicídio e /ou “acting” psicopático.
O agrupamento dos indivíduos portadores do HIV doentes ou não, segundo os intervalos
SIDA
NET
132
de variação do CD4+, não variou com a eficácia adaptativa. O mesmo não aconteceu com
o TRO, onde indivíduos com os maiores valores de CD4+, ou seja, CD4+ > 501, obtiveram
maiores médias no TRO. Esses dados sugerem que maior equilíbrio adaptativo, medido
pelo TRO, estaria presente quando o sistema imunológico estava mais preservado.
Na comparação das médias e desvios padrões da carga viral plasmática, CD4+ e CD8+,
entre os indivíduos que obtiveram índices favoráveis no TRO, com os que obtiveram
índices desfavoráveis, observa-se que, quando o índice 3 é favorável, ocorrem menores
valores de carga viral plasmática e maiores valores de linfócitos CD4+ e CD8+, sugerindo
a importância da capacidade de aliança terapêutica, nos resultados do funcionamento
do sistema imunológico. Nesse sentido, a aliança terapêutica pode ser pensada como
“compliance”, ou seja, “obediência participativa, ativa do paciente à prescrição a ele
dirigida ( Monreal, 2000, p.14) ”.
Comparando-se os indivíduos segundo o tipo de depressão crônica apresentada, ou seja,
neurótica, psicótica, do tipo maníaco–depressivo e do tipo esquizo–afetivo, observou-se
que os indivíduos com depressão crônica do tipo neurótica apresentaram a menor média
de carga viral plasmática, as maiores médias de linfócitos T CD4+, CD8+ e média das
lâminas do Teste de Relações Objetais. Os indivíduos com depressão crônica psicótica, do
tipo maníaco–depressivo, apresentaram a maior média de carga viral plasmática e as
menores médias de linfócitos T CD4+e CD8+. Os indivíduos com depressão crônica psicótica,
do tipo esquizo–afetivo apresentaram as menores médias nas lâminas do Teste de Relações
Objetais. Através do teste estatístico de Kruskal-Wallis, considerando p< 5 %, verificouse que a média do Teste de Relações Objetais e dos linfócitos T CD8+, no grupo com
depressão crônica do tipo neurótica, foi significativamente maior do que as médias dos
grupos com depressão crônica psicótica, do tipo maníaco–depressivo e esquizo–afetivo.
Esses dados mostraram que quanto maior o comprometimento do sujeito, do ponto de
vista do funcionamento psicodinâmico, piores são as condições do ponto de vista de
funcionamento do sistema imunológico. Os indivíduos com depressão crônica neurótica
obtiveram melhores resultados do que os com depressão psicótica do tipo esquizo–afetivo
e maníaco-depressivo. Possivelmente a persecutoriedade do mundo interno e as relações
parciais de objeto dificultem a interação com o mundo externo e conseqüentemente com
o tratamento clínico.
Segundo Simon (2000, p.5) , na depressão psicótica do tipo esquizo–afetivo, “a pessoa
com tais fatores internos interage confusamente com os fatores externos, encontrando
soluções geralmente pouco ou pouquíssimo adequadas. As características da personalidade
esquizo-afetiva são as de usar a fragmentação do objeto e da própria capacidade de
percepção para se livrar de frustração e angústia.”. Na depressão psicótica do tipo
maníaco-depressivo a destrutividade do mundo interno produziria sentimentos de culpa
onipotente acompanhados de períodos de reparação maníaca e períodos de depressão
acompanhados de sentimentos de culpa, a que Simon (2000, p.6) , refere como “perseguido
pelo depressão”. Segundo esse mesmo autor, “as características de organização da
personalidade baseada nas fixações da posição depressiva são a tendência a criar relações
interpessoais conformando um ciclo vicioso de agressão, culpa, fracasso da reparação e
mais culpa”.
SIDA
NET
133
Esse dado parece ser confirmado quando os indivíduos foram agrupados segundo a
distribuição pelo método completo de Linkage, utilizando Jaccard como medida de
similaridade, e considerando-se os fatores internos negativos. O único elemento que
diferençou os indivíduos foi o índice 3 do teste de relações objetais, que refere-se a
capacidade de aliança terapêutica. Nos indivíduos com depressão crônica do tipo psicótica
a aliança terapêutica estaria comprometida pelas características psicodinâmicas desses
indivíduos.
Os indivíduos que haviam adquirido a infecção pelo HIV devido ao uso de drogas injetáveis
e os que faziam uso de drogas ilícitas após o diagnóstico (fator externo negativo),
apresentavam impulsividade, irritabilidade, depressão e não ter tido relacionamento
familiar satisfatório na infância, como fatores internos negativos, contribuindo com a
deterioração da eficácia adaptativa. Os que faziam uso de drogas ilícitas apresentaram
menores médias na EDAO-R, na primeira avaliação psicológica, confirmando a teoria
sobre dependência química de Simon (1987).
Os indivíduos que haviam adquirido o HIV através do uso de drogas injetáveis já haviam
desenvolvido aids, doenças neurológicas e necessitado de internações hospitalares, devido
ao agravamento de suas condições de saúde e, a avaliação da eficácia adaptativa indicou
adaptação ineficaz grave.
O consumo abusivo de drogas ilícitas parece contribuir com o agravamento das condições
imunológicas e o comprometimento da eficácia adaptativa.
Entre os pacientes que contraíram o HIV na adolescência, a maior parte adquiriu o vírus
por via sexual. Sendo que os que adquiriram o HIV mais precocemente, na época da
avaliação psicológica, já haviam desenvolvido sintomas compatíveis com aids. Certamente
as características da adolescência (Galduróz & Carline, 1995; Knobel, 2000; Aberastury
& Knobel, 1981; Brasil 2001e) contribuíram de forma significativa com o fato desses
pacientes adquirirem o HIV precocemente. Aliado a essas características naturais da
adolescência observou-se que a maior parte dos indivíduos não teve na infância,
relacionamento com os pais considerado satisfatório. Esse dado indica a fragilidade do
ambiente que aliado às características de personalidade desses jovens, facilitaram a
infecção pelo HIV. As dificuldades em respeitar limites, a onipotência, a impulsividade
e a depressão aparecem como elementos importantes na vida dessas pessoas e facilitadores
de situações de risco, confirmando as características de risco detectadas por Martinez
(1998) e os resultados do TRO.
A ideação suicida não estaria associada ao tempo de diagnóstico do HIV, mas
provavelmente a um sinergismo de fatores envolvendo características de personalidade.
A história natural da doença não se faz acompanhar em sua progressão por desejo de
morrer ou perda de esperanças, contrariando a expectativa inicial onde o agravamento
da doença seria acompanhado por aumento da depressão e do risco de tentativas de
suicídio.
No caso dos indivíduos portadores do HIV, essas características psicodinâmicas, expressam
as dificuldades para haver “compliance”, como discutido por Monreal (2000) ao discutir
a adesão aos medicamentos ARV. Depressão, irritabilidade, dificuldades em formar e
SIDA
NET
134
manter vínculos, ideação suicida, impulsividade e finalmente apresentar o predomínio
do funcionamento psicótico da mente, como descrito por Bion (1988), também seriam
expressões dessas manifestações psicopatológicas.
V – Referências
Aberastury A, Knobel M. (1981) Adolescência Normal. Porto Alegre: Artes Médicas.
Bastos IF, Szwarcwald CL. (2000) Aids e pauperização: principais conceitos e evidências empíricas.
Cadernos de Saúde Pública. 16, 65-76.
Bastos IF. (1995). Limitações estruturais à implantação de estratégias preventivas relativas à
disseminação do HIV entre usuários de drogas injetáveis no Brasil. In: Czeresnia D, Santos
EM, Barbosa RHS. Aids: pesquisa social e educação. Rio de Janeiro: Editora Hucitec, 166 192.
Bion WR. (1988) Estudos psicanalíticos revisados. Rio de Janeiro: Imago Editores.
Brasil,(1999). Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico Aids. Brasília: Ministério da Saúde; 12:
1-57. [semana ep. 22ª à 34ª]
Brasil, (2000). Ministério da Saúde: Manual de Assistência Psiquiátrica em HIV / Aids. Brasília,
Ministério da Saúde.
Brasil,(2001a). Ministério da Saúde. Aids II: Relatório de Implementação e Avaliação – Dezembro de
1998 a maio de 2001.Brasília,Ministério da Saúde.
Brasil, (2001b). Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico Aids. Brasília: Ministério da Saúde.;
15: 1-59. [semana ep. 27ª à 40ª]
Brasil, Ministério da Saúde. (2001c) Guia de tratamento:Recomendações para terapia anti-retroviral
em adultos e adolescentes infectados pelo HIV.Brasília: Ministério da Saúde.
Brasil, (2001d). Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de DST e Aids. Manual de Redução de
Danos: Saúde e Cidadania, Série Manuais, 49, 1-114.
Brasil, Ministério da Saúde (2001e). Coordenação Nacional de DST e Aids. Projeto Ajude-Brasil:
Avaliação Epidemiológica dos Usuários de Drogas Injetáveis dos Projetos de Redução de
Danos (PRD) Apoiados pela CN-DST/AIDS. Brasília.
Brasil, (2002). Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico Aids. Brasília: Ministério da Saúde; 16:
1-45. [semana ep. 14ª à 52ª]
Brasil, Ministério da Saúde (2003) MS Divulga Novos Dados da Aids e Anuncia Índices de Resistência
do HIV aos Anti-retrovirais, [serial online], [cited 2003 maio 16] Available from: http://
www.aids.gov.br/final/imprensa1/imprensa.htm
Estevão G. (1997) Do diagnóstico da depressão e suas implicações terapêuticas. Temas: Teoria e
Prática do Psiquiatra. 53, 71-84.
Fernandes MAS, Antonio DG, Bahamondes LG, Cupertino C.V. (2000) Conhecimento, atitudes e
práticas de mulheres brasileiras atendidas pela rede básica de saúde com relação às doenças de
transmissão sexual, Cadernos de Saúde Pública, 16, 103-112.
Ferreira CVL. (1994) Aids e aspectos psicodinâmicos. Jornal Brasileiro de Psiquiatria. 43, 471-473.
Fleck M.P.A.; Lima A. F. B. S.; Louzada S. et al (2002). Associação entre Sintomas Depressivos e
Funcionamento Social em Cuidados Primários À Saúde. Revista Saúde Pública. 36, 431-438.
Galduróz FCJ, Noto AR, Carlini AE.(1995). A adolescência, o ensino e o abuso de drogas: Reflexões.
Temas, 49, 48-57.
Galduróz JCF, Noto RA, Carlini EA. (1997). IV Levantamento sobre o uso de drogas entre estudantes
SIDA
NET
135
de 1º e 2º graus em 10 Capitais Brasileiras – 1997; São Paulo:Universidade Federal de São
Paulo; Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas – CEBRID.
Knobel M. (2000). Uma Introdução a Psicopatologia da Adolescência. Temas: Teoria e Prática do
Psiquiatra, 30, 164-169.
Klein M. 1957. (1991) Inveja e Gratidão. In: Klein M. Inveja e Gratidão e Outros Trabalhos (19461963) .Trad. Elias Mallet da Rocha Barros. Rio de Janeiro: Imago Editora.
Heleno MGV. (1995) Estudo da Eficácia Adaptativa, do Equilíbrio Adaptativo do Ego e do Controle
Glicêmico em Pacientes Diabéticos do Tipo II: In: Rosa JT, Atualizações Clínicas com o Teste de
Relações Objetais de Phillipson. São Paulo: Lemos Editorial. p.149-163.
Heleno MGV. (2001) Organizações Patológicas e equilíbrio psíquico em pacientes com diabetes tipo II.
Mudanças: Psicoterapia e Estudos Psicossociais. 15, 75-158.
Lopes SM. (1993) Estudo qualitativo de características psicossociais de pacientes contaminados pelo
HIV. Tese de Doutoramento. Universidade Estadual de Campinas. Campinas.
Marques LF, Doneda D, Serafin D.(1999). O uso indevido de drogas e a aids. In: Brasil, Ministério da
Saúde, Secretária de Políticas de Saúde. Cadernos Juventude Saúde e Desenvolvimento, Brasília,
173-183.
Martinez, M.C.W. (1998). Adolescência, sexualidade, aids na família e no espaço escolar
contemporâneos. São Paulo: Arte& Ciência.
Meira DA, Antunes MC, Souza LR, Machado JM, Calvi SA, Lima CRG, et al.(2000) Nível sérico de
citocinas como indicadores da fase evolutiva em indivíduos com infecção pelo HIV-1, doentes ou
não. Jornal Brasileiro de Aids. 1, 17-27.
Monreal M.T.F.D. (2000). Aderência aos medicamentos anti-retrovirais referida pelos pacientes com
aids, atendidos no Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Campo Grande.
Ocampo M.L.S. et al. (1981). O processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas. São Paulo: Editora
Martins Fontes.
Oliveira EP. (1993) Eficácia da psicoterapia breve operacionalizada com pacientes com hipertensão
essencial. Mudanças: Psicoterapia e Estudos Psicossociais. 1, 65-85.
Pechansky F, Inciardi AJ, Surratt H, Lima AFBS, e col. (2000). Estudo sobre as características de
usuários de drogas injetáveis que buscam atendimento em Porto Alegre, RS. Revista Brasileira
de Psiquiatria, 22, 164-171.
Phillipson H. (1981).Test de Relaciones Objetales. Buenos Aires. Editora Paidos.
Rosa J.T. (1995). Atualizações Clínicas com o Teste de Relações Objetais de Phillipson. Santo André.
Associação de Psicoterapia e Estudos Psicanalíticos.
Rua G.M.; Abramovay M.( 2001). Avaliação das Ações de Prevenção às DST/AIDS e Uso Indevido de
Drogas nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio em Capitais Brasileiras. Brasília. Unesco.
Santos S R. ; Schor N. (2003) Vivência da Maternidade na Adolescência Precoce. Revista Saúde
Pública. 37, 15-23.
Silva Filho N. e Ritton C. A. (1995a) Estudo de Caso de um Paciente, Portador de Neoplasia Gastrointestinal Através da Escala Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada e do Teste de Relações
Objetais. Revista Perfil: Boletim de Psicologia. 8, 69-75.
Silva Filho N. (1995b) O Teste de Relações Objetais de Phillipson, de Pacientes que Sofreram Amputações
de Membros Superiores, após Acidentes de Trabalho. In: Rosa JT, Atualizações Clínicas com
o Teste de Relações Objetais de Phillipson. São Paulo: Lemos Editorial, p.177-203
Silva Filho N. et al. (1996) Estudo da variação da eficácia adaptativa de pacientes adultos, hospitalizados
por doenças e/ou moléstias crônicas e agudas. Revista Psicologia Argumento. 16, 61- 78.
Silva Filho N. (1997) Aspectos Psicológicos de pacientes que sofreram amputações em membros
SIDA
NET
136
superiores. Perfil Boletim de Psicologia.10, 25-45.
Simon R. (1983). Psicologia clinica preventiva: novos fundamentos. São Paulo. Editora Vetor.
Simon R. (1986) Introdução à psicanálise: Melanie Klein. São Paulo: E.P.U.
Simon R. (1987) Prevenção da Drogadição Aguda. Jornal Brasileiro de Psiquiatria. 36, 105 - 107.
Simon R. (2000). Variedades de Depressão e a Teoria da Adaptação: considerações Psicoterápicas.
Conferência apresentada aos Psicólogos e estagiários da Divisão de Psicologia do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Centro de Convenções Rebouças, São Paulo.
Souza LR. (1998) Avaliação do Tratamento anti-retroviral com inibidores da transcriptase reversa em
doentes com aids. Comparação da monoterapia e do esquema duplo.Tese de Doutoramento,
Universidade Federal de São Paulo. São Paulo.
Steirner J. (1989). Relações perversas entre partes do self: um exemplo clínico. In: Barros E.R.M.
Melanie Klein: evoluções. São Paulo. Editora Escuta, 251-273.
Steirner J. (1991). O interjogo entre organizações patológicas e as posições esquizo-paranóide e
depressiva. In: Spillius E.B, editores. Melanie Klein hoje: desenvolvimento da teoria e da técnica.
Rio de Janeiro. Editora Imago, 329-347.
Verthelyi R.F. (1983). Atualizaciones en el test de Phillipson. Buenos Aires, Editora Paidos.
Vieira da Silva J.C.V.V. (1989). Variabilidade adaptativa num grupo de pacientes e suas evoluções em
psicoterapia individual de orientação psicanalítica. Dissertação de Mestrado. Universidade
Metodista do Estado de São Paulo. São Bernardo do Campo.
Vieira ME, Villela WV, Réa MF, Fernandes MEL, Franco E, Ribeiro G. (2000) Alguns aspectos do
comportamento sexual e prática de sexo seguro em homens do Município de São Paulo, Cadernos
de Saúde Pública. 16, 997- 1009.
Yamamoto K. (2003) A psicoterapia Breve Operacionalizada na Saúde. Psicologia da Saúde:Temas de
Reflexão e Prática. 153-170.
Yoshida EMP. (1984) Estudo da precisão e da validade de predição da escala diagnóstica da adaptação
de R. Simon. Tese de Doutoramento. Universidade de São Paulo. São Paulo.
Yoshida EMP. (1990) Psicoterapias psicodinâmicas breves e critérios psicodiagnósticos. São Paulo:
E.P.U.
SIDA
NET
137
SIDA
NET
138
MENINGITIS BACTERIANA PIÓGENA EN DOS
MUJERES INFECTADAS POR VIH:
INFORME DE DOS CASOS Y REVISIÓN
Perdomo Y M, Cubas N G - Havana - Cuba
1.- Introducción.
1.1.- Antecedentes.
El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) producido por el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH) como consecuencia de la acción devastadora de este
último sobre el sistema inmunológico 1, lo cual condiciona el terreno propicio para la
aparición de las enfermedades oportunistas que lo caracterizan. Así pueden aparecer
infecciones y tumores que generalmente obedecen a procesos que dependen del estado de
la inmunidad mediada por células como infecciones por P.carinii, T.gondi, H.capsulatum,
CMV, V-Zoster, entre otras y tumores como el sarcoma de Kaposi y los linfomas no
hodgkinianos 2,3,4.
La afectación meníngea en el SIDA, es conocida que se produce, por Cryptococcus
neoformans y Mycobacterium tuberculosis fundamentalmente, aunque se han descrito
afectación por linfomas y por cándidas 4,5,6.
1.2.- Planteamiento del problema y justificación del estudio.
Los procesos que dependen del estado de la inmunidad mediada por anticuerpos
generalmente de naturaleza bacteriana, no son típicos de este síndrome, pero pueden
presentarse en la medida que la enfermedad progresa 3. En el presente estudio se pretende
conocer si los pacientes con SIDA tienen riesgo de presentar meningitis bacteriana piógena
por la gravedad de esta complicación y proceder a la descripción clínica de la misma,
factores de riesgo y su evolución para conseguir un diagnóstico y tratamiento oportunos.
1.3 Fundamento teórico.
La hipótesis que esta investigación planteó es si los pacientes con SIDA tienen riesgo de
presentar meningitis bacteriana piógena.
SIDA
NET
139
2.- Objetivos de la investigación.
2.1.- Objetivo general.
Conocer si los pacientes con SIDA tienen riesgo de presentar meningitis bacteriana
piógena.
2.2.- Objetivos específicos.
- Demostrar que los pacientes con SIDA tienen riesgo de presentar meningitis bacteriana
piógena.
- Describir la presentación clínica y evolución de esta complicación.
- Determinar los factores de riesgo relacionados con este proceso.
3.- Metodología.
Se realizó un estudio retrospectivo de tipo descriptivo en 214 pacientes fallecidos,
seropositivos al VIH con diagnóstico por el método ELISA y confirmado por Western Blot
del Sanatorio Santiago de las Vegas en el período comprendido entre los años 1996 al
2000, se seleccionaron los pacientes fallecidos por meningitis bacteriana piógena
encontrándose 2 casos.
Para ello se procedió a realizar la revisión de las historias clínicas de los fallecidos. Se
tomaron los datos clínicos, antecedentes, exámenes de laboratorio así como los resultados
de necropsias para proceder a la descripción de los factores de riesgo de la meningitis
bacteriana piógena, su cuadro clínico y evolución de los casos encontrados.
Se procedió al procesamiento automatizado de los datos en una PC estándar y utilizando
el paquete estadístico EPI Info 6 de los CDC / OMS 1996 para el análisis de las variables
estudiadas.
Los resultados se expusieron en tablas.
Resultados.
Al revisarse las historias clínicas de los 214 (100%) pacientes fallecidos por SIDA del
Sanatorio Santiago de las Vegas en el período comprendido entre los años 1996 al 2000,
encontramos 2 (0.9%) casos de meningitis bacteriana piógena.
En uno de los casos se trató de una paciente de 38 años, mestiza, con el antecedente de
ser alérgica a alimentos, penicilina, así como también diagnóstico de cefalea tensional y
manifestaciones respiratorias a repetición, fumadora y alcohólica. Esta paciente presentó
como enfermedad marcadora de SIDA una tuberculosis pulmonar BK+, con 8 años de
evolución desde la fecha del diagnóstico hasta enfermar de SIDA y 3 años desde la
enfermedad marcadora hasta la fecha de su fallecimiento.
Acompañando a la evolución clínica por VIH presentó cuadro de otitis media derecha
SIDA
NET
140
supurada crónica para lo cual llevaba tratamiento en un episodio de agudización cuando
se instala de forma súbita una cefalea intensa que motivó su ingreso. Además, encontramos
excitación, lenguaje incoherente, trismo, rigidez nucal marcada, así como hipertensión
arterial sistodiastólica (170/100 mmHg). Se realizó punción lumbar obteniéndose líquido
normotenso de aspecto opalescente y turbio. Evolucionó en cuestión de horas hacia la
muerte sin oportunidad de responder al tratamiento.
Dentro de los exámenes de laboratorio realizados: hemograma séptico con elevación en
el diferencial de los polimorfonucleares y desviación a la izquierda sin alteración del
conteo total de leucocitos, eritrosedimentación en 118 mm/h, exudado ótico con crecimiento
de Streptococo pneumoniae y con conteo celular reciente de CD4 de 176 cls/mm3..
El otro caso se trató de una paciente de 26 años, mestiza, con antecedentes de ser
alérgica a la penicilina que presentaba también manifestaciones respiratorias a repetición,
cefalea, fumadora y alcohólica. Presentó como enfermedad marcadora de SIDA una
neumonía por Pneumocistis carinii, con 5 años de evolución desde la fecha del diagnóstico
hasta enfermar de SIDA y 5 años desde la enfermedad marcadora hasta la fecha de su
fallecimiento.
Esta paciente tuvo una estadía prolongada ingresada por fiebre de origen desconocido
(FOD) antes de presentar el cuadro meníngeo. En su estadía en la sala mantuvo
manifestaciones de otitis media crónica con agudización de la misma hasta complicarse
finalmente con la meningitis, que se instala bruscamente con incoherencia y agitación
psicomotriz, desorientación, reflejos osteotendinosos exaltados y rigidez nucal.
Dentro de los exámenes de laboratorio realizados: hemograma con pancitopenia,
eritrosedimentación en 145 mm/h, exudado ótico con crecimiento de Pseudomona
aeruginosa y con conteo celular reciente de CD4 de 184 cls/mm3.
Discusión.
La meningitis bacteriana piógena se presenta como complicación de infecciones
respiratorias altas en particular la otitis media. Los grupos etáreos más afectados por
estos procesos son los niños y adultos mayores.
La meningitis bacteriana piógena no es una entidad frecuente en los pacientes infectados
por el VIH, en los cuales la afectación meníngea responde habitualmente a otros gérmenes
como el Cryptococcus neoformans y el Mycobacterium tuberculosis. También se han
realizado reportes de meningitis candidiásica 6,7,8.
En nuestro estudio de las 214 historias clínicas revisadas de pacientes infectados por
VIH fallecidos encontramos 2 casos de meningitis bacteriana piógena, aunque
probablemente en otros estudios similares la frecuencia pueda ser menor, ya que en la
literatura revisada no encontramos reporte de caso similar pero sí la referencia a la
afectación meníngea por Escherichia coli y Staphylococcus. Esto denota que aunque
sea excepcional el hallazgo de este proceso es importante tenerlo en cuenta como
diagnóstico diferencial dentro de las enfermedades neurológicas en pacientes con SIDA.
SIDA
NET
141
En ambos casos de nuestra revisión se trataban de pacientes femeninas, mestizas con
una edad media de 32 años. Las dos eran pacientes alérgicas a la penicilina con
antecedentes de cefalea tensional, manifestaciones respiratorias a repetición y de ser
fumadoras y alcohólicas.
La enfermedad marcadora de una de las 2 pacientes fue una tuberculosis pulmonar
BK+ y en la otra una neumonía por Pneumocistis carinii, ambas enfermedades oportunistas
del sistema respiratorio. El promedio de evolución desde la fecha del diagnóstico hasta
enfermar de SIDA, de estas pacientes fue de 6.5 años y desde el diagnóstico de SIDA
hasta la meningitis fue de 4 años.
Estas pacientes tuvieron otitis media supurada crónica en el curso de la infección por
VIH cuyas agudizaciones que se hicieron más frecuentes en la medida que fue avanzando
el deterioro inmunológico hasta que finalmente se produce la complicación en un estado
inmunológico precario a pesar de haber llevado tratamiento con antibióticos en reiteradas
ocasiones. El cuadro meníngeo se instaló de forma súbita en una paciente, con cefalea
intensa que motivó su ingreso, estado afebril así como excitación y lenguaje incoherente,
y en la otra se trataba de una paciente gravemente enferma con fiebre, en la cual
aparece incoherencia, agitación psicomotríz, desorientación, reflejos osteotendinosos
exaltados y rigidez nucal, por lo que se puede inferir que el cuadro clínico puede tener
cierta atipicidad como es la presencia de fiebre o no y la concomitancia con otros procesos
oportunistas, lo cual interfiere con el diagnóstico teniendo en cuenta la evolución fulminante
que tuvieron en pocas horas hacia la muerte sin oportunidad de responder al tratamiento.
El hemograma se comportó de forma diferente en las 2 pacientes, en una el conteo global
de leucocitos estaba en el límite de lo normal, teniendo un diferencial con elevación de
los polimorfonucleares y desviación a la izquierda y en el otro caso existía pancitopenia.
La eritrosedimentación en ambas era de 3 cifras y el conteo celular de CD4 se encontraba
por debajo de 200 cls/mm3 con una media de 180 cls/mm3. En los cultivos de los exudados
óticos se aislaron en una paciente un Streptococcus pneumoniae y en la otra una
Pseudomona aeruginosa correspondiéndose con los resultados de la necropsia, obteniéndose
en la primera una meningitis por germen Gram(+) y en la segunda por Gram(-).
Conclusiones.
- Los pacientes con diagnóstico de SIDA y otitis media crónica pueden tener un riesgo
elevado de desarrollar meningitis bacteriana piógena.
- La meningitis bacteriana piógena puede aparecer en pacientes con un deterioro
inmunológico importante.
- El cuadro clínico de la meningitis bacteriana piógena en pacientes con SIDA comienza
de forma enmascarada y súbita con manifestaciones atípicas.
- Los pacientes con SIDA y otitis media crónica que se complican con meningitis bacteriana
piógena suelen tener una evolución grave y fulminante.
- Los pacientes con SIDA que tengan antecedentes de ser fumadores, alcohólicos, con
SIDA
NET
142
infecciones respiratorias altas, en particular otitis media crónica y alérgicos a la penicilina
tienen riesgo de presentar meningitis bacteriana piógena.
Recomendaciones.
Se debería considerar a la meningitis bacteriana piógena en alerta de primer orden en
pacientes con SIDA y otitis media crónica para procurar un diagnóstico y tratamiento
oportunos dada su rápida evolución hacia la muerte y por el enmascaramiento observado
en su cuadro clínico.
Bibliografía.
1. Bartlett JG, Moore RD. Progresos terapéuticos. Investigación y Ciencia. 1998 Sep; 2:62-4
2. Mayer KH, Sereti I, Lane HC. Inmunopathogenesis of human immunodeficiency virus: Implications
for immuno-based therapies. Clin Infect Dis 2001; 32:1738
3. De Vita V, Hillman S, Rosemberg SA, editors. AIDS: Etiology, Diagnosis, Treatment and Prevention.
New York: Raven Press; 1997
4. Enting RH, Esselink RAJ, Portegies P. Meningitis linfomatosa en linfoma no Hodgkin sistémico
relacionado con el SIDA: reporte de 8 casos. Public Med. SEISIDA 1994; 5 (7): 413
5. Karstaedt AS, Koosal M, Crewe-Brown HH. Pneumococcal Bacteriemia in Adults In Soweto, South
Africa, during the course of a decade. Clin Infect Dis 2001 Jul 20; 33 (5)
6. Berenguer J, Moreno S, Laguna F et al. Meningitis tuberculosa en pacientes infectados por el virus
de la inmunodeficiencia humana. Public Med. SEISIDA. 1992; 3 (6): 299-300.
7. Van Der Horst CM, Saag MS, Cloud GA. Tratamiento de la meningitis criptocóccica asociada al
SIDA. Public Med. SEISIDA 1998; 9 (1): 25-26.
8. Casado JL, Quevedo C, Oliva J et al. Meningitis candidiácica en pacientes infectados con el VIH:
análisis de 14 casos. Public Med. SEISIDA 1998; 9 (4): 304.
Anexos.
Tabla 1. Factores de Riesgo en los pacientes estudiados.
Factores de Riesgo
Caso No. 1
Caso No. 2
Alergia a Penicilina
Presente
Presente
Otitis media crónica
Presente
Presente
Hábito de fumar
Presente
Presente
Alcoholismo
Presente
Presente
SIDA
NET
143
Tabla 2. Manifestaciones clínicas de la meningitis bacteriana piógena en los 2 casos de estudio.
Manifestaciones clínicas
Caso No. 1
Caso No. 2
Cefalea
Presente
Ausente
Fiebre
Ausente
Presente
Rigidez nucal
Presente
Presente
Excitación
Presente
Presente
Lenguaje incoherente
Presente
Presente
Trismo
Reflejos osteotendinosos exaltados
Presente
Ausente
Ausente
Presente
Evolución fulminante
Presente
Presente
Tabla 3. Exámenes de laboratorio de los casos estudiados.
Exámenes de laboratorio
Conteo de CD4
Caso No. 1
Caso No. 2
176 cls/mm3
Streptococcus pneumoniae
184 cls/mm3
Pseudomona aeruginosa
Meningitis por
Gram+ (neumococo)
Meningitis por
Gram(no precisado)
Cultivo de exudado ótico
Resultados de necropsia
SIDA
NET
144
A INFLUÊNCIA DAS CO-INFECÇÕES NA
MORBILIDADE E MORTALIDADE
DA INFECÇÃO POR VIH
Baptista T, Antunes I, Mansinho K - Lisboa - Portugal
Introdução:
Ao entrar no 24º ano da pandemia por VIH/SIDA o número de pessoas infectadas por
VIH continua a aumentar a um ritmo contínuo (1) (Figura 1). A Organização Mundial de
Saúde (OMS) estima que existam 34 a 46 milhões de pessoas com VIH/SIDA. Cerca de
20 milhões de pessoas já morreram na sequência da infecção e destes, 3 milhões faleceram
no ano de 2003. Estima-se ainda que, em 2003, 5 milhões de pessoas foram infectadas
de novo (2).
A variação da disponibilidade dos tratamentos reflecte os índices de mortalidade actuais.
Em África, onde vive 11% da população mundial, estima-se que abrigue 2/3 da população
mundial infectada por VIH e que esta infecção tenha sido responsável por 2/3 da
mortalidade mundial associada à infecção: 2,2 milhões de pessoas apenas em 2003,
enquanto que, no mesmo período, na Europa Ocidental faleceram 6000 doentes (1).
Em Portugal, o Instituto Nacional de Estatística (INE) revela, nos últimos anos, entre
1998 e 2002, uma tendência crescente na mortalidade associada à infecção por VIH,
com decréscimo da mortalidade por tuberculose e hepatites virais (3) (Figura 2).
Na Ásia central e países da Europa de leste, onde a epidemia se associa preferencialmente
à toxicodependência de drogas por via parentérica ou ao comércio sexual, a incidência
da infecção tem aumentado consideravelmente (2).
O uso da terapêutica anti-retroviral de elevada eficácia (HAART) levou a uma acentuada
redução da morbilidade e mortalidade nos países onde esta está disponível (4,5,6) (Figura
3).
SIDA
NET
145
Número de pessoas vivendo com VIH/SIDA
Figura 1: Estimativa do número de Adultos infectados por VIH, de acordo com a região,
entre 1980 e 2003 (adaptado de OMS), in NEJM 351;2:116
1200
1000
VIH
nº óbitos
800
TB
600
Hep.
Virais
400
200
0
1998
1999
2000
2001
2002 Anos
Figura 2: Mortalidade em Portugal por VIH, Tuberculose e Hepatites virais entre 1998 e
2002 (Dados do INE)
SIDA
NET
146
Mortes /100 pessoas ano
Uso de inibidor das proteases
Terapêutica com um inibidor das proteases
(% de doentes-dia)
Mortes
Figura 3: Mortalidade e frequência do uso de terapêutica anti-retroviral combinada
incluindo um inibidor das proteases em doentes infectados por VIH com menos de 100
células/mm3, entre Janeiro de 1994 e Junho de 1997 (adaptado de NEJM 338 (13):856)
Incidência /100 pessoas ano
De facto, em comparação com a mortalidade global, em países Europeus, a mortalidade
dos doentes que iniciam terapêutica HAART com células CD4 superiores a 200 células/
µL tornou-se sobreponível à mortalidade dos doentes com Diabetes mellitus insulinotratada,
ou seja, cerca de 3 vezes superior à da população em geral. Nestes doentes, quando
apresentam hábitos de toxicofilia endovenosa, a mortalidade revela-se superior, cerca de
3,6 vezes a da população em geral (7).
Ano de observação
Figura 4: Tendência para infecções oportunistas em adultos e adolescentes entre 19921998 (adaptado de CID 200;30:S5-14)
SIDA
NET
147
Em alguns países Africanos onde se fizeram estimativas da mortalidade na população
adulta, verificou-se um aumento da mortalidade na década de 90 que é proporcional à
prevalência da infecção por VIH nos mesmos países. Considera-se neste estudo que, a
mortalidade acrescida, para além de poder corresponder ao aumento de mortes por VIH,
poderá também estar associada ao aumento da incidência de outras patologias na
comunidade, nomeadamente a tuberculose, de que a infecção por VIH é responsável (8).
A terapêutica HAART (9) e a generalização das profilaxias primárias e secundárias
(9,10,11) levaram a uma redução apreciável do número de algumas infecções oportunistas
(IO) (Pneumonia a Pneumocystis carinii -PCP, retinite a Citomegalovírus - CMV,
Micobacteriose disseminada pelo complexo Mycobacterium avium - MAC, meningite
criptocócica, Herpes zoster) (10,11,12) (Figura 4). Outras entidades, no entanto,
permaneceram com iguais incidências, como é o caso do Linfoma não Hodgkin - LNH,
Leucoencefalopatia multifocal progressiva - LEMP ou Demência associada ao VIH (12).
As infecções oportunistas são agora mais frequentes, nos doentes com baixa contagem de
células TCD4, salientando a necessidade do diagnóstico precoce da infecção, da instituição
de terapêutica anti-retroviral para a obtenção de uma eficaz reconstituição imunológica
e da administração de terapêuticas profilácticas (13).
A ocorrência da maioria das infecções oportunistas reduz, em geral, a sobrevida dos
doentes infectados por VIH (14,15) e é independente do número de células TCD4 a que
ocorrem. Reconhece-se, no entanto, que algumas IO, como é o caso da PCP e dos LNH,
podem condicionar a morte imediata e directa do doente, afectando as estatísticas de
forma considerável (14).
Algumas coinfecções, sendo ou não infecções oportunista afectam também a moralidade
e mortalidade dos doentes infectados por VIH, como é o caso da Tuberculose, Hepatite C,
Sífilis, CMV e Leishmania, entre outras, pelo que merecem aqui uma abordagem
específica.
Referências:
1.
2.
3.
SIDA
NET
148
SteinbrooK R.The AIDS Epidemic in 2004. NEJM 351;2:115-117
WHO report 2004, cap.1 citado a 16-Set-04, disponível em http://www.who.int/whr/2004/
chapter1/en/print.html
Dados dos INE correspondentes aos óbitos, por causa de morte segundo o sexo.
4.
Sepkowitz KA. Effect of HAART on natural history of AIDS related opportunistic
disorders.The Lancet 1998, 351:228
5.
Mocroft A, Vella S, Benfield TL et al. Changing patternsof Mortality across Europe in
patients infected with HIV-1. The Lancet 1998, 352:1725-30
6.
Keiser O, Taffé P, Zwahlen M et al. All cause mortality in the Swiss cohort study from 1999
to 2001 in comparison wiyh the Swiss population. AIDS 2004, 18:1835-43
7.
Jensen-Fangel S, Pedersen L, Pedersen C et al. Low mortality in HIV-infected patients starting highly active antiretroviral therapy: a comparison with the general population. AIDS 2004
18:89-97
8.
Blacker J. The impact of AIDS on adult mortality: evidence from national and regional
statistics. AIDS 2004,18 (suppl 2):S19-S26
9.
Palella F, Delaney KM, Moorman AC et al. Declining mortality among patients with advanced
HIV infection. NEJM1998,338(13):859
10.
Forrest D, Seminari E, Hogg RS.The incidence and spectrum of AIDS-defining illnesses in
persons treated with antiretroviral drugs. CID 1998,27:1379-85
11.
Brodt RH, Kamps BS, Gute P et al. Changing incidence of AIDS-definig illnesses in the era of
antiretroviral combination therapy. AIDS 1997,11:1731-38
12.
Moore R, Chaisson RE. Natural History of opportunistic disese in an HIV-infected Urban
clinic cohort.Ann Int Med 1996,124:1301-7
13.
Kaplan J, Hanson D, Dworkin MS. Epidemiology of Human Immunodeficiency Virus-Associated Opportunistic Infections in the United States in the Era of Highly Active Antiretroviral
Therapy. CID 2000, 30:S5-14
14.
Chaisson R, Gallant JE, Keruly JC, Moore RD. Impact of opportunistic disese on survival in
patients with HIV infection. AIDS 1998, 12:29-33
15.
Bentwich Z, Maartens G, Torten D et al. Concurrent infections and HIV pathogenesis. AIDS
200,14:2071-81
SIDA
NET
149
Tuberculose:
Estima-se que no mundo, uma em cada 3 pessoas estejam infectados por Mycobacterium
tuberculosis e que, em cada ano, existam cerca de 8 milhões de casos, de tuberculose
(TB) activa, resultando em cerca de 2 milhões de mortes (1) (Figura 1).
Figura 1: Estimativa do número de casos de tuberculose por país em 2000. (in Arch
Intern Med 2003, 163:1009-1021)
Figura 2: Estimativa do número de casos de tuberculose em doentes com infecção por
VIH por 100 000 habitantes (de todas as idades) por país em 2000. (in Arch Intern Med
2003:1009-1021)
A incidência de TB é muito maior nos doentes com infecção por VIH, sendo muito superior nos países de maior prevalência de TB (2,3,4) (Figura 2). De facto, TB é a infecção
oportunista mais frequente na população de infectados por VIH (5,6,7) e a mais frequente
SIDA
NET
150
causa de morte nos doentes infectados por VIH em países em desenvolvimento (8). Ao
contrário de outras infecções oportunistas, TB ocorre com valores superiores de células
TCD4, não sendo rara para valores superiores a 400 células/µL (4).
A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que, no mundo, existam 40 milhões de
pessoas vivendo com VIH/SIDA coinfectadas por tuberculose e que 90% destas, sem
terapêutica adequada, morram nos primeiros meses após a infecção (9).
As duas infecções interactuam, potenciando-se mutuamente.
Figura 3: Proporção de casos de tuberculose em adultos atribuídos a Vírus de
Imunodeficiência Humana, por país, em 2003 (in Arch Intern Med 2003:1009-1021)
A infecção por VIH aumenta o risco de desenvolvimento de TB activa e de recorrência da
doença. Está também demonstrado o aumento paralelo da incidência de ambas as infecções
na comunidade, provavelmente por aumento da transmissão a partir do grupo de doentes
infectados por VIH (10,11) (Figura3).
A tuberculose acelera a progressão da infecção por VIH ao aumentar a replicação viral
no local da infecção, mas também, ao aumentar a carga viral plasmática (11,12,13). O
pulmão com TB pode actuar como um reservatório de vírus VIH com elevada taxa replicativa
e baixa capacidade imunitária de controlo, logo poderá contribuir para uma maior
diversidade genética e maior agressividade viral, reduzindo a eficácia do sistema
imunitário (11).
Os efeitos patológicos da TB têm expressão variável com o grau de imunossupressão
induzido pelo VIH: doentes com função imunitária mais conservada tendem a apresentar
manifestações clínicas mais clássicas de TB e, em termos anatomopatológicos, esta infecção
dá origem à formação de granulomas, com células epitelióides e menor número de bacilos
locais. (Figura 4)
SIDA
NET
151
Figura 4: Rx de doente com Tuberculose
(disponivel em http://www.i-volume.com/stoptb/
index.asp?offset=64)
Nos doentes com menor número de linfócitos TCD4, surgem manifestações mais atípicas
e, muitas vezes, TB extra-pulmonar, as lesões são mais difusas com maior necrose tecidular,
menos células epitelióides e maior número de bacilos. No pulmão destes indivíduos, há
menor número de linfócitos totais e menor proporção de células TCD4, havendo a sugestão
de que existe menor estimulação macrofágica à presença de Mycobacterium tuberculosis
(11,14,15).
A TB piora o prognóstico dos doentes com infecção por VIH e aumenta a mortalidade que
lhe está associada. No entanto, em países onde a terapêutica anti-retroviral (em especial
HAART) e a terapêutica antibacilar estão disponíveis, verifica-se uma acentuada
diminuição da mortalidade e da morbilidade associadas a esta coinfecção (3,9,16).
Em relação à interacção TB/VIH 1 ou 2, estudos preliminares revelarem uma maior
incidência de TB nas infecções por VIH-2 e uma maior mortalidade associada à coinfecção
com VIH-1 (2). No entanto, quando estes parâmetros foram avaliados em função do
número de células TCD4, verificou-se que para TCD4 inferiores a 200 células/mL a
incidência e a mortalidade eram sobreponíveis para ambos os tipos de vírus (2,17).
A terapêutica antibacilar nestes doentes põe também algumas questões. Apesar de se ter
verificado que é igualmente eficaz nos doentes com infecção por VIH, a maioria das
guias de orientação sugere que os esquemas de tratamento devem ser de pelo menos 6
meses na TB que não envolve o sistema nervoso central (sendo que pelo menos 2 meses
incluindo etambutol e pirazinamida e 6 meses de isoniazida e uma rifamicina) e que as
tomas devem ser diárias (18,19).
A introdução da terapêutica anti-retroviral (TARV) é também alvo de alguma discussão.
Sendo claro que o tratamento da TB deve ser prioritário dado que, por si só, melhora o
prognóstico dos doentes. No entanto, para os doentes com células TCD4 inferiores a 100
células/mL, o risco associado à toxicidade cumulativa de ambas as terapêuticas, aos
efeitos adversos e às interacções medicamentosas, não parecem significativas em
comparação com o risco associado ao seu adiamento (7,18,19,20).
Os programas internacionais de tratamento da TB activa, permitem, em países em que a
TARV não está uniformemente disponível, diagnosticar infecções por VIH e seleccionar
os que mais beneficiam de TARV, não só como meio de reduzir a transmissão de ambas
as entidades mas também a mortalidade que lhes está associada. Os programas de toma
de medicação sob observação directa (DOT), permitem manter e vigiar a adesão inicial a
ambos os tratamentos (1,8).
SIDA
NET
152
Um outro problema que afecta a morbilidade e mortalidade da TB na população infectada
por VIH é a emergência de TB multiresistente (MDRT). Apesar de se desconhecer a real
incidência de MDRT, a sua incidência global está a aumentar, sendo que este problema
se coloca em particular no leste Europeu. A mortalidade nos doentes coinfectados por
VIH é elevada, trazendo problemas acrescidos a estes doentes, pela necessidade de
tratamentos prolongados, com pelo menos três fármacos, a que o agente seja sensível. A
evolução tecnológica, que permite o diagnóstico mais rápido destes agentes, veio trazer
uma mais-valia considerável, no entanto, a vigilância epidemiológica e a rápida
intervenção no início de cada surto, permanecem imprescindíveis (21).
Referências:
1.
McCarthy M et al. Tuberculosis experts review 10 years of progress. The Lancet Inf Dis
2004,2(7):387
2.
Van der Sande M et al. Incidence of Tuberculosis and survival after its diagnosis in patients
infected with HIV-1 and HIV-2. AIDS 2004,18:1933-41
3.
Bevilacqua S et al. HIV-Tuberculosis coinfection. AnnMed Interne (Paris) 2002, 153(2):11318
4.
Van Asten L et al.Tuberculosis risk varies with the duration of HIV infection: a prospective
study of European drug users with Known data of HIV seroconversion. AIDS2003, 17:120108
5.
Chaisson R, Gallant JE, Keruly JC, Moore RD. Impact of opportunistic disese on survival in
patients with HIV infection. AIDS 1998, 12:29-33
6.
Bentwich Z, Maartens G, Torten D et al. Concurrent infections and HIV pathogenesis. AIDS
2000, 14:2071-81
7.
Dean G et al. Treatment of tuberculosis in HIV-infected persons in the era of highly active
antiretroviral therapy. AIDS 2002,16:75-83
8.
Lurie M et al. Direct observed therapy for HIV/tuberculosis co-infection. The Lancet Inf Dis
2002, 4(3):137
9.
Frequently asked questions about TB and HIV, disponível em Http://www.who.int/hiv/faq/en/
print.html
10.
Sonnenberg Pet al. HIV and pulmonary tuberculosis: the impact goes beyond those infected
with HIV. AIDS 2004, 18:657-62
11.
Collins K et al. Impact of tuberculosis on HIV replication, diversity, and disease progression.
AIDS Rev 2002,4:165-176
12.
Toossi Z et al. Impact of tuberculosis (TB) on HIV-1 activity in dually infected patients. Clin
Exp Immunol 2001,123(2):233-8
13.
Hung C et al. Improved outcomes of HIV-1-infected adults with tuberculosis in the era of
highly active antiretroviral theraphy. AIDS 2003, 17:2615-22
14.
Garcia M et al. Recorrent Tuberculosis in Patients with coinfection by HIV. Rev Clin Esp
2003, 203(6):279-83
15.
Aerts D, Jobin R. The epidemiological profile of tuberculosis in Southern Brasil in times of
AIDS. Int J Tuberc Lung Dis 2004, 8(6):785-91
16.
Badri Met al. Association between tuberculosis and HIV disease progression in high tuberculosis prevalence area. Int J Tuberc Lung Dis 2001, 5(3):225-32
17.
Seng R. Community study of relative impact of HIV-1 and HIV-2 on intrathoracic tuberculo-
SIDA
NET
153
sis. AIDS 2002, 16:1059-66
SIDA
NET
154
18.
BHIVA treatment guidelines for TB/HIV infection, actualizadas em Setembro 2004, disponível
em http://www.bhiva.org
19.
American Thoracic Society, CDC e Infectious Diseases Society of America Treatment of
Tuberculosis, MMWR 2003, 52 (RR11):
20.
Wanke C et al. Treatment of tuberculosis in HIV infected persons in the era of highly active
antiretroviral therapy. AIDS 2003, 17(S4):S112-S114
21.
Drobniewski F et al. Clinical features, diagnosis and management of multiple drug-resistance
tuberculosis since 2002. Curr Opin Pulm Med 2004, 10(3):211-17
Hepatite C:
Na era pós HAART, em que a morbilidade e mortalidade pela infecção pelo vírus de
imunodeficiência humana diminuiu drasticamente, novas entidades clínicas têm vindo a
assumir uma importância clínica progressivamente maior na evolução natural daquela
doença, nomeadamente, a infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) (1,3).
Vários estudos recentes têm vindo a revelar a elevada mortalidade de que a hepatite C
tem sido responsável nos doentes VIH positivos, pela doença hepática que condiciona,
oscilando entre os 12 e mais de 45% de casos, dependendo dos estudos (2,3).
O vírus de imunodeficiência humana e o vírus da hepatite C são duas infecções, com
grande impacto na saúde pública, partilhando vias de transmissão comuns.
Nos EUA e Europa, estima-se que cerca de 1/3 (30%) dos doentes com infecção VIH
estejam coinfectados com o vírus da Hepatite C (4,5). Sendo este um vírus de transmissão
predominantemente parentérica, através do sangue e derivados, compreende-se que a
prevalência desta coinfecção atinja valores muito mais elevados em certos grupos de
risco como os hemofílicos (60-90%) e utilizadores de drogas endovenosas (50-70%). Pelo
contrário, a transmissão sexual do VHC é rara, pelo que esta coinfecção é menos frequente
nos homossexuais (4-8%) (1).
Existem interacções entre estas duas infecções que condicionam particularidades na
evolução natural das respectivas doenças, mas estas só são mais evidentes e clinicamente
relevantes no que respeita à influência da infecção VIH na doença provocada pelo VHC.
De facto, apesar de alguns estudos iniciais sugerirem o contrário (6,7), vários estudos
subsequentes são concordantes em relação à ausência de efeitos adversos da infecção do
vírus da hepatite C na evolução da infecção VIH (5,8).
Não há dúvidas, no entanto, que a evolução da hepatite C é mais rápida, com
desenvolvimento de fibrose mais precoce nos doentes com infecção por VIH; sendo menor
o tempo de intervalo entre a aquisição do VHC e desenvolvimento de cirrose. Admite-se,
ainda, uma incidência mais elevada de carcinoma hepatocelular em idades mais jovens
e com menor tempo de infecção pelo VHC. A carga viral da hepatite C é, em geral, mais
elevada nos doentes coinfectados (13) e parece correlacionar-se com o desenvolvimento
de insuficiência hepática (1).
Têm sido admitidas várias explicações patogénicas para esta influência francamente
negativa da infecção VIH na infecção VHC, mas o factor mais importante parece ser a
diminuição dos linfócitos TCD4, que condiciona uma falha do sistema imunológico do
hospedeiro no controlo, embora parcial, do vírus da hepatite C (1). Daí que, a progressão
mais acelerada da hepatite C se verifique, principalmente, em situações de
imunodeficiência mais avançada (TCD4 <100céllulas/µL) (9). Por outro lado, foi já bem
demonstrado o efeito benéfico da terapêutica antiretroviral na reversão deste mau prognóstico da hepatite C no contexto da infecção VIH, provavelmente associada à
reconstituição imunológica que se lhe associa (10).
SIDA
NET
155
Não há dúvidas que os doentes coinfectados deverão ser tratados para a sua infecção
VIH, pese embora o risco de maior hepatotoxicidade dos antiretrovirais verificado neste
grupo, em particular com o ritonavir (em full dose) e a nevirapina (11). Por outro lado,
alguns análogos dos nucleósidos, como a didanosina ( ddI) e a estavudina (d4T), podem
originar um maior grau de esteatose hepática nos doentes coinfectados pelo que deverão
ser evitados (e, em particular, em associação) nos regimes de HAART utilizados (1).
De referir, ainda, a possibilidade da ocorrência de surtos de reactivação da hepatite C
associados com a reconstituição imunológica na sequência da introdução da terapêutica
antiretroviral (TARV) traduzindo-se por aumentos das virémias do VHC ou por quadros
clínicos de hepatite (12).
Uma das preocupações em relação a esta coinfecção deriva da resposta globalmente
diminuída à terapêutica da hepatite C nos doentes VIH positivos. Com os novos esquemas
terapêuticos adoptados, após a introdução do interferão peguilado em associação com a
ribavirina, foram conseguidos melhores resultados atingindo-se, globalmente respostas
virológicas mantidas de cerca de 40%. Não são, contudo, desprezíveis a percentagem
elevada de efeitos adversos nestes doentes, condicionando taxas de abandono elevadas e
as interacções com alguns antiretrovirais. Por esta razão, a utilização de ddI com a
ribavirina está desaconselhada e o uso de Zidovudina (AZT) ou d4T deverá ser cauteloso
e utilizado sob vigilância e monitorização laboratorial regular (1).
A prevalência elevada, os riscos elevados de desenvolvimento de doença hepática crónica, com a significativa morbilidade e mortalidade que lhe está associada e a
insuficiente resposta à terapêutica da hepatite C fazem desta coinfecção, actualmente,
um dos problemas mais importantes dos doentes infectados pelo vírus da imunodeficiência
humana. São, sem dúvida, necessários novos desenvolvimentos nesta área, no sentido de
se conseguir uma melhor abordagem e controlo da coinfecção VIH/VHC.
Referências:
SIDA
NET
156
1.
Jurgen Kurt Rockstroh and Ulrich Spengler. HIV and hepatitis C virus co-infection. The
Lancet Inf Dis Vol 4 July 2004, 437-444.
2.
Bica I, Mcgovern B, Dhar R, e tal. Increasing mortality due to end-stage liver disease in
patients with HIV infection. CID 2001; 32: 490-97.
3.
Rosenthal E, Poiree M, Pradier C, et al. Mortality due to hepatitis C related liver disease in
HIV-infected patients in France (Mortavic 2001 study). AIDS 2003; 17: 1803-09.
4.
Shermann KE, Rouster SD, Chung RT,Rajicic N. Hepatitis C virus prevalence among patients
infected with human immunodeficiency virus: a cross-sectional analyse of the US adult AIDS
Clinical Trials Group.CID 2002; 34: 831-37.
5.
Rockstroh J, Konopnicki D, Soriano V, et al. Hepatitis B and hepatitis C in the EuroSida
cohort: prevalence and effect on mortality, AIDS, progression and response to HAART. 11th
Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, CA, USA, Feb 8-11,
2004: abstr 799.
6.
Greub G, Ledergerber B, Battegay M, et al. Clinical progression, survival and immune recovery during antiretroviral therapy in patients with HIV-1 and hepatitis C coinfection. The Lancet
2000; 356: 1800-05.
7.
Lionel Piroth, Michel Duong, Catherine Quantin, et al. Does hepatitis C virus co-infection
accelerate clinical and immunological evolution of HIV-infected patients? AIDS 1998, 12:381388.
8.
Sulkowski MS, Moore RD, Mehta SH, et al. Hepatitis C and progression of HIV-disease.
Jama 2002; 288: 199-206.
9.
Rockstroh JK, Spengler U, Sudhop T, et al. Immunosuppression may lead to progression of
hepatitis C virus associated liver disease in hemophiliacs coinfected with HIV. Am J Gastroenterol
1996; 91: 2563-68.
10.
Qurishi N, Kreuzberg C, et al. Effect of antiretroviral therapy on liver-related mortality in
patients with HIV and hepatitis C coinfection. The Lancet 2003; 362: 1708-13.
11.
Sulkowski MS, Thomas DL, et al. Hepatotoxicity assoviated with antiretroviral therepy in
adults infected with human immunodeficiency virus and the role of hepatitis C or B virus
infection. Jama 2000¸283: 74-80.
12.
Vento S, Garofano T, Renzini C et al. Enhancement of hepatitis C virus replication and liver
damage in HIV-coinfected patients on antiretroviral combination therapy. AIDS 1998; 12:
116-17.
13.
Cribier B, Rey D, Schmitt C, et al. High hepatitis C viremia and impaired antibody response in
patients coinfected with HIV. AIDS 1995; 9: 1131-36.
SIDA
NET
157
Citomegalovirus:
O Citomegalovirus (CMV) pertence à família dos Herpes vírus. É comum na maioria da
população adulta (cerca de 50% está infectada), mas tem maior incidência na população
de homossexuais e de usuários de drogas por via endovenosa, 95 e 64%, respectivamente
(1,2).
Transmite-se por via sexual (semém e secreções vaginais), pelo sangue, saliva, órgãos
transplantados, por via vertical e pelo leite materno (1,2).
Em geral, a infecção por CMV é assintomática mas, por vezes, manifesta-se como uma
síndrome pseudogripal ou mononucleósica após o que permanece latente no organismo
(1,2). No entanto, em indivíduos com disfunção imunitária, como os infectados por VIH,
a infecção pode reactivar-se. Neste contexto, habitualmente, a reactivação surge quando
o número de células TCD4 é inferior a 50 células/µl (1,2,3).
Fig.1 Inclusões citomegálicas
in http://www.emedicine.com/med/topic505.htm
Na era pré-HAART (terapêutica anti-retroviral de elevada eficácia) a retinite a CMV era
considerada uma doença pré-terminal, com sobrevida inferior a 6 meses. A sua presença
é uma variável independente de morte em doentes em quem a doença por CMV constitui
o primeiro diagnóstico definidor de SIDA. A introdução da terapêutica anti-retroviral
(TARV) teve um importante impacte na incidência das complicações da infecção por
CMV na população coinfectada por VIH (3).
A maior sobrevivência dos doentes infectados por VIH que recebem terapêutica antiretroviral e a redução do número de doentes com baixas contagens de TCD4, leva a que
menos doentes estejam em risco para estas complicações. De facto, em vários estudos nos
Estados Unidos e na Europa, verificou-se uma redução na incidência de retinite a CMV
entre 73 a 83% após 1996. Daí que, neste momento, a terapêutica anti-retroviral tenha
tanta importância como os anti-víricos no tratamento destas situações (3,4,5,6).
A introdução da TARV pode levar à recrudescência ou à recidiva de retinite a CMV.
Esta situação está relacionada com a reconstituição imunitária contra o CMV inactivo
SIDA
NET
158
no olho ou, em doentes com infecção prolongada por VIH, à falta de resposta imunitária
de memória. O risco para a recorrência de doença por CMV persiste nos primeiros 2
meses de TARV. No entanto, a manutenção da TARV em doentes com TCD4 inferiores a
50 células/mL consegue levar à restauração de respostas anti-CMV TCD4 especificas,
após 3 a 5 anos de terapêutica (1,4,5,6).
Alguns estudos revelaram que doentes com baixo número de células TCD4 e CMV detectável
(antigenémia para CMV, detecção de DNA viral por PCR) têm maior probabilidade de
morte ou de desenvolver uma doença definidora de SIDA, sendo que esta não é influenciada
pela carga viral de VIH ou pela contagem de células TCD4 (1,7,8). Os mecanismos
patogénicos propostos pelos quais CMV poderá aumentar o risco de progressão de doença
ou morte são: a activação pelo CMV de VIH pró viral latente, o alargamento do tropismo
celular de VIH ou a acção directa do CMV na célula sem condicionar sinais de lesão de
órgão (1,7).
Em doentes imunocomprometidos, CMV causa doença em vários órgãos; cerca de 30%
dos doentes com SIDA desenvolvem lesão retiniana num estadio avançado da doença e
outros 5 a 10% desenvolvem doença em outros órgãos, como intestino, pulmão, nervoso
periféricos ou sistema nervoso central (1).
Fig. 2 e 3: retinite por CMV
in http://www.jceh.co.uk/journal/47_04.asp e http://www.shreveporteyeclinic.com/
Condition%20Cytomegalovirus.htm
O diagnóstico da retinite a CMV é feito por observação do fundo ocular, com visualização
de pequenas áreas algodonosas esbranquiçadas por vezes associadas a hemorragia
periférica. A confirmação de doença por CMV requer biopsia do órgão afectado (1).
Para o tratamento da retinite por CMV estão aprovadas 3 fármacos: ganciclovir, foscarnet
e cidofovir. O ganciclovir e o foscarnet são igualmente eficazes para o tratamento de
retinite e da colite. Podem ser usados isolados ou em combinação, sendo administrados
por via endovenosa. O uso de ganciclovir ou de foscarnet aumenta a sobrevivência dos
doentes com retinite a CMV, existindo trabalhos discordantes quanto ao benefício do
foscarnet na sobrevida dos doentes (1,3). Os implantes intra-oculares de ganciclovir que
revelaram eficácia superior à terapêutica endovenosa. No entanto, a terapêutica
endovenosa parece ter maior capacidade para proteger o olho não afectado e a
SIDA
NET
159
disseminação para outros órgãos, apesar de estar associada à emergência de vírus
resistentes ao ganciclovir no olho contra-lateral ao da retinite (9,10). O valganciclovir,
uma prodroga do ganciclovir, é administrado por via oral sendo, neste momento, o fármaco
de primeira linha no tratamento da retinite e podendo revelar-se a melhor opção para a
profilaxia secundária da mesma (11).
O tratamento de vírus resistentes ao ganciclovir poderá efectuar-se pela combinação de
ganciclovir (50% da dose terapêutica) e de doses crescentes de foscarnet (12).
A profilaxia secundária para CMV deve ser mantida enquanto não houver reconstituição
da contagem de células TCD4 até valores superiores a 100-150 células/µL por mais de 3
a 6 meses (1,5).
Referências:
SIDA
NET
160
1.
Cytomegalovirus (CMV) – overview. Citado a 26-Jan-2005, disponível em http://
www.aidsmap.com/en/docs/4F473103-4F2E-45D5-A5C5-6C8AA6F48175.asp
2.
Gandhi MK, Khanna R. Humam cytomegalovirus: clinical aspects, immune regulation and
emerging treatments. The Lancet Inf Dis 2004;4:725-738
3.
Walsh JC, Jines CD, Barnes EA et al. Increasing survival in AIDS patients with cytomegalovirus retinitis treated with combination antiretroviral therapy including HIV protease inhibitors. AIDS 1998;12:613-618
4.
Baril L, Jouan M, Agher R et al. Impact of highy active antiretroviral therapy on onset of
Mycobacterim avium complex and cytomegalovirus disease in patients with AIDS. AIDS
2000;14:2593-2596
5.
Deayton JR, Wilson P, Sabin CA et al. Changes in the natural history of cytomegalovirus
retinitis following the introduction of highy active antiretroviral therapy. AIDS 2000;14:11631170
6.
Casado JL, Arrizabalaga J, Montes M et al.Incidence and risk factors for developing cytomegalovirus retinitis in HIV-infected patients receiving protease inhibitor therapy. AIDS
1999;13:1497-1502
7.
Chevet S, Scieux C, Garrait V et al. Usefulness of the Cytomegalovirus (CMV) antigenemia
assay for predicting the occurrence of CMV disease in patients with AIDS. CID 1999;28:75863
8.
Deayton JR, Sabin CA, Johnson MA et al. Importance of cytomegalovirus in risk of disease
progression and death in HIV-infected patients receiving highy active antiretroviral therapy.
Lancet 2004;363:2116-21
9.
Mush DC, Martin D Gordon JF et al.Treatment of cytomegalovirus retinitis with sustainedrelease ganciclovir implant. NEJM 1997;337:83-90
10.
Imai Y, Shum C, Martin F et al.Emergence of drug-resistance cytomegalovirus retinitis in te
contralateral eyes of patients with AIDS trated with ganciclovir. JID 2004;189:611-15
11.
Martin DF, Sierra-Madero J, Walmsley S et al. A controlled trial of Valganciclovir as induction therapy for cytomegalovirus retinitis. NEJM 2002; 346:1119-26
12.
Mylonakis E, Kallas WM fishman JA. Combination therapy for ganciclovir-resistant cytomegalovirus infection in solid-organ transplant recipients. CID 2002;34:1337-41
Sífilis:
A sífilis e a infecção por VIH são ambas doenças sexualmente transmissíveis. Partilham
vias de transmissão, atingindo, preferencialmente, certos grupos de risco.
Esta coinfecção é frequente, embora a sua prevalência seja variável, dependendo da
prevalência de cada uma delas na comunidade, dos grupos de risco considerados e de
características individuais.
A incidência da sífilis é particularmente elevada em certas zonas do globo, nomeadamente,
na África sub-sahariana e sudeste asiático (1). Na América do Norte e na Europa Ocidental
a sua incidência é francamente menor, estimando-se ser inferior a 5/100000 habitantes
(2) (figura 1).
Figura 1: Estimativa de novos casos de sífilis nos adultos, 1999. O total, global é de 12
milhões. (OMS)
Após uma redução marcada de casos de Sífilis nos anos 90 (1,3), que em parte se admite
directamente relacionada com a mortalidade associada à infecção VIH, estudos recentes
revelam um recrudescimento desta infecção (1,4,5,6,), particularmente em homossexuais
masculinos infectados com o vírus de imunodeficiência humana e com determinados
comportamentos de risco (por exemplo sexo oral) (1,8,9) (Figura2).
No sentido de avaliar a taxa de infecção VIH numa população com sífilis, Blocker e
colaboradores (10) fizeram uma revisão de 30 estudos. A seroprevalência média encontrada
de infecção VIH foi de 15,7% (27,5% nos homens e 12,4% nas mulheres). Esta taxa de
coinfecção era francamente mais elevada quando relacionada com factores de risco
específicos (por exemplo, em utilizadores de drogas endovenosas variava entre 22,5% e
70,6% e em homossexuais masculinos era de 68-90%).
SIDA
NET
161
Taxa por 100 000 mil habitantes
Masculino
Feminino
Objectivo em 2010
Figura 2: Incidência de casos de Sífilis nos E.U.A. de 1981-2003 (C.D.C.)
Por outro lado, a seroprevalência de sífilis nos doentes infectados pelo vírus de
imunodeficiência humana é frequente e existe um risco mais elevado de aquisição desta
doença ao longo do tempo. Num estudo espanhol (11) de 1161 doentes infectados por
VIH, a seroprevalência de base para a sífilis era de 13%, acrescida de 4% de sífilis
adquirida durante o seguimento. Num estudo alemão (12) realizado em 11368 doentes
VIH positivos, foram encontrados 151 casos de sífilis activa (17,2% casos de sífilis primária,
36,4 de sífilis secundária, 16,6% de neurosífilis e 25,2% de sífilis latente).
Em geral, as manifestações da sífilis nos doentes VIH positivos são semelhantes à doença
nos doentes VIH negativos. No entanto, têm sido referidas na literatura, algumas
particularidades, tais como, formas de sífilis mais grave (1), maior incidência de
neurosífilis (13), nomeadamente formas precoces graves, maior número de casos de sífilis
ocular (1,4) e envolvimento cutâneo extenso e atípico (1,14). Alguns autores admitem,
ainda, a existência de formas de apresentação atípicas nos doentes com infecção VIH, a
ocorrência de maior número de casos de sífilis primária assintomática e, paralelamente,
uma percentagem mais elevada de sífilis secundária (1).
Embora a ocorrência de formas graves de neurosífilis possa ser independentemente do
número de células TCD4 (15), um estudo recente (16) revela a existência de um risco
mais elevado de neurosífilis em doentes com número de células TCD4 inferior a 350
células/µL. De uma forma geral, a existência de um sistema imunológico normalmente
funcionante parece ser importante para o sucesso terapêutico (17).
As recidivas da infecção são mais frequentes no doente VIH (1,4,18,19,20) e, tal como
nos indivíduos seronegativos para o VIH, podem ocorrer reinfecções após o tratamento
(1).
É importante realçar o facto da sífilis contribuir para o aumento da transmissão da
infecção VIH, provavelmente pela presença de doença ulcerativa genital (1, 21,22).
Desta associação, que alguns chamam de “combinação perigosa” resulta a recomendação
“todo o doente com sífilis deverá ser testado para o VIH e todo o doente com infecção por
SIDA
NET
162
VIH deverá ser testado para a sífilis, no início e regularmente, durante o seguimento
(23).
O tratamento e a prevenção, nomeadamente, educacional da sífilis são fundamentais
para a redução da morbilidade e do crescimento da pandemia VIH.
Referências:
1.
2.
W A Lynn and S Lightman. Syphilis and HIV: a dangerous combination. The Lancet Inf Dis,
Vol 4(7) July 2004, pag.456-466.
WHO. World Health Organization Webside. disponível em http://www.who.int.
3.
ChessonHw, Deets Anal SO. AIDS mortality may have contributed to the decline in syphilis
rates in the United States in the 1990s. Sex Transm Dis 2003; 30: 419-24 cit in (1).
4.
Sigall Kassutto and Jonh P. Doweiko. Syphilis in the HIV Era. Emerg Inf Dis, Vol. 10, Nº8,
August 2004, pag. 1471-1473.
5.
Golden MR, Marra CM, Holmes KK. Update on syphilis: resurgence of an old problem. Jama
2003; 290: 1510-14.
6.
Centers for Disease Control and Prevention. Primary and secondary syphilis – United States
2000-2001. MMWR, 2002; 51: 971-3.
8.
Dukers NH, Goudsmit J, De WitjB, PrinsM, Weverling GJ, Coutinho R.A. Sexual risk behaviour
relates to the virological and immunological improvements during highly active antiretroviral
therapy in HIV1 infection. AIDS 2001; 15: 369-78.
9.
Dodds JP, Nardone A, Mercey DE, Johnson AM. Increase in high risk sexual behaviour
among homosexual men, London 1996-98: cross-sectional questionnaire study. BMJ 2000;
320: 1510-11.
10.
Blocker ME, Levine WC, St Louis ME. HIV prevalence in patients with syphilis, United
States. Sex Transm Dis 2000; 27: 53-59 (cit in 1).
11.
Munoz-Perez MA, Rodriguez-Pichardo A, Camacho Martinez T. Sexually transmitted diseases in 1161 HIV-positive patients: a 38 – month prospective study in Southern Spain. L. Eur
Acad Dermatol Venereol, 1998; 11: 221-26 (cit in 1).
12.
Schofer H, Imhof M, Thoma – Greber, et col. Active syphilis in HIV infection: a multicentre
retrospective survey. Genitourin Med 1996; 72: 176-81 (cit in 1).
13.
Bondon J, Martinez – Vasquez C, Alvarez M, et al. Neurosyphilis in HIV-infected patients.
Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1995; 14: 864-69.
14.
Glover RA, Piaquadio DJ, Kerns, Cockenell CJ. An unusual presentation of secondary syphilis
in a patient with human immunodeficiency virus infection. A case report and review of the
literature. Arch Dermatol 1992; 128: 530-34.
15.
Dinubile MJ, Baxter JD, Mirsen TR. Acute syphilitic meningitis in a man with seropositivity
for human immunodeficiency virus infection and normal numbers of CD4 T lymphocytes. Arch
Intern Med 1992; 152: 1324-26.
16.
Marra CM, Maxwell cL, Smith SL, el al. Cerebrospinal fluid abnormalities in patients with
syphilis: association with clinical and laboratory features. J Infect Dis Feb 2004; 189: 36976.
17.
Marra CM, Marwell CL, Tantalo L, Eaton M, Rompalo AM, Raines C, et al. Normalization
of cerebrospinal fluid abnormalities after neurosyphilis therapy: Does HIV status mater?. Clin
Infect Dis 2004; 38: 1001-6.
18.
Kats DA, Berger JR, Duncan RC. Neurosyphilis: a comparative study of the effects of infecSIDA
NET
163
tion with the human immunodeficiency virus. Arch Neurol. 1993; 50: 243-9.
SIDA
NET
164
19.
Berry CD, Hooton TM, Collier AC, Lukehart SA. Neurologic relapse after benzathine penicillin therapy for secondary syphilis in a patient with HIV infection. NEJM 1987; 316: 1587-9.
20.
Gordon SM, Eaton ME, George R, Larsen S, Lukehart SA, Kuypers J. et al. The response of
syntomatic neurosyphilis to high dose intravenous penicillin G in patients with human immunodeficiency virus infection. NEJM 1994; 331: 1469-73.
21.
Arora PN, Sastry CV. HIV infection and genital ulcer disease. Indian J Sex Transm Dis
1992; 13: 71-73.
22.
Flemming DT, Wasserhert JN. From epidemiological synergy to public health policy and
practice: the contribution of other sexually transmitted diseases to sexual transmission of HIV
infection. Sex Transm infect 1999; 75: 3-17 (cit in 2).
23.
Nandwari R, Fisher M. Clinical standarts for the screening and management of acquired
syphilis in HIV-positive adults. Citado em 13 Jan 2005, disponível em http://www.mssvd.org
24.
Edward W. HooK III, MD Management of Syphilis in Human Immunodeficiency VirusInfected Patients. The American Journal of Medicine, November 1992; 93: 477-479.
25.
M. Janier C. Chastang E. Spindler S. Strazzi C. Rabian A. Marcelli P. Morel. A prospective
Study of the Influence of HIV Status on the Seroreversion of Serological Tests for Syphilis.
Clinical and Laboratory Investigations. Dermatology 1999; 198: 362-369
Leishmaniase:
A infecção humana pelo protozoário Leishmania spp. existe nos cinco continentes, sendo
endémica nas regiões tropicais e subtropicais de 16 países desenvolvidos e de 72 em vias
de desenvolvimento. Globalmente, estima-se que existam 12 milhões de casos, com 1,5
milhões de novos casos de leishmaniase cutânea e 500 mil casos de leishmaniase visceral, em cada ano (1).
Áreas afectadas por
Leishmaniase
Fig.1: Distribuição global de Leishmaniase (in BMJ 2003;326:378)
A leishmaniase visceral (LV) por L. infantum é a forma mais frequentemente associada
à infecção por VIH, no sul da Europa, onde 25 a 70% dos doentes com LV estão coinfectados por VIH, sendo que, 1,5 a 9 % dos doentes com SIDA desenvolverão leishmaniase
(1,2,3).
A incidência da co-infecção está a aumentar na África oriental e Índia (L. donovani) (1),
mas nos países Europeus a sua incidência diminuiu após o uso da terapêutica antiretroviral (4). Nestes países cerca de 80% dos casos ocorre em áreas urbanas e geralmente
no litoral (1).
A incidência é maior na idade adulta e no sexo masculino. O grupo dos usuários de
drogas por via endovenosa tem o maior risco para LV entre os co-infectados por VIH na
Europa, constituindo cerca de 70% dos casos.
A aquisição da doença pode ocorrer por infecção a partir da picada do insecto vector, da
partilha de material endovenoso infectado ou da reactivação de infecção latente há vários
anos (1,2,5,6). Os doentes imunodeprimidos têm maior carga parasitária no sangue
periférico facilitando a infecção dos vectores, e a disseminação da doença por via
parentérica (1).
Em países com leishmaniase endémica, a infecção por VIH aumenta o risco para LV em
100 a 1000 vezes.
A presença de LV num indivíduo infectado por VIH acelera a progressão desta infecção
ao promover a replicação viral (o lipofosfoglicano na superfície dos mastigotas de leishmania acelera a transcrição de VIH nas células TCD4) e ao agravar o estado de
imunossupressão (1,2).
SIDA
NET
165
As respostas imunitárias do tipo Th1 mediadas por células TCD4 são essenciais no controle
da leishmaniase visceral, nos doentes com infecção por VIH e grave imunossupressão, a
passagem a respostas do tipo Th2, pode originar uma multiplicação descontrolada de
parasitas (6) e a decréscimos no número de células TCD4 e a aumento de carga viral de
VIH (4).
Fig. 2: Formas promastigotas
(in http://www.parasitologie.univ-montp1.fr/leish2.htm)
Fig. 3: Formas amastigotas de um grupo de doentes em Espanha (7).
A maioria dos co-infectados tem menos de 200 células TCD4/µL e subsequentemente
apresentam qualquer das infecções oportunistas do espectro de SIDA (1,2) ou em 50%
dos casos tem já critérios definidores de SIDA. (7)
No doente com infecção por VIH, as manifestações clínicas características da infecção
podem ser comuns a outras infecções oportunistas ou revelarem-se de forma menos
exuberantes que o habitual (1). Num estudo no sul de França sobre as manifestações
clínicas de leishmaniase em doentes com infecção por VIH, febre, esplenomegália e
hepatomegália foram sinais encontrados em apenas 43% dos casos, sendo mais frequentes
SIDA
NET
166
para os doentes com células TCD4 inferiores a 50 células/µL; anemia, leucopenia e
trombocitopenia foram encontrados em 94, 88 e 81% dos casos, respectivamente (1).
Fig. 4 e 5: Hepatoesplenomegália em doentes com leishmaniose visceral.
(in http://medlib.med.utah.edu/parasitology/ldonoim.html)
Em geral, a doença torna-se mais bem tolerada à medida que se agrava a imunossupressão
(2). Com o início de terapêutica anti-retroviral e a manutenção de melhores condições
imunológicas, a maioria dos doentes co-infectados não apresenta clínica de LV (4).
O envolvimento gastrintestinal e respiratório não é raro nos doentes co-infectados, podendo
ser sintomático nos gravemente imunodeprimidos (1).
Os antimoniatos têm sido a terapêutica clássica desta infecção, no entanto, têm surgido
grande focos de resistência. Na Índia, em 2000, encontraram-se focos com mais de 60%
de resistência primária (8).
Em estudos comparativos verificou-se que, o uso de Anfotericina B convencional oferece
o mesmo grau de cura após o tratamento, tendo também taxas de recidivas semelhantes
aos 12 meses (30 e 44%, respectivamente) e sobrevida comparável (2). Este fármaco
revelou-se eficaz mesmo em parasitas resistentes aos antimoniatos (9). Outros estudos
revelam taxas de recidiva aos 12 meses de 90% (7).
Alguns fármacos têm surgido como alternativas terapêuticas: a Anfotericina B liposómica,
a paromomycina, e a miltefosina. Esta última revela-se uma grande esperança dado que
oferece taxas de cura de 94% e é de administração oral (9).
Os doentes co-infectados, necessitam de profilaxia secundária até que se observe
recuperação imunológica, após a introdução de terapêutica anti-retroviral. A
administração de antimoniato pentavalente ou de anfotericina B liposómica, mensal,
reduz a taxa de recidiva (4,6,7). Não se tendo verificado recidivas em doentes que
suspenderam profilaxia com células TCD4 superiores a 200 células/µL segundo um estudo
de um grupo de doentes em Espanha (7).
Sabe-se que o número de recidivas e o tempo entre as mesmas está dependente do estadio
imunológico (sendo o intervalo entre as recidivas sempre menor entre cada uma delas) e
que os doentes co-infectados têm menor capacidade de reconstituir as suas populações
linfocitárias. A terapêutica anti-retroviral reduz a incidência de LV e aumenta o intervalo
entre as recidivas, no entanto, não as impede, mesmo que se consiga recuperação
imunológica e controle virológico da infecção por VIH (4,6). Sem terapêutica anti-retroviral
SIDA
NET
167
10 a 19% dos doentes co-infectados morre durante o primeiro episódio de LV e 24% no
primeiro mês após o tratamento. Estimando-se sobrevidas de 4 a 12 meses para os doentes
co-infectados por L. infantum e VIH (4,6).
Referências:
1.
2.
SIDA
NET
168
Desjeux P, Alvar J. Leishmania/HIV co-infections: epidemiology in Europe. Ann Trop Med
Paras 2003, 17:S3-S15
Herwaldt BL. Leishmaniasis. The Lancet 1999;354:1191-99
3.
Giudice P, Mary-Crause M, Pradier C et al. Impact of Highly Active antiretroviral Therapy on
the Incidence of Visceral Leishmaniasis in a French Cohort of Patients Infected with Human
Immunodeficiency Virus. JID 2002 ;186 :1366-70
4.
López-Vélez R. The impact of highly antiretroviral therapy (HAART) on visceral leishmaniasis in Spanish patients who are co-infected with HIV. Ann Trop Med Paras 2003, 97 (1):S143S147
5.
Burton A. Sharing needles may produce artificial leishmaniasis cycle. The Lancet Inf Dis
2001;1: 4
6.
Orlando G, Sorbo F, Corbellino M et al. Secondary Prophylaxis for Leishmania infection in an
HIV-positive patient. AIDS 12(5)1998:2086-87
7.
Berenguer J, Cosín J, Miralles P et al. Discontinuation of secondary anti-Leishmania prophylaxis in HIV-infected patients who have responded to highly active antiretroviral therapy. AIDS
2000, 14(18):2946-48
8.
Singh Neeloo, Singh Ramsing, Shyam Sundar. Novel Mechanism of drug resitance in Kalazar
Field isolates. JID 2003;188:600-7
9.
Davies C, Kaye P, Croft S e Shyam Sundar. Leishmaniasis: new approaches to disease control.
BMJ 2003;326:377-82
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD
ESTOMATOLÓGICA DE LAS PERSONAS VIVIENDO
CON VIH/SIDA EN EL SANATORIO PROVINCIAL DEL
SIDA PINAR DEL RÍO AÑO 2003
Pádron E L, Relles J C - Pinar del Río - Cuba
Introducción.
Desde que en 1986 se diagnosticaron los primeros casos de infección por el VIH/SIDA, en
el país se han implementado, desarrollado y fortalecido, numerosas acciones encaminadas
a limitar la progresión de la epidemia y minimizar su impacto en la población cubana.
Para ello, ha sido decisiva la voluntad política existente, la que propició que ya desde los
inicios de la década de los ochenta y por decisión del Gobierno, se constituyeran los
Sanatorios, los Grupos Operativos para el Enfrentamiento y Lucha contra el SIDA
(GOPELS), comenzando esta estructura por Ciudad Habana, por el municipio Santiago
de Las Vegas, incluyendo todas las especialidades médicas, Medicina, Psiquiatría,
Ortopedia y muy especial la atención Estomatológica La asistencia estomatológica en la
Persona Viviendo con VIH/SIDA presenta una importante demanda, ya que la
inmunosupresión favorece la aparición de procesos infecciosos oportunistas bucales y
enfermedades odontológicas de difícil control o curación .De una prevalecía en nuestra
provincia de 128 casos se estudiaron 51 pacientes o personas que viven con el VIH/SIDA
en el Sanatorio Provincial del SIDA y algunos personas que se encuentran en el Sistema
de Atención Ambulatoria. Como la asistencia Estomatológica abarca toda nuestra
población, encontramos que el estado de la dentición en nuestra muestra es comparable
a igual grupo de edad y sexo sin esta infección enfermedad específica. Pero el estado
periodontal es muy diferente donde el sangramiento y cálculo son más frecuentes que en
la población sin esta afección.
El análisis de la situación de Salud Estomatológica, en la atención Integral del portador
VIH/SIDA, nos permite enfatizar en la prevención de sus consecuencias, bucales y mejorar
la calidad de vida de estas personas que viven con el VIH/SIDA.
SIDA
NET
169
Objetivos
Generales.
1. Determinar el análisis de la situación de salud Estomatológica de las personas que
viven con VIH/SIDA.
Específicos.
1. Conocer el estado de la dentición según sexo en los 51 casos seropositivos y enfermos
del VIH/SIDA.
2. Describir el estado periodontal en los 51 casos seropositivos y enfermos del VIH/SIDA.
3. Presentar la incidencia de las malas oclusiones en los 51 casos seropositivos y enfermos
del VIH/SIDA.
4. Presentar en esquemas o tablas las enfermedades o patologías que con más frecuencias
afectan a los tejidos blandos.
5. Conocer la necesidad y tipo de prótesis de los 51 casos cero positivos y
enfermos al VIH/SIDA.
Material y Metodos.
Se realizó un estudio prospectivo para conocer el estado de salud buco-dental y retrospectivo
en el estado de salud de las mucosas y enfermedades oportunistas en pacientes cero
positivos y enfermos de VIH/SIDA de la provincia de Pinar del Río.
El universo de estudio fueron 51 casos cero positivos y enfermos de VIH/SIDA
que durante el primer trimestre del año 2003 permanecieron ingresados en el Sanatorio
y algunos casos del Sistema de Atención Ambulatorio (SAA). Él diagnostico de los casos
fueron a través del examen buco-dental utilizando el instrumental idóneo (set de
Clasificación).
Las variables utilizadas fueron sexo, estado de la dentición, estado periodontal, incidencia
de las oclusiones, afecciones en tejidos blandos, necesidad y tipo de prótesis. Los datos se
obtuvieron del examen anteriormente expuesto, en consulta de los pacientes, en cabañas
de las personas que viven con el VIH/SIDA y de los expedientes clínicos del consultorio
estomatológico del Sanatorio.
El proceso de los datos fue manual, realizando un análisis simple con determinación de
porcentaje y la aplicación del método estadístico J2. Los datos fueron vertidos en tablas
de doble contingencia para su mejor análisis y comprensión.
SIDA
NET
170
Resultados
Los resultados más significativos encontramos que el estado de la dentición en nuestra
muestra es comparable a igual grupo de edad y sexo sin esta infección enfermedad
específica. Pero el estado periodontal es muy diferente donde el sangramiento y cálculo
son más frecuentes que en la población sin esta afección.
Siendo muy significativa la presencia de infecciones oportunistas como la Candidiasis
Oral (41,1%), Estomatitis Herpética (28,8%), y úlceras aftosas (11.0%) .El comportamiento
de la demanda de Prótesis o necesidad se muestra como en la población sin esta afección.
Conclusiones.
1- El estado de dentición de los portadores VIH/SIDA, se comporta como en la población
sin afectaciones.
2- En estado periodontal resultaron la significación el sangramiento (39.5%) y los cálculos
(22.5%).
3- La Candidiacis (41.1%), Estomatitis herpética (28.8%), y ulceras aftosas (11.0%),
resultaron las infecciones mas frecuentes de tejidos blandos.
4- Las infecciones oportunistas, son las afecciones mas frecuentes en los portadores de
VIH/SIDA.
5- Se infiere en la importancia de la prevención estomatológica en la atención integral
de los portadores VIH/SIDA.
SIDA
NET
171
SIDA
NET
172
DOT IN HIV-INFECTED INTRAVENOUS DRUG-USERS (IVDUs)
Sarmento-Castro R*, Horta A*, Méndez J*, Duarte M*, Rocha R*,
Rodriguez C*, Veloso S*, Freitas M*, Pires N*, Fortes O**,
Recalde C**, Costa C**, Silvano L** - Porto - Portugal
Background: Inadequate compliance with antiretroviral therapy (ART), especially in
IVDUs, contributes to HIV drug resistance and to increased morbidity and mortality
rates. Sixty five percent of our patients are active IVDUs with high rates of non-compliance. To increase adherence DOT was used, on a daily basis, for administration of ARV
and opiate substitution with methadone.
Methods: Patients were classified in: group I (40 patients) - antiretroviral-naïve patients,
taking once-daily therapy with lamivudine, didanosine and efavirenze or nevirapine;
group II (26 patients) - antiretroviral-experienced patients with poor adherence, beginning new bid regimens, accordingly with the results of the resistance testing; group III
(40 patients) - ARV-experienced pts that were followed in our program “DOT in patients
with HIV infection and tuberculosis”. These pts were cured from TB and were already
taking ARV and so they maintained previous therapy (Od or bid).
Results: Between January 2001 and December 2003, 106 patients were included in the
program. Comparison of mean CD4 cells counts and viral load at the beginning and at
the last visits revealed statistically significant differences (Table)
1st CD4
Last CD4
p
1st VL
Last VL
p
Group I
218.0
368.6
<0.0001
88759.7
1319.9
<0,0001
Group II
275.7
359.3
<0,047
52965.7
30412.9
<0,16
Group III
122
306
<0,0001
167696
4066.9
<0,0001
Global
189.7
341.8
<0.0001
112912.6
9475.1
<0.0001
*Hospital de Joaquim Urbano Hospital, Porto, Portugal
** Drug Users Attendance Centres, Porto, Portugal
SIDA
NET
173
Fifteen patients had opportunistic infections, 12 were hospitalized for other causes and
five patients died. Two patients withdrew and another two decided to stop methadone and
continued in an outpatient basis. In 29 (27,3%) patients, the initial therapy had to be
changed due to failure (17, 9%) or adverse side effects (9, 4%). At the last evaluation, 55
patients (51,9% of total patients) had un undetectable viral (<50 copies/ml).
CONCLUSIONS: DOT seems to improve compliance and consequently reduce morbidity
and mortality in HIV-infected IVDUs.
SIDA
NET
174
MODERATE DOSE OF PEGINTERFERON ALFA-2B IN
COMBINATION WITH RIBAVIRIN IN THE TREATMENT
OF HCV PATIENTS WITH OR WITHOUT HIV
Sarmento-Castro R, Horta A, Coelho H, Vasconcelos O, Mendez J, Seabra J, Tavares AP, Duarte M,
Fortes O, Chaves L, Freitas M, Pinho L, Carneiro F - Porto - Portugal
Introduction: Poor compliance and HCV treatment related adverse events are limiting
factors to efficacy mainly in patients co-infected with HIV.
Objectives: To compare SVR in HCV vs HCV-HIV patients with a lower PEG 1,0 µg/Kg
dose in combination with ribavirin.
Methods: In order to increase compliance and reduce adverse events a lower dose of PegInterferon alfa-2b (PEG), administered under direct medical supervision was attempted
in HCV-HIV patients and the results were compared with those obtained in HCV patients
subjected to the same treatment protocol. To increase compliance and to offer a more
effective support it was necessary to create a multidisciplinary team with Infectious Diseases specialists, nurses, psychiatrists and psychologists.
Trial developed in three different stages: 1. Pre-treatment (4 months): compliance and
adherence assessment; 2. Treatment (6 months – genotype 2/3; 12 months – genotype 1/
4): PEG 1,5 µg/Kg for 4 weeks followed by PEG 1,0 µg/Kg until end of treatment in
combination with ribavirin (< 65 Kg – 800 mg; > 65 and < 85 Kg – 1000 mg, > 85 Kg
– 1200 mg). 3. Six months follow up.
PEG was weekly administrated at the Hospital and ribavirin was dispensed for one-week
supply each patient’s visit.
SIDA
NET
175
Results: (AT – as treated; ITT – intention to treat)
Patients
SVR G 1/4
SVR G 2/3
SVR global
HCV
61 (AT/ITT)
18/31 (58%)
27/30 (90%)
73,8%
HCV-HIV
38 (AT)
4/20 (20%)
13/18 (72,2%)
44,7%
HCV-HIV
46 (ITT)
4/24 (16,6%)
13/22 (59,9%)
37%
Treatment discontinuation for intolerance or drug/alcohol consumption: HCV-0%, HCVHIV –17.3%
Conclusion: Moderate dose PEG was highly efficacious in HCV patients as well as HCVHIV G2/3 probably due to strict medical supervision of these patients. HCV-HIV G1/4
patients probably need higher dosage and/or longer duration of therapy.
SIDA
NET
176
CHRONIC HEPATITIS C IN PATIENTS WITH AND
WITHOUT HIV INFECTION
Sarmento-Castro R, Horta A, Coelho H, Vasconcelos O, Mendez J, Seabra J, Tavares AP,
Pinho L, Fortes O, Duarte M, Pires N, Chaves L, Carneiro F - Porto - Portugal
Backgroud: There is controversy about the influence of HIV infection on the progression
of chronic hepatitis C. Studies comparing histology in HCV-HIV patients before and after
treatment are scarce.
Objectives: Evaluate HIV, genotype and treatment influence on RNA-HCV,
necroinflammatory activity (NIA) and fibrosis (Ishak criteria).
Methods: Evaluation of the influence of the genotype on NIA, fibrosis and viremia in
HCV and HCV-HIV patients and comparison of these analyses between both groups.
Efficacy of treatment with peginterferon alpha-2b (PEG) and ribavirin is studied.
Results before therapy: HCV-HIV (n=72) patients had higher RNA-HCV average than
HCV (n=109) pts but the differences between groups were not significant (p<0.65).
Mean values of NIA (p<0,83) and fibrosis (p<0.77) were higher in HCV group but
differences were minimal.
HCV patients with G2/3 (n=46) had a higher NIA (p<0.009), fibrosis (p<0.062) and
viremia (p<0,048) than G1/4 (n=64). In HCV-HIV patients the presence of G2/3 (n=26)
was associated with a higher degree of NIA (p<0.47), fibrosis (p<0.09) and viremia
(p<0.34) than G1/4 (n=40) although the differences were not statistically significant.
Baseline versus six months after therapy: 1. HCV patients (n=56) after therapy: RNAHCV (p<0.001), NIA (p<0.001) and fibrosis (p<0.001) were reduced and comparison
showed statistically significant differences; 2. HCV-HIV patients (n=33) after therapy –
RNA-HCV (p<0.002) and NIA (p<0.001) were lower and differences were significant,
but not in fibrosis (p<0.24).
SIDA
NET
177
Conclusions: RNA-HCV was higher in HCV-HIV group but the presence of HIV was not
associated with higher NIA or fibrosis. Presence of genotype 2/3 was associated in both
groups with higher mean values of NIA, fibrosis and viremia. Peginterferon alfa-2b and
ribavirin treatment was significantly associated with reduction of viremia and NIA in all
patients and fibrosis regression in HCV group but not in the HIV-HCV group.
SIDA
NET
178
CIÊNCIA BÁSICA
SIDA
NET
179
SIDA
NET
180
CONTROLE DAS CONCENTRAÇÕES PLASMÁTICAS DE
EFAVIRENZE EM CO-INFECTADOS PELO VHB/VHC
- UM INSTRUMENTO DE OPTIMIZAÇÃO DA
TERAPÊUTICA?
Côrte Real R, Pereira S, Branco T, Germano I,
Lampreia F, Costa H, Calinas F, Monteiro - Lisboa - Portugal
Introdução: O inibidor da transcriptase reversa do vírus da imunodeficiência humana
(VIH), efavirenze (EFV), é inactivado por metabolização hepática através do sistema
enzimático de oxidação/redução do citocromo P450 (CYP), nomeadamente, pelos isoenzimas
CYP2B6 e CYP3A4 (Adkins e Noble, 1998). A co-infecção pelo VIH e pelos vírus da
hepatite B (VHB) e/ou C (VHC) aumenta a probabilidade de existirem alterações no
metabolismo hepático do efavirenze, com a consequente variabilidade das suas
concentrações plasmáticas (Cps). Em geral, assume-se que a lesão dos hepatócitos diminui
a metabolização dos fármacos, aumentando as suas Cps, o que no caso do EFV poderia
favorecer a sua neurotoxicidade (Marzolini e col, 2001).
A inclusão de EFV na terapêutica antirretrovírica tem também vindo a associar-se ao
aparecimento de reacções de hepatotoxicidade (Sulkowski e col, 2002) que poderão, ou
não, vir favorecidas por concentrações plasmáticas elevadas do fármaco.
Objectivo: Analisar as concentrações plasmáticas de efavirenze nos indivíduos coinfectados com o VHB e/ou VHC e correlacioná-las com marcadores bioquímicos da
função hepática para poder prevenir e/ou minimizar valores fora da janela terapêutica e
consequentemente optimizar os esquemas terapêuticos que incluem efavirenze.
Material e Métodos: Foram incluídos no estudo onze indivíduos co-infectados, medicados
com EFV 600 mg (num total de 37 amostras), 9 infectados com o VHC e 2 com o VHB,
sendo 8 (82%) do sexo masculino, 4 (36%) sem experiência terapêutica prévia e com
idades compreendidas entre 28 e 56 anos. O índice de massa corporal médio foi de 22
Kg/m2 e a duração do tratamento com EFV variou entre os 3 e os 43 meses (mediana 19
meses). As Cps do EFV foram quantificadas por HPLC de fase reversa com detecção UV,
utilizando um método validado externamente pelo KKGT (The Netherlands) integrado no
SIDA
NET
181
programa International Interlaboratory Quality Control Program for Therapeutic Drug
Monitoring in HIV Infection. Os marcadores bioquímicos de função hepática avaliados
foram: as aminotransferases ALT e AST, a g-glutamil transferase, a fosfatase alcalina e
a bilirrubina total. Os resultados obtidos nos doentes co-infectados foram comparados
com os obtidos em indivíduos infectados pelo VIH sem co-infecções pelos VHB e/ou VHC.
Resultados: Dos 11 doentes co-infectados, apenas um apresentava insuficiência hepática
e foi analisado separadamente. Os restantes 10 apresentaram sempre alterações nos
valores de aminotransferases, AST e ALT, de graus 1 ou 2 sendo os valores médios
respectivamente de 49 ± 8 UI/L e 80 ± 7 UI/L e significativamente mais elevados (*p <
0,05) do que nos indivíduos sem co-infecções pelos VHB e VHC. As Cps obtidas em
indivíduos co-infectados sem insuficiência hepática (mediana [mínimo-máximo] coeficiente de variação) 1,56 [0,14-3,15] mg/L - 46% foram inferiores às obtidas na
população controle de indivíduos não co-infectados (n=147) 2,03 [0,48-8,15] - 51%
(***p<0,001, teste de Mann Whitney) (Figura 1).
EFV (mg/L)
2.5
2.0
***
1.5
1.0
VHB/VHC
-
VHB/VHC
+
Figura 1. Comparação das concentrações plasmáticas de efavirenze (EFV) entre indivíduos coinfectados pelos vírus das hepatite B e/ou C (VHB/VHC+) e de indivíduos sem co-infecção pelos
VHB e VHC (VHC/VHB+). Os valores representam a concentração média ± SEM de EFV em
amostras de indivíduos infectados pelo VIH sem insuficiência hepática: 36 amostras obtidas em
indivíduos co-infectados (n=10) e 147 amostras obtidas em indivíduos não co-infectados (n=36)
**p < 0,01 (Teste t Student).
Em 19% das amostras do grupo com co-infecção foram quantificadas concentrações
subterapêuticas (<1 mg/L, Marzolini e col, 2001) (Figura 2). Dos 4 doentes co-infectados
em que foram quantificadas concentrações plasmáticas sub terapêuticas pelo menos numa
amostra, apenas um manteve valores de RNA viral indetectáveis (<50 cópias/mL) num
período de 25 meses.
SIDA
NET
182
EFV (mg/L)
12
8
CTM
4
0
CEM
-
VHB/VHC
+
VHB/VHC
Figura 2. Comparação entre a variabilidade das concentrações plasmáticas de efavirenze (EFV) e
a Janela Terapêutica proposta para este fármaco (1-4 mg/L) em amostras obtidas em indivíduos
infectados pelo VIH e co-infectados pelos vírus da hepatite B e/ou C (VHB/VHC+, n=37) e em
indivíduos infectados pelo VIH sem co-infecção (VHB /VHC-, n=147). As linhas horizontais
representam as concentrações eficaz mínima (CEM) e tóxica mínima (CTM).
Não se encontrou qualquer correlação (Teste de Spearman) entre as concentrações
plasmáticas de efavirenze na população co-infectada sem insuficiência hepática e os
valores de ALT e AST que variaram, respectivamente, entre [16-190] (mediana 36 U/
L) e [17-153] (mediana 63 U/L). Os valores (mediana [mínimo-máximo]) de γ-glutamil
transferase, fosfatase alcalina e bilirrubina total foram, respectivamente, 65 [14-312]
U/L; 88 [42-180] U/L e 0,40 [0,20-2,74] mg/dL, nos indivíduos co-infectados sem
insuficiência hepática. Não foi encontrada qualquer correlação entre as concentrações
plasmáticas de efavirenze e a γ-glutamil transferase ou a bilirrubina total. No
entanto, observou-se uma ligeira correlação - directamente proporcional- entre as
concentrações de efavirenze em indivíduos co-infectados e a fosfatase alcalina
(*p=0,047, Teste de Spearman).
No único indivíduo com insuficiência hepática, foi quantificada uma Cp de 11 mg/L,
aproximadamente 3 vezes superior à concentração tóxica mínima do fármaco (4 mg/L,
Marzolini e col, 2001) (Figura 2). Este doente apresentava manifestações de toxicidade
no sistema nervoso central nomeadamente sonolência, confusão mental, desorientação
espaço-temporal.
Não se encontrou qualquer correlação entre a duração da terapêutica e qualquer dos
marcadores bioquímicos da função hepática estudados.
Não foi possível quantificar a ingestão de álcool nos indivíduos incluídos no estudo.
Discussão: As concentrações plasmáticas de EFV nos doentes co-infectados pelos VIH e
VHB e/ou VHC foram diferentes das quantificadas em indivíduos infectados apenas pelo
VIH. O aumento das concentrações plasmáticas que se esperaria como consequência da
SIDA
NET
183
lesão do hepatócito só se observou quando existe insuficiência hepática manifesta. Pelo
contrário, quando a lesão hepática está associada a alterações nas aminotranferases
apenas de grau 1 e 2, observa-se uma redução nas concentrações plasmáticas de efavirenze
que por vezes alcançam níveis considerados subterapêuticos. Fiske e col (1999)
encontraram também concentrações inferiores de EFV em doentes infectados pelo VHC
comparativamente com o grupo de voluntários saudáveis. Esta observação pode interpretarse pelo predomínio do padrão colestático da lesão hepática na infecção VHC e/ou VHB
que permite um maior tempo de permanência do efavirenze e consequente auto-indução
do seu metabolismo. A capacidade do EFV induzir o CYP 3A4 foi já referenciada por
Adkins e Noble (1998).
Os valores de concentração tóxica mínima propostos para o efavirenze por Marzolini e
col. (2001) basearam-se nas manifestações de toxicidade no sistema nervoso central,
mais frequentes com concentrações elevadas. É consensual que a terapêutica com efavirenze
está associada a um aumento de reacções adversas no sistema nervoso central (insónias,
pesadelos, sonhos vividos, tendências suicidas), contudo, se uns autores defendem que é
um efeito dose-dependente (Marzolini e col., 2001; Núñez, e col., 2001) outros não o
conseguem demonstrar (Blanco e col., 2003; Csajka e col., 2003). Embora as
manifestações de toxicidade no sistema nervoso central evidentes no doente com cirrose
incluído no presente estudo, tenham sido associadas à encefalopatia porto-sistémica, não
se poderá também excluir um componente de neurotoxicidade atribuível ao efavirenze.
Esta hipótese poderá ser testada se a redução nas doses de EFV minimizar as manifestações
de neurotoxicidade.
As recomendações propostas pelo HIVpharmacology (www.HIVpharmacology.com) em
2004, para a utilização terapêutica de efavirenze em doentes com patologia hepática
não inclui qualquer indicação para o ajuste da dose deste fármaco. No entanto, os
resultados do presente trabalho apontam claramente para a importância da monitorização
das suas concentrações plasmáticas em doentes co-infectados, não só para prevenir
concentrações tóxicas como para evitar as subterapêuticas.
Conclusões: O quantificação das concentrações plasmáticas de efavirenze evidenciou
que a sua variabilidade nos indivíduos co-infectados é elevada (~50%). Os indivíduos
co-infectados sem insuficiência hepática têm maior probabilidade de apresentarem
concentrações subterapêuticas de efavirenze. No único doente que apresentou insuficiência
hepática grave, as concentrações plasmáticas foram muito superiores à concentração
tóxica mínima proposta para este fármaco, como era esperado. A monitorização regular
das concentrações plasmáticas de efavirenze é o instrumento adequado para controlar
esta variabilidade e optimizar a terapêutica.
Agradecimentos
Os autores agradecem à técnica Eunice Matos Silva a sua contribuição na preparação
das amostras e à MSD o composto puro Efavirenze utilizado na preparação de padrões
e controlos.
SIDA
NET
184
Trabalho financiado pela FCT/FEDER (POCTI 42664/FCB/2001) e CNLCS.
Bibliografia
Adkins JC e Noble S. Efavirenz. Drugs 56: 1055-1064 (1998),
Blanco JL, Raspall T, Lopez-Pua e col. Neuropsychological disturbances and PK levels in patients
receiving efavirenz: a pilot study. 4th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV
Therapy 2003. Cannes. Abstract 23.
Csajka C, Marzolini C, Fattinger K e col. Population pharmacokinetics and effects of efavirenz in
patients with human immunodeficiency virus infection. Clin Pharmacol Ther 2003.73: 20-30.
Fiske WD e col. Pharmacokinetics of efavirenz in subjects with chronic liver. 6th Conference on Retrovirus
and Opportunistic Infections and Opportunistic Infections. 1999. Chicago. Abstract 367.
Marzolini C, Telenti A, Decosterd LA, Greub G, Biollaz J, Buclin T. Efavirenz plasma levels can predict
treatment failure and central nervous system side effects in HIV-1-infected patients. AIDS 15:
71-75 (2001).
Núñez M, Gonzalez de Requena D, Gallego L e col. Higher efavirenz plasma levels correlate with
development of insomnia. J Acquir Immune Defic Syndr. 2001. 28: 399-400.
Sulkowski MS, Thomas DL, Mehta SH “Hepatotoxicity Associated with Nevirapine or Efavirenz –
Containing Antiretroviral Therapy: Role of Hepatitis C and B Infections. Hepatology 35: 182189 (2002).
SIDA
NET
185
SIDA
NET
186
PROTEÍNA VIF E IMUNIZAÇÃO INTRACELULAR: UM NOVO
ALVO E UMA NOVA ESTRATÉGIA DE INIBIÇÃO DO HIV-1
Silva F A, Gonçalves J, Santa-Marta M - Lisboa - Portugal
Resumo
O Vif (Factor de Infecciosidade Viral) é uma proteína acessória do Vírus da
Imunodeficiência Humana (VIH) cuja função principal é bloquear a acção do Apobec3G,
uma citidina deaminase que tem a capacidade de tornar o VIH-1 não infeccioso através
da indução de hipermutações G para A durante a síntese do ADN viral. Recentemente
desenvolvemos anticorpos recombinantes de cadeia única (scFv) específicos contra o Vif,
a partir da construção de uma biblioteca genómica de anticorpos resultantes da imunização
de coelhos. Os anticorpos foram expressos no citoplasma celular, mantiveram a sua
capacidade de ligação ao Vif e inibiram a replicação do VIH-1. Estes resultados sugerem
que este tipo de estratégias de terapia génica poderão vir a ter bastante sucesso no
tratamento de doenças infecciosas. No entanto, esta nova forma de terapia por imunização
intracelular, apresenta ainda alguns obstáculos. A expressão intracelular dos anticorpos
no ambiente redutor do citoplasma é normalmente confrontada com problemas de folding, diminuição da solubilidade, níveis de expressão e tempo de meia vida. Estes
problemas associados à instabilidade da ponte de ligação e à agregação dos domínios
VH e VL ligadas por essa ponte peptídica, são alguns factores que podem alterar a
capacidade de neutralização da proteína alvo. Deste modo, o desenvolvimento de pequenos
anticorpos de cadeia única VH ou VL terão certamente uma vantagem muito grande em
relação aos anticorpos de cadeia única.
Neste contexto, o presente estudo teve como objectivo o desenvolvimento de anticorpos de
domínio único VH anti-Vif de coelho mais pequenos e robustos. A abordagem efectuada
para construir estes anticorpos intracelulares foi baseada nas características dos anticorpos
de cadeia pesada dos camelos (VHH). Os domínios VHH apresentam naturalmente
solubilidades e estabilidades elevadas em consequência de substituições específicas de
aminoácidos (Phe-37, Glu-44, Arg-45, Gly-47 e Arg103) na região correspondente à
interacção com o domínio VL. Desta forma, para aumentar a solubilidade e a estabilidade
do domínio VH anti-Vif, os aminoácidos hidrofóbicos da região de interface foram
SIDA
NET
187
substituídos por aminoácidos hidrofílicos dos VHH. Os resultados obtidos permitiram
concluir que na ausência do domínio parental VL, todos os VHs em estudo apresentaram
um reconhecimento específico da proteína Vif. No entanto, somente os VHs mais
camelizados é que apresentaram níveis altos de expressão intracelular. Os resultados
apresentados mostram uma excelente correlação entre o aumento da solubilidade e
estabilidade do domínio VH, com o aumento da camelização. A actividade biológica de
cada um dos domínios VH demonstrou estar fortemente relacionada com a solubilidade e
estabilidade da proteína. Os VHs mais camelizados interferem na transcrição reversa e
integração do ADN viral, inibindo a replicação. Esta inibição demostrou estar associada
com o aumento dos níveis de expressão do Apobec3G. O presente estudo sugere assim que
a camelização de domínios VH derivados de coelho poderá ser uma abordagem bastante
promissora para o desenvolvimento anticorpos intracelulares cada vez mais pequenos e
robustos para futuras aplicações a nível da terapia génica.
Introdução
Os agentes etiológicos responsáveis pelo Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA)
são os Vírus da Imunodeficiência Humana tipo-1 e tipo-2 (VIH-1 e VIH-2), ambos retrovírus
pertencentes à família dos lentivírus. O VIH-1 foi o primeiro agente a ser isolado em
1983 sendo o responsável por uma pandemia a nível mundial (Barre-Sinoussi et al.,
1983). O VIH-2 identificado posteriormente em 1986, apresenta propriedades biológicas
idênticas às do VIH-1, no entanto, difere significativamente em algumas das suas
propriedades antigénicas e moleculares, o que o torna o menos virulento dos dois vírus e
o responsável por epidemias mais localizadas, nomeadamente nos países da África
Ocidental e em alguns Europeus como é o caso de Portugal (Clavel et al., 1986, Clavel et
al., 1987).
O VIH tem a capacidade de infectar células que apresentem um receptor específico CD4
e co-receptores CCR5 e CXCR4, que se encontram principalmente na superfície dos
linfócitos T CD4 (Klatzmann et al., 1984). Outras células que expressem estes receptores
susceptíveis de infecção pelo VIH são por exemplo, as células do sistema fagocitário
mononuclear, particularmente monócitos e macrófogos, linfócitos B e células dendríticas.
A consequência da infecção destas células é a destruição progressiva do sistema
imunológico, conduzindo à SIDA, com as suas múltiplas infecções oportunistas, e/ou
complicações neurológicas e neoplasias (Vaishnav & Wong-Staal, 1991).
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que cerca de 36
milhões de pessoas se encontrem infectadas com o Vírus da Imunodeficiência Humana e
que aproximadamente 20 milhões já morreram devido à doença, originando um número,
com tendência crescente, de 56 milhões de pessoas.
Terapêutica anti-retrovírica para o tratamento da infecção por VIH
Nos últimos anos ocorreram avanços impressionantes no tratamento da infecção pelo VIH
e SIDA. O ciclo de replicação do VIH apresenta diversos eventos exclusivamente
relacionados a componentes virais, que podem ser utilizados como alvos para intervenção
terapêutica. Os compostos disponíveis actualmente como fármacos anti-VIH actuam na
inibição de duas proteínas virais – a transcriptase reversa (RT) e a protease (PR). Os
inibidores da transcriptase reversa actuam previamente à incorporação do material
SIDA
NET
188
genético viral no ADN cromossomal do hospedeiro e os inibidores da protease, actuam
subsequentemente a esse passo e previnem a formação do virião maduro e infeccioso
(Stine, 2000).
A aplicação de combinações destes agentes antiretrovirais (HAART) mudou
dramaticamente o decorrer da infecção em muitos indivíduos infectados, levando a um
declínio substancial na incidência da SIDA e da mortalidade associada nos países
desenvolvidos. No entanto, um dos principais problemas relacionados com a aplicação
deste tipo de terapia é o desenvolvimento de resistências virais aos fármacos utilizados.
Este aspecto da resistência viral é muito importante na medida em que a susceptibilidade
às drogas diminui, reduzindo, progressivamente, a eficácia das combinações terapêuticas
usadas.
A percentagem de novos indivíduos infectados com o VIH, que possuem vírus resistentes
a pelo menos uma medicação antiretroviral tem vindo a aumentar. Deste modo, a
irradicação total do VIH parece impossível com as actuais estratégias terapêuticas. Novas terapias e outros alvos mais promissores precisam surgir rapidamente, com o objectivo
de combater as formas mais resistentes do VIH que já circulam pelo mundo (Stine,
2000).
A proteína Vif como alvo terapêutico
Com o objectivo de desenvolver novas drogas e terapias para combater o VIH, é necessário
possuir o máximo de informação sobre o vírus, como estabelece a infecção e como causa
a SIDA. Uma série de trabalhos e pesquisas têm sido realizados ao longo dos últimos
anos a nível biológico, bioquímico e estrutural do VIH. Diversas etapas do ciclo replicativo
tem sido assim identificadas por vários laboratórios como alvos para intervenção
farmacológica. Uma proteína alvo de bastante interesse que tem recentemente atraído a
atenção de vários investigadores é a proteína Vif (Factor de Infecciosidade Viral).
O Vif é uma proteína fosforilada, multimérica e que se encontra localizada
maioritariamente no citoplasma das células infectadas (Goncalves et al., 1994). O Vif
apresenta um peso molecular de 23kDa (192 aminoácidos), sendo codificada por um
gene acessório essencial que se encontra conservado em todos os lentivírus com a excepção
do vírus da anemia equina (Fisher et al., 1987; Strebel et al., 1987).
A proteína Vif actua nos últimos estádios do ciclo de replicação viral, aumentado 50 a
1000 vezes a infecciosidade das partículas virais (Fisher et al., 1987; Strebel et al.,
1987). Na ausência de Vif os vírus têm a capacidade de iniciar a transcrição reversa, no
entanto, não conseguem completar a síntese do ADN próviral e apresentam alterações na
conformação do seu invólucro maduro (Sova & Volsky, 1993; Von Schwedler et al., 1993;
Courcoul et al., 1995). Estas observações reflectem um efeito da proteína Vif durante a
produção do vírus, uma vez que este efeito pode ser complementado pela expressão de
Vif nas células produtoras de vírus, mas não nas células alvo. A necessidade da presença
de Vif para a produção de partículas infecciosas, é célula-dependente. Linfócitos T
periférico, macrófagos e algumas linhas celulares tais como as H9 e U38 necessitam da
presença de Vif para a produção de partículas infecciosas (células não-permissivas),
SIDA
NET
189
enquanto que outras linhas celulares tais como SupT1 e Jurkat não necessitam (células
permissivas) (Sova & Volsky, 1993).
A identificação recente de um factor celular humano, denominado Apobec3G (CEM15),
foi determinante para compreender melhor a função da Vif na replicação do VIH-1
(Sheehy et al., 2002). O Apobec3G apresenta a capacidade de inibir a infecção do VIH1 mas é suprimido pela proteína Vif. A expressão do Apobec3G é restrita a células nãopermissivas e quando é expressa em células permissivas confere-lhe um fenótipo nãopermissivo (Sheehy et al., 2002; Mariani et al., 2003). Malin e seus colaboradores
verificaram que quando infectavam células com vírus Vif-negativos, o Apobec3G interferia
no ciclo de replicação do VIH-1, tornando as novas partículas virais não infecciosas
(Sheehy et al., 2002).
O Apobec3G é uma proteína da família das citidina deaminases que tem a capacidade
de converter citosinas em uracilos por perda de um grupo amina, provocando uma alteração
de C-G; A-T (Sheehy et al., 2002; Mariani et al., 2003). Esta alteração provoca desta
forma hipermutações na cadeia negativa do ADN viral. O resultado desta hipermutação
desencadeia um processo de reparação do ADN por excisão de bases que poderá
comprometer a integridade da estrutura da cadeia simples de ADN viral resultando na
interrupção da transcrição. No entanto, na presença de Vif, esta proteína viral interage
com o Apobec3G, prevenindo a sua encapsidação, protegendo desta forma o genoma
viral de eventuais mutações. O mecanismo de acção pela qual a Vif bloqueia o Apobec3G
não está completamente esclarecido. O que se sabe até ao momento é que o Vif reduz
significativamente os níveis de Apobec3G encapsidada nos viriões através da sua
ubiquitinação (Marin et al., 2003; Stopak et al., 2003; Mariani et al., 2003). Como
consequência o Apobec3G é direccionado para a via de degradação dos proteossomas,
assegurando assim a infecciosidade viral em células não-permissivas (Mehle et al., 2004).
O Vif actua neutralizando a acção de um inibidor endógeno específico da célula que
interfere com o ciclo viral. Deste modo, a possibilidade de inibição da função, ou a
alteração da localização da proteína Vif, poderá fornecer novas estratégias terapêuticas
de inibição da replicação do VIH-1. Com base nestas observações desenvolvemos
recentemente anticorpos recombinantes contra a proteína Vif (Goncalves et al., 2002).
Os anticorpos foram expressos no citoplasma celular, mantiveram a sua capacidade de
ligação ao Vif e inibiram a replicação do VIH-1. Estes resultados sugerem que este tipo
de estratégias de terapia génica poderão vir a ter bastante sucesso no tratamento de
doenças infecciosas. No entanto, esta nova forma de terapia por imunização intracelular,
apresenta ainda alguns obstáculos.
Anticorpos intracelulares/ imunização intracelular
Uma das áreas dos anticorpos recombinantes que apresenta enormes potencialidades e
que está em grande desenvolvimento é a dos anticorpos intracelulares (intrabodies). O
desenvolvimento e a aplicabilidade destes anticorpos a nível terapêutico é uma das áreas
prioritárias nas actividades da Unidade de Retrovírus e Infecções Associadas (URIA) da
Faculdade Farmácia de Lisboa.
SIDA
NET
190
Os anticorpos intracelulares consistem em fragmentos Fv de cadeia única (scFv) que têm
como objectivo serem expressos no citoplasma de células animais. Estes anticorpos são
normalmente desenvolvidos a partir de bibliotecas de genes de anticorpos contra
determinado antigénio celular. Como tal, ao serem expressos apresentam a capacidade
de neutralizar determinada proteína intracelular e/ou interferir com determinadas
interacções proteína-proteína (Cattaneo & Biocca, 1997). Estas propriedades tornam os
anticorpos intracelulares bastante promissores na identificação de novas proteínas e no
esclarecimento das suas funções, nomeadamente na área da genómica (Cattaneo & Biocca,
1997; Auf der Maur et al., 2001; Auf der Maur et al., 2002). A longo termo, os anticorpos
intracelulares poderão vir ainda a ter uma maior aplicação na área da terapia génica.
Neste campo alguns investigadores e empresas biotecnológicas começaram já a apresentar
alguns resultados promissores de anticorpos intracelulares com capacidade terapêuticas
de doenças infecciosas e cancerígenas (Marasco et al., 1999; Goncalves et al., 2002;
Tanaka & Rabbitts, 2003). Apesar destes resultados positivos, esta nova forma de terapia,
denominada de imunização intracelular, está ainda a dar os seus primeiros passos. Como
tal, muitos estudos necessitam de ser realizados e alguns obstáculos eliminados de modo
a que se possa avançar com sucesso para futuras aplicações clínicas (Cattaneo & Biocca,
1997; Tanaka & Rabbitts, 2003).
Um dos grandes problemas da aplicação dos anticorpos intracelulares é o ambiente
redutor do citoplasma celular das células animais (Cattaneo & Biocca, 1997). Este tipo
de ambiente é bastante agressivo para os anticorpos. Num ambiente redutor as ligações
dissulfeto dos domínios VH e VL não se formam (Proba et al., 1997; Cattaneo & Biocca,
1997; Auf der Maur et al., 2001). Deste modo, a expressão do anticorpo no citoplasma é
normalmente confrontada com problemas de folding, diminuição da solubilidade,
expressão e tempo de meia vida da proteína (Auf der Maur et al., 2001; Auf der Maur et
al., 2002; Wörn, & Plückthun 2001). A instabilidade da ponte de ligação, ou a agregação
das regiões VH e VL ligadas por essa ponte peptídica (scFv) são outros problemas que
podem impedir a utilização destas moléculas. Este tipo de problemas poderá desta
forma afectar a capacidade de neutralização da proteína alvo para o qual os anticorpos
intracelulares foram desenvolvidos. Assim, somente anticorpos que apresentem
naturalmente uma elevada solubilidade e estabilidade no ambiente redutor é que terão a
capacidade de ter um folding correcto e níveis de expressão em quantidades significativas
de modo a interagir com o antigénio. Desta forma, existe um grande interesse por parte
de investigadores e empresas biotecnológicas em desenvolver e identificar novas estratégias
que permitam seleccionar anticorpos cada vez mais pequenos e robustos que mantenham
as suas propriedades neutralizantes no ambiente redutor do citoplasma de células
eucariontes.
Anticorpos de cadeia pesada de camelo
Normalmente, os anticorpos IgG de todos os vertebrados são proteínas tetraméricas,
compostas por duas cadeias pesadas (H) e duas cadeias leves (L), e com a zona de
ligação ao antigénio na parte N-terminal dos domínios VH e VL. Deste modo, a descoberta
recente de anticorpos com apenas um par de cadeias pesadas nos géneros Tylopoda
(dromedários, camelos e lamas) veio oferecer interessantes possibilidades para novas
formas de engenharia proteica nos anticorpos (Hamers-Casterman et al., 1993).
SIDA
NET
191
O soro dos dromedários, camelos e lamas contêm perto de 50% de anticorpos funcionais
que não apresentam cadeia leve, e a cadeia pesada apresenta apenas três domínios, pois
o equivalente ao primeiro domínio constante (CH1) está ausente. Sendo assim, estes
anticorpos são homodímeros, em que cada cadeia apresenta um domínio variável também
na região N-terminal, denominado VHH, seguindo-se os dois domínios CH2 e CH3
(Muyldermans, 2001a,b).
A ausência do domínio VL nos anticorpos IgG VHH retira teoricamente aproximadamente
metade do potencial de ligação ao antigénio. Esta perda foi no entanto compensada com
uma CDR3 mais longa, (loop com 17 resíduos) do que a dos humanos (12 resíduos). Por
outro lado a ausência da região VL, expõe uma grande interface hidrofóbica da cadeia
pesada podendo originar agregação das proteínas (Muyldermans, 2001). Estes anticorpos
têm que apresentar assim variações de adaptação molecular. A análise de sequências de
VHH revelaram a presença de substituições específicas de aminoácidos, na região
correspondente à interacção com o domínio VL (Vu, et al, 1997). Estas substituições
foram localizadas na FR2 e FR4 (Phe-37, Glu-44, Arg-45, Gly-47 e Arg103) e
demonstraram serem as responsáveis pelo aumento da hidrofilicidade dos VHH nesta
região, melhorando a solubilidade dos anticorpos dos dromedários, camelos e lamas
(Muyldermans, 2001a,b).
Os domínios VHH representam a mais pequena unidade de ligação ao antigénio com um
tamanho molecular perto de 15 kDa em comparação com os fragmentos scFv (30 kDa),
fragmentos Fab (60 kDa ) e o anticorpo inteiro (150kDa). Normalmente os VHHs, podem
ser concentrados como formas monoméricas até uma quantidade de 10 mg/ml a 20 mg/
ml, sem sinais de agregação ou precipitação. Estudos laboratoriais demonstraram a
elevada termoestabilidade destas proteínas, chegando a manter a sua capacidade de
ligação a temperaturas de ~90º C (Van der Linden, 1999; Muyldermans, 2001; Dumoulin
et al., 2002)
Devido ao seu pequeno tamanho e qualidades demonstradas, os anticorpos de cadeia
pesada dos dromedários, camelos e lamas apresentam desta forma vantagens claras
sobre outros fragmentos de anticorpos, podendo vir a ser bastante promissores para terapia,
diagnóstico e investigação. As características e propriedades dos VHH poderão deste
modo ser utilizadas para construir e melhorar a acção dos anticorpos intracelulares.
Objectivos
O presente estudo teve como objectivo o desenvolvimento de anticorpos de domínio único
VH anti-Vif de coelho mais pequenos e robustos que mantenham as suas propriedade de
ligação e neutralização do antigénio (Vif) no ambiente redutor do citoplasma. A base de
trabalho foi um domínio VH de um dos anticorpos anti-Vif que apresentou uma elevada
afinidade e que consequentemente inibiu a replicação do VIH-1. A abordagem efectuada
para construir os anticorpos intracelulares de domínio VH foi baseada nas características
dos anticorpos de cadeia pesada dos camelo (VHH). Desta forma, para aumentar a
solubilidade e a estabilidade do domínio VH anti-Vif, os aminoácidos hidrofóbicos da
região de interface foram substituídos por aminoácidos hidrofílicos dos VHH. Esta
abordagem, denominada de camelização poderá desta forma servir como modelo para
outros anticorpos intracelulares e permitirá também avaliar quais as vantagens da
utilização destes domínios únicos a nível terapêutico.
SIDA
NET
192
Resultados e Discussão
Domínio VH anti-Vif
Com objectivo de desenvolver anticorpos intracelulares anti-Vif mais pequenos e robustos
para uma utilização mais eficiente em terapia molecular, escolhemos como modelo o
domínio VH anti-Vif de um dos anticorpos isolados recentemente que apresentou uma das
afinidades mais elevadas e que inibiu a replicação do VIH-1 (Goncalves et al., 2002). O
VH foi o domínio escolhido, tendo como base estudos anteriores onde foi descrito que
alguns domínios de VH derivados de rato apresentavam a capacidade de se ligarem
especificamente ao antigénio na ausência do domínio VL (Harber et al., 1968; Jaton et
al., 1968; Ward et al., 1989).
O fragmento VH foi clonado no vector pComb3X (Barbas et al., 2001). O pComb3X
permite a expressão da proteína recombinante para o espaço periplasmático numa estirpe
bacteriana não supressora. Deste modo, para avaliar a expressão do domínio VH, o
plasmídeo pComb3X-VH foi introduzido em células de E. coli TOP 10F’, seleccionandose, de seguida, os transformantes Ampr. A indução da expressão do domínio VH para o
espaço periplasmático foi efectuada por adição de IPTG. Após 18 horas de indução as
células foram lisadas e o domínio VH anti-Vif expresso foi purificado por cromatografia
de afinidade. O rendimento da proteína solúvel purificada a partir de um litro de cultura
bacteriana foi de 0.6 ± 0.1 mg. A figura 1 mostra a fracção solúvel e insolúvel após
análise electroforética por SDS-PAGE e revelação por Western-Blot, utilizando um
anticorpo dirigido contra o epítopo HA. Os resultados demonstram que o domínio VH
anti-Vif é expresso na forma solúvel para o espaço periplasmático, na ausência do domínio
VL (Aires da Silva et al ., 2004). No entanto, a figura 1 também mostra que
aproximadamente 80% do domínio VH expresso está localizado na fracção insolúvel.
Estes resultados não eram inesperados, uma vez que estudos anteriores efectuados com
alguns domínios de VH derivados de rato, relataram que a proteína expressa para o
espaço periplasmático é detectada maioritariamente na forma insolúvel como consequência
da região hidrofóbica que fica exposta na ausência do domínio VL (Harber et al., 1968;
Jaton et al., 1968; Ward et al., 1989).
Figura 1 – Detecção por Western-Blot das
fracções solúveis e insolúveis do domínio VH
anti-Vif expresso em E. coli TOP 10F após 18
horas de indução com IPTG. A fracção
insolúvel e solúvel foi analisada por SDSPAGE seguida de revelação por Western-Blot,
utilizando o anticorpo HRP-HA. A coluna 1
corresponde à fracção insolúvel e a coluna 2
corresponde à fracção solúvel. Os valores na
esquerda da figura indicam o peso molecular
em kDa e a seta indica a banda correspondente
ao domínio VH anti-Vif.
Camelização do domínio VH anti-Vif
A ausência do domínio VL, expõe uma grande interface hidrofóbica do domínio VH antiSIDA
NET
193
Vif originando a agregação e diminuição da solubilidade da proteína. Deste modo, para
aumentar a solubilidade e expressão do domínio VH introduziram-se mutações nesta
região de interface. As mutações introduzidas no domínio VH anti-Vif tiveram como
objectivo substituir os aminoácidos hidrofóbicos da FR2 e FR4 por aminoácidos hidrofílicos.
Estas mutações foram baseadas em sequências de VHH’s de elevada solubilidade e
estabilidade e nos estudos de camelização de anticorpos humanos realizados por Davies
e Reichmann (Davies & Riechmann, 1994; Davies & Riechmann, 1996; Riechmann &
Muyldermans, 1999; Dumoulin et al, 2002).
Os resíduos Val-37, Gly-44, Leu-45 e Trp-47 são todos aminoácidos conservados na FR2
do domínio VH e estão envolvidos em interacções que ocorrem com o domínio VL. Nos
anticorpos de camelo, estes aminoácidos são substituídos pelo resíduos Phe-37, Glu-44,
Arg-45 e Gly-47 (Muyldermans, 2001). O Trp-103 situado na FR4 foi outro aminoácido
identificado recentemente como responsável por interacções com o VL. Estudos recentes
realizados com anticorpos de camelo, permitiram verificar que o Trp-103 é substituído
pelo resíduo Arg em 10 % dos VHH (Desmyter et al., 2001). Esta substituição (W103R)
encontrada num VHH desenvolvido contra uma enzima de bovino permitiu aumentar
ainda mais a hidrofilicidade do anticorpo (Desmyter et al., 2001). Deste modo, para
avaliar o papel de cada uma destas substituições na FR2 e FR4 no aumento da solubilidade
e expressão do VH anti-Vif construíram-se três mutantes denominados, VH-W, VH-CAM
e VH-D, onde se foi gradualmente aumentando o processo de camelização, ou seja
aumentando a hidrofilicidade.
Todas as mutações introduzidas foram construídas segundo o método de Kundel, utilizando
oligonucleótideos que introduzem a mutação desejada e sequência alvo para uma enzima
Figura 2 Modelo
estrutural
domínio VH
anti Vif. Os
aminoácidos
substituídos
na região de
interface
encontram-se
assinalados a
bold.
de restrição. No mutante VH-W, introduziu-se a mutação W103R na FR4 do domínio VH
anti-Vif. No mutante VH-CAM, introduziram-se as mutações V37F, G44E, L44R e W47G
dentro da FR2. Por último, no mutante VH-D todas as mutações descritas foram
introduzidas no domínio VH anti-Vif (V37F, G44E, L44R, W47G e W103R). A figura 2
SIDA
NET
194
mostra um modelo estrutural do domínio VH obtido através do scFv-4BL anti-Vif onde se
pode observar os aminoácidos substituídos na região de interface.
Após a construção e clonagem de cada um dos mutantes, realizaram-se os estudos de
expressão para o espaço periplasmático de células de E. coli TOP 10F’, tal como descrito
para o domínio VH anti-Vif selvagem. O rendimento da proteína solúvel purificada a
partir de um litro de cultura bacteriana normalizada para uma A foi de 0.9 ± 0.1 mg
5
para o VH-W, 5 ± 0.1 mg para o VH-CAM e 8 ± 0.1 mg para o VH-D. Todas as substituições
introduzidas permitiram tornar o VH menos hidrofóbico e com menor tendência para
agregação (Figura 3). Os resultados de expressão e purificação demonstram que a
solubilidade do domínio VH vai aumentando à medida que o processo de camelização
aumenta (W→ CAM→ D) (Aires da Silva et al., 2004). A mutação W103R quando
Figura 3 – Detecção por Western-Blot das fracções
solúveis dos domínios VH anti-Vif expressos em E.
coli TOP 10F. Após 18 horas de indução com IPTG os
domínio VH, VH-W, VH-CAM e VH-D foram
recuperados do espaço periplasmático. Os domínios
VH anti-Vif foram analisados por SDS-PAGE e
detectados por Western-Blot, utilizando o anticorpo
HRP-HA. Os valores na esquerda da figura indicam o
peso molecular em kDa e a seta indica a banda
correspondente aos domínios VH anti-Vif.
introduzida sozinha na FR4 é a que tem o menor efeito no aumento da solubilidade do
domínio VH. Deste modo, esta substituição quando introduzida sozinha parece não ser a
mais indicada na camelização do domínio VH de coelho. Porém, a mutação W103R
mostra ser vantajosa no aumento da hidrofilicidade quando adicionada às mutações
V37F, G44E, L44R e W47G.
Avaliação da especificidade e afinidade dos domínios VH anti-Vif
Para avaliar se o domínio VH selvagem e o mutantes construídos mantinham a mesma
especificidade e afinidade na ausência do domínio VL, realizaram-se ensaios de ELISA.
Nesta experiência, os domínios VH, VH-W, VH-CAM e VH-D purificados foram
normalizados (10 µg/mL) e adicionados a poços de ELISA pre-incubados com Vif,
tiroglobulina e BSA. O scFv-4BL anti-Vif foi utilizado como controlo positivo (5 µg/mL).
Como se pode verificar pela análise dos resultados na figura 4, todos os domínios VH
apresentaram o mesmo padrão de ligação contra a proteína Vif. No entanto, comparando
com o scFv-4BL verifica-se que tanto o VH selvagem como os VHs camelizados
apresentaram uma diminuição de ~50% na capacidade de ligação ao Vif. O mesmo tipo
de decréscimo de afinidade foi demonstrado em estudos anteriores quando se comparou o
domínio VH com o anticorpo parental (Ward et al., 1989; Martsev et al., 2002). Por
outro lado, como se pode observar pela análise dos controlos efectuados durante o ELISA,
nenhum dos domínios VHs demonstrou ter reacções cruzadas com a tiroglobulina ou
SIDA
NET
195
BSA, ou seja, a especificidade foi idêntica ao scFv-4BL. Deste modo, o decréscimo na
afinidade dos VHs anti-Vif não aparenta ser dramático na avaliação do domínios únicos
de coelho como anticorpos intracelulares, permitindo mesmo assim um reconhecimento
específico da proteína Vif do VIH-1 (Aires da Silva et al., 2004).
Figura 4 - Avaliação da afinidade e especificidade dos domínios VH anti-Vif. Os domínios
VH, VH-W, VH-CAM e VH-D purificados foram utilizados para avaliar a afinidade e
especificidade contra 100 ng de Vif, tiroglobulina e BSA por ELISA. O ensaio foi realizado
em triplicado e o scFv-4BL foi utilizado como controlo positivo. Os VHs foram adicionados
numa concentração de 10 µg/mL e o scFv-4BL a 5µg/mL. Na detecção utilizou-se o
anticorpo conjugado anti-HA-HRP. Os resultados foram medidos por leitura a densidade
óptica 405 nm.
Expressão dos domínios VH em células eucariontes
Com o objectivo de analisar a expressão dos domínios VH anti-Vif no ambiente redutor do
citoplasma de células eucariontes, o gene de cada um dos fragmentos VH, VH-W, VHCAM e VH-D foi clonado no vector pcDNA3.1. Os plasmídeos resultantes destas clonagens,
designados por pcDNA3.1-VH, pcDNA3.1-VH-W, pcDNA3.1-VH-CAM, e pcDNA3.1-VHD, foram utilizados para transfectar células 293T. Após 48 horas de transfecção, as
células foram lisadas e os domínios VH expressos foram imunoprecipitados com a matriz
anti-HA.
Como se pode observar pela análise da figura 5, todos os domínios VH anti-Vif foram
expressos no ambiente redutor do citoplasma das células 293T. No entanto, o VH-CAM e
o VH-D foram os dois domínios que apresentaram os níveis de expressão mais elevados e
significativos. Estes resultados indicam que em células eucariontes, existe do mesmo
modo uma excelente correlação entre o aumento da solubilidade e níveis de expressão
dos domínios VH, com o aumento da camelização (W→ CAM→ D) (Aires da Silva et al.,
2004). As substituições V37F, G44E, L44R, W47G e W103R introduzidas na FR2 e FR4
SIDA
NET
196
Quantidade
Actina
Figura 5 – Expressão dos domínios VH
anti-Vif em células 293T. Após 48 horas de
transfecção com os plasmídeos pcDNA3.1VH, pcDNA3.1-VH-W, pcDNA3.1-VHCAM, e pcDNA3.1-VH-D, as células foram
lisadas e as proteínas imunoprecipitadas
com matriz anti-HA. As proteínas
imunoprecipitadas foram analisadas por
SDS-PAGE e detectadas por WesternBlot, utilizando o anticorpo HRP-HA. Os
valores na esquerda da figura indicam o
peso molecular em kDa e a seta indica a
banda correspondente aos domínios VHs
anti-Vif. Para controlar e normalizar a
eficiência da transfecção, células 293T
transfectadas com o plasmídeo pcDNA3.1
foram utilizados no Western-Blot (C-) e a
quantidade de proteína total foi analisada
por comparação com a expressão da
proteína celular actina com o anticorpo
anti-actina (Santa Cruz).
demonstraram ter assim um papel crucial no aumento da hidrofilicidade da região de
interface, melhorando a solubilidade e os níveis de expressão do VH anti-Vif. Por outro
lado, estes resultados indicam mais uma vez que substituição isolada do Trp-103 para
Arg parece não ser suficiente para aumentar significativamente a solubilidade do domínio
VH.
Para determinar o tempo de meia vida e avaliar mais detalhadamente os níveis de expressão
dos VHs no ambiente redutor de células eucariontes, a expressão intracelular dos anticorpos
foi analisada por pulse-chase. Nesta experiência, após 36 horas de transfecção com os
plasmídeos pcDNA3.1-VH, pcDNA3.1-VH-W, pcDNA3.1-VH-CAM e pcDNA3.1-D, as células
(293T) foram incubadas com meio sem metionina/cisteína durante 2 horas e de seguida
marcadas metabolicamente com [35S] metionina/cisteína. Após marcação, as células foram
incubadas com meio suplementado com excesso de metionina (40x) e cisteína (20x) durante vários tempos. A expressão da proteína foi analisada após imunoprecipitação com
a matriz anti-HA e electroforese em gel de SDS-PAGE.
A figura 6 mostra que o VH-CAM e o VH-D são os dois domínios mais estáveis, demonstrando
ter os níveis de expressão e os tempos de meia vida mais elevados. Como se pode observar
pela análise da figura, o VH-CAM e o VH-D apresentaram tempos de meia vida de
proteína até às 8 horas. No entanto, como se pode verificar o VH-D apresentou níveis de
expressão às 8 horas significativamente superiores. Por outro lado, os domínios VH e VHW têm um tempo de meia vida de 2 horas e apresentam níveis de expressão bastantes
inferiores aos do VH-CAM e VH-D. Estes resultados indicam desta forma que o processo
de camelização desenvolvido no domínio VH anti-Vif tem um papel importante não só no
aumento da solubilidade e expressão como também melhora a estabilidade e tempo de
SIDA
NET
197
vida intracelular dos domínios únicos de anticorpos de coelho (Aires da Silva et al.,
2004).
Figura 6 – Análise pulse-chase dos domínios VH anti-Vif em células 293T. Após 36 horas
de transfecção com os plasmídeos pcDNA3.1-VH, pcDNA3.1-VH-W, pcDNA3.1-VH-CAM,
e pcDNA3.1-D, as células foram lavadas e incubadas com meio DMEM sem metionina/
cisteína durante 2 horas a 37ºC. De seguida, lavaram-se novamente as células e adicionouse meio DMEM suplementado com 100 µCi [35S] metionina/cisteína durante duas horas
a 37ºC. As células foram lavadas com DMEM suplementado com excesso de metionina
(40x) e cisteína (20x) e incubadas durante 0, 1, 2, 4 e 8 horas. Para cada tempo de
análise, as células foram lisadas e as proteínas imunoprecipitadas. As proteínas
imunoprecipitadas foram analisadas por SDS-PAGE e autoradiografia. Como controlo
negativo, lisados de células 293T transfectadas com pcDNA3.1 e marcadas ao tempo 0
foram utilizados no Western-Blot (C-). A quantidade de proteína expressa foi determinada
por densidade óptica por comparação com os níveis de expressão do domínio VH (valores
indicado por baixo de cada VH).
Neutralização da proteína Vif durante um ciclo único de replicação viral
Os resultados anteriores indicam que os domínios VH anti-Vif, nomeadamente os mais
camelizados, podem ser eficientes como anticorpos intracelulares uma vez que mantiveram
um reconhecimento específico da proteína Vif do VIH-1 in vitro e apresentaram boas
expressões no ambiente redutor de células eucarionte. Deste modo, para avaliar a eficiência
de cada um dos domínios VH na neutralização da proteína Vif e consequentemente na
inibição da replicação viral utilizou-se o método de transcomplementação. Este método
foi utilizado anteriormente com sucesso na análise da neutralização da proteína Vif pelo
SIDA
NET
198
anticorpo scFv 4BL (Goncalves et al., 2002).
No ensaio de transcomplementação realizado, cada um dos plasmídeos pcDNA3.1-VH,
pcDNA3.1-VH-W, pcDNA3.1-VH-CAM, pcDNA3.1-VH-D ou pcDNA3.1-scFv-4BL foi cotransfectado com um plasmídeo que codifica o genoma do provírus VIH-1 e exprime o
marcador CAT (pSVCAT∆env∆Vif), para além dos plasmídeos expressores dos genes env
(pVSVG) e Vif (pSVLVif). O pVIH
∆vif foi co-transfectado como controlo negativo. As
NL4-3
partículas virais produzidas neste sistema são capazes de promover apenas um único
ciclo de replicação, uma vez que não exprimem a proteína Env no segundo ciclo de
replicação. A eficiência de um único ciclo de replicação viral é medido pela quantificação
enzimática da cloranfenicol acetiltransferase (CAT) nas culturas celulares infectadas.
Este método permite desta forma avaliar quantitativamente qual dos domínios VH antiVif expressos intracelularmente tem a maior actividade de inibição do VIH-1.
No ensaio de transcomplementação utilizaram-se dois tipos de células, que diferem na
necessidade da proteína Vif para a replicação do VIH. Estudos anteriores mostraram
que células Jurkat são permissivas para a replicação do VIH-1 Vif-negativo, enquanto
que células H9 apresentam um fénotipo não-permissivo para a replicação do mesmo tipo
de vírus (Gabuzda et al., 1992). Os resultados apresentados na figura 7 representam a
percentagem de replicação/complementação relativamente ao valor obtido para o vírus
Vif-positivo. Como se pode observar pela análise da figura 7, na ausência do Vif, a
replicação do vírus Vif-negativo em células não-permissivas H9 foi aproximadamente
38
10 vezes inferior à replicação do vírus Vif-positivo. A expressão dos fragmentos VH-CAM
e VH-D em células H9 diminuiu a transcomplementação para 30% e 10%,
38
respectivamente. Os fragmentos VH e VH-W, ambos com níveis de expressão baixos em
células eucariontes, apresentaram uma diminuição pouco significativa na
transcomplementação. Por outro lado, em células permissivas Jurkat a expressão de
qualquer um dos domínios VH não originou nenhuma diminuição na transcomplementação.
Estes resultados vão de encontro ao esperado, uma vez que nestas células o Vif não é
necessário para a replicação do VIH-1.
A actividade biológica de cada um dos domínios VH está fortemente relacionada com a
solubilidade e estabilidade da proteína. As experiências anteriores mostraram que o VHD foi o domínio que apresentou os níveis de expressão e os tempos de meia vida mais
elevados. Como se pode verificar foi este domínio que apresentou no ensaio de
transcomplementação a maior capacidade de inibição do VIH-1. Os resultados apresentados
indicam assim, que os níveis de expressão e a estabilidade intracelular dos domínios VH
de coelho são dois parâmetros críticos que determinam a eficiência na neutralização do
antigénio (Aires da Silva et al., 2004).
SIDA
NET
199
Figura 7 – Neutralização da proteína Vif num ensaio de transcomplementação. O valores
representam a percentagem de replicação/complementação em células não-permissivas
H9 (barras brancas) e células permissivas Jurkat (barras pretas), relativamente ao
38
valor obtido para o vírus Vif-positivo. As células foram co-transfectadas com
pSVCAT∆env∆Vif, pVSVG, pSVLVif e com um dos plasmídeos pcDNA3.1-VH, pcDNA3.1CAM, pcDNA3.1-W, pcDNA3.1-D ou pcDNA3.1-4BL. O pVIH
∆vif foi co-transfectado
NL4-3
como controlo negativo. A capacidade de cada um dos fragmentos para inibir um único
ciclo de replicação do VIH-1, foi medida pela quantificação da actividade do cloranfenicol
acetiltransferase (CAT) no lisado celular após 9 dias de transfecção. O sistema utilizado
na detecção da expressão da CAT foi o Quan-T-CAT. O ensaio de transcomplementação foi
realizado em triplicado.
Inibição da replicação viral por vírus recombinantes expressando domínios VH em cis
Para determinar mais detalhadamente a especificidade de inibição da replicação viral
em células permissivas e não-permissivas, cada um dos fragmentos anti-Vif foi expresso
em cis no clone VIH-1 HXB2. Para tal, cada um dos fragmentos VH, VH-W, VH-CAM,
VH-D e scFv-4BL foi clonado no plasmídeo pVIHPLAP-IRES-N-nef no lugar do gene
PLAP-IRES-N-nef, originando assim os plasmídeos pVIH-VH, pVIH-W, pVIH-CAM, pVIHD e pVIH-scFv-4BL. O ADN genómico do VIH-1 selvagem, VIH-1∆Vif ou VIH-1 expressando
cada um dos fragmentos anti-Vif foi directamente transfectado em células 293T. Os vírus
produzidos foram normalizados e utilizados para infectar células não-permissivas H9 e
células permissivas Jurkat. As culturas celulares foram mantidas durante 20 dias e a
replicação viral foi analisada pela quantificação da proteína p24 aos dias 4, 8, 12 e 18.
SIDA
NET
200
Figura 8 – Inibição da replicação viral por vírus recombinantes expressando domínios
VH em cis. Os vírus VIH-1 selvagem, VIH∆Vif, VIH-scFv-4BL, VIH-VH, VIH-W, VHCAM e VH-D VIH-1 foram produzidos em células 293T, normalizados e utilizados para
infectar células H9 e Jurkat. As culturas celulares foram mantidas durante 20 dias e a
replicação viral foi analisada pela quantificação da proteína p24 aos dias 4, 8, 12 e 18.
Resultados semelhantes foram obtidos pelo menos em duas experiências independentes.
SIDA
NET
201
Os resultados apresentados na figura 8 mostram a replicação do VIH selvagem, VIH∆Vif,
VIH-scFv-4BL, VIH-VH, VIH-W, VH-CAM e VH-D em células não-permissivas H9. Como
se pode verificar, os vírus recombinantes expressando em cis os fragmentos scFv-4BL,
VH-CAM e VH-D apresentaram uma redução elevada na capacidade de replicação viral.
A mesma capacidade de inibição foi obtida com as partículas virais VIH∆Vif. Por outro
lado, os vírus recombinantes VIH-VH e VIH-W apresentaram uma redução na replicação
viral, mas pouco significativa comparando com resultados obtidos para os vírus VIHscFv-4BL, VIH-CAM e VIH-D. Em células permissivas Jurkat, todos os vírus foram
competentes para a replicação (Figura 8B).
Domínios VH anti-Vif impedem a síntese de ADN viral e inibem a degradação do Apobec3G
Estudos anteriores apresentaram resultados que demonstram que partículas virais VIH1 Vif-negativas produzidas em células não-permissivas podem iniciar a transcrição reversa,
mas são incapazes de completar a síntese do ADNc e integração do provírus após a
entrada na célula (Sova & Volsky, 1993; Von Schwedler et al., 1993). Por outro lado, em
células permissivas os vírus VIH-1 Vif-negativos são capazes iniciar a transcrição reversa
e produzir partículas virais infecciosas (Sova & Volsky, 1993). A análise destas partículas
Vif-negativas produzidas em células permissivas e não-permissivas revelou que não existem
diferenças a nível de ARN, proteico ou na actividade da transcriptase reversa. Deste
modo, a identificação recente do factor celular Apobec3G foi determinante para
compreender melhor a função da Vif na replicação do VIH-1 (Sheehy et al., 2002).
A expressão do Apobec3G é restrita a células não-permissivas e quando é expressa em
células permissivas confere-lhe um fenótipo não-permissivo. O grupo de Malin verificou
que ao infectar células não-permissivas com vírus Vif-negativos, o Apobec3G interferia
no ciclo de replicação do VIH-1, tornando as novas partículas virais não infecciosas
(Sheehy et al., 2002). Um trabalho mais recente, realizado pelo grupo de Landau verificou
que na presença de Apobec3G, os vírus Vif-negativos desencadeavam uma degradação
no ADNc e uma diminuição na integração do provírus (Mariani et al., 2003). O Apobec3G
é uma proteína da família das citidina deaminases que tem a capacidade de converter
citosinas em uracilos por perda de um grupo amina, provocando uma alteração de C-G;
A-T. Esta alteração provoca desta forma hipermutações na cadeia negativa do ADN viral. O resultado desta hipermutação desencadeia um processo de reparação do ADN por
excisão de bases que poderá comprometer a integridade da estrutura da cadeia simples
de ADN viral resultando na interrupção da transcrição (Sheehy et al., 2002). O Apobec3G
apresenta assim a capacidade de inibir a infecção do VIH-1, no entanto, é suprimido
pela proteína Vif. Em células não-permissivas o Vif interage com o Apobec3G, prevenindo
a sua encapsidação, protegendo desta forma o genoma viral de eventuais mutações. O
mecanismo de acção pela qual o Vif bloqueia o Apobec3G não está completamente
esclarecido. No entanto, estudos recentes indicam que o Vif inibe a incorporação do
Apobec3G na partícula viral através da sua ubiquitinação. Como consequência o
Apobec3G é direccionado para a via de degradação dos proteossomas, assegurando assim
a infecciosidade viral em células não-permissivas (Marin et al., 2003; Stopak et al.,
2003; Mariani et al., 2003).
No trabalho anterior realizado com o scFv-4BL demonstramos que o anticorpo anti-Vif
SIDA
NET
202
quando expresso no citoplasma celular, mantinha a sua capacidade de ligação ao Vif e
consequentemente inibia a transcrição reversa e replicação viral (Goncalves et al., 2002).
Os trabalhos que permitiram identificar o factor celular Apobec3G e a sua acção como
proteína antiviral foram publicados simultâneamente e posteriormente ao nosso estudo
(Sheehy et al., 2002; Stopak et al.,2003; Mariani et al., 2003). Deste modo, neste estudo
realizamos algumas experiências com o objectivo tentar avaliar mais detalhadamente
qual o tipo de mecanismo envolvido na neutralização da infecciosidade do VIH por cada
um dos fragmentos anti-Vif.
A primeira experiência realizada teve como objectivo analisar quantitativamente a
capacidade de cada fragmento anti-Vif inibir a síntese e integração de ADNc durante
um único ciclo de replicação do VIH-1. O PCR em tempo real, foi o método escolhido
para realizar esta análise quantitativa (Butler et al., 2001). Para tal, utilizaram
oligonucleótideos específicos para quantificar a fase inicial e tardia da transcrição reversa
e a integração do provírus. Os vírus VIH-1 foram produzidos em células 293T na presença
de Apobec3G e de cada um dos plasmídeos pcDNA3.1-VH, pcDNA3.1-VH-W, pcDNA3.1VH-CAM, pcDNA3.1-VH-D ou pcDNA3.1-4BL. O pVIH∆vif foi co-transfectado como
controlo negativo. Os vírus foram normalizados e utilizados para infectar células Hela
CD4. As células foram lisadas e o ADN extraído desde 30 min até 24 horas pós infecção.
Figura 9 - Domínios VH anti-Vif impedem a síntese e a integração de ADN viral. Células
293T foram co-transfectadas com pVIH, pcDNA3.1Apobec3G-FLAG e com um dos
plasmídeos pcDNA3.1-VH, pcDNA3.1-VH-W, pcDNA3.1-VH-CAM, pcDNA3.1-VH-D ou
pcDNA3.1-4BL. O pVIH∆vif foi co-transfectado como controlo negativo.
Ao analisar os resultados obtidos na figura 8, observou-se que todos os vírus apresentaram
um pico na fase inicial da transcrição reversa entre as 9 horas e 12 horas. A partir deste
pico começou a haver um decréscimo na fase inicial da transcrição reversa. Na análise
SIDA
NET
203
dos resultados obtidos para a fase tardia da transcrição reversa observou-se diferenças
entre os vários fragmentos anti-Vif. O domínio VH selvagem e domínio VH-W não
demonstraram ter nenhum efeito na diminuição ou alteração da síntese tardia da
transcrição reversa. Por outro lado, os domínios VH-CAM, VH-D e scFv-4BL mostraram
ter efeito negativo na eficiência da síntese tardia da transcrição reversa. Como se pode
verificar a diminuição na síntese tardia da transcriptase reversa destes três fragmentos
anti-Vif foi muito semelhante ao resultado obtido com o VIH Vif-negativo. Na ultima
análise quantitativa por PCR em tempo real verificou-se que todos os fragmentos, à
excepção do VH selvagem, apresentaram um efeito negativo na integração do provírus.
A diminuição na integração do provírus verificou-se no entanto mais acentuada na
presença do domínio VH-D e scFv-4BL. Estes resultados confirmam assim mais uma vez
que os domínios mais solúveis e estáveis são os que apresentam a maior capacidade de
inibição da replicação viral (Aires da Silva et al., 2004).
Figura 10 – Domínios VH anti-Vif aumentam a expressão do Apobec3G na presença de Vif. A Análise por Western-Blot de lisados de células 293T co-transfectadas com pcDNA3.1-Vif e de
pcDNA3.1-Apobec3G-FLAG. B - Análise por Western-Blot de lisados de células 293T cotransfectadas com pcDNA3.1-Vif , pcDNA3.1-Apobec3G-FLAG e com um dos plasmídeos pcDNA3.1VH, pcDNA3.1-VH-W, pcDNA3.1-VH-CAM, pcDNA3.1-VH-D, ou pcDNA3.1scFv-4BL. Para detectar
a expressão do Apobec3G utilizou-se o anticorpo primário de rato anti-FLAG e o anticorpo secundário
anti-rato IgG. Para detectar a expressão do Vif utilizou-se o anticorpo policlonal de coelho anti-Vif e
o anticorpo secundário HRP-anti-coelho IgG. Para detectar a expressão dos domínios VH utilizou-se o
anticorpo HRP-anti-HA. Para controlar e normalizar a eficiência da transfecção, lisados de células
293T foram também utilizados em Western-Blot e a quantidade de proteína total foi analisada por
comparação com a expressão da proteína celular actina com o anticorpo anti-actina (Abcam).
Os vírus produzidos foram utilizados para infectar células Hela CD4. As células foram
lisadas após 48 horas de infecção e o ADN extraído aos tempos indicados. A quantificação
da síntese e integração do ADNc foi efectuada por PCR em tempo real com pares de
oligonucleótideos específicos para a fase inicial e tardia da transcriptase e integração do
provirus (Butler et al., 2001). A – Análise da síntese e integração do ADNc do VIH-1
selvagem e VIH-1 Vif–negativo na presença de Apobec3G. B - Análise da síntese e
integração do ADNc do VIH-1 selvagem e VIH-1 Vif–negativo na presença de Apobec3G
e de cada um dos fragmentos anti-Vif. Os resultados foram realizados em triplicado.
Como se pode observar pela análise da figura 10B este aumento está relacionado com os
níveis de expressão de cada um dos fragmentos anti-Vif. As expressões mais elevadas do
SIDA
NET
204
domínio VH-D e scFv-4BL foram as que promoveram o maior acréscimo nos níveis de
expressão do Apobec3G. Estes resultados indicam assim que quanto maior for a
solubilidade e estabilidade do anticorpo dentro da célula, maior será a quantidade de
proteína activa que se poderá ligar ao Vif e neutralizar a sua função . Como consequência
o Vif fica impossibilitado de se ligar ao Apobec3G e de desencadear a sua degradação.
Estas duas últimas experiências permitiram compreender qual o tipo de mecanismo que
poderá estar envolvido na neutralização da infecciosidade do VIH. Os domínios VH mais
camelizados são os que apresentam os níveis de expressão e tempos de meia vida mais
eficientes no citoplasma de células eucariontes. Como tal, a quantidade de proteína
expressa por cada um destes domínios parece ser suficiente para neutralizar a proteína
Vif. Deste modo, uma vez neutralizado o Vif, o Apobec3G provavelmente deixa de ser
direccionado para a via de degradação dos proteossomas. Como consequência o Apobec3G
é incorporado na partícula viral, ficando disponível para exercer a sua função, impedindo
os vírus produzidos de completarem o seu ciclo de replicação nas células alvo (Aires da
Silva et al., 2004).
Conclusão
A terapia génica é uma nova estratégia de medicina molecular com enormes
potencialidades na terapêutica de doenças infecciosas e cancerígenas (Cattaneo & Biocca,
1997). Dentro deste quadro, a imunização intracelular através da expressão de zonas
variáveis de anticorpos dentro do citoplasma da célula, é uma estratégia cujo objectivo é
neutralizar proteínas essenciais a processos biológicos. Este tipo de terapia é de enorme
relevância para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. Têm sido propostos
uma variedade de métodos para obter estes pequenos fragmentos de anticorpos, ou
anticorpos de cadeia única (scFv). Em primeiro lugar é construída uma biblioteca de
regiões variáveis de anticorpos, com variabilidade a nível das regiões de
complementaridade (CDR). De seguida, seleccionam-se os anticorpos contra antigénios
específicos por tecnologias de Phage-Display ou Ribossome-Display (Smith, 1985;
McCafferty et al, 1990; Barbas et al., 1991; Hanes et al., 2000a,b). Os scFv seleccionados
são normalmente aceites como a estrutura molecular mais indicada para a expressão
intracelular em células eucariontes (Cattaneo & Biocca, 1997). Estes anticorpos
apresentam normalmente uma especificidade e afinidade idêntica à molécula inteira do
anticorpo. No entanto, as regiões de ligação aos antigénios (CDR) dos anticorpos clássicos
apresentam desvantagens. São regiões de contacto muito grandes, uma vez que é necessário
um par de domínios VH e VL para que se forme uma região de ligação ao antigénio, para
além de serem frequentemente instáveis no ambiente redutor das células eucariontes.
Por estes motivos, o desenvolvimento de pequenos anticorpos de cadeia única (VH ou VL)
a partir dos anticorpos maiores podem ter uma vantagem muito grande em relação aos
scFv.
Neste contexto, tentou-se avaliar no presente estudo, se domínios únicos de VH apresentam
boas propriedades para serem utilizados como anticorpos intracelulares. O domínio VH
em estudo derivou de um scFv desenvolvido recentemente contra a proteína Vif do VIH1 (Goncalves et al., 2002). A função principal do Vif é bloquear a acção do Apobec3G,
uma citidina deaminase que tem a capacidade de tornar o VIH não infeccioso através da
indução de hipermutações G para A durante a síntese do ADN viral. Deste modo, além do
SIDA
NET
205
Vif ser considerado um bom alvo terapêutico é também um excelente modelo para avaliar
a eficiência da nossa estratégia.
A abordagem efectuada para construir os anticorpos intracelulares de domínio VH foi
baseada nas características dos anticorpos de cadeia pesada dos camelos (VHH). Os
domínios VHH apresentam naturalmente solubilidades e estabilidades elevadas em
consequência de substituições específicas de aminoácidos (Phe-37, Glu-44, Arg-45 e
Gly-47) na região correspondente à interacção com o domínio VL (Muyldermans, 2001a,b).
O Trp-103 situado na FR4 foi outro aminoácido identificado recentemente como responsável
por interacções com o VL. Deste modo, para avaliar o papel de cada uma destas
substituições no aumento da solubilidade e expressão do VH anti-Vif construíram-se três
mutantes denominados, VH-W, VH-CAM e VH-D, onde se foi gradualmente aumentando
o processo de camelização, ou seja aumentando a hidrofilicidade.
As experiências realizadas durante este estudo mostraram em primeiro lugar que todos
os domínios VH em estudo apresentaram um reconhecimento específico da proteína Vif
do VIH-1. Embora tenha havido um decréscimo na afinidade, a ausência do domínio VL
e o processo de camelização, asseguraram do mesmo modo que se mantivesse uma boa
interacção paratopo-epítopo (Aires da Silva et al., 2004).
Em segundo lugar, os resultados de expressão mostraram que existe uma excelente
correlação entre o aumento da solubilidade dos domínios VH, com o aumento da
camelização (W→ CAM→ D). A mutação W103R (mutante VH-W) quando introduzida
sozinha na FR4 indicou não ser suficiente para aumentar significativamente a solubilidade
do domínio VH. Estudos recentes realizados por Desmyter et al, permitiram verificar que
o Trp-103 é substituído pelo resíduo Arg em 10% dos VHH (Desmyter et al., 2001). Esta
mutação encontrada num VHH desenvolvido contra uma enzima de bovino permitiu
verificar que esta substituição não altera a conformação estrutural do domínio, permitindolhe aumentar ainda mais a sua hidrofilicidade. Desmyter et al., sugere que a mutação
isolada W103R na FR4 pode ser eficiente e mais vantajosa no processo de camelização
de anticorpos, uma vez que permite aumentar a solubilidade do anticorpo sem se fazerem
muitas alterações em relação ao anticorpo parental (Desmyter et al., 2001). Deste modo,
no nosso estudo tentamos avaliar se a substituição W103R era uma escolha suplementar
às mutações na FR2 (V37F, G44E, L44R e W47G). Porém, os nossos resultados indicam
que as substituições na FR2 são as que têm um papel mais significativo no aumento da
solubilidade e níveis de expressão (Aires da Silva et al., 2004). A mutação W103R
mostrou, no entanto, ser favorável no aumento da hidrofilicidade quando adicionada às
mutações V37F, G44E, L44R e W47G. Este facto pode ser atribuído a uma conformação
estrutural diferente nos anticorpos de coelho, onde o Trp-103 têm um papel menos importante
na interacção com o domínio VL Outras propriedades podem ser especuladas para o
papel deste resíduo uma vez que este aminoácido é muito conservado nos anticorpos de
coelho (Aires da Silva & Goncalves, dados não publicados). Os resultados obtidos com o
ensaio de pulse-chase indicaram também que o processo de camelização do domínio VH
anti-Vif tem um papel importante não só no aumento da solubilidade e expressão como
também melhora a estabilidade e tempo de vida intracelular dos domínios únicos de
anticorpos de coelho (Aires da Silva et al., 2004).
SIDA
NET
206
Para determinar a eficiência de cada um dos domínios VH na neutralização da proteína
Vif, realizamos duas experiências independentes que nos permitiram avaliar a inibição
da replicação viral. Os domínios VH mais camelizados VH-CAM e VH-D apresentaram
uma inibição da replicação do VIH-1 muito eficiente e semelhante ao scFv-4BL anti-Vif.
Por outro lado, os domínios VH e VH-W, ambos com níveis de expressão baixos e tempo de
meia vida inferiores a 2 horas, apresentaram uma diminuição pouco significativa na
inibição da replicação. Estes resultados indicam que um domínio VH que apresente uma
boa solubilidade e um tempo de meia vida elevado no ambiente redutor do citoplasma,
terá a partida uma maior capacidade de ter um folding correcto e níveis de expressão em
quantidades significativas de modo a interagir e neutralizar o antigénio. Deste modo,
podemos concluir que a actividade biológica de cada um dos domínios VH está fortemente
relacionada com a solubilidade e estabilidade da proteína.
Neste estudo, o mecanismo de inibição da replicação viral foi consistente com a
neutralização do Vif. Como demostrado por Mariani et al., (2003) na ausência de Vif, o
Apobec3G reduz a integração do provírus VIH. Os nossos resultados demostraram que os
domínios VH anti-Vif mais camelizados interferem na transcrição reversa e integração
do ADN viral, inibindo a replicação (Aires da Silva et al., 2004). As experiências
realizados com o Apobec3G permitiram mostrar que a inibição da infecciosidade do
VIH-1 é uma consequência da neutralização do Vif. Deste modo, pensamos que uma vez
neutralizado o Vif pelos fragmentos anti-Vif, o Apobec3G deixa de ser direccionado para
a via de degradação dos proteossomas. Como tal, o Apobec3G é incorporado na partícula
viral, ficando disponível para exercer a sua função, ou seja, provoca hipermutações na
cadeia negativa do ADN viral, impedindo os vírus produzidos de completarem o seu ciclo
de replicação nas células alvo. Os VHs camelizados apresentaram um mecanismo de
inibição da replicação, idêntico ao scFv-4BL. Estes resultados indicam assim que as
modificações introduzidas na região de interface não alteraram a efectividade da
neutralização da proteína alvo. O processo de camelização realizado neste estudo poderá
assim ser utilizado como modelo para outros anticorpos intracelulares de coelho.
Os anticorpos de coelho revelam-se assim bastante promissores em terapia génica,
nomeadamente na imunização intracelular. Deste modo, os resultados obtidos neste estudo
abrem novas perspectivas na área da manipulação de anticorpos intracelulares. A
camelização de domínios VH de coelho poderá ser assim uma nova abordagem para
desenvolver anticorpos mais pequenos, robustos e eficientes na neutralização da proteína
alvo.
Bibliografia
Aires da Silva F, Santa-Marta M, Freitas-Vieira A, Mascarenhas P, Barahona I, Moniz-Pereira J,
Gabuzda D, Goncalves J. Camelized rabbit-derived VH single-domain intrabodies against Vif
strongly neutralize HIV-1 infectivity.J Mol Biol. 2004 Jul 9;340(3):525-42.
Auf der Maur, A., Zahnd, C., Fischer, F., Spinelli, S., Honegger, A., Cambillau, C., Escher, D., Plückthun,
A., & Barberis, A. (2002). Direct in vivo screening of intrabody libraries constructed on a
highly stable single-chain framework. J. Biol. Chem. 277: 45075-45086.
SIDA
NET
207
Auf der Maur, A., Escher, D. & Barberis, A. (2001). Antigen-independent selection of stable intracellular single-chain antibodies. FEBS Lett. 508: 407-12.
Barre-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J, Dauguet C, Axler-Blin C,
Vezinet-Brun F, Rouzioux C, Rozenbaum W, Montagnier L. (1983). Isolation of a T-lymphotropic
retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS).Science
220:868-871.
Branden, C. & Tooze, J. (1999). Introduction to Protein Structure, 2nd Edition. Garland Publishing,
299-323p.
Cattaneo, A. & Biocca, S. (1997). Intracellular Antibodies: Development and Applications. Springer
Publishing, 1-53p.
Clavel F, Mansinho K, Chamaret S, Guetard D, Favier V, Nina J, Santos-Ferreira MO, Champalimaud
JL, Montagnier L. (1987). Human immunodeficiency virus type 2 infection associated with
AIDS in West Africa. N Engl J Med. 316:1180-5.
Clavel F, Guetard D, Brun-Vezinet F, Chamaret S, Rey MA, Santos-Ferreira MO, Laurent AG, Dauguet
C, Katlama C, Rouzioux C, et al. (1986). Isolation of a new human retrovirus from West
African patients with AIDS. Science. 233:343-346.
Courcoul M, Patience C, Rey F, Blanc D, Harmache A, sire J, Vigne R, Spire B (1995). Peripheral blood
mononuclear cells produce normal amounts of defective Vif- human immunodeficiency virus
type 1 particles which are restricted for the preretrotranscription steps. J.Virol. 69:20682074
Davies J, Riechmann L. (1995). Antibody VH domains as small recognition units.
Biotechnology. 13:475-479.
Davies J. & Riechmann L. (1996). Single antibody domains as small recognition units: design and in
vitro antigen selection of camelized, human VH domains with improved protein stability. Protein Eng. 9:531-7.
Desmyter A, Transue TR, Ghahroudi MA, Thi MH, Poortmans F, Hamers R, Muyldermans S, Wyns L.
(1996). Crystal structure of a camel single-domain VH antibody fragment in complex with
lysozyme. Nat Struct Biol. 3:803-11.
Fisher AG, Ensoli B, Ivanoff L, Chamberlain M, Petteway S, Ratner L, Gallo RC, Wong-Staal F (1987)
The sor gene of HIV-1 is required for efficient virus transmission in vitro. Science 237:888893.
Goncalves J, Silva F, Freitas-Vieira A, Santa-Marta M, Malho R, Yang X, Gabuzda D, Barbas C 3rd.
(2002). Functional neutralization of HIV-1 Vif protein by intracellular immunization inhibits
reverse transcription and viral replication. J. Biol. Chem. 277: 32036-32045.
Goncalves J., Korin Y., Zack J Gabuzda D. (1996). Role of Vif in Human Immunodeficiency Vírus Type
1 Reverse Transcription. J. Virol 70:8701-8709.
Goncalves J, Jallepalli P, Gabuzda D (1994). Subcellular localization of Vif protein of human immunodeficiency virus type 1. J. Virol. 68:704-712
Hamers-Casterman C, Atarhouch T, Muyldermans S, Robinson G, Hamers C, Songa EB, Bendahman
N, Hamers R. (1993). Naturally occurring antibodies devoid of light chains. Nature. 363:4468.
Klatzmann D, Barre-Sinoussi F, Nugeyre MT, Danquet C, Vilmer E, Griscelli C, Brun-Veziret F, Rouzioux
C, Gluckman JC, Chermann JC, et al. (1984). Selective tropism of lymphadenopathy associated
virus (LAV) for helper-inducer T lymphocytes.Science. 97: 225:59
Marasco, W. A., La Vecchio, J. & Winkler, A. (1999). Human anti-HIV-1 tat sFv intrabodies for gene
therapy of advanced HIV-1-infection and AIDS. J. Immunol Methods. 231, 223-38.
Marin M, Rose KM, Kozak SL, Kabat D. (2003). HIV-1 Vif protein binds the editing enzyme APOBEC3G
and induces its degradation. Nat Med..9:1398-403.
SIDA
NET
208
Mehle A, Strack B, Ancuta P, Zhang C, McPike M, Gabuzda D. (2004). Vif overcomes the innate
antiviral activity of APOBEC3G by promoting its degradation in the ubiquitin-proteasome
pathway. J Biol Chem. 279:7792-8.
Muyldermans S. (2001). Single domain camel antibodies: current status. J Biotechnol. 74:277-302.
Muyldermans S, Cambillau C, Wyns L. (2001). Recognition of antigens by single-domain antibody
fragments: the superfluous luxury of paired domains.Trends Biochem Sci. 26:230-5. Review.
Muyldermans S, Atarhouch T, Saldanha J, Barbosa JA, Hamers R. (1994). Sequence and structure of
VH domain from naturally occurring camel heavy chain immunoglobulins lacking light chains.
Protein Eng. 7:1129-35.
Proba, K., Honegger, A., & Plückthun, A. (1997). A natural antibody missing a cysteine in VH:
Consequences for thermodynamic stability and folding. J. Mol. Biol. 265: 161-172.
Riechmann L, Muyldermans S. (1999). Single domain antibodies: comparison of camel VH and camelised
human VH domains. J Immunol Methods. 10:25-38. Review.
Sheehy AM, Gaddis NC, Malim MH. (2003). The antiretroviral enzyme APOBEC3G is degraded by the
proteasome in response to HIV-1 Vif. Nat Med. 9:1404-7.
Sheehy AM, Gaddis NC, Choi JD, Malim MH. (2002) Isolation of a human gene that inhibits HIV-1
infection and is suppressed by the viral Vif protein. Nature. 418:646-50.
Stine GJ (2000). AIDS update 2000. Prentice Hall. 520pp
Strebel K, Daugherty D, Clouse K, Cohen D, Folks T, martin MA (1987). The HIV ‘A’ (sor) gene product
is essential for virus infectivity. Nature 328:728-730
Sova T, Volsky D (1993). Efficiency of viral DNA synthesis during infection of permissive and
nonpermissive cells with vif-negative human immunodeficiency virus type 1. J. Virol. 67: 63226326.
Stopak K, de Noronha C, Yonemoto W, Greene WC. (2003). HIV-1 Vif blocks the antiviral activity of
APOBEC3G by impairing both its translation and intracellular stability.Mol Cell. 12:591-601.
Tanaka, T. & Rabbitts, T. H. (2003). Intrabodies based on intracellular capture frameworks that bind the RAS protein with high affinity and impair oncogenic transformation.
EMBO J. 22:1025-35.
Wörn, A., & Plückthun, A. (2001). Stability engineering of antibody single-chain Fv fragments. J. Mol.
Biol. 305: 989-1010.
Vaishnav YN, Wong-Staal F. (1991). The biochemistry of AIDS. Annu Rev Biochem. 60:577-630.
Vu KB, Ghahroudi MA, Wyns L, Muyldermans S. (1997). Comparison of llama VH sequences from
conventional and heavy chain antibodies. Mol Immunol. 34:1121-1131.
Von Schwedler U, Song J, Aiken C, Trono D (1993). vif is crucial for human immunodeficiency virus
type 1 proviral DNA synthesis in infected cells. J. Virol. 67: 4945-4955.
SIDA
NET
209
SIDA
NET
210
ENCERRAMENTO
SIDA
NET
211
SIDA
NET
212
UMA REPORTAGEM PREVENTIVA
Cabrita F - Lisboa - Portugal
Com o meu pedido de desculpas por não poder estar presente, devido a outros compromissos
de agenda, quero expressar quão me sensibiliza a iniciativa do teatro Químico, ao passar
à cena a minha reportagem “A Morte de Frente”, publicada na “Grande Reportagem”
de 27 de Março último.
Já que muita gente, por ignorância ou desafio, recusa recorrer a meios de prevenção ao
praticar actividades de risco quanto à transmissão do vírus HIV, entendi ser útil escrever
uma reportagem preventiva, a intenção primeira deste meu trabalho.
Tinha uma relação antiga com o Rui Oliveira, resultante de um outro trabalho jornalístico.
Não era promíscuo. Confessou-me que só teve três amores na vida. Não se drogava. Tinha
um quotidiano que podemos considerar normal. Havia perfilhado uma criança com quem
estabelecera uma maravilhosa relação recíproca de pai para filho. Mas o seu infortúnio
foi a prova provada de que a SIDA ataca onde menos se espera, e que ninguém pode
pensar que lhe é imune.
Quando conheci o Rui, ele tinha o mal controlado e, como sempre nestas circunstâncias,
achava que o drama podia ser eternamente adiado. Não foi. É muito difícil encararmos
a morte de frente. Mas o Rui compreendeu, a partir de certa altura, que tinha de lhe
fazer face. A energia com que se agarrava à vida era suficiente. Ganhou a consciência
de que ia morrer. Mas entendeu não se render sem emitir um grito de alerta. Escolheume como sua porta-voz, e por isso só lhe posso estar grata. “Imortaliza-me”, fio o seu
pedido nos últimos momentos. E Acrescentou: “Não deixes que o que sofri passe em
vão.”. Ele, que queria ser imortal no palco, haveria afinal de o ser na vida. De uma certa
forma. Pela palavra escrita, e agora também pela palavra dita. É por isso, em nome do
Rui, que agradeço a toda a equipa do Teatro Químico e contribuo para transmitir a sua
mensagem, e para o tornar imortal.
Felícia Cabrita, 1 de Dezembro de 2004
SIDA
NET
213
SIDA
NET
214
ENCERRAMENTO DO CONGRESSO
- DIA MUNDIAL DA SIDA
Vieira F R- Gaia - Portugal
Ex.ma Sra. Dra. Maria de Belém Roseira
Ex.mo Sr. Dr. Rui Sarmento e Castro
Ex.mo Sr. Dr. Vítor Bezerra
Ex.ma Sra. Dra. Júlia Valério
Dr. Pedro Frade
Dra. Ana Carvalho
Minhas Senhoras e meus Senhores
Hoje dia 1 de Dezembro é o dia Mundial da SIDA, que teimosamente continuamos a
comemorar. Preferiria o termo lembrar, pois infelizmente continuamos a cada dia que
passa a esquecer a realidade trágica que se vive em todo o mundo.
39.400000 de pessoas em todo o mundo estão infectadas pelo VIH dos quais 2.2 milhões
são crianças com menos de 15 anos. Durante o ano de 2004 houve 4.9 milhões de novas
infecções.3.1 milhões de pessoas morreram no decurso do corrente ano em todo o mundo
e incluem-se entre estas cerca de meio milhão de crianças.
Em Portugal a epidemia não pára de crescer. Sabemos que os números oficiais são
inferiores à realidade. Até 30.6.2004 haviam sido notificados em Portugal 11263 casos
de SIDA, valor que parece claramente inferior à realidade com base nas projecções da
OMS. Os Distritos de Lisboa Porto e Setúbal já têm números com 4 dígitos. Do total de
doentes notificados ao longo dos vários anos (24776) 11263 estavam em fase de SIDA e
mais de metade (5839) já tinham morrido. Do total de doentes notificados 6737 tinham
SIDA
NET
215
morrido. Em conclusão a taxa de mortalidade dos doentes em fase de SIDA é de 51.8%,
enquanto no global de todas as fases da doença é de 27.2%. Portanto continuamos perante
uma doença com elevada taxa de mortalidade.
O perfil epidemiológico da transmissão tem vindo a alterar-se ao longo dos anos.
Desenganem-se aqueles que continuam a pensar que a infecção VIH é adquirida pelos
homossexuais e toxicodependentes.
Nos casos associados à toxicodependência, observa-se, cumulativamente, um maior número
de casos notificados em relação às outras categorias de transmissão. Verificamos que,
até Junho de 2004, os toxicodependentes constituem 49,2% do total de casos notificados.
Tendência temporal 2000 – 2004 (1º semestre)
Para os casos diagnosticados entre 2000 e 2003, as proporções nas diferentes categorias
de transmissão são variáveis, registando-se para os heterossexuais: 33,3% (2000); 35,6%
(2001); 43,2% (2002); 46,6%
(2003); para os toxicodependentes: 56,0% (2000); 53,5% (2001); 47,8% (2002); 40,9%
(2003); enquanto que para os homossexuais observam-se os valores: 7,8% (2000); 6,0%
(2001); 6,7% (2002); 9,5% (2003).
No primeiro semestre de 2004 notificaram-se 191 casos diagnosticados neste ano, em que
as categorias de transmissão “toxicodependentes” constituem 42,9%; os “heterossexuais”
representam 46,1%; os “homossexuais” 7,8 % e as restantes categorias totalizam 3,2%
dos casos notificados.
A título de curiosidade, e estes são números retirados da experiência da nossa Unidade,
temos registados na nossa casuística cerca de 70 doentes com mais de 50 anos. Até 1999
estavam referenciados 26 doentes com mais de 50 anos; de 2000 até 2004 (e o ano ainda
não acabou) esse número é de 44 doentes. Com mais de 65 anos temos 11 doentes dos
quais 8 são homens. Por uma questão de curiosidade o nosso doente mais idoso tinha 86
anos e a mulher mais idosa 73 anos. Ora para além da doença VIH já não ser só dos
grupos classicamente definidos afecta grupos etários impensáveis há alguns anos.
Também da experiência da nossa Unidade se analisarmos os riscos ligados à infecção no
total de doentes acumulados ao longo dos anos verificamos que a toxicodependência
representa 65.8%, a transmissão sexual 27.5%. Nos doentes observados no ano de 2004
a toxicodependência é de 55.8% e a transmissão sexual é de 35.2%: De facto a
epidemiologia tem-se vindo a alterar e a via sexual começa a consumir contornos
preocupantes como via de transmissão da infecção e aqui não estão em causa
comportamentos tidos como “anormais”.
SIDA
NET
216
Epidemiologia
Das informações disponíveis no País, tudo indica que os principais factores que têm
contribuído para a propagação do VIH estão relacionados com a transmissão sexual
entre heterossexuais e com a toxicodependência por via endovenosa, que representam
55,1% e 36,3%, respectivamente, do total de infecções registadas no Centro de Vigilância
Epidemiológica das Doenças Transmissíveis (CVEDT), até ao dia 30 de Setembro de
2003. O relatório anual do Instituto Português da Droga e da Toxicodependência (IPDT),
de 2001, confirma os dados do CVEDT, ao referir que nos casos notificados se registava
uma maior incidência do VIH entre os toxicodependentes até àquele ano. Neste período,
o rasteio realizado pelo IPDT entre os toxicodependentes, que procuraram tratamento
pela primeira vez, demonstrou que a proporção de seropositivos para o VIH era de 14%.
Estudos de carácter Nacional que incidiram sobre a população com consumos de drogas
ilícitas injectáveis, estimavam para 2002 uma taxa de prevalência de 4,3 a 6,4 de
Utilizadores de Drogas Injectáveis (UDI) por 1000 habitantes, dos 15 aos 64 anos, e uma
percentagem de seropositividade para o VIH de 26% no total destes consumidores.
Se de facto é necessário continuar a intervir na área da prevenção da toxicodependência,
e parece que apesar de tudo as medidas implementadas na última década parecem estar
a dar os seus frutos, as acções de informação e formação da população em geral são
fundamentais e não menos importantes.
Como vimos os custos em vidas humanas são pesados, mas temos que dizer que a sociedade
paga um preço elevado no tratamento destes doentes: a unidade que dirijo, o ano passado
tratou perto de 500 doentes, e só em terapêutica antiretrovirica gastou perto de meio
milhão de contos, valor que no ano corrente vai ser ultrapassado. O Professor Miguel
Forte há alguns anos estimava que em média um doente VIH em Portugal custava entre
3000 a 5000 contos / ano.
É possível apesar de tudo em muitos doentes transformar uma doença fatal numa doença
crónica, mas com custos elevados, pelo que a prevenção é a única forma de combater de
forma eficaz esta pandemia.
Para terminar não posso deixar de lembrar que associada à infecção VIH existe um
cortejo de outras doenças também estas com custos elevados quer em termos económicos
quer em termos de vidas humanas: as Co. infecções, tema central do 5º Congresso Virtual, de que destacamos em particular a tuberculose e a hepatite C, marcam, de forma
determinante a morbilidade e mortalidade desta doença. Não tivéssemos já o estigma de
termos falhado a luta contra a tuberculose, pois somos o país da Europa com a maior
taxa de prevalência, a infecção VIH veio agravar ainda mais o problema, voltando a
tuberculose a constituir um grave problema de saúde pública.
Há 2 anos nesta mesma data e em reunião presidida por S.Exa. o Sr. Presidente da
Republica, tive oportunidade de emitir um desabafo em relação aos meus doentes; eram
os mais pobres do meu Hospital, vítimas da pobreza económica mas fundamentalmente
cultural; enquanto as pessoas não entenderem as mensagens que lhes são transmitidas
não iremos a lado nenhum e de certeza que daqui a 20-30 anos, outras pessoas estarão,
se calhar neste mesmo local com toda a probabilidade a discutir os mesmos problemas.
SIDA
NET
217
Ao promovermos hoje esta reunião vamos fazê-lo de uma forma diferente do habitual, e
não é por qualquer razão que procuramos juntar neste dia e neste local professores/
educadores e profissionais de saúde, sem o empenhamento dos quais todo o esforço será
inútil. A arte através de uma das suas formas mais nobres, o Teatro, vai dar de certo uma
contribuição importante para a transmissão desta informação, e nosso muito obrigado ao
Teatro Químico.
Não quereria deixar de dizer algumas citações escritas em congressos anteriores, para
reflexão de todos:
Professor Machado Caetano 1º AIDSCONGRESS
Esperamos que os detentores do poder entendam, de uma vez por todas, que a Educação
para a Saúde é crucial para uma sociedade progressista e feliz, e que ela só será eficaz
se for acompanhada de adequada elevação sócio-económica e cultural das populações.
Professor Machado Caetano- Abertura 2º Congresso Virtual
Vivemos numa sociedade doente dos pontos de vida sócio-económico, cultural, educacional
e sanitário. Na realidade as assimetrias sócio-económicas, a fome, a guerra, a exploração
descontrolada dos recursos naturais e a poluição, são alguns dos factores que
proporcionaram os grandes desaires da Biologia do Planeta, traduzidos no aparecimento
de novas doenças, entre elas as Doenças Infecciosas Emergentes como a SIDA
Como muito se repete, a Família e a Escola são os principais laboratórios da Educação
dos jovens e entre os dois, a Família é o mais poderoso.
A maioria das Famílias não consegue cumprir com eficácia a sua função educativa
relativamente aos filhos. Falta-nos conseguir em Portugal, uma política sócio-económica
e cultural virada para as Famílias, com adequado apoio à habitação e emprego, de
molde a permitir que a família tenha tempo e aprenda a capacidade de ensinar e educar
Os resultados demonstraram que os nossos jovens dos 12 aos 20 anos estão bem informados
sobre a SIDA e DST, mas não modificaram os seus comportamentos sexuais de risco,
aceitando uma elevada percentagem à prática de sexo sem preservativo.
Um outro estudo, mais recente sobre educação cívica, referido por Daniel Sampaio, em
que participaram cerca de 7000 jovens portugueses do 8º e 9º anos (14-15 anos), de 150
escolas, revelou os seguintes índices:
51, 2% ¾
concorda com a segregação de crianças seropositivas
29,3 % ¾
concorda com a segregação de crianças filhas de toxicodependentes
23,9 % ¾
tem a mesma opinião para crianças de etnia cigana
A propósito da pobreza, ela é sem dúvida, o substrato potenciador de todos estes sofrimentos,
podendo afirmar-se hoje como uma calamidade mundial
SIDA
NET
218
Um terço da Humanidade vive em absoluta pobreza (< 55 contos/ano) enquanto os EUA,
Europa e Japão detêm 80% da riqueza Mundial! E, em Portugal, tanto quanto foi
recentemente referido, parece que, 7 a 8 famílias detêm 25% da riqueza nacional!
Maria José Manata abertura 3º congresso virtual
A tuberculose contínua a ser um grave problema de saúde pública em Portugal, com
incidência crescente nos co-infectados pelo VIH. É a infecção oportunista mais frequente
no nosso país. A associação com a pobreza, com a toxicodependência, coma
marginalidade, comprometem a adesão correcta à terapêutica, tornando difícil o controlo
desta infecção
Maria João Arroz abertura do 4º congresso virtual
“ A moral é uma moeda. De um lado o pecado, de outro lado a virtude.
Silêncio e segredo unidos, no equilíbrio do mundo”.
Obrigado a todos.
SIDA
NET
219
Publicações Anteriores:
I HIV/AIDS Virtual Congress
Portugal 2000: À Descoberta de Desafios Partilhados na Luta Contra a SIDA
Dez. 2000
II HIV/AIDS Virtual Congress
Ontem, Hoje e Amanhã
Dez. 2001
III HIV/AIDS Virtual Congress
O HIV no Mundo Lusófono
Jan. 2003
IV HIV/AIDS Virtual Congress
A Mulher e a Infecção pelo HIV/SIDA
Mar. 2004
SIDA
NET
220
NOTAS
SIDA
NET
221