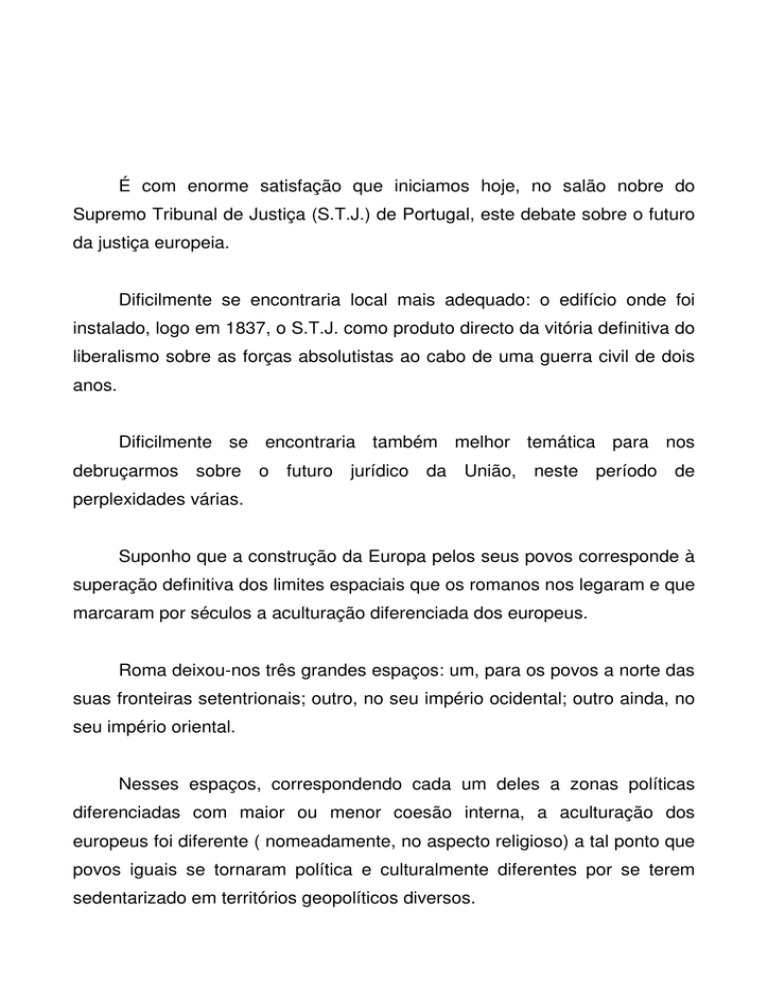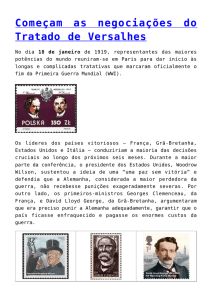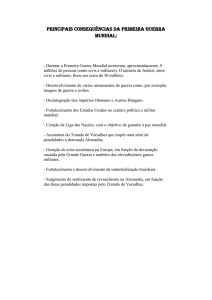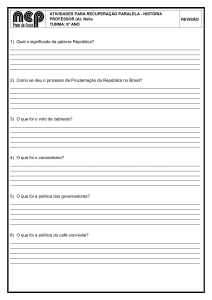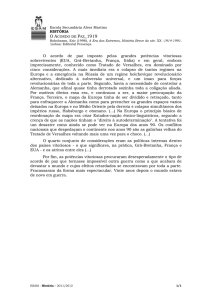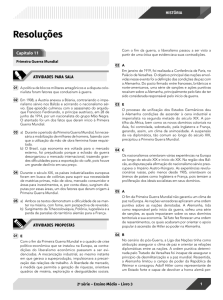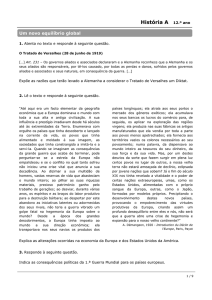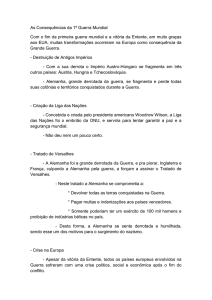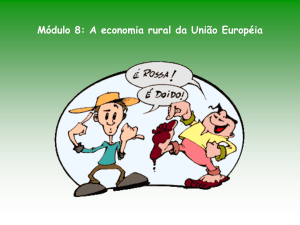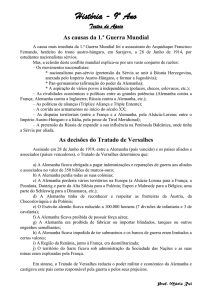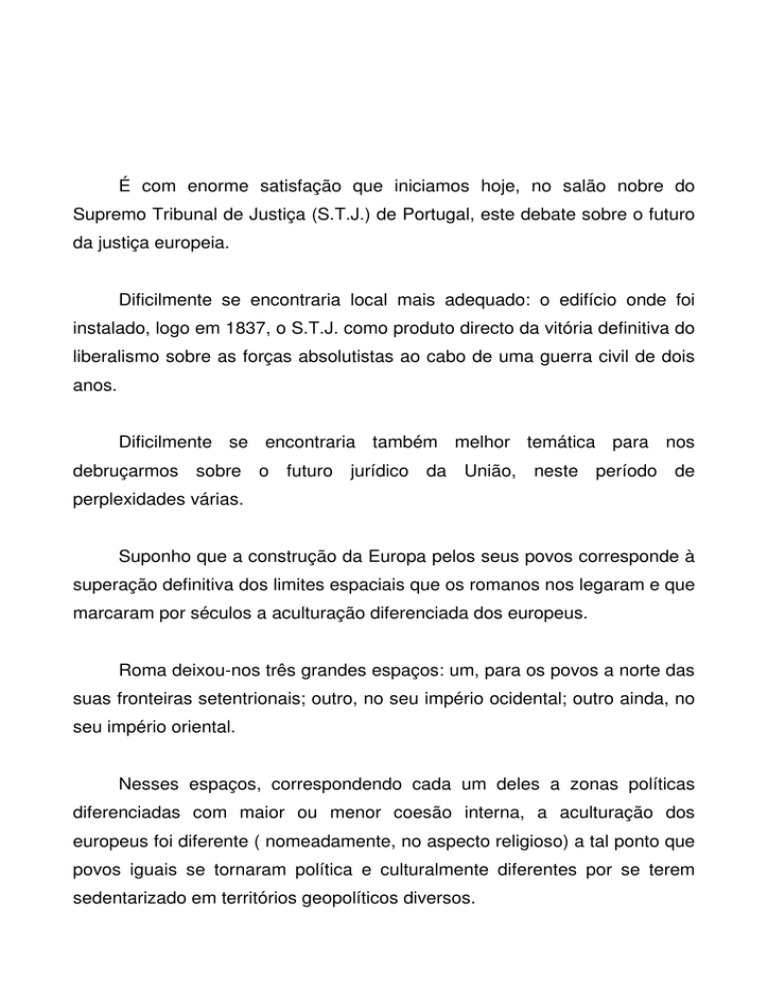
É com enorme satisfação que iniciamos hoje, no salão nobre do
Supremo Tribunal de Justiça (S.T.J.) de Portugal, este debate sobre o futuro
da justiça europeia.
Dificilmente se encontraria local mais adequado: o edifício onde foi
instalado, logo em 1837, o S.T.J. como produto directo da vitória definitiva do
liberalismo sobre as forças absolutistas ao cabo de uma guerra civil de dois
anos.
Dificilmente se encontraria também melhor temática para nos
debruçarmos sobre o futuro jurídico da União, neste período de
perplexidades várias.
Suponho que a construção da Europa pelos seus povos corresponde à
superação definitiva dos limites espaciais que os romanos nos legaram e que
marcaram por séculos a aculturação diferenciada dos europeus.
Roma deixou-nos três grandes espaços: um, para os povos a norte das
suas fronteiras setentrionais; outro, no seu império ocidental; outro ainda, no
seu império oriental.
Nesses espaços, correspondendo cada um deles a zonas políticas
diferenciadas com maior ou menor coesão interna, a aculturação dos
europeus foi diferente ( nomeadamente, no aspecto religioso) a tal ponto que
povos iguais se tornaram política e culturalmente diferentes por se terem
sedentarizado em territórios geopolíticos diversos.
A construção da União será o cair do pano sobre esse tempo passado;
e provavelmente as dificuldades e dúvidas que ciclicamente assomam ao
espírito dos europeus sobre o futuro a trilhar, remetem-nos ainda para essa
lembrança que marcou a nossa ancestralidade.
É aqui que o Direito se revela uma ferramenta fundadora.
Fundadora tanto por força do seu passado, quanto por força do seu
futuro.
O Estado de Direito foi-se construindo ao longo das linhas da tipicidade
e legalidade dos crimes, da igualdade e do contraditório das partes, da
definição constitucional de direitos e deveres até se cristalizar no catálogo de
direitos liberais fundamentais, de direitos sociais e na segurança jurídica que
várias décadas sem guerras intra-continentais sedimentaram.
Este conjunto normativo funciona, hoje, como o nosso bilhete
identitário, nomeadamente quando nos confrontamos com outros ou com
outrem.
Poderemos
manter
entre
nós
particularismos
autónomos
que
obviamente perdurarão; mas a imagem de marca, que o estado de direito
cinzelou, permanecerá para além de qualquer regionalismo porque esse é o
meeting point onde todos nos encontramos e nos revemos.
2
Se o direito teve em nós essa importância passada, ela não se
desvanecerá no futuro.
O séc. XXI será, tudo o indica, o tempo dos grandes blocos geoestratégicos que a globalização parturejou e que visualizamos já em alto
relevo com o surgimento dos colossos orientais.
Daí que a nossa voz apenas se possa ouvir se a Europa for
verdadeiramente a Europa e não mais o mosaico fragmentado de onde
partiram os visionários de há cinquenta anos.
No novo mundo (admirável ou não) não haverá lugar para os
pequenos, porque a globalização apagará até o equilíbrio relativo das médias
dimensões.
Ainda aqui o direito que criamos terá o seu papel garantido; porque é
impossível que a sua ética hegemónica não venha um dia a contaminar –
ainda que parcial ou parcelarmente – as concepções jurídicas de espaços
diferentes do nosso.
O maior desafio que teremos, situar-se-á, sim, a outro nível: o de
garantir a segurança sem sacrificar a liberdade e os direitos fundamentais.
Com quedas demográficas generalizadas típicas das civilizações ricas,
com um novo ermamento do território, situados na margem de um mar
interior onde a mobilidade migratória foi sempre intensa em todas as
3
direcções, com o receio crescente de que as novas migrações sejam
acompanhadas de novas legitimações, corremos a tentação de visualizar a
Europa como uma fortaleza assediada e, a partir daí, desfigurar o direito que
laboriosamente construímos durante séculos.
Com razão ou sem ela para uma visão assim, temos que procurar o
justo equilíbrio entre os princípios estruturantes do nosso direito de modo a
obviar a que ele se desfoque.
Excelências:
Há quarenta anos um estudioso francês da metodologia histórica das
civilizações escreveu:
O Palácio de Versalhes não é, de modo algum, «a jóia da arte
francesa» desde a sua construção no século XVIII; até 1789 é,
antes de tudo, a morada do rei e da corte; foi necessária a
Revolução para fazer dele, no sentido próprio e figurado, esse
bem nacional por excelência que hoje é. Sem mexer uma
pedra, a Revolução modificou-o profundamente, até mesmo no
seu estilo, se é verdade que a sua grandeza e beleza são feitas
também, daqui para o futuro, de algo que se completou, de
solidão. Portanto, em vez de ter apenas resistido ao tempo e
de ter impunemente atravessado a História, Versalhes vive do
tempo e só sobreviveu pela nossa História; ele é a história e o
momento de uma contradição ultrapassada, quer dizer, dum
4
passado simultaneamente abolido e conservado, dum passado
superado. Mas se a nação é toda a nossa história decorrente
das suas contradições, a civilização seria toda a nossa história
sem as suas contradições; seria o que restaria dela quando se
tivesse esquecido tudo. Nela, a contradição não se supera;
extingue-se como se extinguem umas após outras as
formações sociais que a transportaram. É então que Versalhes
se torna uma jóia, um templo de cultura. O que dizemos de
Versalhes poder-se-ia dizer de uma infinidade de outros bens
comuns, como, por exemplo, a democracia.
Sem esquecer a referência datada de que a cultura é o que resta
depois de se esquecer tudo, bem podemos entrever, nesta passagem, a
figura daquela mulher, chamada Europa, que Júpiter raptou por causa da sua
beleza e colocou aqui, neste pedaço do mundo.
5