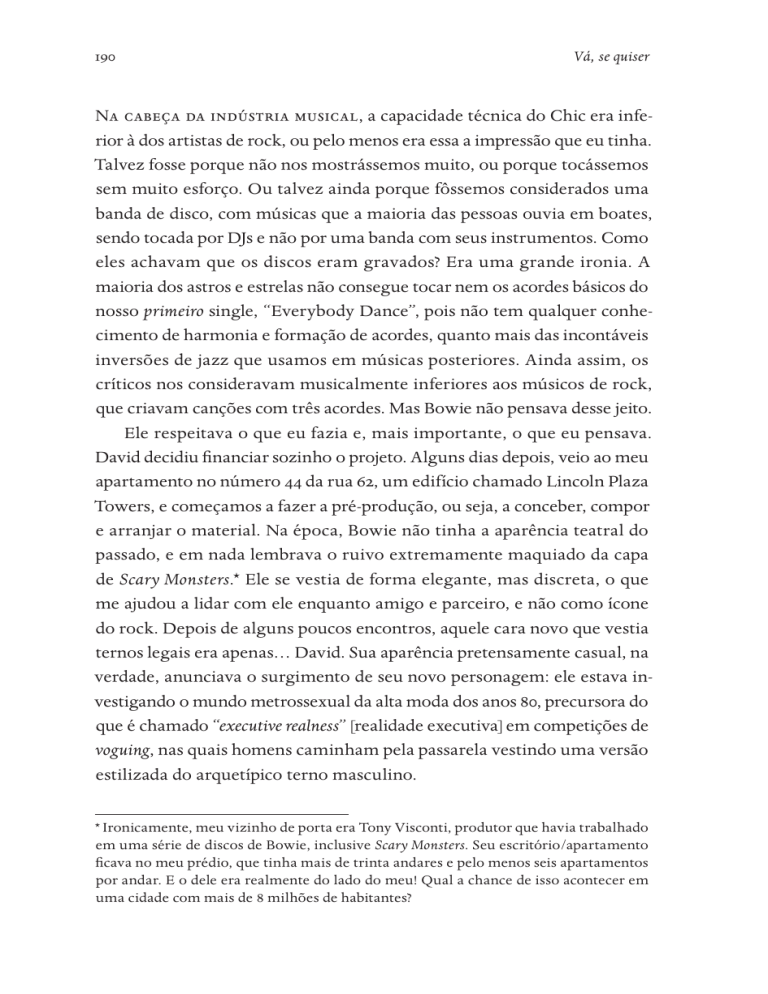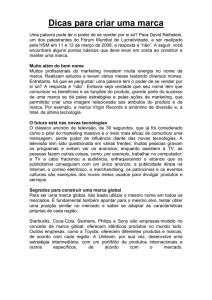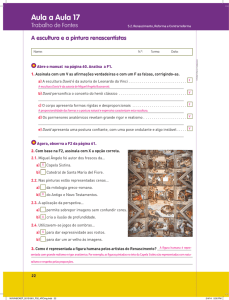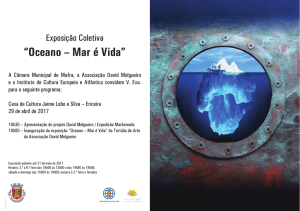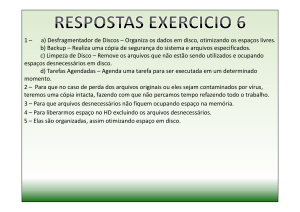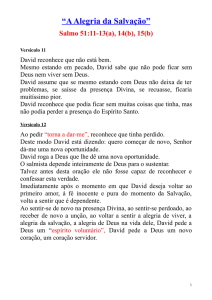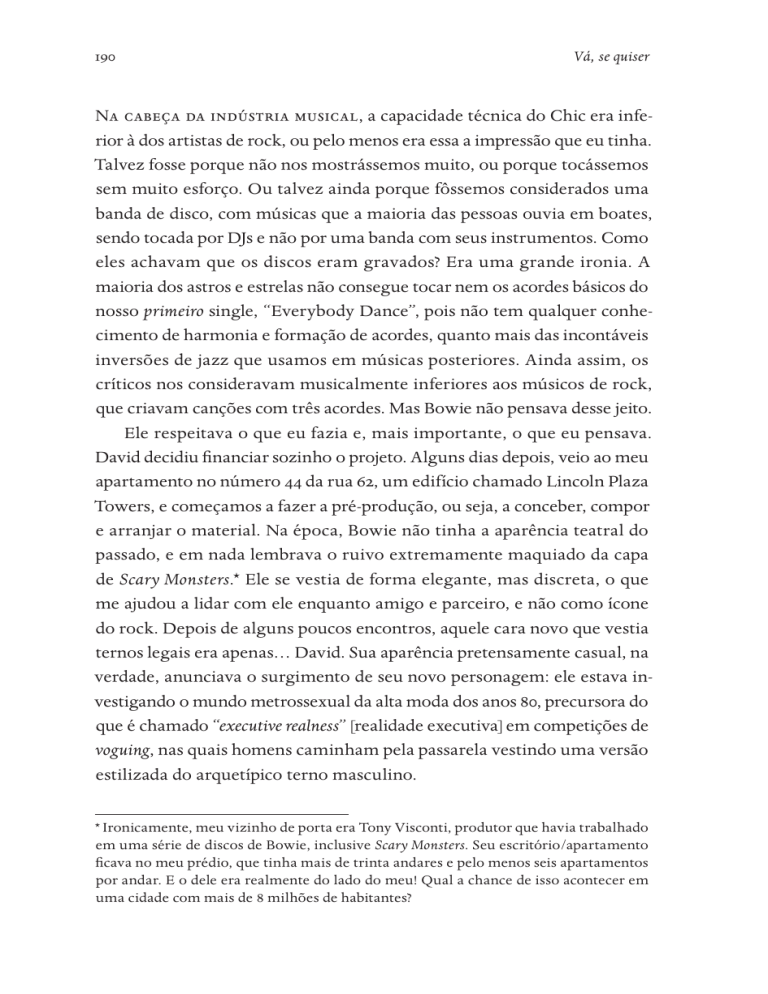
190 Vá, se quiser
Na cabeça da indústria musical, a capacidade técnica do Chic era inferior à dos artistas de rock, ou pelo menos era essa a impressão que eu tinha.
Talvez fosse porque não nos mostrássemos muito, ou porque tocássemos
sem muito esforço. Ou talvez ainda porque fôssemos considerados uma
banda de disco, com músicas que a maioria das pessoas ouvia em boates,
sendo tocada por DJs e não por uma banda com seus instrumentos. Como
eles achavam que os discos eram gravados? Era uma grande ironia. A
maioria dos astros e estrelas não consegue tocar nem os acordes básicos do
nosso primeiro single, “Everybody Dance”, pois não tem qualquer conhecimento de harmonia e formação de acordes, quanto mais das incontáveis
inversões de jazz que usamos em músicas posteriores. Ainda assim, os
críticos nos consideravam musicalmente inferiores aos músicos de rock,
que criavam canções com três acordes. Mas Bowie não pensava desse jeito.
Ele respeitava o que eu fazia e, mais importante, o que eu pensava.
David decidiu financiar sozinho o projeto. Alguns dias depois, veio ao meu
apartamento no número 44 da rua 62, um edifício chamado Lincoln Plaza
Towers, e começamos a fazer a pré-produção, ou seja, a conceber, compor
e arranjar o material. Na época, Bowie não tinha a aparência teatral do
passado, e em nada lembrava o ruivo extremamente maquiado da capa
de Scary Monsters.* Ele se vestia de forma elegante, mas discreta, o que
me ajudou a lidar com ele enquanto amigo e parceiro, e não como ícone
do rock. Depois de alguns poucos encontros, aquele cara novo que vestia
ternos legais era apenas… David. Sua aparência pretensamente casual, na
verdade, anunciava o surgimento de seu novo personagem: ele estava investigando o mundo metrossexual da alta moda dos anos 80, precursora do
que é chamado “executive realness” [realidade executiva] em competições de
voguing, nas quais homens caminham pela passarela vestindo uma versão
estilizada do arquetípico terno masculino.
* Ironicamente, meu vizinho de porta era Tony Visconti, produtor que havia trabalhado
em uma série de discos de Bowie, inclusive Scary Monsters. Seu escritório/apartamento
ficava no meu prédio, que tinha mais de trinta andares e pelo menos seis apartamentos
por andar. E o dele era realmente do lado do meu! Qual a chance de isso acontecer em
uma cidade com mais de 8 milhões de habitantes?
Vamos dançar… de novo
191
Mas havia uma coisa na aparência de David que eu achava estranha:
uma tatuagem na perna. Quando perguntei o que era, ele respondeu: “É
a Oração da Serenidade em japonês.”
“O que é a Oração da Serenidade?”, perguntei.
“É como eu me lembro de ficar sóbrio.”
“Uau”, pensei, “ele está tão seriamente comprometido com essa ideia
que a tatuou no corpo para o resto da vida.” Então, como forma de respeito
à sobriedade de David, mudei meu comportamento quando estava perto
dele – o melhor que pude.
Durante um dos muitos encontros com David em meu apartamento,
chegou o test pressing do meu álbum solo, que eu havia acabado de terminar. Ouvimos juntos o disco inteiro. “Nile”, ele me disse depois, “se você
fizer um disco pra mim que seja metade tão bom quanto esse, vou ficar
muito feliz.”
Fiquei lisonjeado, mas um pouco confuso. Eu sabia que o disco não
iria vender. Tinha tanto medo de ser rotulado como artista de disco music
que fiquei muito indeciso quanto à direção que o álbum deveria seguir.
E as músicas não eram tão fáceis de lembrar. No geral, eu não sabia bem
qual era a filosofia do disco ou o que estava querendo dizer com ele. Mas,
durante as gravações, a cocaína me assegurou de que seria legal. O problema é que eu havia começado a acreditar nela.
Numa piada, Bill Cosby pergunta a um usuário de cocaína numa festa:
“E aí, cara, por que você usa isso?” E ele responde: “Porque intensifica
minha personalidade.” Então Cosby retruca: “Ok, mas e se você for um
babaca?”
Agora que tinha o disco em mãos, eu começava a suspeitar que era
um babaca. Eu estava tentando fazer um disco solo inovador e comercial,
mas sabia que não havia conseguido. Seria meu sexto fracasso sucessivo.
As rádios de música negra eram as únicas que me tocariam – eu definitivamente não estava conseguindo emplacar em rádios de rock ou pop –, e
o formato não ajudava minha experimentação. Para piorar, a tendência
192 Vá, se quiser
das rádios negras era o rap, mais juvenil e mais ligado na cultura de rua,
o exato oposto da velha guarda. Eu sabia que meu disco tinha acabado
antes de começar. Meu único consolo foi que David tinha curtido. Nós sempre discutíamos a situação da indústria da música e do mundo em geral.
Ao final de toda essa contemplação, acreditávamos que se fizéssemos um
disco artístico, original e com o qual nos sentíssemos bem, teríamos feito
um bom trabalho.
Aí David me pegou no contrapé.
“Nile, querido”, disse ele, usando uma típica expressão britânica, “gostaria que você fizesse o que faz de melhor.” Havia uma força lírica em sua
voz capaz de me mobilizar. Depois de elogiar meu disco solo, achei que
ele diria que deveríamos expandir minha nova abordagem experimental
à composição musical. Eu estava brilhando de orgulho – até que ele terminou a frase: “Quero que você faça hits.”
“Você quer que eu faça hits?”, perguntei, meio surpreso.
“Sim, hits. Quero que você faça hits. É o que você faz de melhor. Você
faz hits.”
“Como você sabe que é isso o que eu faço de melhor?”, perguntei, ligeiramente irritado.
“Porque é verdade. É fato. Dá pra ouvir até nesse disco, e é isso que eu
quero que você faça.”
“Sério?”, perguntei, escondendo minha decepção. “Ok. Tudo bem. Se é
isso que você quer, então é isso que vamos fazer.”
Eu era um músico profissional que não havia emplacado nenhum hit
em suas últimas seis tentativas e que realmente queria produzir Bowie.
Ainda assim, fiquei um pouco magoado. Depois de toda nossa conversa
sobre música e liberdade, alguém estava me mandando de volta para a
fábrica de hits. David era a última pessoa do mundo com quem eu achava
que viria a criar hits. Para falar a verdade, imaginava que o cacife de David
faria com que a indústria parasse de me considerar um artista e produtor
de disco music para me considerar apenas um artista e produtor musical, o
Vamos dançar… de novo
193
que era bem diferente. Eu tinha certeza de que essa conversão me daria a
liberdade de compor o que quisesse sem me preocupar em ser tocado nas
rádios das grandes cidades.
Além disso, do que exatamente ele havia gostado em meu disco solo,
que tinha tudo menos um hit? Será que tinha ouvido alguma coisa que
eu não tinha ouvido? Fiquei pensando sobre isso durante um tempo, mas
logo voltei à realidade.
Sempre achei que o produtor é um prestador de serviço. Não sou pago
para dar ao cliente o que eu quero; sou pago para dar a ele o que ele quer.
Mesmo que eu tenha que lhe dizer o que ele quer, porque nem sempre
ele sabe. A ordem de David era clara: ele não estava interessado em criar
um novo Scary Monsters (sem ofensa a Tony Visconti). Ele queria hits. O
produtor profissional dentro de mim é como o Exterminador do Futuro.
Eu não pararia até que minha missão estivesse cumprida.
O decreto de David me forçou a ser tanto Nile quanto Bernard, ou seja,
complicado e artístico o suficiente para agradar a mim mesmo (e aos exprofessores de música na minha cabeça), mas contido o bastante para ser
capaz de me comunicar para as massas. Era essa a nossa testada e aprovada
fórmula SPO de fabricação de hits. Eu só precisava fazer o que já tínhamos
feito antes. David havia escolhido a ferramenta certa para o trabalho certo.
Nossa relação musical se desenvolveu rapidamente. David me pediu para
trabalhar em algumas demos na Suíça, onde morava parte do tempo. Algumas semanas depois, pousei em Genebra, bem no meio de um cartão-postal
perfeito e invernal. David me pegou no aeroporto em um estiloso Volvo
que não era vendido nos Estados Unidos. Passávamos zunindo por estradas
congeladas quando David me confidenciou: “Não enxergo nada de um olho”,
disse. Parecia que o velocímetro nunca estava abaixo dos cem quilômetros
por hora. Eu estava me cagando de medo, mas ele dirigia muito bem.
Chegamos inteiros ao seu lindo chalé na adorável cidade de Lausanne,
às margens do lago Genebra, e imediatamente passamos ao próximo nível
da pré-produção do disco que viria a se chamar Let’s Dance.
194 Vá, se quiser
Na época, a palavra “dance” era muito pesada para mim. O movimento Disco Sucks havia me deixado com uma espécie de estresse póstraumático, e eu tinha jurado que não escreveria músicas com essa palavra
durante um bom tempo. Sentia vergonha de usar uma palavra – “dance”
– que representava uma das fontes mais primitivas de alegria em todo o
mundo e ao longo de toda a história da humanidade, isso para não falar
que é a palavra mais importante de vários discos que eu mesmo havia
criado e que tinham vendido milhões de cópias! A coisa fica ainda mais
absurda: nos meus vinte e poucos anos, eu tinha estudado dança com
a famosa coreógrafa Sylvilla Fort, que ensinava a técnica Dunham, ou
seja, dança moderna com o regime de treinamento do balé. (Katherine
Dunham foi chamada de “matriarca e rainha mãe da dança negra”; ela e
a srta. Fort estão entre as lendas da história da dança negra nos Estados
Unidos.) Cheguei a incluir o sapateado dos Nicholas Brothers em um disco
do Chic, pela simples admiração que sentia por eles. Eu tinha uma conexão
espiritual e física com a palavra dança. Por que estava com medo dela? Era
impossível explicar.
Em quase todas as esferas da vida, eu observava o mesmo padrão:
a cultura dominante sempre consegue expulsar gente com menos poder de suas bases culturais, financeiras, geográficas e residenciais, aí
ocupam esse espaço e o reivindicam para si. Mudam o nome de tudo e,
abracadabra, o que acontece é a gentrificação. A dinâmica não é nova:
pergunte aos índios americanos, que tiveram as terras em que viviam
“descobertas” e arrancadas deles. Assim, achei que talvez fosse uma boa
hora para reconquistar essa palavra que era tão minha como de qualquer
um. Mas estava nervoso, porque ao mesmo tempo que não queria que
ninguém roubasse a palavra de mim, também não queria que achassem
que essa era a única coisa que eu sabia fazer. O fato de meu nome não
aparecer na capa do disco ajudou: sendo um roqueiro branco benquisto
por todos, David tinha liberdade para usar a palavra o quanto quisesse.
E quando David dizia “vamos dançar”, ninguém corria para as ruas para
colocar fogo em discos.
Vamos dançar… de novo
195
Pouco tempo depois de minha chegada à Suíça, Bowie veio até meu
quarto com um violão.
“Ei, Nile, escuta só isso”, disse, sua fina silhueta ligeiramente dentro do
quarto. “Acho que pode ser um hit.”
Ele começou a tocar um violão de doze cordas que só tinha seis cordas. O que se seguiu foi um esboço de composição com traços folk e uma
melodia forte: o único problema é que, para mim, parecia uma mistura
de Donovan com Anthony Newley. O que não é exatamente um elogio.
Em termos artísticos não era ruim, mas minha ordem era fazer hits, e eu
só conseguia ouvir o que estava faltando.
Os minutos seguintes pareceram uma eternidade. Tínhamos passado
bastante tempo juntos em Nova York, e eu pensava ter entendido o que
ele queria dizer quando me pediu para “fazer hits”. Havíamos escutado
toneladas de discos – inclusive gravações raras que eu pegara emprestado
com Jerry Wexler, o famoso produtor musical. Tínhamos ouvido repetidamente o tema de Henry Mancini para Peter Gunn – do qual roubamos a
linha de metais para “Let’s Dance” – e estudado Little Richard. Olhamos
dezenas de capas de discos, fotos de divulgação e conversamos sobre o
que achávamos legal. Aí acontece isso: um violão folk com uma melodia
flutuante sobre os acordes? Não passava nem perto do que eu chamaria hit.
Liguei para um amigo em comum em Nova York para pedir um conselho. “David entrou no meu quarto hoje de manhã e tocou uma música que
ele acha que pode ser um hit”, disse. “Não foi o que eu senti. Será que ele
está querendo me testar?” Nosso amigo em comum foi seco: “Se ele disse
que acha que vai ser um hit, então ele realmente acha que vai ser um hit.
Ele jamais tentaria enganá-lo, não é esse tipo de pessoa.” Tendo isso em
mente, fui até David e pedi que me ensinasse a música. Anotei os acordes
e disse que tentaria fazer um arranjo.
Voltei para o quarto com as anotações e a guitarra e comecei a trabalhar a música. Não levei muito tempo para descobrir um diamante bruto.
Apareci com o arranjo e David telefonou para o Mountain Studios, em
Montreux, que era de propriedade do Queen. Ele pediu ao gerente do
estúdio – ou talvez fosse Claude Nobs, o criador do Festival de Jazz de
196 Vá, se quiser
Montreux – que reunisse um punhado de músicos locais para uma sessão.
Eram todos músicos experientes de jazz que reproduziram exatamente a
partitura que eu havia escrito. Os acordes de violão e a melodia flutuante
já eram. No lugar deles, incluí pontos de staccato e uma interpretação
harmônica rigorosa. Usei o silêncio e grandes espaços em branco para criar
o groove, rearranjando a música na hora, como sempre havia feito com 0
Chic. David rapidamente entendeu a reformatação da música. Nos divertimos e rimos muito naquele estúdio suíço com todos aqueles excelentes
músicos (cujos nomes infelizmente não recordo). O riso é fundamental
nas minhas sessões de gravação – é aquele amor incondicional de pai que
paira no ar. David curtiu.
“Se você realmente gostou disso”, falei, “então você vai adorar quando
voltarmos a Nova York e tocarmos de novo com o meu pessoal.”
Terminamos nossa estada na Europa com um grande jantar de comemoração com os músicos de jazz num famoso restaurante em Lausanne.
Não me lembro de termos gravado qualquer outra coisa na Suíça. Se aquilo
era um teste, eu havia passado.
De volta a Nova York, David reservou meu estúdio de gravação favorito,
o Power Station, e Bob Clearmountain, meu engenheiro de som preferido,
por três semanas. Tenho certeza de que a ideia era ver como as coisas funcionariam com a minha equipe, razão pela qual havia reservado o estúdio
apenas por três semanas. David chegou de Londres cheio de ideias. Tinha
três ou quatro demos em diferentes estágios de desenvolvimento e quatro
covers que também queria gravar. Além disso, havia “Let’s Dance”, a demo
que tínhamos feito na Suíça.
Os covers eram “Criminal World”, do grupo Metro, “Cat People”, uma
balada de tom fúnebre que ele já havia gravado com Giorgio Moroder
para o filme de mesmo nome, e “China Girl”, que ele e Iggy Pop haviam
composto para um projeto anterior.
As demos se transformariam nas canções “Shake It”, “Modern Love”,
“Ricochet” e “Without You”.
Vamos dançar… de novo
197
Minha primeira função foi motivar os membros da banda, que estavam
tocando juntos pela primeira vez. Embora Rob Sabino, o tecladista do Chic,
estivesse lá, meus outros músicos preferidos, o baixista Bernard Edwards
e o baterista Tony Thompson, não participaram da primeira sessão. Eles
haviam se tornado cada vez menos pontuais nos últimos discos do Chic.
Por conta das drogas, não dava mais para confiar neles, e eu estava com
medo de que chegassem atrasados para uma sessão de gravação em que
David estava de olho em cada centavo gasto. Como produtor, também era
minha responsabilidade fazer com que o projeto coubesse no orçamento.
Assim, decidi que o risco era alto demais. Eles eram dois dos melhores
músicos com quem eu havia trabalhado, e eu estava triste que não estivessem envolvidos no projeto, mas havia um trabalho a fazer. Então,
contratei Omar Hakim, um astro da bateria, e o baixista Carmine Rojas,
que na época estava tocando com Rod Stewart. Achei que ter um grupo
multicultural de roqueiros experientes era uma boa maneira de começar,
uma vez que não sabia que tipo de material David iria trazer.
A banda estava bastante ciente do tipo de pressão que enfrentaríamos.
Em se tratando de um disco novo de Bowie, não havia dúvida de que passaria por um enorme escrutínio, e isso poderia deixá-los nervosos, então
me esforcei para ser o mesmo velho Nile de sempre. Isso significava fazer
piadas para lembrá-los de que estavam trabalhando para mim e não para
Bowie. “Quando ele for embora, seus putos, eu vou continuar aqui”, disse.
E funcionou. A piada tinha dois objetivos: fazê-los se sentir bem por estarem recebendo menos do que eu costumava pagar na época e dizer a eles
que compensaria isso em nosso próximo trabalho juntos. Eu tinha fama
de chefe generoso e teria que aguentar aqueles caras. Precisava que eles
se sentissem à vontade em todos os níveis, e queria que David também
se sentisse à vontade com eles. Resolvi começar pela gravação de “Let’s
Dance”, da qual eu sabia que David já gostava.
“Let’s Dance” era, na descrição de David, “uma homenagem pós-moderna a ‘Twist and Shout’, dos Isley Brothers”, uma das muitas gravações
que tínhamos ouvido durante a fase de pré-produção. A banda tocou o
groove, que foi seguido por um minissolo de trompete de oito compassos.
198 Vá, se quiser
Nas palavras de Billy Idol: “Caralho!” No momento em que terminamos esse solo de trompete, senti que havíamos entrado em novo território
e que podíamos seguir regras diferentes – regras que se aplicavam apenas
a roqueiros brancos e talvez Miles, Prince ou Michael Jackson. Agora eu
tinha liberdade para me aventurar além do pop, pelo território do jazz.
Podia permitir que os músicos improvisassem – e numa música pop! Era
o paraíso. Eu já havia tocado em bandas assim. Bandas que cruzavam
as fronteiras comuns do R&B e do pop, mas nunca conseguimos fechar
um contrato com uma gravadora, que sempre mudava de ideia quando
constatava que éramos negros. Com Bowie, eu finalmente poderia fazer o
que muitos artistas brancos do rock podem fazer e nem percebem: música
boa, sem me preocupar com categorias. Mesmo que aquilo fosse apenas
temporário, eu estava em êxtase.
Meu instinto de começar com “Let’s Dance” valeu a pena: gravamos
em um ou dois takes, e ela deu o tom do resto do disco. Aquilo ia ser um
grande sucesso, e todos nós sabíamos disso. David relaxou e se deixou levar
pelas mãos capazes, criativas e carinhosas da minha equipe.
Sabíamos que não seria a toda hora que teríamos chances como essa,
então atacamos a música de David como um exército a invadir o território
inimigo. Era um cerco. Depois de anos sendo impedidos de entrar pela
porta da frente do rock’n’roll, nossa artilharia estava pronta para derrubar
as paredes. Os músicos da seção rítmica, que eram todos negros e latinos,
tocavam como se fossem animais fora da jaula, finalmente livres para levar
o pop a níveis mais altos. Depois que as sessões já estavam bem encaminhadas, finalmente convoquei Tony Thompson, que tocou bateria tão alto
que a pressão sonora fazia as luzes do estúdio diminuírem de intensidade
a cada batida. Era como se ele estivesse dizendo: “É isso aí, seus filhos da
puta, tomem isso!”
Na verdade, parte da raiva de Tony provavelmente era dirigida a mim.
Para um roqueiro negro, participar desse disco era como realizar um sonho, mas só o chamei para tocar em três faixas, muito embora fosse ele o
que tocasse mais forte dentre os bateristas que eu conhecia. David ficou
impressionado com seu desempenho, e sei que ficou imaginando por que
Vamos dançar… de novo
199
eu não o havia usado no disco inteiro, mas ele não sabia dos problemas de
Tony com as drogas. Para falar a verdade, eu estava tão mal quanto meus
ex-companheiros de banda. Mas essa era a oportunidade da minha vida,
e eu só tinha uma chance de acertar. Sempre tive um compromisso com
Bernard e quis que ele participasse do meu “disco de sucesso” de rock, então, quando chegamos a um ponto em que ele já não conseguiria estragar
tudo, liguei para ele. E ele passou no teste com nota máxima.
Bernard só participou de uma faixa do disco: “Without You”. Eu o
chamei para tocar uma linha de baixo complicada com a qual Carmine
Rojas estava tendo dificuldades.
Nard entrou na sala de controle (pontualmente), deu um olá a todos,
tirou o baixo do estojo e foi para o estúdio. Sentou-se em uma cadeira e
plugou o equipamento. Deu uma olhada na partitura um tanto assimétrica
no suporte à sua frente e me perguntou: “A música é essa?”
“Essa mesma”, respondi. David percebeu que havia certo desconforto
no ar, pois, ao contrário das outras sessões, dessa vez não havia ninguém
rindo ou fazendo piada. Ele sabia que Bernard era meu parceiro na Chic
Organization, mas Nard nos tratou como se fôssemos estranhos.
Após alguns minutos, até conseguirmos acertar tecnicamente o som
de Bernard (um processo que pode levar horas, mas não com a melhor
equipe do Chic e em nosso quartel-general, o Power Station), Nard disse
a Bob Clearmountain, nosso engenheiro de som: “Pode rodar essa porra.”
Ao final do take, ele olhou pela janela da sala de controle.
“É isso que vocês querem?”
David e eu sorrimos.
“É, cara, é isso que nós queremos.”
Antes da sessão, eu havia apostado com David que Nard terminaria a
música em quinze minutos. Ele fechou em treze. Nunca tive tanto orgulho
dele, e foi no último dia de gravação das bases. David deu de ombros, em
aprovação e descrença, e pensei comigo mesmo: “Essa é a Chic Organization.
É assim que fazemos! Um take, quinze minutos. As bases estão prontas.”
Bernard guardou o baixo no estojo e saiu. Estava chateado porque
eu não o havia chamado para gravar o restante do álbum, mas sabia do
200 Vá, se quiser
meu orgulho em mostrar aos outros como ele era um gênio. David ficou
tão impressionado com meu pessoal que levou quase todos, inclusive os
cantores de apoio, os Simms Brothers, na turnê “Serious Moonlight” que
fez em seguida.
Alguns dias antes do incidente com Nard, David tocou outra música para
mim que ele achava que seria um hit – a versão de Iggy Pop de “China
Girl”. Não pensei que seria um hit no rádio. Gostei da música, mas não
achei que entraria no disco. Já havíamos gravado outros sucessos naquele
dia, e supus que a direção para onde eu estava levando o projeto já tinha
ficado clara. A insistência de David no potencial de hit da música me deixava desconfortável. A versão original de “China Girl” era superproduzida
demais para meus ouvidos pequenos e minimalistas, mas David insistiu
que era um hit. Confuso, voltei a ligar para nosso amigo em comum e
perguntei a ele: “Tem certeza de que isso não é uma pegadinha?” E, mais
uma vez, nosso amigo repetiu o que me havia dito quando David tocou
“Let’s Dance” para mim na Suíça: “Se David disse que acha que vai ser um
hit, então é porque realmente acredita nisso.”
“Meu Deus! O que faço agora?”, pensei.
Felizmente, o dia já estava acabando. Estávamos gravando apenas metade do dia, como fazia a maioria dos artistas negros e de jazz, para reduzir
custos. Liberei a banda um pouco antes para ter tempo de pensar melhor
no dilema “China Girl”. Eu precisava encontrar o SPO da música.
Em casa, toquei os acordes dos versos e logo descobri que, se substituísse a tríade de power chords por um acorde maior que ia descendo até
uma sétima maior e depois uma sexta, a música soaria mais asiática. Mexi
um pouco mais até que – xeque-mate – criei um riff com uma sonoridade
asiática que me agradou. No fim das contas, podia dar certo.
Então fui fazer o que normalmente fazia quando dava uma da manhã
no relógio: saí para as boates. Cheguei em casa às seis, dormi umas duas
horas, liguei para o spa Salon De Tokyo e recebi uma massagem culturalmente simpática antes de ir para o estúdio. Trabalhei nas partituras até
Vamos dançar… de novo
201
a chegada de David, tentando dar à música uma vibe mais asiática, para
combinar com o riff de guitarra que eu havia criado.
Trabalhei o riff no arranjo da banda. Acostumado ao universo supercompetitivo da dance music urbana, continuei procurando algo mais. Minha fórmula sempre exigia começar a música com o refrão e usar quebras
ou solos de um instrumento – e o riff de guitarra parecia ser tudo de que eu
precisava. Agora só faltava encontrar o SPO. A letra da música me parecia
uma espécie de ode às drogas feita por um viciado. Um dos apelidos para
a heroína entre os usuários era “China White”. Por outro lado, a cocaína
é chamada de “Girl”. Eu sabia que Bowie estava sóbrio agora, mas, como
a música era mais velha, podia ser sobre o speedball, isto é, a mistura de
cocaína com heroína.
Então tentei visualizar uma música pop sobre drogas. Ciente do compromisso de Bowie com a sobriedade, eu não tinha certeza de que ele
aceitaria tudo isso, mas, acima de tudo, me concentrei em fazer um hit.
Eu queria que David tivesse orgulho do disco, independentemente do que
estivesse falando. No fim das contas, o disco era dele, e meu trabalho era
ajudá-lo a transformar suas ideias em realidade.
David chegou ao estúdio de excelente humor. Estava tão normal que
me fez ficar mais nervoso, pois um roqueiro selvagem, louco e artístico
poderia considerar meu arranjo ultrapop absurdo e ridículo. Nunca tive
tanto medo na vida como quando toquei o riff asiático para ele. Ele poderia facilmente ter achado brega, pois, comparada com a versão original
de Iggy Pop, a minha não era tão pesada. Para minha surpresa (e alívio),
ele gostou, e me disse isso com grande entusiasmo. “Bom, se você gostou,
então escute isso.” Eu já tinha escrito o arranjo para a banda toda. Tocamos
e gravamos ali na hora. Não houve praticamente nenhum drama na gravação de Let’s Dance, que foi divertida e cheia de surpresas, a maior delas
na pessoa de um guitarrista do Texas até então desconhecido chamado
Stevie Ray Vaughan.
David o havia visto tocar no Festival de Jazz de Montreux alguns meses antes e sabia que queria trabalhar com ele. Se você quer um exemplo
do gênio artístico de David, aí está. Ele viu o novato Stevie Ray tocar ao
202 Vá, se quiser
vivo uma única vez e foi o que bastou para que o convidasse a gravar com
um grupo de roqueiros novatos relativamente desconhecidos.
Stevie entrou no Power Station como se pertencesse ao lugar. Ele era
grandioso, sociável e generoso. No começo de cada sessão de gravação,
eu pedia que o assistente de estúdio anotasse o pedido de cada um para o
almoço para que a comida já estivesse lá quando fizéssemos nossa curta
pausa. Um dia, Stevie, em vez de pedir o almoço, pegou o telefone e encomendou o almoço do dia seguinte: um churrasco vindo diretamente
do Texas por via aérea, para todo mundo, e foi ele quem pagou. Foi o
gesto final de estreitamento de laços. A partir daquele momento, todos
passaram a adorar aquele estranho do sul. Ele era uma pessoa de verdade,
e se encaixava perfeitamente em nosso pequeno bote salva-vidas. Se esse
disco fizesse sucesso, pensávamos, seria o nosso passaporte para o mundo
mais amplo do pop rock.
David e eu éramos os únicos dois músicos no projeto cujos nomes
Stevie conhecia antes de chegar. Embora David o tivesse trazido, Stevie e
eu é que estabeleceríamos um laço de amor e respeito para o resto da vida.
Ainda me lembro da surpresa em seu rosto quando tocamos a primeira
faixa para ele, “Let’s Dance”. Ele sentia que esse grupo de músicos anônimos estava prestes a fazer história. Voltaríamos a fazer história alguns
anos depois quando produzi e coescrevi o histórico disco de Stevie com
seu irmão Jimmie, Family Style, mas foi Let’s Dance que expôs o espetacular
virtuosismo de Stevie Ray Vaughan para o mundo.
Tanto Stevie quanto David terminaram suas partes em dois dias.
Aquele disco parecia abençoado. Nenhum de nós jamais seria o mesmo
após seu lançamento ‒ a carreira de todos explodiu. Se o coração de todos
pertencia ao blues, Let’s Dance seria então nossa encruzilhada metafórica?
Como Robert Johnson na Dockery Plantation, será que havíamos vendido
a alma ao diabo em troca de um sucesso tão grande assim?
Fazer um disco de sucesso é muito difícil. Os portões estão sob forte controle e a entrada é restrita. Há muita concorrência, não importa quem ou
Vamos dançar… de novo
203
o que você é. Já fiz muitos discos de sucesso – mas também tive um monte
de fracassos – e sei que, para dar certo, tudo tem que estar perfeitamente
alinhado. O disco de David, porém, foi a coisa mais fácil que já fiz na vida.
Foi um sucesso, e sem qualquer dificuldade. É verdade que havia quatro
covers, mas, se fosse tão simples assim, por que não colocar quatro covers
em qualquer disco? É verdade que David era um superastro, mas ele não
teria sido o primeiro a ter um fiasco. Havia uma magia negra inexplicável
em Let’s Dance. Trabalhei mais ou menos com as mesmas pessoas de sempre e no mesmo lugar de sempre, e na pior fase do meu vício em drogas,
mas o disco deu mais certo do que tudo que eu havia feito antes, mesmo
considerando minha longa lista de discos de ouro e de platina.
No fim das contas, terminamos Let’s Dance em apenas dezessete dias,
mixado e pronto. David estava feliz, e eu naquele espírito de quem sabia
que havia feito um bom trabalho. Em pouco mais de duas semanas, eu
tinha reconstruído e rearranjado cada uma das músicas e escrito as partituras para todos os instrumentos (metais, backing vocals etc.), exceto para
as partes de Bowie, que as cantava em vez de me pedir para escrevê-las – a
primeira vez que vi isso em uma gravação.
Além disso, Bob e eu mudamos os teclados de uma faixa sem que
David soubesse (até hoje ele não sabe, a menos que esteja lendo isto). Ele
havia me dado ordens claras para não usar determinado teclado no disco,
porque preferia uma versão sintetizada. Decidi que a versão real funcionava melhor com sua voz, e mudamos sem contar a ele.
Nunca produzi um disco tão rápido quanto Let’s Dance, o disco mais
vendido de David Bowie. Aclamado pela crítica, David acabou na capa
da Time e da Rolling Stone. Comecei a vislumbrar um outro mundo, o
das estrelas internacionais do rock, cheio de benesses e privilégios. Tudo
foi perfeito – exceto pela relutância de David em me dar os créditos que
dera a seus produtores anteriores. Ele parecia quase envergonhado do
megasucesso de Let’s Dance, embora o tempo todo tivesse insistido em
“fazer hits”. Para mim, foi uma mudança estranha de comportamento, pois
204 Vá, se quiser
havíamos ficado próximos durante a produção do disco. Talvez eu tenha
supervalorizado nosso relacionamento mais do que deveria, por admirálo muito como artista e porque ele havia me dado uma chance quando a
indústria o devia estar pressionando dez vezes mais do que a Motown e
Diana pressionaram Suzanne de Passe na época do meu último álbum de
sucesso. Ou, talvez, na ausência de Bernard, eu tivesse transferido para
Bowie meus sentimentos em relação a ele.
Fiquei magoado com as poucas menções a meu nome na cobertura
da imprensa e com o fato de ele acabar preferindo discutir seus trabalhos
anteriores quando era entrevistado. Não se esqueçam de que eu havia produzido seis fracassos consecutivos e precisava dos aplausos e do reconhecimento para reconstruir minha carreira. Ele não precisava adorar o disco
agora, mas eu sabia que estava adorando enquanto o fazíamos. Entendo
que ninguém precisa gostar de uma coisa só porque ela vendeu muito. Até
hoje, “Le Freak” é minha música que mais vendeu – mas não é a minha
favorita. Mesmo assim, preciso reconhecer o que ela significou. Só posso
imaginar que David, sendo um artista de verdade, visse o todo de sua obra
como a coisa mais importante e sentisse que o mundo estava começando
a identificá-lo de maneira exagerada com um único disco e suas canções
extremamente pop. Isso eu consigo entender: foi assim que me senti quando
a indústria colou um rótulo em mim após os compactos de sucesso do Chic.
Logo superei minha decepção. Meu nome estava no disco, e a indústria
– inclusive outros artistas – reconheceu minha contribuição para o triunfo
comercial de Bowie.
Mais uma vez, as pessoas passaram a me procurar.
Pouco mais de um ano após o lançamento de Let’s Dance, fui nomeado
Produtor de Singles Número Um do Ano pela revista Billboard. Let’s Dance
chegou ao topo das paradas nos Estados Unidos e no Reino Unido, vendeu 8 milhões de cópias e emplacou três músicas nas Top 0. A turnê
“Serious Moonlight” foi a maior de David, amealhando mais de 00 milhões de dólares. Foi um grande momento para ele, mas não o primeiro:
ele sempre fora o cara. Mas, de repente – pelo menos para os mais beminformados –, eu era o cara também.